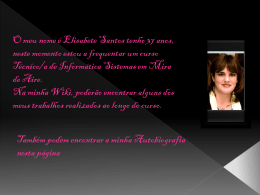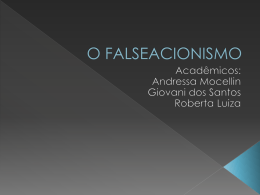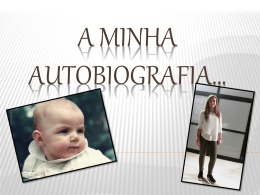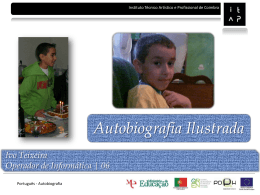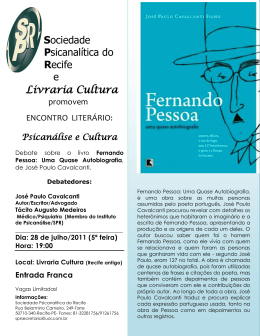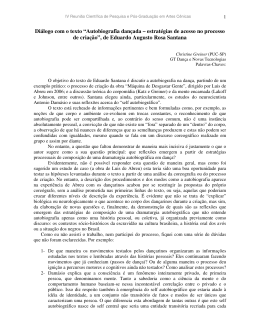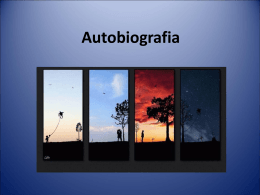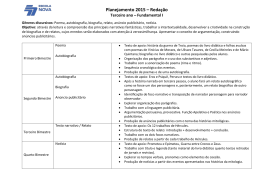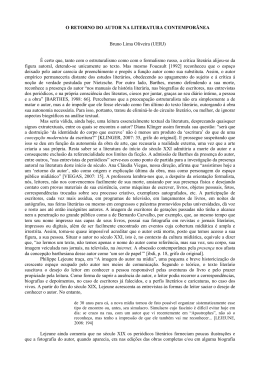A AUTOBIOGRAFIA COMO DISCURSO DE PODER VILLAR, Marilia Santanna (CAP/UERJ) Redigir suas memórias, deixar para a posteridade sua autobiografia é, sem dúvida, uma tentativa de levar os futuros leitores a ver o autor através de uma imagem que ele mesmo delineou. É nesse sentido que apresento a autobiografia como um discurso de poder, o poder de moldar sua própria vida, de deixar para as futuras gerações um autoretrato em forma de texto. É o que diz Pontalis : A autobiografia aparece freqüentemente como uma necrologia antecipada, como o gesto último de apropriação de si mesmo e através disso como um meio de descreditar o que os sobreviventes pensarão e dirão de nós, e de conjurar o risco de que eles não pensem nada. (PONTALIS, 1988, p. 51) 1 A autobiografia seria, assim, uma busca de imortalidade. No presente trabalho, faço um breve histórico do percurso do gênero autobiográfico na França, a partir dos estudos que Philippe Lejeune vem realizando desde o início dos anos 1970. Diferentes autores e épocas nos levam a refletir sobre como é exercido o poder desse discurso sobre si mesmo e também qual efeito têm sobre os leitores escritos aproximados do que Serge Doubrovsky define como “autoficção”, já que, em tais textos, o autor assume claramente o lado ficcioinal de sua obra. Para traçar um esboço do percurso do gênero autobiográfico, recorro a L’Autobiographie en France, que Lejeune publicou em 1971, e Le Pacte autobiographique. Se esses primeiros trabalhos foram muito revisados e até mesmo criticados pelo autor em seguida, trata-se de um momento importante no estudo dos escritos autobiográficos, pois representam um primeiro esforço de análise da evolução do gênero e das dificuldades de definição. Inicialmente, o autor buscava dar uma definição precisa e constituir um corpus coerente2, mas ele reconhecerá posteriormente que essa definição nunca terá o grau de precisão que procurava no início de suas pesquisas. Sabendo que os gêneros literários não são estáticos e sim dinâmicos e que seu modo de recepção muda no tempo, é claro que o que a crítica entende por autobiografia hoje não corresponde a um gênero nascido em um momento único. Trata-se de uma escrita que se desenvolveu em um processo que lhe é próprio, um processo de escrita e um processo de descoberta de si mesmo, pois a autobiografia só pode nascer em uma sociedade em que o homem se veja como indivíduo. Lejeune descreve de maneira bastante clara o início da autobiografia, apresentando o nascimento do gênero como conseqüência do romance autobiográfico do início do século XVIII. A autobiografia moderna não nasceu em ruptura com a biografia tradicional (aliás mesmo depois de Rousseau e até hoje, ainda há autobiografias que se comportam como simples biografias), mas simplesmente como conseqüência de uma nova forma de biografia (o romance autobiográfico). (LEJEUNE, 1971, p.463) Essa observação é interessante porque demonstra que autobiografia e ficção caminham lado a lado desde as origens da autobiografia moderna. Para o estudioso das “écritures du moi”, é a segunda metade do século XVIII4 que corresponde ao momento histórico responsável pelo nascimento da autobiografia na Europa. As tentativas de apontar para períodos anteriores como origem desse gênero são criticadas pelo autor: 1 Decidir que a autobiografia (muito vagamente definida como o fato de contar sua vida) é uma vocação essencial e profunda da humanidade, uma das suas mais nobres tarefas, e seguir o despertar progressivo da consciência humana desde as biografias dos faraós até J.-J. Rousseau, é uma tentativa ideológica e mitológica sem grande pertinência histórica, mesmo se ela está destinada fatalmente a cruzar um números de problemas históricos reais. (LEJEUNE, 1975, p. 314) 5 Para os Antigos, não há a demonstração de transformação do eu. “Será necessário esperar as Confissões de Santo Agostinho para que seja sublinhada a distância entre passado e presente, entre aquele que eu fui e aquele que eu sou” (BASLEZ, 1993, p. 19)6. Anteriormente, o “eu” que é posto em cena exerce sobretudo um papel social, enquanto em Rousseau e Goethe, encontramos um “eu” singular, pois é o indivíduo que conta e não apenas seu lugar na sociedade.7 Desde Rousseau e as origens da autobiografia francesa, o gênero se constrói a partir de elementos ambivalentes, oscilando entre o dizer e o calar, entre a verdade e a ficção. Rousseau, cujas Confissões provocaram escândalo – já que pela primeira vez um escritor se propunha a dizer tudo e a falar também de sua vida íntima –, tenta ser o mais sincero possível. Para ele, não é questão de encontrar um atalho e omitir seus erros e momentos difíceis. Ao contrário, quer revelar a verdade, dizer exatamente o que se passou e descrever bem o percurso de sua vida, com um aspecto didático também evidente: “a história de um homem que terá a coragem de se mostrar intus et in cute pode ser de alguma instrução a seus semelhantes, mas esta empresa tem dificuldades quase intransponíveis”.8 Mas o que é dizer toda a verdade? Essa é talvez a questão central e mais flexível que rege a autobiografia e o modo de apresentar essa verdade é que dará mais ou menos poder ao discurso autobiográfico. O autor das Confissões conta-nos sua verdade e parece não querer maquiar as circunstâncias. Desse modo, o leitor é levado a ver a vida de Rousseau a partir do ângulo que este lhe apresenta. É assim que o filósofo das Luzes redige suas Confissões também ou sobretudo para se justificar junto à humanidade, justificar seus erros, diminuí-los aos olhos dos outros. Os leitores estariam também na posição de ler nesta obra um esforço da parte do autor para evitar que seus biógrafos apresentassem sua vida de um modo crítico ou acusador. É o que diz Pontalis na citação que apresentei no começo desta comunicação. No entanto, vida e ficção são instâncias cujas fronteiras são bastante tênues. Na verdade, “na nossa relação com a ficção é também nosso posicionamento no real do qual a ficção faz parte que está em jogo” (SCHAEFFER, 2004, p. 161)9. Escrever sua vida é, portanto, um ato de poder, um discurso que cria uma vida, uma vida que cria uma personalidade. Outro grande nome da autobiografia na França é Michel Leiris, que pensa a sua própria obra como uma ação e revela o quanto a psicanálise marca a escrita autobiográfica. Fazer um livro que seja um ato, tal é, em grandes linhas, o objetivo que me apareceu como o que devia perseguir, quando escrevi Idade de Homem. Ato em relação a mim mesmo, algumas coisas ainda obscuras sobre as quais a psicanálise, sem torná-las totalmente claras, tinha despertado minha atenção 2 quando eu a tinha experimentado como paciente. (DOUBROVSKY, 1988, p. 65)10 As autobiografias de escritores são quase necessariamente metaliterárias, contam o percurso de se tornar autor, o descobrir a literatura, o percurso entre a leitura do primeiro livro e a redação do primeiro livro. O discurso de poder aqui recai não só sobre a vida do autor, mas sobre sua obra literária, pois os leitores passam a lê-la com outros olhos, considerando o pensar do autor sobre sua própria obra. Não é o que Proust criticava em Sainte-Beuve, mas a possibilidade de ver o autor também como uma autoridade sobre seus textos. Penso naturalmente em Les Mots de Sartre, onde o menino protagonista vive em meio aos livros e conta sua infância de criança prodígio, a predileção dos avós, a relação com a mãe. Tudo isso sempre caminhando para o literário, com inúmeras reflexões sobre o fazer literário11. Para ilustrar esse discurso das autobiografias de escritores, aproveitando que o presente simpósio tem como tema a homenagem a Garcia Marquez e os 50 anos de publicação dos Cem anos de solidão, relembro que o autor colombiano publicou recentemente, em 2002, sua autobiografia: Vivir para contarla. O texto põe em cena a produção literária de Garcia Marquez, parecendo um guia de leitura para a obra do autor, as memórias de como foram criados seus muitos livros. Mas como se comporta no início do século XXI e desde o final do século XX, este gênero outrora tão marginalizado? Quem hoje seguiria a empresa de Rousseau, de contar sua vida por inteiro, sem nada omitir? Está claro que atualmente a redação de uma autobiografia tradicional pode ser feita 12. No entanto, não é esse o caminho mais freqüentado. Parece evidente que os textos mais recentes se aproximam sobretudo do conceito de “autoficção”. É assim que alguns autores contemporâneos chegam a “classificar” sua produção como “autofictiva”.13. O pacto autoficcional está “na moda”. Isso pode ser compreendido se considerarmos em que medida a humanidade vive em um mundo em que a cada dia vida e ficção estão mais emaranhadas. Sabemos que essa fronteira sempre teve certa flexibilidade. No século XVII, por exemplo, com o romance epistolar, há uma tentativa de apresentar um romance como um documento não ficcional. Mas hoje, através da Internet, blogs, orkuts, a ficção está ainda mais presente na vida de todos nós. Para exemplificar essa tendência à autoficção, lembro um autor belga pouco conhecido, André Baillon, cujos livros põem em cena aparentemente os mesmos personagens, mas com nomes diferentes em cada texto. O reconhecimento do personagem se faz pela repetição das características físicas, pelos efeitos de remeter para cenas, situações, sensações dos textos anteriores e também pelos prefácios. Faço uma pequena lista de alguns de seus livros com o nome do personagem principal em cada um deles. Chamo a atenção para o primeiro livro em que o personagem principal tem o mesmo nome do autor e para os livros Histoire d’une Marie e Roseau, em que o nome próprio aparece ora escrito com “y” ora escrito com “i”. En Sabots Histoire d’une Marie Roseau Un Homme si simple André Baillon Henry Boulant Henri Boulant Jean Martin 3 A obra de Baillon é do início do século XX. Seu último texto data de 1932, tendo o autor cometido suicídio no mesmo ano. Como muitos outros, antes de Doubrovsky, André Baillon propõe a seus leitores um pacto que nitidamente confunde ficção e realidade, como podemos ver, por exemplo, já através dos nomes de seus personagens. No final dos anos setenta, Doubrovsky tenta definir a “autoficção” e seus livros são exemplos desse tipo de escrita. O inventor da terminologia “autoficção” convida os leitores a uma leitura consciente desse mélange de real e fictício. Serge Doubrovsky fará de seus textos um lugar privilegiado para jogos de palavras e todo tipo de “exercícios” lingüísticos: uma escrita que reflete o estado de espírito do narrador (e o texto sugere que é o mesmo do autor...), com pontuação inexistente ou truncada, as maiúsculas que desaparecem, o texto como um emaranhado de frases refletindo um pensamento rápido e aturdido. Pacto autobiográfico. Pacto romanesco. Pacto autoficcional. O que permite a existência de um pacto é a assinatura. A assinatura do autor e a assinatura do leitor que, por sua vez, ratifica o que o autor lhe oferece e parte dessa oferta para sua atividade de leitura-escritura. Assinar uma obra não é simples, não é como assinar um cheque. Um cheque, para que exerça suas funções sociais, deve estar assinado e ter fundos para um dado valor na conta bancária. Uma obra literária pode ser uma obra literária anônima, mas se ela leva uma assinatura, essa assinatura a acompanha, seja um pseudônimo, seja o nome civil do autor. E é essa assinatura que permite o pacto autobiográfico. É possível encontrar textos de ficção anônimos, mas é difícil de aceitar um texto anônimo como autobiográfico.14 Se são anônimos, se não estão assinados, não chegam a propor o pacto autobiográfico15, a menos que integrem algum projeto maior que os defina como propostas autobiográficas. É esse processo de assinatura do pacto autobiográfico que dará ao texto o seu poder de criar uma vida. Autor e leitor assumem ambos papéis fundamentais nesse processo. Nunca estamos sozinhos quando assinamos. Mesmo quando sou o único a assinar, como quando não há leitor. Escrevo e assino um texto que em princípio ninguém lerá. Mesmo que eu venha a queimá-lo, sem que tenha sido visto por outra pessoa, o texto já havia sido assinado por outros além de mim. Em primeiro lugar, sirvo-me da linguagem para escrever, de uma língua que me vem do outro. E minha assinatura mesma está plena desse outro, já que ela quer englobar o meu ser através de um nome que me pertence, mas que só é meu porque me foi dado por alguém. Isso no que concerne um texto secreto. Quando se trata de um texto publicável ou jurídico, a assinatura ganha novos aspectos. Para que o texto jurídico seja válido, é preciso que seja assinado por outros além de mim, é necessário o aceite do outro, através de sua assinatura. E é ao leitor que cabe o aceite de um texto literário, e do pacto proposto nesse texto. É ele, leitor, que tem de assinar, mas sua assinatura não é passiva. Ao contrário, trata-se de uma assinatura como ato, o que faz da leitura um processo ativo, uma re-escritura ou, o que seria mais adequado, uma co-escritura. Toda autobiografia parece encerrar em si uma tentativa do seu autor de sobreviver a sua própria morte. Para que o autor sobreviva, é necessário que os leitores o leiam. Blanchot e Barthes falam nos anos 60 da morte do autor e conhecemos a famosa frase de Barthes “o nascimento do leitor se paga com a morte do autor” (BARTHES, 1984, p. 69).16 Não é dessa questão que falo aqui. Não venho criticar a pertinência de ver a obra trilhando um caminho que lhe é próprio, independente do autor. Até na autobiografia isso acontece. No entanto, um texto autobiográfico está necessariamente impregnado de seu autor e é assim percebido por seus leitores (ou melhor, o texto só é autobiográfico se 4 for assim percebido pelos leitores). Mas Barthes vê a figura do autor como uma figura da modernidade17. Se de um lado ele tem razão, já que o Renascimento foi o momento da história da humanidade em que o humanismo começa a reinar sem qualquer sombra e a preocupação de associar a obra a quem a produziu ganha uma importância jamais conhecida anteriormente, de outro lado, Barthes está enganado. Como dizer que o autor é um personagem moderno, se sua presença se verifica também na Antiguidade e na Idade Média? Dentre tantos autores com produção literária, cito, na Antiguidade, Homero (ainda que pairem tantas dúvidas sobre sua existência, hoje e desde a Antiguidade lha são atribuídas a Ilíada e a Odisséia e, com isso, ele alcança a imortalidade), ou os poetas trágicos e cômicos, como Sófocles, Eurípides e Aristófanes, cujas obras participavam de um concurso no qual aos vencedores era atribuída grande glória. A Idade Média também produziu autores como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Antônio, Chrétien de Troyes, François Villon. Artistas e políticos são outro exemplo da atemporalidade da figura do Autor como instituição. Desde os faraós responsáveis pela construção das pirâmides, até aos políticos modernos, cujos nomes assinam as obras públicas terminadas em seus mandatos, a assinatura do autor acompanha suas obras – sejam elas artísticas, literárias ou, simplesmente, humanas. A imortalidade cabe àquele que assina. Daí a preocupação do pintor de deixar seu nome sobre a tela, a do escritor de não ter seu texto plagiado. Se não assinamos nossa obra, ela pode sobreviver, mas a glória eterna está fora do alcance do autor. A única maneira de se tornar imortal através de sua obra é com a assinatura. E também na autobiografia essa assinatura é responsável pela imortalidade do texto. No entanto, se escrever uma autobiografia é ter em mãos um discurso de poder muito forte, não podemos esquecer que ler uma autobiografia também não é um gesto passivo. É, na verdade, nesse ato de leitura, espaço de dúvida, de leitura ativa e crítica que o leitor assina o pacto e deixa o discurso autobiográfico exercer seu poder... ou não. É ao leitor que caberá o epílogo. Referências Bibliográficas BARTHES, Roland. Le bruissement de la langue. Paris, Seuil, 1984. BASLEZ, Marie-Françoise (org.). L’invention de l’autobiographie : d’Hésiode à Saint Augustin. Paris, Ecole normale supérieure, 1993. DE ROULET, Daniel. Double : un rapport. Saint-Imier, Canevas, 1998. DOUBROVSKY, Serge. « Autobiographie/Vérité/Psychanalyse »In : Autobiographiques : de Corneille à Sartre. Paris, PUF, 1988. GUSDORF, Georges. Les écritures du Moi. Paris, Odile Jacob, 1991. LEJEUNE, Philippe. Pour l’autobiographie. Paris, Seuil, 1998. LEJEUNE, P. et VIOLLET, Catherine (direction). Genèses du « je » : manuscrits et autobiographie. Paris, CNRS éditions, 2000. LEJEUNE, P. Le pacte autobiographique. Paris, Seuil, 1975. 5 LEJEUNE, P. L’Autobiographie en France. Paris, Colin, 1971. LEJEUNE, P. Moi aussi. Paris, Seuil, 1986. MICHAUX, Ginette. (org.) Histoire et fiction. Lansman Editeur, 2001. PONTALIS, J.-B. « Derniers, premier mots ». In : L’Autobiographie, Les Belles Lettres, 1988. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Œuvres Complètes. tome I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959. ROUSSEAU. Correspondance. 2 vol., éd. Lefèvre, 1839. SARTRE. Les Mots. Paris, Gallimard, 1964. SCHAEFFER, J.-M. & HEINICH, Nathalie. Art, création, fiction. Entre sociologie et philosophie. Nîmes, Editions Jacqueline Chambon, 2004. 1 “apparaît souvent comme une nécrologie anticipée, comme le geste ultime d'appropriation de soi et par là peut-être comme un moyen de discréditer ce que les survivants penseront et diront de vous, de conjurer le risque qu‟ils n‟en pensent rien”. As traduções aqui apresentadas são da própria autora. 2 LEJEUNE. Le pacte autobiographique. p. 323. « donner une définition de l‟autobiographie, et constituer un „corpus‟ cohérent » 3 « L‟autobiographie moderne n‟est donc pas née en rupture avec la biographie traditionnelle (d‟ailleurs même après Rousseau et jusqu‟à aujourd‟hui, il continue à y avoir des autobiographies qui se comportent comme de simples biographies), mais simplement à la suite de l’apparition d’une nouvelle forme biographique (le roman autobiographique)”. Na Europa, antes do século XII, o tipo de texto mais relevante para esse estudo é a autobiografia religiosa. 4 Georges Gusdorf (cf. GUSDORF. Les écritures du moi.) aponta alguns pontos da pesquisa de Lejeune que não teriam um fundamento científico, principalmente em relação a essa origem da autobiografia no século XVIII. Um desses pontos diz respeito aos textos autobiográficos que não têm valor literário reconhecido. Para Gusdorf, tais textos são muito significativos e ele considera que os críticos literários, ignorando essas obras, deixam de lado aspectos que seriam importantíssimos para a compreensão do gênero. No entanto, tais críticas parecem exageradas. Gusdorf ignora, por exemplo, a proposta de Lejeune com a APA (Association pour l‟autobiographie). Em 1987, Philippe Lejeune lançou o artigo “Wanted: autobiographies”, em que pedia textos autobiográficos para conhecer “quais as práticas autobiográficas possíveis em cada grupo social. (« quelles étaient les pratiques autobiographiques possibles dans chaque groupe social ») e é esse projeto que se transformou na APA. Em Pour l’autobiographie, está clara essa preocupação de dar voz às autobiografias “marginais” e em Génèses du « je », Lejeune reitera esse mesmo interesse. 5 “Décider que l‟autobiographie (très vaguement définie comme le fait de raconter sa vie) est une vocation essentielle et profonde de l‟humanité, une de ses plus nobles tâches, et suivre l‟éveil progressif de la conscience humaine depuis les biographies des pharaons jusqu‟à J.-J. Rousseau, c‟est là une tentative idéologique et mythologique sans grande pertinence historique, même si elle est amenée fatalement à croiser nombre de problèmes historiques réels.” 6 « Il faut attendre les Confessions de saint Augustin pour que soit soulignée la distance entre passé et présent, entre „celui que je fus‟ et „celui que je suis‟ » 7 Cf. BASLEZ, 1993, p. 20. « mise en scène d‟un ego épris de sa singularité ». 6 8 Carta de Rousseau a Moulton. in : ROUSSEAU. Correspondance, 2 vol, éd. Lefèvre, 1839. « l'histoire d'un homme qui aura le courage de se montrer intus et in cute peut être de quelque instruction à ses semblables; mais cette entreprise a des difficultés presque insurmontables. » 9 “dans notre rapport à la fiction c‟est toujours et encore notre positionnement dans le réel (dont la fiction est partie prenante) qui est en jeu.” 10 Trecho de Leiris citado por Serge Doubrovsky. "Faire un livre qui soit un acte, tel est, en gros, le but qui m'apparut comme celui que je devais poursuivre, quand j'écrivis l'Age d'Homme. Acte par rapport à moi-même, certaines choses encore obscures sur lesquelles la psychanalyse, sans les rendre tout à fait claires, avait éveillé mon attention quand je l'avais expérimentée comme patient." 11 cf. SARTRE. Les Mots. Paris, Gallimard, 1964. p. 203-204. « Je réussis à trente ans ce beau coup : d‟écrire dans La Nausée - bien sincèrement, on peut me croire l‟existence injustifiée, saumâtre de mes congénères et mettre la mienne hors de cause. J‟étais Roquentin, je montrais en lui, sans complaisance la trame de ma vie, en même temps j‟étais moi, l‟élu, annaliste des enfers (...) Dogmatique je doutais de tout sauf d‟être l‟élu du doute; (...) J‟ai changé. Je raconterai plus tard quels acides ont rongé les transparences déformantes qui m‟enveloppaient”. 12 Aparentemente os textos atuais no campo da autobiografia religiosa seguem ainda essa mesma diretriz. 13 Como o faz Pierre Mertens em Histoire et fiction, 2001, p. 48 « Perdre était un livre écrit à la première personne ; je vais désormais alterner les livres d‟autofiction, dirait Doubrovsky, avec ceux, plus séculiers... » Tal associação ao dispositivo autofictivo pode se fazer mais sutilmente também, sem evocar o termo « autoficção », como Daniel de Roulet em Double : « Je pourrais me contenter de reproduire des prospectus techniques, de photocopier les bulletins internes de notre police. Mieux vaut „un vrai roman‟, comme disait mon collègue ingénieur... » (Double , 1998, p. 167). 14 Em seu Pacte autobiographique, Philippe Lejeune recusa a possibilidade de existência de autobiografias anônimas, mas revê sua posição mais tarde. Em Moi aussi, ele menciona esse tipo de texto : « Cela se voit bien quand j‟en arrive à l‟autobiographie anonyme. Au lieu de procéder à une analyse plus poussée des différents cas possibles (et des différentes réactions possibles des lecteurs), je me bloque (...) ». 15 É claro que podem ser lidos como tal, mas os textos guardarão sempre uma aura de indecisão, o pacto não assinado deixa mais margem às dúvidas e é evidente também que a recepção de um pacto proposto dependerá ainda da época em que o livro é escrito e lido. 16 « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l‟auteur ». 17 Cf. BARTHES. « La mort de l‟auteur ». in : Le bruissement de la langue. p. 64 « L‟auteur est un personnage moderne, produit sans doute par notre société ». 7
Download