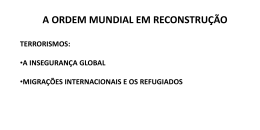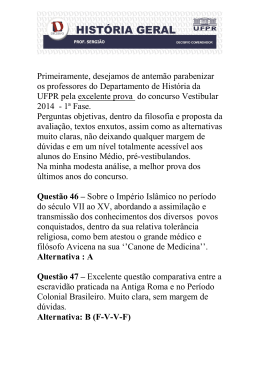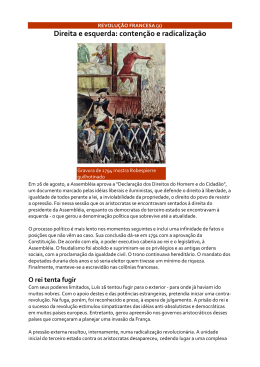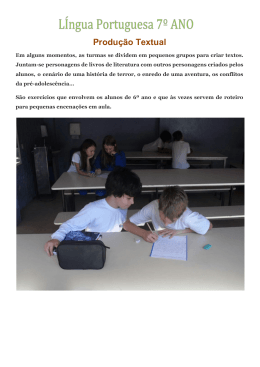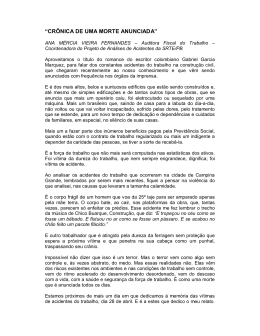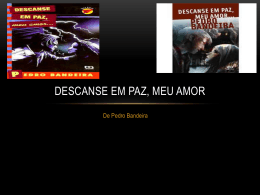slavoj zizek apresenta Robespierre, ou a “divina violência” do terror Q uando o primeiro-ministro chinês Chou En-lai estava em Genebra, em 1953, nas negociações de paz para acabar com a Guerra da Coréia, um jornalista francês perguntou-lhe o que pensava sobre a Revolução Francesa; Chou En-Lai respondeu: “Ainda é muito cedo para dizer alguma coisa.” De certo modo, ele tinha razão: com a desintegração das “democracias populares” no final dos anos 1990, desencadeou-se mais uma vez a luta pelo significado histórico da Revolução Francesa. Os revisionistas liberais tentaram impor a idéia de que o fim do comunismo, em 1989, ocorreu no momento exato: marcou o fim da era que tivera início em 1789, com o fracasso final do modelo estatal-revolucionário que entrara na cena histórica pela primeira vez com os jacobinos. Em nenhuma circunstância a máxima “toda história é uma história do presente” é mais verdadeira que no caso da Revolução Francesa: sua recepção historiográfica sempre refletiu de perto os giros e reviravoltas das lutas políticas. A marca que identifica todos os tipos de conservadores é a rejeição direta do movimento: a Revolução Francesa foi uma 7 8 Virtude e Terror catástrofe desde o princípio, o produto do espírito moderno sem Deus; deve ser interpretada como a punição divina pelos caminhos tortuosos da humanidade; portanto, cabe desmontar sua herança da forma mais meticulosa possível. A atitude liberal típica é diferente: sua fórmula é “1789 sem 1793”. Resumindo, o que os sensíveis liberais querem é uma revolução descafeinada, uma revolução que não cheira a revolução. Assim, François Furet e outros tentaram privar a Revolução Francesa de seu estatuto de evento fundador da democracia moderna, relegando-a a uma anomalia da história: houve uma necessidade histórica de afirmar os princípios modernos da liberdade pessoal etc., mas, como prova o exemplo inglês, isso talvez pudesse ser conseguido de modo muito mais efetivo por uma forma mais pacífica... Os radicais, ao contrário, estão possuídos pelo que Alain Badiou chamou de “a paixão do Real”: se você diz A – igualdade, liberdades e direitos humanos –, não deve fugir de suas conseqüências, mas é preciso reunir coragem para dizer B – o terror realmente precisou defender e afirmar A.1 De qualquer modo, seria simples demais dizer que a esquerda de hoje deveria simplesmente continuar por esse caminho. Alguma coisa, algum tipo de corte histórico aconteceu em 1990: todo mundo, inclusive a “esquerda radical” de hoje, está de certo modo envergonhado do legado jacobino do terror revolucionário concentrado no Estado, de forma que o lema comumente aceito é que a esquerda, para recuperar efetividade política, deveria reinventar-se por completo, abandonando afinal o chamado “paradigma jacobino”. Em nossa era pós-moderna de “propriedades emergentes” – a interação caótica de múltiplas subjetividades, a livre interação, mais que a hierarquia centralizada, a multiplicidade de opiniões em lugar de uma Verdade –, a ditadura jacobina não é fundamentalmente “do nosso gosto” (a palavra “gosto” ganha aqui todo o seu peso histórico, como nome de uma disposição ideológica básica). Podemos imaginar algo mais estranho ao nosso universo de liberdade de opinião, concorrência de mercado, interação pluralista nômade etc. que a política da Verdade (com “V” maiúsculo, é claro) de Robespierre, cujo objetivo declarado era “devolver o destino da liberdade às mãos da verdade”? Tal Verdade só pode ser imposta de uma maneira terrorista: Slavoj Zizek Zizek apresenta 9 Se a força moral do governo popular na paz é a virtude, a força moral do governo popular em revolução é ao mesmo tempo virtude e terror: a virtude, sem a qual o terror é funesto; o terror, sem o qual a virtude é impotente. O terror nada mais é que a justiça imediata, severa, inflexível; ele é, portanto, uma emanação da virtude. Mais que um princípio particular, é uma conseqüência do princípio geral da democracia aplicado às mais prementes necessidades da pátria.2 A linha de argumentação de Robespierre alcança seu clímax na identificação paradoxal dos opostos: o terror revolucionário “nega” a oposição entre punição e clemência – a punição justa e severa dos inimigos é a forma mais alta de clemência, pois nela coincidem o rigor e a caridade: “Punir os opressores da humanidade é clemência; perdoá-los é barbárie. O rigor dos tiranos tem por único princípio o rigor: o do governo republicano parte da beneficência.”3 O que, então, deveriam fazer com isso aqueles que permanecem fiéis ao legado da esquerda radical? Duas coisas, pelo menos. Primeiro, o passado terrorista deve ser aceito como nosso, mesmo que – ou precisamente porque – ele seja rejeitado criticamente. A única alternativa à hesitante posição defensiva de nos sentirmos culpados diante de nossos críticos liberais ou direitistas é: precisamos fazer o trabalho crítico melhor que nossos oponentes. Isso, no entanto, não é toda a história: não devemos permitir que nossos oponentes escolham o campo e o tema da luta. Isso quer dizer que a impiedosa autocrítica deve ser acompanhada da admissão intimorata do que, para parafrasear o juízo de Marx sobre a dialética de Hegel, somos tentados a chamar de “núcleo racional” do terror jacobino: A dialética materialista assume, sem particular alegria, que até agora nenhum sujeito político foi capaz de chegar à eternidade da verdade que estava desenvolvendo sem momentos de terror. Saint-Just perguntou: “O que querem aqueles que não querem nem a Virtude nem o Terror?” A resposta dele é bem conhecida: querem a corrupção – outro nome para a derrota do sujeito.4 Ou, como definiu sucintamente Saint-Just: “Aquilo que produz o bem geral é sempre terrível.”5 Essas palavras não devem ser interpreta- 10 Virtude e Terror das como uma advertência contra a tentação de impor violentamente o bem geral à sociedade, mas, pelo contrário, como uma verdade amarga a ser totalmente endossada. O ponto crucial suplementar que se deve ter em mente é que, para Robespierre, o terror revolucionário é o próprio oposto da guerra: Robespierre era um pacifista, não a partir da hipocrisia ou da sensibilidade humanitária, mas porque estava bem consciente de que a guerra entre as nações, em geral, serve como meio de ofuscar a luta revolucionária dentro de cada nação. O discurso de Robespierre “Sobre a guerra” tem especial importância hoje: mostra-o como um verdadeiro pacifista que vigorosamente denuncia o patriótico chamado à guerra – mesmo que a guerra seja formulada como a defesa da Revolução – como a tentativa daqueles que querem “revolução sem revolução” para desviar a atenção da radicalização do processo revolucionário. Sua posição é assim o oposto exato daquela adotada pelos que necessitam da guerra para militarizar a vida social e assumir o controle ditatorial sobre ela.6 Por isso Robespierre também denuncia a tentação de exportar a Revolução para outros países, eficazmente “liberando-os”: “Os franceses não estão afligidos com a mania de tornar qualquer nação alegre e livre contra sua vontade. Todos os reis poderiam ter vegetado ou morrido impunemente em seus tronos manchados de sangue se tivessem sido capazes de respeitar a independência do povo francês.”7 O terror revolucionário jacobino algumas vezes é (meio) justificado como o “crime criador” do universo burguês da lei e da ordem, no qual é permitido aos cidadãos irem em paz ao encalço de seus interesses. Deve-se rejeitar tal afirmação com base em duas coisas: não só é factualmente errada (muitos conservadores estavam bem certos ao assinalar que é possível alcançar a lei e a ordem burguesas sem excessos terroristas, como foi o caso na Grã-Bretanha – embora lá tenha havido o episódio de Cromwell) e, muito mais importante, o Terror revolucionário de 1792-94 não foi um caso do que Walter Benjamin e outros chamam de violência da criação do Estado, mas antes um caso de “divina violência”.8 Intérpretes de Benjamin lutam com aquilo que “divina violência” possa efetivamente significar – talvez um outro sonho esquerdista de um evento “puro” que nunca ocorre? Devería- Slavoj Zizek Zizek apresenta 11 mos lembrar aqui a referência de Friedrich Engels à Comuna de Paris como um exemplo de ditadura do proletariado: “Utimamente, os filisteus socialdemocratas têm sido outra vez tomados por um sagrado terror diante das palavras ditadura do proletariado. Pois muito bem, senhores, querem saber como é essa ditadura? Olhem para a Comuna de Paris. Aquilo foi a ditadura do proletariado.”9 Deveríamos repetir isso, mutatis mutandis, a propósito da divina violência: “Pois muito bem, cavalheiros críticos teóricos, querem saber como é essa divina violência? Olhem para o Terror revolucionário de 1792-94. Aquilo foi a Divina Violência.” (E a série continua: o Terror Vermelho de 1919...) Quer dizer, deveríamos identificar sem medo a divina violência com um fenômeno histórico positivamente existente, evitando assim qualquer mistificação obscurantista. Quando aqueles que estão fora do campo social estruturado atacam “às cegas”, exigindo e praticando imediata justiça/vingança, isso é a “divina violência”. Lembremse, há pouco mais de uma década, do pânico no Rio de Janeiro, quando multidões desceram das favelas para a parte rica da cidade e começaram a saquear e queimar supermercados* – isso foi “divina violência”... Como os gafanhotos bíblicos, a punição divina para os pecados dos homens, a divina violência ataca de repente, um meio sem um fim, vindo de parte alguma e de toda parte – ou, como escreveu Robespierre em seu discurso que exigia a execução de Luís XVI: “Os povos não julgam como as cortes judiciárias; não proferem sentenças, eles lançam o raio; não condenam os reis, eles os mergulham de novo no nada; e essa justiça é tão boa quanto a dos tribunais.”10 A “divina violência” benjaminiana deve ser assim concebida como divina no sentido preciso da velha máxima latina vox populi, vox dei:** não no sentido perverso de “estamos fazendo isso como meros instrumentos da Vontade do Povo”, mas como o heróico ato de assumir a solidão de uma decisão soberana. É uma decisão (de matar, de arriscar ou perder a própria vida) feita em solidão absoluta, não coberta * Referência a fatos passados no Rio de Janeiro na década de 1990. (N.T.) ** Em latim: a voz do povo é a voz de Deus. (N.T.) 12 Virtude e Terror pelo grande Outro. Se é extramoral, não é “imoral”, não dá ao agente a licença para matar irrefletidamente, com algum tipo de inocência angelical. A máxima da divina violência é fiat iustitia, pereat mundus:* a divina violência é justiça, o ponto de não-distinção entre justiça e vingança, no qual o “povo” (a parte anônima da não-parte) impõe seu terror e faz outras partes pagarem o preço – o Dia do Juízo Final para a longa história de opressão, exploração, sofrimento – ou, como o próprio Robespierre expressou de forma pungente: Que pretendeis vós, que quereis que a verdade não tenha força na boca dos representantes do povo francês? A verdade, sem dúvida, tem sua potência, sua cólera, seu despotismo; ela tem entonações tocantes, terríveis, que ecoam com força tanto nos corações puros como nas consciências culpadas, e que a mentira não pode imitar, assim como Salomé não pode imitar os raios do céu. Mas acusai disso a natureza; acusai disso o povo, que quer a verdade e que a ama.11 É isso que Robespierre tem como objetivo, em sua famosa acusação aos moderados, de que o que realmente querem é uma “revolução sem revolução”: desejam uma revolução destituída do excesso em que a democracia e o terror coincidam, uma revolução que respeite as regras sociais, subordinada a normas preexistentes, uma revolução na qual a violência é privada da dimensão “divina” e assim reduzida a uma intervenção estratégica que serve a objetivos precisos e limitados: Cidadãos, queríeis uma revolução sem revolução? Qual é esse espírito de perseguição que veio revisar, por assim dizer, aquela que rompeu nossos grilhões? Mas como submeter a um julgamento certo os efeitos que podem trazer essas grandes comoções? Quem pode marcar, depois do golpe, o ponto preciso onde devem se quebrar as vagas da insurreição popular? A esse preço, que povo poderia jamais sacudir o jugo do despotismo? Porque, se é verdade que uma grande nação não pode se levantar por um movimento simultâneo, e que a tirania só pode ser golpeada pela parte dos cidadãos que está mais próxima dela; como esses ousarão atacá-la se, depois da vitória, delegados vindos de lugares afastados podem torná-los responsáveis * Em latim: faça-se a justiça, pereça o mundo. (N.T.) Slavoj Zizek Zizek apresenta 13 pela duração ou violência da tormenta política que salvou a pátria? Deve-se considerar que eles estão autorizados por uma procuração tácita de toda a sociedade. Os franceses, amigos da liberdade, reunidos em Paris no mês de agosto último, agiram dessa forma, em nome de todos os departamentos. É necessário aprová-los ou discordar deles imediatamente. Fazê-los criminalmente responsáveis por algumas desordens aparentes ou reais, inseparáveis de um abalo tão grande, seria puni-los por sua devoção.12 Essa lógica revolucionária autêntica pode ser discernida já no plano das figuras de retórica com as quais Robespierre gosta de inverter o procedimento-padrão de primeiro evocar uma posição aparentemente “realista” e depois mostrar sua natureza ilusória. Freqüentemente Robespierre começa apresentando uma posição ou a descrição de uma situação de modo exagerado, e depois nos lembra que aquilo que, numa primeira aproximação, só poderia parecer ficção, é de fato a própria verdade: “Mas o que digo? Aquilo que apresentei agora como hipótese absurda é, na verdade, uma realidade muito clara.” É essa posição revolucionária radical que também habilita Robespierre a denunciar a preocupação “humanitária” com as vítimas da “divina violência” revolucionária: “A sensibilidade que geme quase exclusivamente pelos inimigos da liberdade me é suspeita. Cessai de agitar diante de meus olhos a túnica ensangüentada do tirano, ou acreditarei que vós quereis acorrentar Roma outra vez.”13 A análise crítica e a aceitação do legado histórico dos jacobinos encobrem a questão real que deve ser discutida: a realidade (freqüentemente deplorável) do Terror revolucionário obriga-nos a rejeitar a própria idéia do Terror, ou existe um modo de o repetir nas diferentes constelações históricas de hoje, para resgatar o conteúdo virtual de sua prática? Isso pode e deve ser feito, e a mais concisa fórmula de repetir o evento designado pelo nome de “Robespierre” é passar do terror humanista (de Robespierre) para o terror anti-humanista (ou melhor, inumano). Em Le siècle, Alain Badiou argumenta que a guinada de “humanismo e terror” para “humanismo ou terror”, que ocorreu no final do século XX, foi um sinal de regressão política. Em 1946, Maurice Merleau-Ponty escreveu Humanisme et terreur, sua defesa do comunismo 14 Virtude e Terror soviético, que recorreria a uma espécie de aposta pascaliana, o que anunciava a idéia que Bernard Williams mais tarde desenvolveu como a noção de “sorte moral”: o terror presente será retroativamente justificado se a sociedade que dele emergir revelar-se de fato humana. Hoje, tal conjunção de terror e humanismo é impensável; a visão liberal predominante substitui o e pelo ou: ou humanismo ou terror... Mais precisamente, existem quatro variações sobre esse tema: humanismo e terror, humanismo ou terror, cada qual em um sentido “positivo” ou em um sentido “negativo”. “Humanismo e terror” em sentido positivo é o que elaborou Merleau-Ponty: ele apóia o stalinismo (o engendramento forçado – “terrorista” – do Homem Novo) e já é claramente discernível na Revolução Francesa, sob a aparência da conjunção entre virtude e terror feita por Robespierre. Essa conjunção pode ser negada de duas formas. Pode envolver a escolha “humanismo ou terror”, isto é, o projeto humanista liberal em todas as suas versões, desde o humanismo dissidente anti-stalinista até os neo-habermasianos de hoje (Luc Ferry e Alain Renaut na França, por exemplo) e outros defensores de direitos humanos contra o terror (totalitário, fundamentalista). Ou pode conservar a conjunção “humanismo e terror”, mas de um modo negativo: todas aquelas orientações filosóficas e ideológicas, desde Heidegger e dos cristãos conservadores até os partidários da espiritualidade oriental e da ecologia radical, que percebem o terror como a verdade – a conseqüência última – do próprio projeto humanista, de sua hubris.* Existe, no entanto, uma quarta variação, em geral deixada de lado: a escolha “humanismo ou terror”, mas com terror, e não humanismo, como termo positivo. Essa é uma posição radical difícil de sustentar, mas, talvez, nossa única esperança: ela não resulta na obscena loucura de seguir abertamente uma “política terrorista e inumana”, mas em alguma coisa muito mais difícil de considerar. No pensamento “pósdesconstrucionista” de hoje (se arriscarmos essa designação ridícula, que só pode soar como sua própria paródia), o termo “inumano” * Hubris, em grego no original: soberba e arrogância desmedida. (N.T.) Slavoj Zizek Zizek apresenta 15 ganhou novo peso, em especial na obra de Agamben e de Badiou. O melhor modo de focalizá-lo é pela via da relutância de Freud quanto a endossar a injunção “Ama teu próximo!”. A tentação a que se deve resistir aqui é a domesticação ética do próximo – por exemplo, o que Emmanuel Levinas fez com essa noção do próximo como o ponto abissal a partir do qual emana o chamado pela responsabilidade ética. O que Levinas ofusca desse modo é a monstruosidade do próximo, uma monstruosidade pela qual Lacan aplica ao próximo o termo Coisa (das Ding), usado por Freud para designar o objeto último de nossos desejos em sua intolerável intensidade e impenetrabilidade. Deveríamos ouvir neste termo todas as conotações da ficção de horror: o próximo é a Coisa (Má) que espreita detrás de todo primitivo rosto humano. Pensem no filme Shining (O iluminado), de Stanley Kubrick, no qual o pai, um modesto escritor fracassado, aos poucos transforma-se numa besta assassina que, com um sorriso maligno, massacra sua família. Em um paradoxo apropriadamente dialético, com toda sua celebração da Alteridade, o que Levinas falha em contemplar não é alguma Mesmidade subjacente a todos os seres humanos, mas a própria Alteridade radicalmente “inumana”: a Alteridade de um ser humano reduzido à inumanidade, a Alteridade exemplificada pela terrível figura do Muselmann, o “morto-vivo” nos campos de concentração. Em um plano diferente, o mesmo vale para o comunismo stalinista. Na narrativapadrão stalinista, mesmo os campos de concentração nazistas eram mais um cenário da luta contra o fascismo onde prisioneiros comunistas organizavam redes de heróica resistência – em tal universo, é claro, não existe lugar para a experiência-limite do Muselmänn, do morto-vivo privado da capacidade de compromisso humano. Não é de admirar que os comunistas stalinistas estivessem tão ansiosos de “normalizar” os campos, considerando-os apenas outro lugar da luta antifascista e desqualificando os Muselmänner como aqueles que simplesmente eram demasiado fracos para agüentar a luta. É contra esse panorama que se pode entender por que Lacan fala do núcleo inumano do próximo. Nos anos 1960 – a era do estruturalismo –, Louis Althusser lançou a famosa fórmula do “anti-humanismo teórico”, permitindo, e mesmo exigindo, que este fosse suplementa- 16 Virtude e Terror do pelo humanismo prático. Em nossa prática, devemos atuar como humanistas, respeitando os outros, tratando-os como pessoas livres dotadas de total dignidade, como criadores de seu mundo. No entanto, em teoria, nem por isso devemos deixar de ter em mente que o humanismo é uma ideologia, o modo pelo qual experimentamos espontaneamente nossa difícil situação, e que o verdadeiro conhecimento dos seres humanos e de sua história deveria tratar os indivíduos não como sujeitos autônomos, mas como elementos de uma estrutura que segue suas próprias leis. Em contraste com Althusser, Lacan efetua a passagem do anti-humanismo teórico para o anti-humanismo prático, isto é, para uma ética que vai além da dimensão do que Nietzsche chamou de “humano, demasiado humano” e confronta o núcleo inumano da humanidade. Isso não significa apenas uma ética que não mais nega, mas que corajosamente leva em conta a latente monstruosidade que há no ser humano, a diabólica dimensão que explode em fenômenos comumente cobertos pelo nome-conceito “Auschwitz” – uma ética que ainda seria possível depois de Auschwitz, para parafrasear Adorno. Essa dimensão inumana é, para Lacan, ao mesmo tempo, o suporte último da ética. Em termos filosóficos, tal dimensão “inumana” pode ser definida como aquela de um sujeito subtraído de toda forma de “individualidade” ou “personalidade” humanas. Esta é a razão por que, na cultura popular de hoje, uma das figuras exemplares de um sujeito puro é um não-humano – alienígena, ciborgue – que mostra mais fidelidade à sua missão, à dignidade e à liberdade do que suas contrapartidas humanas, da figura de Schwarzenegger em O exterminador do futuro até a do andróide de Rutger-Hauer em O caçador de andróides. Lembrem-se do sombrio melancólico de Husserl, em suas Meditações cartesianas, de como o cogito transcendental permaneceria não afetado por uma praga que aniquilasse toda a humanidade: é simples, com esse exemplo, acumular pontos fáceis sobre o cenário autodestrutivo da subjetividade transcendental, e sobre como Husserl deixa escapar o paradoxo que Foucault, em seu As palavras e as coisas, chamou de “casal transcendental-empírico”, o vínculo que une para sempre o ego transcendental e o ego empírico, de tal modo que a aniquilação do último, por definição, leva ao desapa- Slavoj Zizek Zizek apresenta 17 recimento do primeiro. No entanto, o que aconteceria se, reconhecendo totalmente essa dependência como um fato (e nada mais que isso – um fato estúpido do ser), mesmo assim insistíssemos na verdade de sua negação, na verdade da afirmação da independência do sujeito com respeito ao indivíduo empírico qua ser vivente? Essa independência não está demonstrada no gesto definitivo de arriscar a própria vida, em estar pronto para renunciar ao próprio ser? É contra o quadro desse tópico, da soberana aceitação da morte, que deveríamos reler a reviravolta retórica com freqüência referida como prova da manipulação “totalitária” de sua audiência por Robespierre.14 Essa reviravolta teve lugar durante o discurso de Robespierre na Convenção Nacional, no dia 11 de germinal do ano II (31 de março de 1794); na noite anterior, Danton, Camille Desmoulins e alguns outros tinham sido presos, e muitos membros da Convenção temiam, de modo compreensível, que sua vez também chegasse. Robespierre indica diretamente que a hora é decisiva: “Cidadãos, chegou o momento de falar a verdade.” Em seguida evoca o medo que flutuava na sala: “Querem (on veut) fazer-vos temer abusos de poder, do poder nacional que haveis exercido. ... Querem fazer com que temamos que o povo venha a cair como vítima dos comitês. ... Temem que os prisioneiros estejam sendo oprimidos ...”15 A oposição aqui é entre a terceira pessoa impessoalizada “eles” (os instigadores do medo não estão personificados) e o coletivo dessa maneira posto sob pressão, que quase imperceptivelmente passa da segunda pessoa do plural “vós (vous)” para a primeira pessoa “nós” (Robespierre galantemente se inclui no coletivo). Contudo, a formulação final introduz uma mudança ameaçadora: não se trata mais de que “querem fazer com que vós/nós temamos”, mas sim que “temem”, o que significa que o inimigo que provoca o medo já não está fora de “vós/nós”, membros da Convenção Nacional, ele está aqui, entre nós, entre “vós”, aos quais Robespierre se dirige, corroendo nossa unidade por dentro. Nesse preciso momento, Robespierre, num verdadeiro golpe de mestre, assume total subjetivação. Esperando um pouco para que o ameaçador efeito de suas palavras tenha lugar, ele então continua, na primeira pessoa do singular: “Eu digo que qualquer um que trema nesse momento é culpado; pois a inocência nunca teme o escrutínio público.”16
Baixar