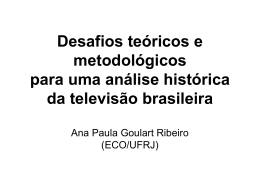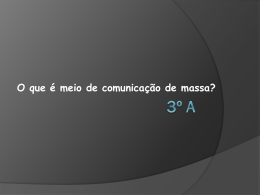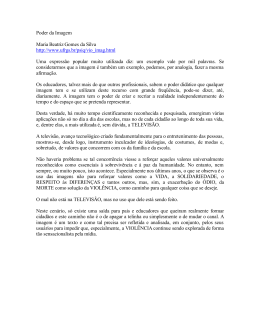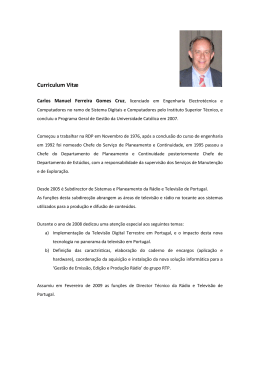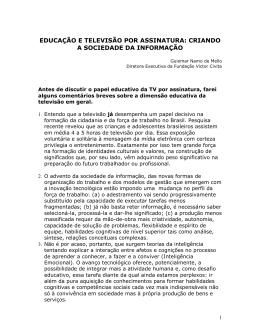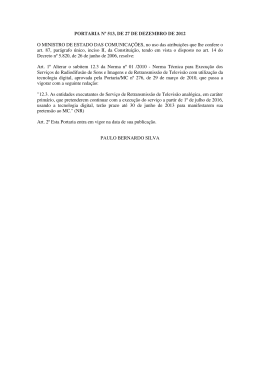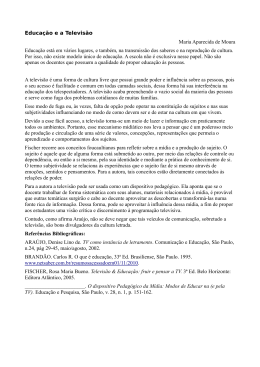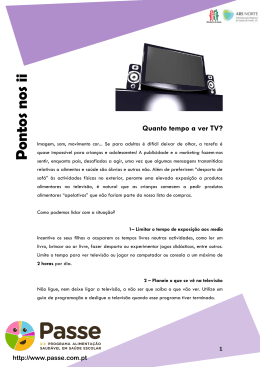TV UNIVERSITÁRIA: TELEJORNALISMO ALTERNATIVO Fabiana Piccinin1 Esse artigo faz uma crítica ao modelo de telejornalismo adotado pelas Tvs comerciais brasileiras, apresentando uma nova proposta de jornalismo de televisão. O modelo de telejornalismo adotado hoje pelas Tvs comerciais foi copiado das Tvs americanas e está baseado na fragmentação da informação, em matérias curtas e edição rápida de imagens como forma de segurar a audiência, mas que acaba por não permitir o entendimento das notícias. Nossa proposta é vista da perspectiva de uma profissional do veículo televisão, mas também do ponto de vista de pesquisadora enquanto aluna de mestrado, e pretende fugir desse modelo atual de telejornalismo, aproveitando o espaço surgido nas Tvs a cabo, e, em especial nas Tvs universitárias, para a adoção de um padrão de linguagem que torne a comunicação eficaz, ou seja, que efetivamente seja entendida pelo público e esteja a serviço dele. A nova tecnologia de cabodifusão surgida nos anos oitenta no Brasil está possibilitando a proliferação de inúmeros canais de televisão (alguns especialistas da área estimam que nos próximos anos cada operadora vai oferecer até quinhentos canais de televisão) que vêm se especializando em atender segmentos de mercado. É natural e salutar que junto com a programação segmentada, esses novos canais tragam também novas formas, novos programas, enfim, novas idéias de produção para a televisão. 1 Professora do Curso de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz e mestranda em Desenvolvimento Regional Reitero o caráter salutar desse fenômeno por que entendo que isso só pode significar ganho para o telespectador que, até o aparecimento do cabo, tinha à disposição um pouco mais que uma dezena de canais de tv e, em alguns lugares do país, esse número era ainda menor. Mas os benefícios, na minha opinião, da cabodifusão vão além da programação variada. A lei que regulamenta o funcionamento das operadoras de cabo determina que cada empresa disponibilize no seu pacote de canais, alguns que devam ser ocupados pela comunidade local onde a operadora está instalada. É o caso do canal comunitário que pode ser ocupado com produções feitas pela própria comunidade e que sejam de interesse público, o canal legislativo, e o canal universitário (só para citar alguns). O canal universitário deve ser ocupado pela ou pelas universidades que existam na cidade onde esteja funcionando a operadora de cabo. E esse me parece ser o espaço propício para o aparecimento de propostas eficazes e alternativas de se fazer televisão. Propostas novas e sérias, comprometidas com o desenvolvimento do espírito crítico e de reflexão de nossos telespectadores, e não subjugada ao pacto medíocre de “tudo em nome da audiência” como as Tvs comerciais. Cabe esclarecer que isso não é uma acusação gratuita. Fui repórter de televisão durante seis anos. E na prática do trabalho, no dia-a-dia da redação é que comecei a entender que o modelo de produção de Tv brasileiro tem por compromisso primeiro a audiência. É ingênuo afirmar como uma grande descoberta o que nos aprece óbvio demais, afinal as Tvs comerciais só sobrevivem se existirem anunciantes. Mas tudo fica muito mais claro quando empecilhos reais à informação séria nos são colocados cotidianamente em nome do “gosto do público” e da audiência. Nossa proposta é dar um grito de independência a essa relação. Queremos fazer um telejornalismo comprometido com princípios éticos, onde a informação esteja a serviço de nosso público como forma de conquista da cidadania. Ocorre que esse espaço, na minha avaliação, tem que ser ocupado pela Tv universitária. Só ela pode manter a autonomia por não depender exclusivamente de venda de anúncios para se manter no ar, ao contrário das Tvs comerciais que têm na relação programa X audiência X anunciante a própria sobrevivência. Esse modelo atual da Tv comercial obedece à lógica capitalista do sistema naturalmente, mas, quer me parecer que ainda há outras razões para termos a televisão que temos. Nos parece mais óbvio que se importamos o aparelho e modo de fazer TV dos Estados Unidos, trouxemos com ele a ideologia imperialista, que perigosamente passou a entrar nos lares brasileiros como algo dado e natural. E passamos, então, por conseqüência, a tomar este como o único modelo de televisão existente ou pelo menos aceito entre nós. Podemos compreender claramente isto, fazendo uma pequena retrospectiva dos meios de comunicação no país. Na década de trinta o rádio já provocava espantos nos ouvintes que mal podiam acreditar estarem recebendo mensagens do outro lado do mundo através das ondas sonoras. Era um Brasil onde a maior parte da população morava no campo e as inovações tecnológicas ainda mal compreendidas tinham um caráter mágico e deslumbrante. Vinte anos depois o susto foi ainda maior. Áudio e Vídeo na sala de casa transformaram o aparelho de TV no mais fantástico invento visto até então. Os primeiros aparelhos chegaram ao país em 1951. E a disputa para assistir a programação da TV inaugurada por Assis Chateubriand, a PRF-3 TV Tupi era tão grande que as pessoas que ainda não tinham comprado o aparelho, se reuniam na casa do vizinho mais próximo que tinha televisão. Com uma programação voltada basicamente para o entretenimento, a TV foi ditando moda, valores, conceitos; enfim, passou a construir a nova sociedade brasileira. De lá para cá meio século se passou e hoje são noventa milhões de telespectadores no país servidos por trinta milhões de aparelhos em todo o Brasil. É a quarta maior rede de TV do mundo. “Uma revolução ainda inacabada, mas que em menos de quarenta anos multiplicou os poucos milhares de privilegiados telespectadores daquele dia nos quase noventa milhões de brasileiros que hoje têm acesso à televisão”. (Macedo, 1988, p.11). Hoje o brasileiro assiste em média seis horas de televisão por dia. E a grande maioria, principalmente nas classes mais baixas, tem na televisão o principal meio de lazer. Feita a volta no tempo, já podemos ter idéia da importância de discutir a programação da Tv brasileira e da oportunidade vislumbrada pela Tv a cabo de propormos alternativas de programação. No nosso caso em específico, queremos tratar aqui do jornalismo de televisão, onde a TV tem o poder de verdade, ao ponto dos telespectadores freqüentemente acreditarem nas notícias somente se a virem na TV. É natural que sob essa questão, se leve em conta também o poder e a força da imagem. A TV brasileira, implantada com tecnologia e know how americano, reproduz o modelo de produção e exibição de notícias dos Estados Unidos, chegando ao extremo de usar, no dia-a-dia das emissoras, todas as terminologias de trabalho em inglês, como por exemplo, “news” para repórter, que é abreviatura de “newsman” – o homem das notícias, ou então, falar sobre a informação que é em “off”, que quer dizer, não oficial; ou ainda estipular o “deadline” do telejornal, que é o prazo máximo para que o repórter volte da rua e entregue a matéria ao editor para que haja tempo de colocá-la no ar. E é este então, que nos parece o principal problema do jornalismo de televisão brasileiro. Guiadas pelo padrão americano, as TVs comerciais norteiam sua produção na audiência e apostam que esta forma de telejornal com edição de imagens rápidas, matérias curtas e um aparente “grande volume” de informação a cada edição, seja o ideal para prender o público, mas que de fato torna-se superficial e não permite a assimilação da notícia e o desenvolvimento do espírito crítico do telespectador. Esse padrão de produção determina que no jornalismo de televisão, a notícia deva ser veiculada numa linguagem coloquial, do dia-a-dia, que o texto deve casar com a imagem, e que é preciso ser sintético e conciso para atender ao ritmo do veículo. Na atividade diária como repórter de televisão conforme já relatei antes, no contato diário com os mais variados segmentos, principalmente os mais populares, notamos que as pessoas de um modo geral, não entendem, ou entendem em parte, as notícias veiculadas pela TV. E nos parece até óbvio que isto aconteça, já que o jornalismo de TV americano prega a concisão e a síntese em toda a matéria, tornando o tempo o deus definidor de todas as questões, o que acaba por tornar a notícia na TV sempre superficial, ao ponto de não ser entendida muitas vezes. Isso nos leva a supor que esse padrão de produção de notícias seja intencionalmente adotado onde a informação, nesse caso, se transforma na não informação, já que não há entendimento. Se nossa empírica avaliação estiver correta (é o que pretendemos provar através de uma pesquisa), então o modelo de TV brasileiro não pode ser uma agente de esclarecimento e, por conseqüência de conquista da cidadania como deveria ser por ser um meio de comunicação, e por servir, num país de terceiro mundo, justamente a um grande público que tem acesso restrito aos outros meios de informação. Não nos esqueçamos que a concessão de canais de televisão no Brasil, diz a legislação, determina que o veículo coloque o telespectador como a razão da programação. E pelo não exercício da cidadania, não cobramos das emissoras aquilo nos é de direito. Sob esse ponto de vista, todas as pessoas que não entendem as notícias, ou que entendem em parte, estão tendo seu direito constitucional de acesso à informação negados e por extensão a própria cidadania. Cremos enquanto jornalistas, que nossa função social é a de esclarecer nossa população, a de cumprir o artigo da constituição brasileira que diz que todo cidadão tem direito à informação e que devemos informar para formar o telespectador. Esse direito não cumprido tem um efeito potencialmente maior no Brasil, já que a maioria da população se “informa” pela TV, principalmente analfabetos ou semi analfabetos, que por limitação do veículo, ou econômica, não tem acesso ao jornal impresso. Além disso, não podemos negar que a televisão é um meio de comunicação sedutor e cômodo, na medida em que não exige esforço como o jornal impresso exige através da leitura, e nem atenção, como nos exige o rádio. Sobre a forma – A linguagem adotada pelas Tvs comerciais que estamos criticando é prejudicial ao entendimento da informação por nos parecer fragmentada demais, norteada pela ditadura da síntese e da concisão como já dissemos antes. Estes determinantes que fazem parte do modelo padrão atual acabam por correr paralelo a um modelo eficaz de comunicação. Explico melhor. Há assuntos ou temas tratados dentro da televisão que a simples abordagem exige uma maior contextualização. Considero célebres os exemplos na área do direito ou da economia, onde as notícias estão cheias de termos técnicos que precisam ser explicados para tornar a informação compreensível. Não acredito que, uma vez a televisão sendo a fonte de informação da grande parte dos brasileiros, esses telespectadores tenham claro conceitos como “indexação” por exemplo, ou “liminar” tão comuns que corriqueiramente aparecem nas notícias de economia ou relativas ao poder judiciário. Fica o jornalista pressionado entre o dever de dar a informação completa e clara, e a impossibilidade de extrapolar o tempo que o editor concedeu para aquela determinada matéria (geralmente o tempo mínimo). Na maioria das vezes creio, ficamos devendo ao telespectador. Diriam os estudiosos da comunicação que objetividade e concisão são características do texto jornalístico em todos os veículos de comunicação; e que não é exclusividade da televisão. Mas, na televisão esse dilema, essa pressão do tempo (no caso do jornal impresso trata-se do espaço) é muito maior. O problema posto é tão sério que como diz Bordieu, numa crítica que faz à televisão, a limitação do tempo é uma das censuras a que estamos subjugados nesse veículo. O sociólogo fala do ponto de vista de quem é entrevistado na televisão. “...é uma formidável censura, uma perda de autonomia ligada, entre outras coisas, ao fato de que o assunto é imposto, de que as condições de comunicação são impostas e, sobretudo, de que a limitação do tempo impõe ao discurso restrições tais que é pouco provável que alguma coisa possa ser dita”. (Bordieu, 1996, p.19). Na avaliação dele, a limitação do tempo acaba por tornar impossível o efetivo processo de comunicação entre emissor e receptor. É possível dentro dessa discussão ir ainda mais longe, afinal de contas não é só a forma do padrão atual de linguagem telejornalística que impede a comunicação. São também os conteúdos. Estes totalmente comprometidos à questão da audiência. Pode-se discutir por exemplo a hipótese da agenda- setting, ou seja, a seleção de assuntos de domínio público que é determinada pelos meios de comunicação que acabam determinando o que público passa a conhecer e falar sobre. Segundo Wolf: ...em conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo (Wolf citado Shaw, p.130). O próprio Bordieu também diz que os jornalistas usam “óculos especiais a partir dos quais veêm certas coisas e não outras, e vêem de certa maneira as coisas que vêem”. (Bordieu, 1996, p.25). Quer dizer, existem assuntos que são interessantes, que são noticiáveis de acordo com uma lógica de mercado. Se segue ao mercado, essa seleção corre o risco de deixar de fora assuntos realmente interessantes, ou de dar importância a assuntos que não os merecem. Estes são apenas alguns exemplos de como os conteúdos podem ser determinantes sobre o veículo, embora nosso trabalho não vá tratar analiticamente dos conteúdos. Não que não sejam importantes. São fundamentais. Trata-se apenas de tentar definir com especificidade o objeto de nosso estudo deste trabalho e de deixar claro que os conteúdos também são importantes definidores da linguagem. Ainda poderíamos dizer que a corrida pelo “furo” também é definidor dessa seleção de assuntos que dão audiência, enfim. Contudo cabe ressaltar que neste trabalho de pesquisa vamos nos dedicar com especial atenção à forma como obstáculo à efetiva comunicação. A Tv universitária - Estamos assistimos na televisão brasileira, a um verdadeiro show do grotesco definido pelos diretores de programação como programas mais “populares”. A apelação e os programas de baixa qualidade são justificados pela maioria das redes por atenderem o gosto de um público mais popular que é o público da TV aberta hoje, enquanto o público dito mais elitizado é o da TV segmentada. Por tudo isso, a independência de um canal alternativo no cabo, nos parece o caminho ou a saída possível e necessária inclusive. No caso da nossa proposta, trata-se de um canal universitário no cabo onde a preocupação, ou o norte da programação seja a informação para a formação desse público atendido por este sinal. Mas este canal alternativo só se fixará se fizer efetivamente uma programação de qualidade, e com a honesta preocupação de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Pois nosso trabalho no curso de mestrado em desenvolvimento regional quer estudar justamente como fazer isso. Para sabermos que programação é essa de qualidade, e como ela deve ser feita para atingir o objetivo proposto ( a eficácia da linguagem), vamos nos utilizar do modelo existente (a TV comercial). A idéia é fazer uma pesquisa e detectar os principais problemas do telejornalismo brasileiro do ponto de vista do entendimento das notícias. Queremos verificar se existem falhas na linguagem adotada nas TV comerciais, e em existindo, quais seriam essas falhas, e qual seria então, a linguagem ideal? A partir daí, queremos propor uma linguagem específica para a TV universitária. Assim, nosso problema é saber que linguagem deve ser essa, ou seja, qual a linguagem telejornalística que deve ser adotada pela televisão universitária para que seja entendida pelo telespectador e para que contribua para sua formação e conquista da cidadania? Nosso objetivo é analisar a linguagem telejornalística adotada hoje pela TV comercial para detectar seus principais problemas e falhas que não permitem o entendimento da mensagem, e a partir dos resultados, propor uma nova linguagem, um novo padrão telejornalístico que seja de fato eficaz, e que esteja comprometido com a função social do jornalismo, que é a de disponibilizar a informação aos telespectadores para que possam usá-la para a melhoria da qualidade de suas vidas. A concepção da nova proposta de telejornalismo para a TV universitária vai ser embasada numa análise da linguagem utilizada pela TV comercial, de onde pretendemos levantar os principais problemas. Concretamente, pretendemos fazer uma pesquisa de campo, e através de entrevistas com a população, temos a intenção de saber se as pessoas entendem as notícias veiculadas na TV, e se não entendem, qual é a opinião delas sobre a causa disso. Pretendemos determinar um telejornal em específico para análise. Vamos então, determinando que classes de pessoas vão ser entrevistadas, e quantas deverão ser entrevistadas afim de configurar uma amostragem, assistir ao telejornal junto com os entrevistados, e aplicar o questionário em seguida. Depois da compilação dos resultados, obteremos as principais causas do entendimento ou não das notícias, e a partir daí, partiremos para a concepção da nova linguagem que deve ser adotada na TV universitária. Entendemos que a validade de nosso trabalho se encerra basicamente em duas questões. A primeira é que não podemos, enquanto jornalistas, nos submeter ao processo de produção de notícias que está aí e que só serve ao interesse comercial de cada emissora na busca de audiência, numa avaliação micro da questão; e que em nível macro, serve a uma estrutura de poder e dominação. É nosso dever buscar caminhos alternativos de mudança. E quando falo de caminho alternativo, falo de uma caminho contrário ao que está aí posto. A Tv universitária não deve determinar nem assunto e cem a forma de fazer Tv pela audiência. Nossa lógica não é a lógica do “pico” de audiência, e sim, a da conquista do público através de uma programação de qualidade que, como já dissemos, possibilite a conquista de uma melhor qualidade de vida, seja a garantia de cidadania. E nos parece que o problema não seja a falta de alternativa, ou seja, a falta de um espaço para se adotar um modelo novo de telejornalismo, afinal o caminho, a Tv universitária, já existe; o que temos é que tratar de consolidá-la tornando-a um novo caminho. O segundo ponto trata do caráter institucional desse canal. Livre da pressão audiência X anunciante, a TV universitária está livre também de qualquer tipo de censura, e a princípio, não há assunto, não há denúncia, não há pauta que não possa ir ao ar, dentro é claro dos limites éticos e de bom senso aos quais deverão estar centrados o canal universitário. Ao contrário da TV comercial, não precisamos da verba publicitária para nos mantermos no ar, e por isso, não temos comprometimento com nada, a não ser com a programação de qualidade a que estamos dispostos a produzir, e com a qual queremos espontaneamente conquistar nosso público. Pela isenção, passa a ser nosso dever moral produzir telejornais que contribuam para a formação da população e o desenvolvimento do espírito crítico. É certo afirmar que essa isenção é um grande trunfo da TV universitária em relação à TV comercial. Ainda assim, não temos a preocupação específica de fazer concorrência à TV comercial. Sabemos que vamos tratar de um público segmentado, no nosso caso, o público identificado com a comunidade atingida por este sinal. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALMEIDA, Candido José Mendes de. Uma nova ordem audiovisual: novas tecnologias de comunicação. São Paulo: Summus Editorial, 1988. BORDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. BUCCI, Eugênio. Brasil em tempo de Tv. São Paulo: Jinking Editores Associados Ltda, 1996. DUARTE, Luiz Guilherme. É pagar para ver: a Tv por assinatura em foco. São Paulo: Summus Editorial, 1996. ERBOLATO, Mário. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 1991. ESQUENAZI, Rose. No Túnel do Tempo. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1993. PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na Tv: manual de telejornalismo. São Paulo: Brasiliense. MACEDO, Cláudia (Org.). Tv ao vivo: depoimentos. São Paulo: Brasiliense, 1988. SQUIRRA, Sebastião. Aprender Telejornalismo: produção e técnica. São Paulo: Brasiliense, 1990. WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1987.
Download