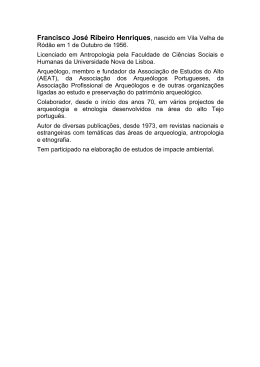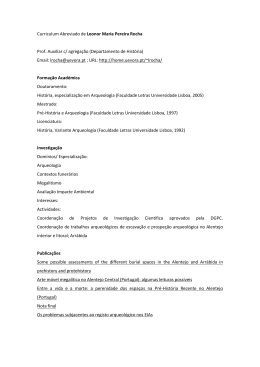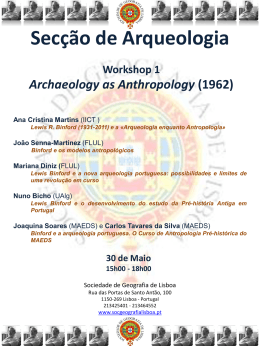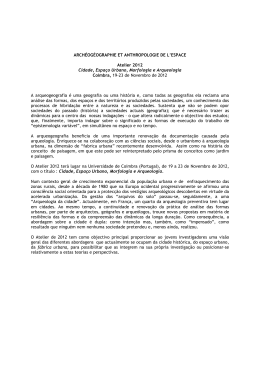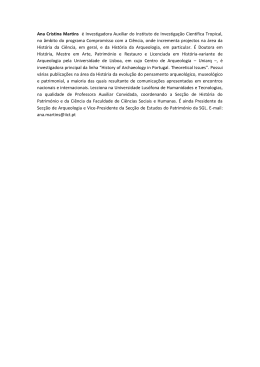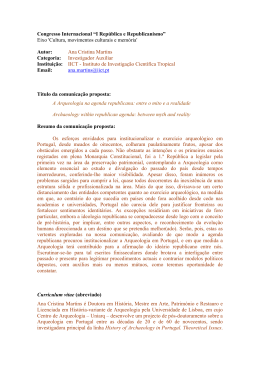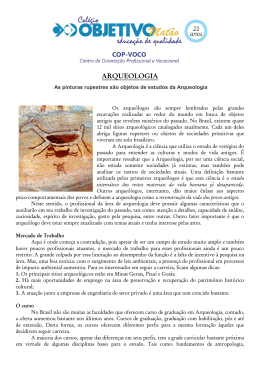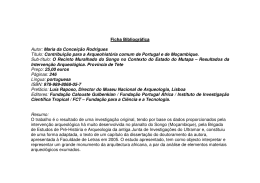Sociedades “Sem História” - Antiga da América Paulo Seda Introdução Falar em História Antiga da América implica em abordar duas questões: a Arqueologia e a História das Populações Indígenas. Arqueologia porque, sem dúvida, este é o principal meio para se conhecer a história dos povos que ocuparam, povoaram, exploraram e se desenvolveram neste continente antes da chegada dos europeus. São, sobretudo, os arqueólogos que revelam como estes povos viviam, como se organizavam, como se relacionavam e, até mesmo, como pensavam. História Indígena, porque se entende que os indígenas atuais são os descendentes destes primeiros povos e, desta forma, sua história não pode ser contada a partir da chegada do colonizador, mas sim desde o momento em que, a milhares de anos, seus ancestrais iniciaram o povoamento do continente. Por outro lado, falar em História Antiga da América não significa, de modo algum, transpor para cá o conceito de Antiguidade, é de uma outra História Antiga que está se falando. Significa sim, romper conceitos como "pré-história”, como "précolombiana", significa entender que um processo histórico já se desenvolvia neste continente antes da chegada do europeu e que estes povos foram fundamentais em nossa formação histórica. Significa dar o Direito a História a estes povos. Por uma História Antiga da América A América é um continente de impressionante multiplicidade étnica. Apesar de os povos nativos da América possuírem, a princípio, todos a mesma origem, na medida em que esses povos foram se expandindo pelo continente, ocupando as diferentes regiões, se adaptando aos diferentes tipos de ambientes, desenvolveram UERJ - Programa de Estudos da Pré-História Brasileira, Departamento de História; IAB - Instituto de Arqueologia Brasileira. características próprias. Quando da chegada do colonizador no final do século XV, existia aqui um mosaico de etnias, línguas e culturas. Desta forma, deve-se entender que os indígenas atuais são os remanescentes dos primeiros povoadores e que, portanto, sua história não começa em 1492 (ou 1500): começa quando os primeiros migrantes adentraram por este território. O termo índio teria nascido por um erro histórico: Colombo, ao chegar a América, acreditando estar na Ásia, chama as populações que encontra de “índios”, habitantes das “Índias”. Acreditando-se nisso ou não, o certo é que, ao usar está palavra, perpetua um erro ainda maior: reduziu as populações americanas a uma única categoria e assim populações extremamente diferentes foram englobadas em uma única massa de pessoas – os índios. Estava assim feito um reducionismo em que, nos dias atuais, índio muitas vezes virou sinônimo de “primitivo”, para não falar em outros adjetivos.1 Todas as formas de organização social desenvolvidas anteriormente a colonização, na chamada “América Pré-Colombiana”, estavam presentes quando da chegada dos europeus: juntamente com organizações do tipo Estado, como Astecas e Incas, existiam povos organizados sob a forma de Bandos, Tribos e Chefias (os Cacicados), cada um deles ocupando áreas específicas da América. Contudo, esta imensa diversidade um passado comum e se essa diversidade pode ser explicada por um longo processo de adaptação (que levou as diferenças), ela também sem dúvida, significa um processo histórico. Um processo histórico que, porém, não pode ser revelado única e exclusivamente pelo método histórico. Muitos destes povos e suas culturas sobreviveram ao processo de colonização e mantiveram, de forma mais ou menos preservada, suas tradições. Mesmo aqueles povos e culturas que se diluíram com o processo colonial, influenciaram sobremaneira a formação histórico-social da América Latina. A chegada do colonizador e do elemento negro incrementou ainda mais esta multiplicidade étnica, levando a formação de algo totalmente novo: os povos latino americanos, tornando o mosaico cultural ainda mais fascinante. 1 O uso deste termo, com este sentido, se tornou tão amplo que é possível mesmo encontrarmos quem fale, absurdamente, em índios africanos, australianos, etc. Ou seja, usando o termo para designar toda e qualquer população que não adote o modo de vida ocidental. 1 Desta forma, toda esta herança indígena que permeia os povos americanos é, na verdade, a ponta de uma história de longa duração, em que se juntam a história indígena pré e pós-contato. Não se trata mais, portanto, de uma pré-história e de uma história, mas de uma História Indígena de longa duração. Contudo, para que isto aconteça, é necessário que assumamos definitivamente que uma história já se desenvolvia neste continente antes da chegada do colonizador e que, as populações indígenas atuais, representam uma continuidade desta história. Conhecer e interpretar a história dos povos que ocuparam, povoaram, exploraram e se desenvolveram neste continente antes da chegada dos europeus é fundamental para entendermos nossa própria formação histórica. Estas populações, em seu processo de adaptação às terras americanas acabaram por desenvolver, como já observamos, uma incrível diversidade cultural e influenciaram sobremaneira, afirmamos, nossa formação histórica. Esta adaptação e essa diversidade cultural refletem, exatamente, o processo histórico porque passaram as populações indígenas antes da chegada dos europeus. Não se justifica mais, portanto, que sua história seja contada apenas a partir do contato. Contudo, a história indígena tem sido, na maior parte das vezes, a história das relações entre essas populações e os colonizadores. Uma história indígena propriamente dita, no nosso entender, ainda está para ser feita. A questão clássica que se coloca, por outro lado, é: como reconstruir esta história se, em sua imensa maioria, estas populações não desenvolveram escrita? Na medida em que rejeitamos o documento escrito como único documento histórico, entendemos que a Arqueologia possui um lugar de destaque nesta reconstituição. Daí, como MORBERG (1981: 25), perguntamos: “Qual seria a imagem do nosso passado mais longínquo sem o contributo da arqueologia? E antes da arqueologia surgir como tal, que idéia se tinha, no sentido amplo do termo, do começo da História?” 2 A resposta a esta questão é simples: no mínimo, uma imagem e uma idéia bastante distorcidas e é natural que fosse assim, pois seriam formadas apenas a partir daquilo que restou destas populações: instrumentos de pedra, ossos de animais, eventualmente um fragmento de osso humano, restos de carvão, tudo isso recolhido ao acaso, sem qualquer sistemática ou metodologia. A imagem da vida, na chamada “préhistória” formada dessa forma seria extremamente pobre, a mais primitiva possível (no sentido mais pejorativo do termo). A alteração de tal imagem caberá à arqueologia. É exatamente está história indígena anterior a chegada do europeu, que estamos propondo chamar de História Antiga da América, abandonando termos como “América Pré-Colombiana” e, principalmente, “Pré-História da América”. Para nós, não basta aceitar e demonstrar a herança indígena em nossa formação histórica: é preciso entender como estes povos se desenvolveram antes dos europeus, não apenas após a sua chegada. Só assim será possível construirmos uma verdadeira História Indígena. Para aprofundarmos e embasarmos este pensamento, é preciso discutir três questões fundamentais: 1. o conceito de pré-história, 2. a construção da história nas sociedades “primitivas” e 3. como a arqueologia revela essa história. O conceito de pré-história É preciso, antes de tudo, questionar o conceito de pré-história. O termo parece ter sido utilizado, pela primeira vez, em 1851, quando Daniel Wilson publica "Prehistoric Annals of Scotland". Adiante, em 1865, John Lubbock escreveu "Prehistoric Times" onde fez a divisão entre paleolítico e neolítico. Contudo, bem antes dos dois, o dinamarquês Christian J. Thomsem propõe o sistema das Três Idades (PedraBronze-Ferro) ao ordenar, entre 1816-1819, os artefatos existentes no Museu Nacional da Dinamarca de acordo com aquela divisão. Era um tempo em que a arqueologia engatinhava, ainda sem um método científico suficientemente desenvolvido e, sem diferenciar-se muito de outras disciplinas, transitava nos “gabinetes de curiosidades”, onde materiais “exóticos” eram acumulados sem maiores cronologias ou tipologias. Neste contexto, o termo pré-história 3 era utilizado para explicar um período ou tempo desconhecido, obscuro, sem informação e praticamente impossível de ser desvendado. Isto, de certa forma, justifica-se pela enorme ignorância sobre o passado do homem na época, gerando inúmeras distorções. No início do século XVII, por exemplo, a igreja católica, baseada na Bíblia, chegou a afirmar o dia, a hora e o ano em que o mundo e o homem haviam sido criados por Deus: o homem teria surgido às 9 horas do dia 23 de outubro de 4004 a.C. Contudo, nos séculos seguintes o estudo dos chamados “povos pré-históricos” conheceu um avanço notável, seja em termos de método, seja em termos de resultados, tornando-se atividade de especialistas. Este avanço permitiu que no final da década de 60 do século passado Glyn Daniel apresentasse o seu The Idea of Prehistory, sistematizando o conhecimento e o definindo da seguinte forma: “Naturalmente ao falar de pré-história nos referimos à história anterior a escrita e o desenvolvimento do estudo do passado do homem, antes que ele começasse a deixar testemunhos por meio de uns símbolos que agora podem decifrar-se, havia chegado, a cerca de um século, a um estado tal que se fazia necessário encontrar uma palavra capaz de defini-lo. E essa palavra foi pré-história” (DANIEL, 1968: 10). Desta forma, está patente e consagrado aquilo que se utiliza, até hoje, para separar pré-história e história: a escrita. No entanto, o desenvolvimento da Arqueologia e das ciências com que ela interagem, particularmente os métodos absolutos de datação, permite que hoje a reconstituição do passado mais remoto da humanidade e do meio ambiente que o cercava seja feita de forma bastante exata. Permite, inclusive, que, nos dias atuais, e cada vez mais, os "documentos do solo" (arqueológicos) rivalizem com os documentos escritos e, desta forma, o termo criado no século XIX não teria mais sentido. Na lingüística, os termos, as palavras, são criadas para explicar ou definir algo. Como qualquer traço cultural caem em desuso com as mudanças. A escrita foi a 4 responsável pela grande divisão entre "História" e "Pré-História". Tudo anterior ao domínio da escrita, na Mesopotâmia, ao redor de 5400 anos A.P., foi denominado de "Pré-História", bem como todos os povos iletrados posteriores aquela conquista e datação. E, neste ponto, é preciso sistematizar e aprofundar os questionamentos. O primeiro destes questionamentos, diz respeito ao próprio termo "pré": ele significa "antes" ou "sem". Poderá existir um povo ou cultura "com" História e outro "sem História" ou "anterior à História?" A História é uma seqüência, um contínuo, portanto nada, nenhum traço cultural, nenhum invento, justificaria uma divisão na História da humanidade. A civilização, com tudo aquilo que ela representa (cidades, comércio, ciências, transportes, etc. e a própria escrita) foi conseqüência da invenção da agricultura. Esta, por sua vez é resultado de um longo processo de mais ou menos 4,5 milhões de anos, destacando-se a confecção de instrumentos (Homo habilis) a partir de uns 2 milhões de anos atrás. Isto nos leva a um outro questionamento: se temos que ter alguma divisão, porque esta divisão tem que ser a escrita? Nos parece que, na verdade, durante a longa caminhada da humanidade outras invenções foram tão ou mais importantes. Este é o caso, precisamente, da agricultura: a domesticação de vegetais é o gatilho inicial para um sem número de realizações, desde a invenção da própria escrita até a recente conquista espacial. Se colocarmos a história da humanidade em uma linha do tempo, veremos que o tempo que vivemos sem agricultura é infinitamente maior, mas, contudo, o número de invenções, descobertas e realizações após a agricultura é, também, infinitamente maior. É preciso que fique claro que desde que o homem é, pelo menos, sapiens sapiens, seu cérebro já está preparado para, por exemplo, construir um foguete. Mas, no entanto, não o fez e isso por uma simples razão: faltava-lhe o estímulo para este (e outros) desenvolvimento. Esse estímulo inicial é dado, sem dúvida, pela invenção da agricultura. Desta forma, se as civilizações podem ou puderam prescindir da escrita, elas não puderam prescindir da agricultura: não existe civilização sem agricultura. Exemplo claro disto, são os incas, que não possuíam escrita. 5 Contudo, não queremos utilizar a agricultura como divisor, pois estaríamos incorrendo no mesmo erro tradicional de considerar fora da história os povos que não desenvolveram a escrita, só que agora tomando como base a agricultura, o que no fundo é um conceito prenhe de preconceitos. Aliás, estes preconceitos acabaram gerando um série de distorções do próprio conceito de “pré-história”, quando ele é levado para além do Velho Mundo. A escrita teria surgido entre 5000 e 4000 anos atrás, na Mesopotâmia e isto daria início a história. Se este conceito já é estranho no Velho Mundo (toda a região passou a utilizar a escrita a partir desta época?), transportado para, por exemplo, a América ele se torna completamente anacrônico. A América teria, dentro da visão tradicional, uma data precisa para o fim da préhistória: 12 de outubro de 1492! Isto, por si só, é absurdo, mas torna-se ainda pior, pois subverte o próprio conceito: se o marco é a escrita, muito antes da chegada dos europeus os maias já possuíam escrita (praticamente toda decifrada), assim como os astecas (grande parte decifrada), como também, ao que tudo indica, os olmecas e os mochicas (na costa peruana). Desta forma, no caso americano, a coisa é ainda pior: a escrita não é mais o marco divisório, mas sim os relatos europeus sobre os povos americanos. No Brasil, evidentemente, está situação se repete: nossa história começaria, precisamente, em 22 de abril de 1500. Contudo, sabemos que a colonização foi feita aos poucos e concentrando-se, inicialmente, no litoral, ficando o interior durante muito tempo mergulhado na “pré-história” e, dentro desta visão, temos que admitir que em determinadas regiões a “pré-história” perdurou até, pelo menos, o século XIX: caso do Estado do Acre, onde os primeiros documentos escritos datam desta época. Assim, aplicado na América, o conceito se torna ainda mais discriminador: não só colocam-se a margem aqueles que não desenvolveram a escrita, como também as escritas nativas são desprezadas. O marco, agora, já é outro: não apenas a escrita, mas uma escrita específica, a escrita do europeu ocidental. É como se nada do que aqui existiu, antes da chegada do europeu, tivesse importância: a chegada do europeu é o gatilho para o início da história americana. 6 Uma visão renovada: a história nas sociedades “primitivas”2 Evidentemente, rechaçamos a idéia de que é possível conceber-se povos ou culturas “sem” História ou “antes” da História, em contraposição a outros “com” História ou “dentro” da História. Mas, partindo-se da idéia de que a história é algo que se constrói, é difícil dizermos quando surgiu no homem a preocupação com o passado. Contudo, não acreditamos que, como o supõe J. HOURS, algum povo não o tenha tido. O autor, aliás, não contente em afirmar que existem povos que se satisfazem em ignorar o passado, torna ainda mais absurda a sua opinião ao dizer que estes “são mesmo os mais numerosos” e, numa clara demonstração de etnocentrismo, que por esta razão “não conseguem adquirir qualquer importância aos olhos da humanidade” (HOURS, 1979: 23). Sua explicação para esse presumível desinteresse pela História, não é menos estranha: para ele, isto seria explicado pela inexistência da instituição do Estado entre estas sociedades, o que implicaria na falta de atividades políticas e, portanto, de História Política. Ora, os antropólogos vêm demonstrando que existem sociedades com tipo de organização não estatal, que fazem da política uma das suas principais atividades. Contudo, não é isto que queremos questionar, mas sim a adoção do Estado como parâmetro e, como Pierre Clastres, perguntamos: “Que é o Estado? É a manifestação acabada da divisão da sociedade, enquanto órgão separado do poder político: a sociedade, a partir daí acha-se dividida entre os que exercem o poder e os que o suportam ...A divisão social, a eventualidade do Estado, são a morte da sociedade primitiva. Para que a comunidade possa afirmar sua diferença, é mister que seja indivisa; a sua vontade de ser uma totalidade excluída de todas as outras apóia-se na recusa da divisão social: para pensar como Nós diferentes dos Outros, é necessário que Nós seja corpo homogêneo. ...Recusa de unificação, recusa do Um separado, sociedade contra o 2 Embora reconhecendo que não é o ideal, sob este termo estamos designando, sobretudo, as sociedades de bando e tribais e o utilizamos, sem qualquer conotação pejorativa, no sentido de primevas. Primitivo, para nós, é um qualitativo. 7 Estado. Cada comunidade primitiva quer permanecer sob o signo da sua própria Lei (auto-nomia, independência política) que exclui a transformação social (a sociedade manter-se-á o que é: ser indiviso). A recusa do Estado é a recusa da exo-nomia, da lei exterior, muito simplesmente a recusa da submissão, inscrita na própria estrutura da sociedade primitiva.” (CLASTRES, 1980: 43-44). Diante disto, entender que as sociedades primitivas, pela ausência de Estado, são estáticas, não possuem história ou que não é possível reconstituir a sua história é, no mínimo, um reducionismo e um etnocentrismo desde muito inadmissível. Nós preferimos ficar com COLLINGWOOD (s.d: 19-20): “a consciência histórica é uma feição da vida tão real e universal que não conseguimos compreender que alguém não a tenha tido.”3 Contudo, permanece a questão: como fazer a história destas sociedades? Primeiramente, é preciso enfatizar que os meios de uma pesquisa histórica não são única e exclusivamente os documentos escritos, pelo contrário, são todos os materiais documentados e a atividade intelectual que os pesquisa e os torna úteis. Mesmo porque: “A comunicação dos homens entre si pode ser oral, escrita, figurada, gestual, musical e rítmica...e, para sua conservação, gráfica ou memorizada.” (MONIOT, 1976: 101). Assim, chegamos a uma conclusão fundamental para nosso pensamento: “não há nenhuma distinção filosófica e prática significativa para distinguir entre história e pré-história... a velha distinção entre pré-história e história, baseada na presença ou ausência de vestígios escritos do passado é artificial e de pouca utilidade”. (CUYLER YOUNG Jr., 1988). 3 O próprio HOURS (op. cit: 24), mais à frente, redimi-se ao admitir que cada sociedade tem a sua forma própria de História. 8 Por outro lado, rejeitando esta, como outras divisões, inserimos estas sociedades na história, mas entendemos que as suas fontes devem ser todas aquelas que permitam reconstituir o seu processo histórico e que elas possuem uma historicidade diferente. Evidentemente não existem sociedades estáticas, todas elas mudam. Porém, certamente, o que há de diferente é o rítmo e a intensidade destas mudanças: enquanto sociedades como a nossa valorizam por demais a mudança, nas sociedades primitivas o que se valoriza é a continuidade ou permanência: “Partindo do princípio que nenhuma sociedade consegue se manter inalterada, ao longo do tempo, podemos perguntar, então, o que explicaria a permanência de sociedades tão antigas, como os bandos e as tribos, que sobreviveram até hoje (ou que sobreviveram até pouco tempo atrás) com padrões de comportamento e relações ambientais que parecem repetir as evidências reconstituídas pelos arqueólogos para sociedades situadas a centenas ou milhares de anos passados. Podemos lembrar que as mudanças pelas quais essas, sem dúvida, passaram, foram de tal ordem pequenas, que não alteraram o esquema básico que as caracteriza como “bando” ou “tribo”. Elas possuíam sistemas de controle de tal forma eficazes que não permitiam (salvo situações excepcionais, ou críticas) mudanças substanciais nestes padrões de longuíssima duração”. (DIAS Jr., 1992: 159). As sociedades primitivas, portanto, podem ser encaradas como sociedades tradicionais ou conservadoras. Logicamente, não é possível conceber-se sociedades totalmente tradicionais, contudo, nestas sociedades as mudanças são por demais pequenas e, portanto, não integram seu comportamento consciente, “a não ser quando atingem um determinado grau de manifestação que, de tão repetido é conseqüentemente aceito” (Op. cit: 158). Esta concepção própria de história, que poderíamos, talvez, chamar mesmo de ahistórica, implica também, evidentemente, numa outra visão de tempo: 9 “... Os hopis utilizam os numerais cardinais “um, dois, três...” apenas para objetos concretos. Unidades de tempo eles não contam com esses números, mas sim com os ordinais, “primeiro, segundo, terceiro... dia”, e usam “dia” sempre no singular. Não se subentende neste caso uma diferença radical na concepção de “tempo”? Os hopis - diz Whorf - não contam os dias como nós contamos várias pessoas que se encontram juntas, mas sim do modo como contamos as sucessivas aparições da mesma pessoa: “sua primeira, segunda, terceira visita”. Eles vêem na seqüência dos dias não uma distribuição linear, mas sim um retorno cíclico. Whorf sustenta esta tese com a ilustração de determinados comportamentos dessas pessoas. Se é o mesmo dia que retorna amanhã, podemos influenciar o futuro com determinados comportamentos, neste caso em sua maioria de tipo cerimonial, com orações, meditação, execução de ritos e danças, mas também com meios mágicos a serem utilizados”. (STÖRIG, 1990: 211-212). Nestas sociedades, o importante é a continuidade e perpetuação dos usos e costumes consagrados pelo êxito, repetindo-se o sancionado e refazendo o que é aceito, dentro de uma seqüência conhecida e baseada em ciclos (Cf. ELIADE, 1985). Por mais estranho que isto nos pareça, é através da manutenção destes padrões que a sociedade se identifica como grupo. Assim, ser uma sociedade tradicional implica na manutenção de um corpo de valores, crenças, comportamentos e relações que os seus integrantes vêm como o padrão. Evidentemente, quanto mais tradicional a sociedade, menos se admite mudanças, impondo-se uma variedade de “sistemas integrados de relações entre as pessoas, tanto dentre elas, quanto dentre elas e o exterior, seja este considerado como outra sociedade, ou ambiente, ou idéias externas” (DIAS Jr., op. cit.: 158). Portanto, os membros desta sociedade se identificam entre si e perante o outro pelos seus traços sociais peculiares, inconfundíveis e inalterados4: 4 Dias Jr. refere-se, basicamente, a sociedades tribais, contudo, acreditamos que as observações possam ser estendidas as sociedades. 10 “... a diferença fundamental entre o homem das civilizações arcaicas e o homem moderno, “histórico”, reside no valor crescente que este atribui aos acontecimentos históricos, isto é a essas “novidades” que, para o homem tradicional, constituíam ou circunstâncias sem significado, ou infrações às normas (portanto, “faltas”, “pecados”, etc), e que, nessa medida, deviam ser “expulsas” (abolidas) periodicamente. ... Os mitos primitivos referem freqüentemente o nascimento, a atividade e o desaparecimento de um deus ou de um herói cujos gestos (“civilizadores”) passam a ser eternamente repetidos. O que significa que também o homem arcaico conhece uma história, ainda que essa história seja primordial e se situe num tempo mítico”. (ELIADE, 1985: 166-167). Por outro lado, para que ocorra a permanência ou a mudança é preciso que haja estímulos, sejam de caráter ambiental, sejam de caráter social. Exemplo bastante claro disso é nossa própria pesquisa na região da Serra do Cabral, Minas Gerais: ali identificamos uma cultura de características tremendamente arcaicas (típicas das primeiras populações que ocuparam nosso território), mas que, no entanto, se mantiveram, praticamente sem mudanças, até cerca de 300 anos atrás. Diante disto, podemos entender que, na Serra do Cabral, os estímulos para mudanças eram muito baixos, enquanto os estímulos para permanência muito altos (SEDA, 2001). Abordando magistralmente estas questões, Marshall Sahlins faz as seguintes observações: "A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas sociedades, de acordo com os esquemas de significação das coisas. O contrário também é verdadeiro: esquemas culturais são ordenados historicamente porque, em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados na prática. ...a cultura é historicamente reproduzida na ação. ...sabese que os homens criativamente repensam seus esquemas convencionais. É nesses termos que a cultura é alterada historicamente na ação. ...o que os 11 antropólogos chamam de 'estrutura' - as relações simbólicas de ordem cultural - é um objeto histórico. Esta afirmação cancela de modo explícito a oposição de noção, encontrada por toda parte nas ciências humanas, entre 'estrutura' e 'história'. ...O mesmo tipo de mudança cultural, induzida por forças externas, mas orquestrado de modo nativo, vem ocorrendo há milênios. ...A história é construída da mesma maneira geral tanto no interior de uma sociedade, quanto entre sociedades. ...Segue-se daí que ordens culturais diversas tenham modos próprios de produção histórica. Culturas diferentes, historicidade diferente". SAHLINS (1994: 7-11). Isto fica claro, por exemplo, quando analisamos a trajetória de duas culturas (tradições) do Brasil pré-colonial: as chamadas Tradições Una e Tupiguarani. Ambas de origem amazônica, estas tradições tomam caminhos diferentes: enquanto a primeiro aparece no noroeste de Minas Gerais, expandindo-se principalmente pelo Sudeste do Brasil, a segunda, após se instalar no Sul do país, expande-se por todo o litoral, em direção norte. As duas terminam por se encontrar no Rio de Janeiro, influenciando-se mutuamente, mas com uma diferença extremamente interessante e fundamental: a Una, vinda do interior, instala-se inicialmente na Serra Fluminense, enquanto a Tupiguarani ocupa primeiramente o litoral do Estado. Assim, quando grupos da Tradição Una chegam ao litoral, já encontram os Tupiguarani e são por eles influenciados desde o início. Por sua vez, quando os Tupiguarani quando chegam a Serra, já encontram ali os Una e os influenciam somente nas fases finais da Tradição. O encontro e as influências (diferentes tanto do ponto de vista da cronologia, quanto da intensidade) são, portanto, o culminar de uma longa caminhada ou, melhor dizendo, de um longo processo histórico, em que as duas tradições foram perdendo, ganhando e desenvolvendo características. Por outro lado, as migrações Tupiguarani, registradas pelos cronistas, já viam ocorrendo antes do início da colonização, tendo sido ainda mais incrementadas pelo seu impacto. Ou seja, repetindo, uma mudança cultural induzida por forças externas, mas de modo nativo, que já vinha ocorrendo há milênios: a história sendo construída tanto no interior de uma sociedade, quanto entre sociedades (SAHLINS, op. cit.). 12 Outro ponto a ressaltar, é como esta história foi construída. Embora existam registros de cronistas sobre os Tupiguarani, bem como sobre os remanescentes dos Una na Serra Fluminense, são, fundamentalmente, os restos arqueológicos que contam esta história, principalmente a cerâmica produzida pelas duas tradições (SEDA, 2003). Portanto: “qualquer vestígio do passado, - isto é, qualquer coisa preservada do passado – seja um documento escrito, um fragmento de cerâmica, um instrumento de pedra, um padrão de assentamento ou um canto que ainda é cantado e que nunca foi passado para o papel – é, potencialmente, o dado, a matéria prima da história. É a matéria prima da história porque representa pensamento (consciente ou inconscientemente) por pessoas que viveram no passado. Ao re-interpretar este pensamento, o estudioso vivo faz história.” (CUYLER YOUNG, op. cit.). Diante do exposto até aqui, concluímos com o mesmo autor: “A escrita é apenas um dos muitos meios de pensar ou recordar pensamento que a humanidade usa. Quando os primeiros americanos pegaram um pedaço de sílex ou obsidiana e talharam uma ponta Folsom, eles engajaram um processo de pensamento. Eles estavam fazendo algo pensante no sentido do termo de Collingwood e se acontece a preservação de uma ponta e é descoberta pelo arqueólogo, este processo de pensamento está preservado sob a forma de um vestígio do passado. Se ele ou outros arqueólogos pegam este vestígio e o usam para elaborar um quadro e uma compreensão do passado, que seja significativa, inteligível e faça sentido para o presente, eles são historiadores – não um bando de pessoas que são melhor conhecidos como pré-historiadores. Para mim está claro que eles estavam fazendo história.” (Op. cit.). 13 Isto nos permite estabelecer as condições básicas necessárias à reconstituição da história das sociedades primitivas: 1. reconhecer que elas possuem uma história e que é possível reconstituí-la; 2. entender que elas possuem uma historicidade diferente, que deve ser buscada na sua própria estrutura social ou ordem cultural; 3. assumir que somente os meios tradicionais não são suficientes para atingir tais objetivos; 4. Ampliar o conceito de documento histórico. Assumindo estas quatro condições e este pensamento, ampliamos tremendamente o sentido e a importância do estudo deste nosso passado mais distante, tornando a arqueologia socialmente significativa, pois: “Fazer pré-história para exercitar a curiosidade sobre um quebra cabeça de pedras e ossos quebrados seria uma ocupação inútil: os pássaros que cantam e os riachos que correm são mais atraentes. Mas, aproveitar o que sabemos sobre os tempos passados para melhor compreender o que é o homem, é decerto prestar uma homenagem aos bilhões de seres que morreram transmitindo aos seguidores o segredo do fabrico do biface, até o dia em que seus sucessores decidiram, um pouco apressadamente, que se tinham tornado homens-sábios”. (LEROI-GOURHAN, 1984: 147). Resta, entender como a arqueologia pode revelar esta história. A reconstituição arqueológica Na arqueologia o que importa não é mais saber simplesmente como os homens lascavam seus artefatos, mas sim procurar construir os aspectos culturais e sociais que se encontram por trás desta atividade. 14 A alteração da imagem das populações primitivas caberá à arqueologia. Evidentemente os estudos etnológicos contribuíram substancialmente para modificar a imagem destas populações, mas é a arqueologia que, com o desenvolvimento do seu método e das suas técnicas, será capaz de construir um mundo por trás dos artefatos, das fogueiras e dos ossos. Onde antes só se via um amontoado de dejetos, seremos capazes de estabelecer um processo, enxergar uma organização espacial e a exploração deste espaço. Até mesmo a organização social dos grupos pré-históricos seremos capazes de perceber. Neste sentido, é que afirmamos que o trabalho do arqueólogo, visto como reconstituição do passado, confunde-se com o próprio objetivo do historiador. Porém, os meios do arqueólogo são, a priori, mais reduzidos. Os vestígios arqueológicos permitem construir um sistema de oposições (fogueiras com restos alimentares em contraposição a fogueiras sem restos alimentares, cerâmica decorada em contraposição a cerâmica simples, por exemplo), que não têm, contudo, significados sociais absolutos. Desta forma, a questão é como passar das propriedades perceptíveis dos objetos (ou restos) à identificação de suas características sociais. (SCHNAPP, 1976: 5). Por outro lado, estes vestígios são sempre residuais e lacunares, tendo sofrido por assim dizer duas alterações sucessivas: 1- representam somente uma parcela do que a sociedade produziu e utilizou; 2- somente parte desta parcela subsistiu. Ocorre, porém, que tais vestígios, desigualmente lacunares, devendo-se distingui-los em conjuntos fechados e abertos, não se diferenciam, muitas das vezes, dos dados estudados pelos historiadores, sobretudo até a época moderna (Op. cit.: 14). Contudo, objeta-se que uma série arqueológica, mesmo que representativa de uma cultura, não permitiria compreendê-la em termos de processo, ou seja, as relações entre cultura material e processo social só seriam inteligíveis com a ajuda de outras fontes, como textos literários ou testemunhos etnográficos. Portanto, o conhecimento real do fenômeno social só se daria através da linguagem. 15 A arqueologia moderna, porém, recusa à distinção entre elementos materiais e não materiais de uma cultura, entendendo que as informações sociais estão presentes tanto nos objetos quanto na linguagem. Em síntese, o que as estratégias atuais preconizam é que o conjunto de estruturas e objetos que a escavação revela devem ser vistos como conjuntos de informações com propriedades definidas, que devem ser consideradas espacialmente e temporalmente, através de feedbacks, associando as relações verificadas as características dos materiais e buscando para cada relação à sua função. Assim, utilizando ainda informações externas à escavação, torna-se possível reconstituir o processo e os modos culturais da sociedade em estudo. Modernamente, por exemplo, entende-se não ser possível compreender as populações humanas fora de seu ambiente. A cultura representaria o instrumento de interação homem/ambiente. Arqueologicamente, este dinamismo reduz-se a restos, normalmente, materiais, que refletem ambientes, demografia e atividades humanas passadas, em outras palavras, dados arqueológicos. Cabe ao arqueólogo, não somente revelar estes dados materiais, mas, sobretudo, procurar compreender as inter-relações entre estes dados, dentro de um sistema dinâmico. Desta forma, como observa LEROIGOURHAN: “Se se considera o documento pré-histórico não mais como um calendário mas como um texto, a atividade essencial da pesquisa não se encontra mais na reflexão interpretativa sobre os objetos devidamente recuperados na sua ordem estratigráfica, mas na leitura do documento que é constituído pela superfície descoberta pela escavação, documento efêmero, amálgama de poeira, pedras, restos de ossos, cujo valor fundamental reside apenas nas relações mútuas dos elementos que o compõem”. (1976: 92). O arqueólogo objetiva decodificar as informações contidas em cada dado estudado, ler as relações que cada peça contém, considerando sempre que tudo se associa em uma rede de relações, sendo impossível abordar-se cada parte sem abordar- 16 se o todo. A adaptabilidade humana pode ser vista como um conjunto de subsistemas, como a tecnologia, os padrões de assentamento, os meios de subsistência e mesmo a arte. Obviamente é impossível, apenas pelos restos materiais, reconstituirmos todos os aspectos da vida das populações passadas. Assim, hipóteses e modelos devem ser testados, através da conduta observável de persistências, comparáveis, destes aspectos. Entende-se, que os restos materiais demonstram padrões de comportamento, vinculados a contextos ambientais, passados e, a partir de uma abordagem sistêmica (entendendo a cultura como um sistema de partes inter-relacionadas e interatuantes), relacionando-se dinamicamente com o meio ambiente: “o resultado lógico desta posição é a convicção de que um dos principais objetivos da arqueologia deve ser correlacionar a estrutura dos restos materiais com os elementos de conduta de um sistema cultural”. (WATSON, LeBLANC e REDMAN, 1981: 81). A arqueologia pretende explicitar as relações entre comportamento humano e cultura material em qualquer tempo e, considerando que a cultura material reflete e interfere no meio, os restos arqueológicos, por suas propriedades, podem permitir inferências sobre algum fenômeno específico ou sobre como e por que as sociedades mudam, bem como operam tais mudanças. O princípio básico em qualquer conjunto de restos arqueológicos é que os produtores de tal conjunto, desenvolvendo uma adaptabilidade, orientaram suas atividades de forma metódica. Assim, o conjunto reflete tanto o padrão de suas atividades como a sua integração e cada resto contém todos os níveis das manifestações culturais e sociais de seus autores, integrando-se em um conjunto completo em que cabe ao arqueólogo ler as relações que cada vestígio contém, desde um artefato até o próprio sítio. Assim, a arqueologia se mostra hoje uma ciência extremamente moderna e o trabalho do arqueólogo, atividade de profissionais altamente capacitados. 17 Disto resulta, ser possível deduzir a estrutura da sociedade primitiva ou “préhistórica” em estudo e, como observa SAHLINS (1994: 8) a estrutura é um objeto histórico. Daí, afirmarmos que, ao fazer arqueologia, entre uma série de outras coisas, estamos também fazendo história. É interessante percebermos, inclusive, como diversos autores que se alinham dentro da chamada “nova história” utilizam-se de estratégias comuns à arqueologia. Em GINZBURG (1991), por exemplo, o que temos como método é a valorização do estudo de casos, o procedimento por indícios, a utilização da análise morfológica. Contudo, não se trata, através da interpenetração de campos de conhecimento, de perda da identidade e autonomia da história ou da arqueologia como ciência, trata-se do surgimento de algo novo, pelo menos isto é o desejado. Assim, não se justifica mais o afastamento entre arqueologia e história, nem a exclusão das sociedades primitivas do campo da história. Conclusão Nas últimas décadas, o estudo das chamadas sociedades primitivas sofreu um avanço considerável, seja nos resultados, seja pela perspectiva com que estas passaram a ser vistas. Até os estudos de cientistas como SAHLINS (1978) e LIZOT (1980), a imagem que se fazia destas sociedades aproximava-se muito da visão de Darwin, na Viagem de um naturalista ao redor do mundo, sobre os fueguinos: “Estas eram as criaturas mais abjetas e miseráveis que eu contemplei onde quer que seja... Seu país é uma massa fragmentada de rochas rudes, montanhas elevadas e florestas sem uso; e tudo isto é visto através de neblinas e tempestades infindáveis. ... Caso seja morta uma foca, ou encontrada uma carcaça de baleia apodrecida boiando é uma festa: e este alimento é complementado por umas poucas amoras do mato e fungos insossos.” 18 Esta era a visão que predominava sobre os primitivos: povos “miseráveis”, somente preocupados com sua sobrevivência, vagando de um ponto a outro em busca de alimento. Hoje, a imagem se modificou, aproximando-se mais da de Montaigne “Acerca dos Canibais”, em seus Ensaios: “Eles não partem à conquista de novas terras, visto que gozam ainda desta liberdade natural que lhes fornece sem trabalho e sem custo todas as coisas necessárias, em tal abundância que lhes fornece sem trabalho e sem custo todas as coisas necessárias, em tal abundância que lhes basta alargar os seus limites. Encontram-se neste feliz ponto de não desejar mais do que as suas necessidades naturais lhes comandam, tudo que está para além disso é supérfluo para eles.” Na verdade, dentro de nossa visão de uma História Antiga da América, questões ligadas ao povoamento e origem das populações americanas não são as mais importantes. Privilegiamos sim, a questão da diversidade cultural quando da chegada dos europeus. Ou seja, discutir o seguinte ponto: se os povos americanos têm todos a mesma origem (asiática), se descendem todos de povos caçadores-coletores nômades que povoaram o continente, como se pode explicar a imensa diversidade cultural dos povos americanos, como explicar que, no final do séc. XV/início do XVI, ao lado de Astecas e Incas, existiam povos que viviam apenas da caça e coleta (como os primeiros povoadores) e outros (como na Amazônia) que viviam de uma agricultura incipiente? Em nossa visão, a explicação para isto é uma só: adaptação. Cada cultura gera respostas que levam a melhor adaptação possível (isto não é determinismo, mas uma visão integrativa cultura/natureza, uma visão sistêmica) e são essas adaptações que geram a diversidade. Pensando desta forma, chegamos a uma conclusão um tanto óbvia, mas, agora, fundamentada: não existem culturas melhores nem piores, não existem povos mais ou menos capazes, não existem nem baixas, nem médias, nem altas culturas, mas apenas culturas, mas apenas diferentes culturas/adaptações. Devemos lembrar, inclusive, que culturas/adaptações como as de maias, astecas e incas (as civilizações), dentro de 19 um panorama geral, são exceção, não a regra na América Pré-Colombiana: não são nem as únicas culturas, nem as mais importantes, mas apenas mais uma das diversas adaptações culturais na América Antiga e não há como fazer juízo de valor entre elas. Neste sentido, é importante também discutir o que é uma civilização (coisa que, me parece, fazemos cada vez menos), como surgem as civilizações? Trabalhar questões como surgimento da agricultura, da urbanização e do estado e, mais uma vez, deixando claro que ser considerada uma civilização não implica em juízo de valor. Por outro lado, se não há nada que, filosoficamente, justifique começarmos a falar de História da América pela conquista, pelas mesmas razões não se justifica começar esta história com as chamadas grandes civilizações. Isto vai contra tudo aquilo que defendemos e acreditamos: iniciar o tema falando de maias, astecas e incas e deixar para lá as outras formas de adaptação, significa que estamos achando que existem sim culturas melhores do que as outras. No entanto, foram essas “outras” culturas que inventaram, só para dar um exemplo, uma das coisas mais fundamentais na história, algo que é um verdadeiro impulso para se chegar até as civilizações: a agricultura. Não abordar a História da América desta forma, não indo além das grandes civilizações, vai contra todo o discurso de que tudo, literalmente tudo, o que aconteceu antes de 1492 também é história. Isto é contraditório, inclusive, com uma perspectiva, que creio compartilharmos, de América mestiça. Assim, não se justifica mais a exclusão das sociedades primitivas, em particular da América, do campo da história. Sociedades que não usaram a escrita: "mas que dela não precisavam, onde o homem comum era o 'herói', o agente e o paciente, onde a comunidade era o todo, ...de onde vem a estrutura básica, o modelo, o exercício primeiro, experimental, de nossa sociedade". (CARVALHO, 1987: 23). Um exercício interessante, é inverter a ordem dos fato: acostumamo-nos e refletir sempre sobre a influência européia sobre as populações americanas e esquecemos de raciocinar ao contrário, como os europeus foram influenciados. E aqui, 20 não estamos falando das diversas plantas levadas daqui para lá (a batata, o milho, o algodão, etc.) e sem as quais não é possível compreender o europeu atual. Estamos falando de uma influência mais profunda, no pensamento. E, desde que os europeus aqui chegaram, o pensamento ocidental foi influenciado pelo modo de vida das populações americanas. Ainda no século XVI, Michel de Montaigne, publica Acerca dos canibais (1580), em seu Ensaios, um clássico do pensamento humanista, já citado anteriormente, inspirando-se fortemente nas populações americanas. Já no século seguinte, Thomas Hobbes, defendendo o absolutismo, publica o Leviatã (1651), onde cunha a expressão “O homem é o lobo do homem”: os homens, em “estado selvagem”, tenderiam a anarquia e a guerra permanente. Seus exemplos são as sociedades americanas. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, publica Do contrato social (1762) e muda a perspectiva, criando o “mito do bom selvagem”: “O homem nasce bom, a sociedade o corrompe”. Suas inspirações são, em grande parte, as sociedades americanas. No século XIX, antes da Origem das Espécies, Charles Darwin publica Viagem de um naturalista ao redor do mundo (1832), de onde resultam observações e estudos fundamentais para seu evolucionismo. A América do Sul é uma das regiões por ele visitadas, e, sobre os fueguinos, após as impressões já apresentadas, observa o seguinte: “Não há razão para acreditarmos que os fueguinos tenham diminuído de número, portanto, devemos supor que eles desfrutam de uma suficiente cota de felicidade, seja lá qual for o modo que encontraram de apreciar a vida. A natureza ao tornar o hábito onipotente e seus efeitos hereditários, adaptou o fueguino ao clima e aos produtos deste país miserável”. Estavam lançadas as bases não só do evolucionismo, mas também do moderno pensamento ecológico-cultural. 21 Entrando no século XX, Claude Levi-Strauss lança, como resultado de suas pesquisas entre os indígenas brasileiros, Tristes trópicos (1955), onde apresenta as bases do pensamento estruturalista: “Nenhuma sociedade é perfeita... nenhuma sociedade é fundamentalmente boa: nem, também absolutamente má. Todas oferecem certas vantagens aos seus membros”. Na década de 70, Marshal Sahlins traz uma nova perspectiva sobre o modo de vida caçador-coletor, a quem chama de A primeira sociedade da afluência (1978), “aquela em que todas as vontades materiais das pessoas são facilmente satisfeitas”. Entre os diversos povos por ele analisados, mais uma vez, estão indígenas americanos. Os exemplos seriam intermináveis, pois toda essa herança cultural, mesmo que não percebamos, se manifesta nos hábitos mais simples de nossos povos. Evidentemente, romper estas barreiras, implementar estas mudanças de pensamento, será algo lento, embora já tenhamos nos demorado muito. Algumas atitudes porém, exigem um posição imediata. Por exemplo, não podemos mais perpetuar os termos "baixas", "médias" e mesmo "altas" culturas. Tais termos só têm sentido, se é que têm algum, se compararmos as sociedades do ponto de vista da tecnologia e da monumentalidade. Em termos de organização social, estrutura religiosa, estratégias de adaptação, etc., não existem "baixas", "médias", nem "altas" culturas, mas apenas e tão somente culturas. Desta forma, o mínimo que devemos fazer é adotar a já antiga classificação antropológica - bandos, tribos, chefias e estados -, muito mais lógica por que baseada na estrutura das sociedades. Isto porém, tem que ser apenas o começo. Este século não pode ser igual aos que passaram e o desafio é muito maior: reconhecer o lugar desta cultura e deste passado na nossa história, assumi-lo e com ele comprometer-se. Não por solidariedade, mas por que ele é digno, embora tremendamente aviltado. É preciso, sobretudo, despirmo-nos de qualquer preconceito e procurar entender a historicidade destas sociedades, com todas as suas diferenças e idiossincrasias, reconhecendo seu direito à história, agindo como propõe Daniel Munduruku, um representante moderno destas sociedades: 22 “Se alguém quiser compreender minha cultura, comece a ler nossas histórias, comece a sintonizar com os nossos heróis, comece a vivenciar nossa poesia!” (MUNDURUKU, 2002: 40). Bibliografia CARVALHO, Eliana T. (ed.). A pesquisa do passado: arqueologia no Brasil. Boletim do Instituto de Arqueologia Brasileira. Rio de janeiro, IAB, 1987, nº 3, Série Catálogos. CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência: a guerra nas sociedades primitivas. In: CLASTRES, P. et alii. Guerra, religião e poder. Lisboa, Edições 70, 1980, p. 947. COLLINGWOOD, R.G. A idéia de história. Lisboa: Presença, s.d CUYLER YOUNG Jr., T. Desde Heródoto, a História tem sido um conceito válido? American Antiquity 53 (1), 1988, 7-12. Trad.: I. Wüst. DANIEL, Glyn. El concepto de prehistoria. Barcelona, Editorial Labor, 1968. DIAS Jr., Ondemar. A questão das origens, da continuidade e da mudança na préhistória. Clio - Revista do Mestrado em História. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 1992, v.1, nº8: 153-169. ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno. Lisboa, Edições 70, 1985. GUINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa-Rio de Janeiro, DIFEL-Bertrand Brasil, 1991. LEROI-GOURHAN, André. Os caminhos da história antes da escrita. In: LE GOFF, J. e NORA, P. (dir.). História: novos problemas. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976, pág. 89-98. LIZOT, Jacques. População, recursos e guerra entre os yanomami - Crítica da antropologia ecológica. In: CLASTRES, P. et alii - Guerra, religião e poder. Lisboa, Edições 70, 1980, 161-197. MOBERG, Axel. Introdução à arqueologia. Lisboa, Edições 70, 1981. MONIOT, Henri. A história dos povos sem história. In: LE GOFF, J. e NORRA, P. (dir). História: novos problemas. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976, p. 99122. MUNDURUKU, Daniel. Histórias de índio. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2002. SAHLINS, Marshall. A primeira sociedade da afluência. In: CARVALHO, E.A. (org.). Antropologia Econômica. Rio de Janeiro, Ciências Humanas, 1978, 7-44. SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro, Zahar, 1994. 23 SCHNAPP, Alain. A arqueologia. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre (dir.). História: novas abordagens. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988, p. 1-20. SEDA, Paulo. Continuidade e mudança na Serra do Cabral, Minas Gerais: a questão do tempo nas sociedades primitivas. Fronteiras Revista de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2001, v. 3, n. 6, p. 51-78. SEDA, Paulo. Uma história com muito mais de 500 anos: um breve panorama do povoamento pré-colonial do Rio de Janeiro. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, 2003, v. 35, p. 15-44. STÖRIG, Hans Joachim. A aventura das línguas. São Paulo, Melhoramentos, 1990. WATSON, P.J.; LeBLANC, S. e REDMAN, C.L. El método científico en arqueologia. Madrid, Alianza Editorial, 1981. 24
Download