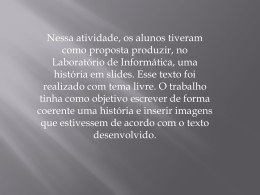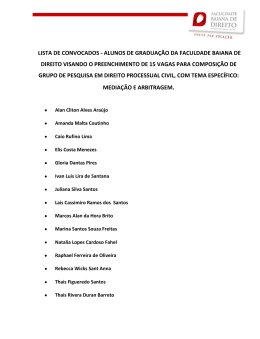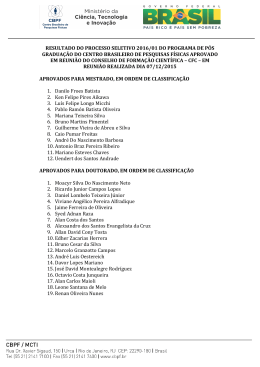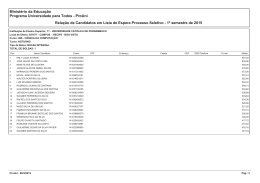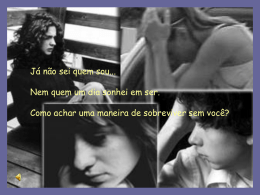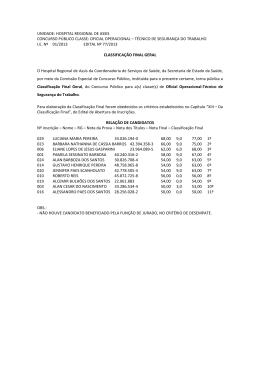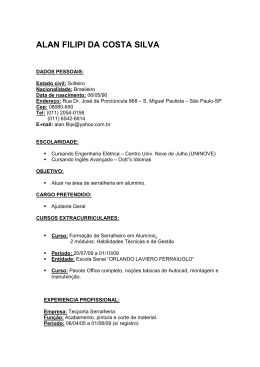1 Alan Greening estava bêbado. Passara a noite toda bebendo em Covent Garden: a começar pelo Punch, onde havia tomado três ou quatro cervejas com seus antigos amigos da faculdade. Então foram para o Lamb and Flag, o pub na viela úmida perto do Garrick Club. Quanto tempo haviam demorado por lá, entornando? Ele não conseguiu lembrar. Porque depois disso tinham ido para o Roundhouse e encontrado mais alguns caras do escritório. E em algum momento os rapazes passaram das canecas de lager aos destilados: vodca, gim-tônica, uísque. E então cometeram o erro fatal. Tony havia dito: vamos dar uma olhada na mulherada. Eles riram, concordaram, percorreram metade da alameda St. Martin’s e molharam a mão do segurança para entrar no Stringfellows. O segurança não estava nem um pouco propenso a deixá-los entrar, não no começo: mostrou-se cauteloso com os seis rapazes, que obviamente haviam saído para gastar, xingavam e riam e achavam-se para lá de exaltados. 11 Encrenca. Mas Tony exibira parte de seu generoso bônus de mercado financeiro, umas cem libras ou mais, e o segurança sorrira e declarara: É claro, senhor... e depois... O que havia acontecido depois? Era tudo um borrão. Um borrão de calcinhas, coxas e drinques. E letonianas nuas e sorridentes, piadas obscenas sobre peles russas, uma polonesa com seios incríveis e quantias imensas gastas nisso, naquilo e naquilo outro. Alan gemeu. Seus amigos haviam partido em horas diferentes: saindo do clube aos trancos e entrando em táxis. No final restara apenas ele, o último apostador no clube, enfiando uma profusão de notas de dez no fio dental da letoniana, que girava seu corpinho enquanto ele a encarava com adoração, em silêncio, desamparada e estupidamente. E então, às quatro da manhã, a letoniana parou de sorrir e de repente as luzes se acenderam e os seguranças o agarraram pelos ombros e o escoltaram firmemente rumo à porta. Ele não foi atirado na rua como os vagabundos nos bares dos velhos filmes de faroeste — mas foi quase isso. E agora eram cinco da manhã, e o primeiro latejar da ressaca o alfinetou por trás dos olhos; ele tinha de chegar em casa. Estava na Strand e precisava ir para a cama. Será que sobrara dinheiro suficiente para um táxi? Ele havia deixado os cartões de crédito em casa, mas, sim — Alan vasculhou os bolsos sonolento —, sim, ainda tinha trinta libras na carteira; dava para um táxi até Clapham. 12 Ou melhor, deveria dar. Mas não havia táxis. Era a hora mais deserta do dia: cinco da manhã na Strand. Tarde demais para o povo das boates. Cedo demais para os faxineiros dos escritórios. Alan examinou as ruas. Uma garoa branda de abril caía sobre as calçadas largas e brilhantes do centro de Londres. Um grande ônibus noturno rodava no sentido errado — na direção de St. Paul’s. Para onde estaria indo? Ele lutou para diluir a névoa alcoólica da cabeça. Havia um lugar onde sempre era possível conseguir táxis. Ele podia tentar o Embankment. Claro. Sempre havia táxis ali. Alan continuou a caminhar. Era uma rua antiga: montes de plácidas construções georgianas. A garoa continuava a cair. O primeiro indício de uma manhã de primavera clareava o céu por sobre o topo das chaminés antigas. Não havia vivalma por perto. E então ele ouviu. Um ruído. Mas não só um ruído. Parecia: um gemido. Um gemido humano: mas de alguma forma abafado, ou distorcido. Estranho. Será que havia imaginado? Alan verificou as calçadas, as portas, as janelas. A pequena rua lateral continuava deserta. Todos os prédios ao redor eram escritórios. Ou casas muito antigas convertidas em escritórios. Quem poderia estar ali àquela hora da madrugada? Um drogado? Um sem-teto? Algum bêbado velho, caído em uma sarjeta nas sombras? Alan optou por ignorar. Era o que os londrinos faziam. Ignoravam. A vida já era bastante complicada 13 naquela cidade imensa, frenética e confusa sem acréscimos ao estresse diário decorrentes de investigar gemidos estranhos à noite. E além do mais, Alan estava bêbado: estava imaginando o barulho. Então ouviu novamente: nítido. O lamento terrível e assustador de alguém com dor. Parecia quase alguém dizendo “socorro”. Exceto pelo fato de que a palavra saíra parecendo “ooôôlrro”. Que porra era aquela? Alan estava transpirando. Estava assustado agora. Não queria saber que tipo de pessoa — que tipo de coisa — produziria um som como aquele. Ainda assim, precisava descobrir. Todos os seus reflexos morais ordenavam-lhe que ajudasse. Sob a chuva branda, Alan pensou em sua mãe. No que ela diria. Ela lhe diria que não tinha escolha. Aquilo era um imperativo moral: Alguém Está Com Dor: Portanto, Você Ajuda. Ele olhou para a esquerda. A voz parecia vir de uma fileira de casas georgianas de tijolos vermelho-escuros e janelas antigas elegantes. Havia uma placa diante de uma das casas, um letreiro de madeira que brilhava sob a chuva e a luz do poste. Museu Benjamin Franklin. Ele não tinha ideia exata de quem fora Benjamin Franklin. Um americano; escritor ou algo assim. Mas na verdade aquilo não importava. Ele tinha certeza de que o gemido partira daquela casa: porque a porta estava aberta. Às cinco da manhã de um sábado. Alan avistou uma luz fraca do outro lado da porta semiaberta. Fechou os punhos uma vez, então duas. Em seguida rumou para a porta e a empurrou. 14 A porta se abriu por completo. O hall estava silencioso. Havia uma caixa registradora a um canto, uma mesa repleta de folhetos e uma placa onde se lia: Sala de vídeo à direita. O hall achava-se iluminado — precariamente — por luzes noturnas. O museu parecia tranquilo. A porta estava aberta, mas o interior, perfeitamente silencioso. Não parecia a cena de um roubo. — Ooôôlrro... Lá estava novamente. O gemido estrangulado. E dessa vez o local de onde vinha era evidente: o porão. Alan sentiu as garras do medo apertarem seu coração. Mas reprimiu o nervosismo e caminhou com determinação até o final do hall, onde uma porta lateral conduzia a uma escada de madeira que levava ao andar de baixo. Alan desceu, os degraus rangendo sob seu peso, e penetrou em uma adega baixa. Uma lâmpada exposta pendia do teto. A luz era fraca, mas a claridade, suficiente. Ele olhou em torno. O lugar nada tinha de especial — à exceção de uma coisa. Um dos cantos, no chão, havia sido recente e exaustivamente cavado, a terra estava revolvida — produzindo um grande buraco negro de um metro ou mais no escuro solo londrino. Foi então que Alan viu o sangue. Não dava para não notar: a grande mancha pegajosa era nítida e escarlate, e respingara sobre algo muito branco. Um monte de brancura. O que era aquela brancura? Penas? Penas de ganso? O quê? 15 Alan aproximou-se e cutucou a brancura com a ponta do sapato. Era cabelo: cabelo humano talvez. Um monte de cabelo humano raspado. E o sangue respingara pavorosamente sobre o topo, como calda de cereja sobre sorvete de limão. Como o aborto de uma ovelha na neve. — Ooôôlrro! O gemido estava bem próximo agora. Vinha do aposento vizinho. Alan lutou contra o medo uma última vez e atravessou a pequena porta rebaixada que conduzia ao cômodo seguinte. O interior estava bastante escuro, exceto pela pequena nesga de luz lançada pela lâmpada atrás dele. O gemido sinistro reverberava pelo aposento. Tateando ao lado da porta, Alan deu um tapa no interruptor e inundou o cômodo de claridade. No centro do aposento, no chão, jazia um velho nu. Sua cabeça havia sido completamente raspada. Brutalmente raspada — a julgar pelos arranhões e cortes. Alan percebeu que era dali que o cabelo deveria ter saído. Eles haviam raspado o cabelo dele. Quem quer que fossem eles. Então o velho se mexeu. Seu rosto estava voltado para longe da porta, mas quando as luzes se acenderam, ele virou-se e olhou para Alan. A visão era inquietante. Alan hesitou. O pavor nos olhos do velho era indescritível. Arregalados e vermelhos, seus olhos fitavam o espaço, delirantes de dor. A embriaguez havia desaparecido: Alan agora se sentia nauseantemente sóbrio. Podia ver por que o homem sentia dores terríveis. Seu peito havia sido marcado, 16 retalhado com uma faca. Um desenho fora gravado em sua pele branca frágil, velha e enrugada. E por que ele estava gemendo de forma tão estranha? Tão incoerente? O homem gemeu novamente. E Alan cambaleou de fraqueza. A boca do sujeito estava abarrotada de sangue. O sangue escorria-lhe da boca, como se ele tivesse se empanturrado de morangos. Sangue vermelho escoava dos lábios envelhecidos, pingando no chão. Quando ele gemia, mais sangue subia em golfadas e borbulhava, respingando o queixo de sangue coagulado. E havia um último horror. O homem segurava alguma coisa. Ele abriu lentamente a mão e estendeu o objeto, sem dizer uma palavra: como se o oferecesse gentilmente. Um presente. Alan baixou os olhos para os dedos estendidos. A mão agarrava frouxamente uma língua humana decepada. 17
Download