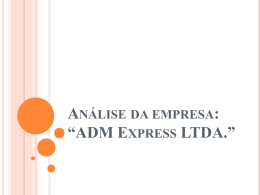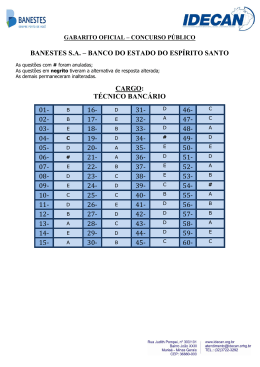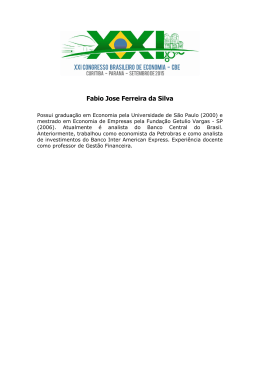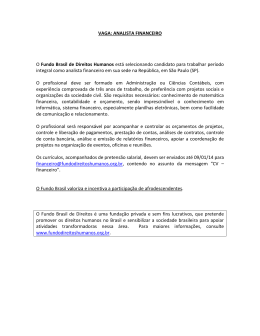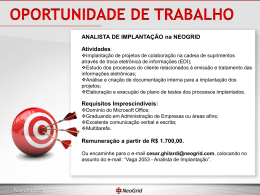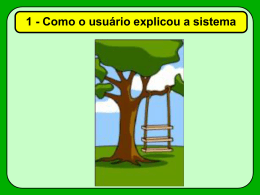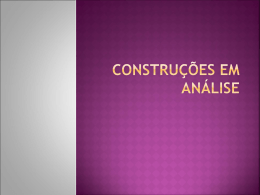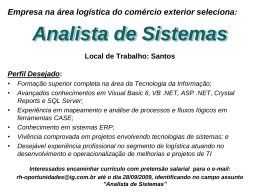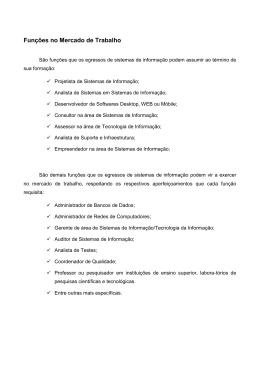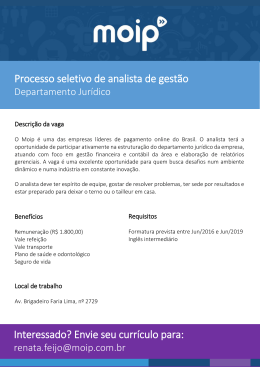Uma clínica que se estende: novos desafios aos analistas Simone Moschen Rickes Assistimos nos últimos anos, quem sabe nas últimas duas décadas, a um movimento interessante de avanço da prática analítica em espaços não antes por ela ocupados: unidades de saúde, abrigos, hospitais, empresas, O.N.Gs ... Penso que a possibilidade desta extensão do campo analítico tem uma relação estreita com a crítica operada pelo ensino de Lacan à standarização da “técnica”, com a sua denúncia reiterada da burocratização formalista de que havia sido objeto a configuração do setting analítico. Depois de Lacan, não mais teríamos com o desenho do “contrato terapêutico” uma relação de veneração impedidora de qualquer possibilidade de pensar. Seríamos, ao contrário, convocados, a cada passo, a perguntarmo-nos sobre as posições transferenciais que jogam na articulação possível do laço analista / analisante. A crítica lacaniana à “burrocratização” da análise não se colocou de forma pontual, como uma rebeldia voltada a pôr em questão um aspecto isolado do campo analítico, mas esteve articulada e sustentada no desenho que sua releitura de Freud permitiu dar ao inconsciente, resgatando deste aquilo que havia de mais transgressor. A proposição de Lacan desalojará qualquer tentativa de tomar o inconsciente como depósito de memórias perdidas que poderiam ser, por meio de um trabalho de escrutínio da história, recuperadas e postas diante da consciência do analisando provocando, com isso, o debelamento dos sintomas. “[... o] inconsciente não é ambigüidade de condutas, futuro saber que já se sabe por não se saber, mas lacuna, corte, ruptura que se inscreve em uma certa falta” (Lacan, 1964, p.142/146) Com Lacan, o verbo mais afeito a uma abordagem do inconsciente não será, de modo algum, recuperar, mas sim produzir. O inconsciente recuperará – aí sim caberia esta designação – o estatuto de produção, perdido por conta de leituras extremamente instrumentais da obra freudiana. Conforme Lacôte (2000), “Lacan radicaliza a posição do inconsciente, não somente o inconsciente trabalha, mas esse trabalho consiste no inconsciente inventar a si próprio, acima do buraco constituído pela impossibilidade de relações sexuais” (p.51). A proposição de um inconsciente que se produz em análise implica analista e analisante de uma forma inextrincável na medida em que ambos compartilham a assinatura desta produção. Assim como o inconsciente lacaniano não se configurará num baú de achados e perdidos plenamente resgatáveis, o analista que calca sua prática num inconsciente como produção não poderá se situar, no trabalho de análise, em uma posição de escuta que, desde fora, interviria sobre o desenrolar de um discurso que ele assistiria como um telespectador a um filme. Ele, analista, é parte do roteiro. Sua presença implica os rumos que a aventura analítica irá tomar e, com isso, sua posição nunca será de uma exterioridade cômoda. O analista “é suposto saber aquilo a que nenhum poderia escapar, uma vez que a formule - pura e simplesmente, a significação. (...) A transferência é um fenômeno em que estão incluídos, juntos, o sujeito e o psicanalista” (Lacan, 1964, p.239/219). A inelutável inclusão do analista na clínica que conduz, colocada em ordem de primeira grandeza nas tramas que envolvem o tecido teórico lacaniano, foi, por este autor, recuperada a partir de um gesto de leitura frente às letras freudiana. Nelas encontramos passagens como: ”A extraordinária plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica; e ocasionam que um curso de ação que, via de regra, é justificado possa, às vezes, mostrar-se ineficaz, enquanto outro que habitualmente é errôneo possa, de vez em quando, conduzir ao fim desejado” (1913, p.164 – grifo nosso). E, na seqüência, “...estou asseverando que essa é a única técnica apropriada a minha individualidade; não me arrisco a negar que um médico constituído de modo inteiramente diferente possa ver-se levado a adotar atitude diferente em relação a seus pacientes e à tarefa que se lhe apresenta” (1912, p.149 – grifo nosso). Esta pequena retomada de dois pontos de extremo valor, a saber, a noção de inconsciente como invenção e a intransponível inclusão do analista na psicanálise que conduz, pontos que apresentam-se um como efeito do outro, pode ter um certo valor ao refletirmos sobre este auspicioso avanço da psicanálise para além dos consultórios particulares. Avanço que delineia um horizonte de longa vida para esta prática e que, ao mesmo tempo, permite desenhar novas interrogações que começam ser a ela dirigidas. Gostaria de constituir alguns apontamentos a partir de um mal-estar que, com freqüência, faz-se presente no discurso daqueles que sustentam a possibilidade de uma clínica analítica em instituições que não são propriamente analíticas, como os serviços públicos de saúde ou as clínicas mantidas por centros de estudo como as Universidades. Com freqüência nos encontramos, nestes locais, com uma composição de difícil articulação: estamos diante de uma lógica que ordena o cotidiano do serviço e que, freqüentemente, não está alinhavada por um questionamento, a cada nova situação recolocado, acerca da transferência. Encontramos-nos frente a um ordenamento administrativo-organizacional que regula o recebimento dos pacientes, o fluxo das demandas, o início do trabalho e também seu desfecho, seja esse pela interrupção do percurso por conta de um prazo encerrado ou ainda pela precipitação de um encaminhamento a outro membro da equipe que é decido pelas “regras” da instituição. Vou tomar especificamente este último elemento para sobre ele refletir, sem, contudo, propor um funcionamento que penso devesse ser adotado nestas ocasiões. Nada seria mais anti-analítico que estabelecer a priori as regras de um funcionamento. Quanto às regras, a psicanálise só reconhece duas: para o analisante, a associação livre, para o analista, a abstinência. À parte isso, penso que o impasse se coloca justamente quando as regras decidem, seja por um encaminhamento ou mesmo pela continuidade de um trabalho. E por que seria problemático que as regras decidissem alguma coisa? Afinal não vivemos em uma barbárie e necessitamos de algum ordenador para organizar as relações no interior das instituições que construímos. Que precisamos de ordenadores, Freud já nos dizia, ao situar a interdição do incesto como produtora das condições de possibilidade de uma estruturação neurótica. Constituímo-nos a partir do que nos é interditado. O problemático não se situa no lugar em que algo se encontra como proibido. O problemático encontra-se no laço que o analista poderá fazer a este interdito. Se ele situa-se frente à regra deixando-a decidir por ele, ou seja, numa posição de exclusão frente aos efeitos que ela produz em si, em sua clínica e nos analisantes que acolhe, ele, analista, desincumbe-se de se fazer suporte da transferência, enunciando, com isso, a possibilidade de que haja um Outro do Outro. Ao deslocar-se do lugar de suporte da transferência, colocando em seu lugar o ordenamento administrativoorganizacional do local onde inscreve sua prática, ele propõe como horizonte para o endereçamento operado pelo analisante um saber sem sujeito, qual seja, a normatização de sua instituição de trabalho. Ao empreender tal manobra, corre-se o risco de fundar uma relação perversa em que ele, analista, e seu paciente restam como objetos de um ordenamento em relação ao qual não conseguem enlaçar-se como sujeitos, ou seja, a partir de seu ponto de ignorância. Sabemos o quanto a elisão do lugar da ignorância em uma relação estabelece uma situação que força na direção de uma suspensão do pensamento: as regras são chamadas a decidir pelos sujeitos. Com isso queremos atentar para o fato de que quanto ao encaminhamento se trata de que cada analista – ou aprendiz de – tome a palavra em nome próprio para enunciar o desfecho do qual se fará suporte naquele percurso de escuta. Sabemos que as análises são processos aos quais não podemos adjetivar de breves, muito embora não se trate de que possam ser longos, mas sim suficientes. Para operacionalizar esta forma de atravessar o tempo, tão avessa aos nossos tempos, as instituições que acolhem uma prática psicanalítica de profissionais em formação, como as clínicas-escola, têm, freqüentemente, adotado o dispositivo do encaminhamento dos analisantes, de uma analista ao próximo, como uma prática cotidiana e corriqueira. Não raro encontramos, nestes locais, sujeitos que estão em atendimento há vários anos e que foram escutados por três, quatro, até cinco profissionais. À parte o dispositivo do encaminhamento ser interessante em muitas situações, ele pode, toda vez que se colocar como uma solução que economiza a reflexão sobre a transferência em jogo na situação clínica em questão, ter efeitos pouco analíticos. Podemos tomar pelo menos dois desdobramentos pouco interessantes da “instituição” encaminhamento. Primeiro, vislumbramos aquilo que pode se jogar como proposta transferencial no início do trabalho: o analisante, ao ser acolhido por um analista em formação, vê desenhado como horizonte para aquele percurso um encaminhamento que se estabelece, de início, como destino, e não como uma possibilidade em cuja construção ele se sinta implicado. Aquela escuta será transitória, lugar de passagem para outra escuta. Esta passagem está decidida a priori por uma possibilidade que se torna regra e que, nesta medida, economiza que aquele que escuta tenha que assumir a responsabilidade por uma decisão. É no desdobramento do que esta economia pode significar que podemos situar um segundo ponto, pois, na medida em que o dispositivo decide, o analista pode encontrar nele, dispositivo, os meios para recuar diante do encontro com a castração que suas condições de escuta realizam: há algo na direção desta cura que, pelas condições nas quais ela se desdobra, não poderá ser percorrido, não pelo menos no tempo em que analista e analisante dispuseram. Desta feita, penso que, muitas vezes, quando um trabalho esbarra nas condições que impedem seu prosseguimento, quais sejam, no desligamento do analista em formação da instituição em que atua, pode ser interessante que algo de uma demanda de continuidade precise se enunciar do lado do paciente. Isto implica que aquele que escuta não a ofereça rápido demais, não a ofereça como forma de minimizar os efeitos que seu desligamento pode ter para si, seja de encontro com a castração, seja de responsabilização por uma escolha. Quero dizer, com isso, que pode ser interessante que o analisante precise fazer o trabalho psíquico de reafirmar sua demanda, de recolocar o endereçamento que possibilitou aquele encontro de trabalho. Assim, que haja regras, ordenadores, dispositivos – como o de encaminhamento até aí não estamos propriamente diante de um impasse. O impasse se coloca toda vez que estes ordenadores economizam o pensamento, economizam a reflexão dos sujeitos que sob eles se situam. Penso que foi justamente contra isso que Lacan pode se rebelar quando denunciou a standarização da prática analítica. Com sua denúncia ele empreendeu um movimento de reposicionamento do analista no que concerne a sua responsabilidade pela direção do tratamento. Não são as regras que podem ou devem decidir por ele. Ele precisar tomar a palavra em nome-próprio e dela se fazer cargo, mesmo que sua palavra, como acontece aos humanos, seja completamente constrangida pelas condições onde ela emerge. * Psicanalista membro da APPOA, Doutora em Educação. FREUD, S. [1912] Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In: Ed Standart Brasileira da Obras Completas de Sigmund Freud. 2ed.Rio de Janeiro : Imago, 1974. p.149-159. ___. [1913] Sobre o início do tratamento. In: Ed Standart Brasileira da Obras Completas de Sigmund Freud. 2ed. Rio de Janeiro : Imago, 1974. p.164LACAN, Jacques. [1964] Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 2ed. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1985. LACÔTE, Christiane. O que pode dizer a psicanálise sobre o trabalho do artista. In: JERUSLINSKY, A., MERLO, A. M., GIONGO A. L. e outros. O valor simbólico do trabalho e o sujeito contemporâneo. Porto Alegre : Artes e Ofícios, 2000.
Download