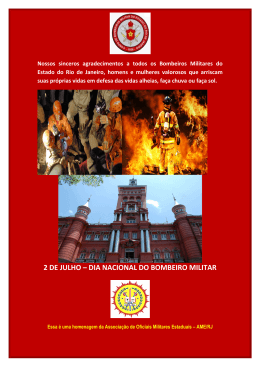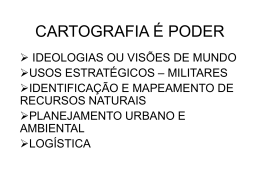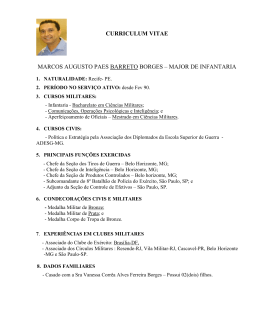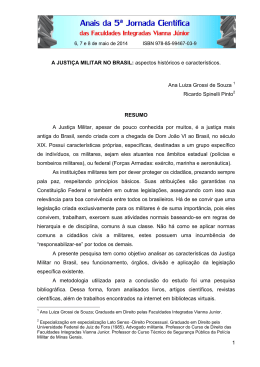Bomba no Riocentro: os militares e outras memórias. Priscila Antunes. "Nosso compromisso é com o futuro. qualquer coisa sobre esse episódio das bombas pertence à História e é trabalho para historiadores.” José Gregori [Secretário Nacional dos Direitos Humanos (95/99)] “Nesse episódio, as Forças Armadas perderam a grande oportunidade histórica de dar uma demonstração ao país de um compromisso com a ordem.” Ernesto Geisel [Presidente durante o regime militar (74/78)] Prólogo Onze anos após a implantação do regime militar, instalado no país através do golpe de 1964, o presidente Ernesto Geisel (1974-1978) iniciou o processo de abertura política no Brasil. A maioria dos estudos sobre a transição no país aponta para o controle inicial do governo militar sobre a distensão — que ficou famosa por sua proposta “lenta, segura e gradual”—, e para uma relativa perda da capacidade do mesmo em efetivá-la dentro de seu projeto original. Duas explicações podem ser observadas em grande parte da bibliografia pertinente para o início da transição brasileira. Uma, de que a transição nasceu da contradição existente dentro das Forças Armadas, tanto enquanto governo, como enquanto instituição. Havia uma divisão dentro da instituição e do regime desde o início do governo militar que se acentuou após a aniquilação dos movimentos para-militares de esquerda, em 1974. De forma muito simplificada, esta divisão pode ser apresentada da seguinte forma: uma linha de militares ligados ao general Costa e Silva (1967-1969), conhecidos como “linha dura”, e uma linha dos militares “legalistas” ligados ao general Castello Branco (1964-1967). Os militares vinculados ao general Costa e Silva se encontravam mais dispostos a implementar medidas de restrições à participação popular no jogo político. Inseriam-se, principalmente, nos órgãos de repressão e informações, e pretendiam perpetuar-se no poder. Constituíam-se, de acordo com a percepção deles próprios, como uma composição menos orgânica se comparada ao grupo castelista, e seria formada por oficiais de baixa ou média patente, com uma tênue linha de coordenação.1 O grupo castelista, mais intelectualizado, ligado às escolas superiores das Forças Armadas, era composto por generais, com um maior entrosamento entre si e com os grupos políticos empresariais. De acordo com os vários depoimentos analisados, estes militares pretendiam apenas “arrumar a casa” para devolvêla ao poder civil. 2 As contradições existentes entre a instituição militar e o regime autoritário demandaram uma necessidade de resolução que acarretou em uma motivação para a distensão política. O projeto de abertura conseguiu se impor não apenas porque prevaleceu a candidatura do general castellista Ernesto Geisel sobre os interesses dos esquemas de informações e repressão, mas também por ele ter criado as condições militares essenciais a seu projeto. A segunda explicação é a de que os custos da permanência no poder aumentaram e os da democratização declinaram. Entre os desafios que alteraram os custos do regime, citaamos a sucessão de lideranças, a erosão na coesão das elites e o declínio da legitimidade do governo. A partir de meados da década de 1970 ressurgiram as pressões da sociedade civil; surgiram pressões externas, e a oposição passou a obter maiores ganhos políticos. Todo processo de transição autoritária militar para um regime democrático se configura como um conflito para os militares que se encontram no poder. No Brasil, a transição compactuada permitiu aos militares negociarem sua saída, de forma que assegurassem interesses e prerrogativas, mantiveram um controle suficiente sobre a transição, com o objetivo de garantir seus interesses institucionais. Neste sentido, um dos atos mais reconhecidos no Brasil foi a anistia aprovada pelo presidente João Baptista de Figueiredo em 1979. O presidente sancionou, entre outras coisas, a anistia “ampla, irrestrita e completa”, bandeira que até então vinha sendo carregada pela oposição, e que com a atuação presidencial atingiu tanto os militantes de 1 A percepção dos militares sobre sua atuação durante o regime militar pode ser verificada através da trilogia organizada pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, organizada pelos professores Maria Celina D’Araujo, Gláucio Ary Dilon Soares e Celso Castro: Visões do Golpe: Memória Militar sobre 1964; OS anos de Chumbo: Memória Militar sobre a Repressão e A volta aos Quartéis: Memória Militar sobre a Abertura. 2 Vale ressaltar que o grupo castellista não era menos autoritário ou mais democrático do que o grupo de Costa e Silva. esquerda, como também assegurou a impunidade aos militares envolvidos no sistema de repressão. A administração do presidente Figueiredo foi marcada por grandes contradições. Ao mesmo tempo em que prosseguiu com o processo de abertura do presidente Geisel, possibilitou grande crescimento em um dos alicerces principais do regime militar, o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI. A consecução do projeto de abertura foi extremamente conflituoso, pois a divisão interna do regime militar se acentuou. O resultado foi uma radicalização em relação ao processo de distensão. A oposição à abertura tomou proporções drásticas. Havia dentro dos serviços de informações, militares que não aceitavam a forma com que se efetuava o processo de abertura política e tramavam a sucessão presidencial. Mas se possuíam um poder substancial, eles não tinham representatividade institucional. Apesar de crescerem consideravelmente, na prática, não tinham mandato para mudar a ordem dos acontecimentos, que caminhavam em direção contrária à de seus interesses. Foi quando começaram a planejar atentados. Explodiram bombas em vários locais, como em bancas de jornais, na Associação Brasileira de Imprensa - ABI, na Ordem dos Advogados do Brasil- OAB e como no famoso episódio da explosão das bombas do Riocentro. Riocentro: o episódio. 30 de abril de 1981! Um show organizado pelo Centro Brasil Democrático – CEBRADE3 comemorava o Dia do Trabalho. A administração era do presidente João Baptista de Figueiredo, que havia sancionado a anistia política. Enquanto se revezam no palco expressivos nomes da MPB, uma bomba explode em um carro Puma no estacionamento do Riocentro e outra na casa de força. Na explosão morreu o sargento do I Exército, Guilherme Pereira do Rosário e ficou gravemente ferido o capitão Wilson Machado. Pelo fato de se tratar de oficiais militares, o processo de investigação foi iniciado sob a alçada da Justiça militar. Mas a falta de transparência com que foi conduzido o Inquérito Policial Militar — IPM —; a conclusão que acenava para a possibilidade de o atentado ter sido provocado por grupos de esquerda; e o pedido de arquivamento do caso por falta de 3 O CEBRADE era um órgão diretamente vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, que àquela época funcionava na clandestinidade. provas, transformou o episódio do Riocentro em uma das grandes incógnitas do regime militar. A releitura do caso Riocentro, passados vinte anos, não tem como objetivo desvendar o mistério em torno do episódio, e, muito menos, responder às várias questões suscitadas desde aquela noite. Procuramos analisar a luta pela memória que vem sendo travada desde 1981, em especial pelos militares e perceber qual a representação os oficiais procuraram construir e como a imprensa atuou nesta tentativa de construção. Trabalhar com assuntos considerados “tabus” pelos militares sempre foi uma tarefa difícil, devido, em parte, à postura por eles assumida. O silêncio sobre o período autoritário ainda constitui um empecilho ao interesse investigativo. Felizmente, um silêncio corporativo que vem sendo rompido, embora lentamente. Desta forma, para a viabilização desta pesquisa, foi de fundamental importância a consulta ao trabalho empreendido pelo Centro de Pesquisa e Documentação e História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas - CPDOC/FGV, que desde 1992 vem desenvolvendo pesquisas sobre a memória militar. Entre as obras resultantes deste projeto destacamos, para a elaboração deste texto, “A Volta aos Quartéis: Memória Militar Sobre a Abertura” que conta com vários depoimentos relacionados ao processo de abertura no Brasil, com um relevante destaque para o caso Riocentro, e Anos de Chumbo, que analisa a memória militar sobre o período mais repressivo do país. Também importantes foram os livros “A Direita Explosiva no Brasil”, publicada em 1996 sob a organização de Luiz Alberto Fortunato, trata-se de um livro organizado por dois jornalistas e o filho de um militar, que se assume enquanto um dos principais articuladores dos atos terroristas de direita, contendo parte de sua memória e do que lhe interessava ser repassado às futuras gerações como a “verdadeira história do terrorismo de direita pós anos 50”, e Memória Viva do Regime Militar, de Ronaldo Costa Couto, publicado em 1999, que contém depoimentos de várias pessoas de importância política no processo de transição. Trabalhamos com três cortes temporais principais. O primeiro faz uma reconstrução do que se tornou famoso como “o episódio Riocentro”. Ou seja, aborda o processo de cobertura jornalística ocorrido imediatamente após a explosão e suas repercussões no calor dos acontecimentos. Perceber como operou a máquina de repressão na manipulação do inquérito é essencial neste trabalho, uma vez que a “solução” apresentada ao caso, juntamente como o desejo de revertê-la, foram, e ainda o são, um dos principais móveis de reconvocação da memória brasileira sobre o episódio. Ainda serão observados, de maneira menos privilegiada, as tentativas de reabertura do IPM sobre o Riocentro entre 1985 e 1988. Nosso segundo corte será o ano de 1991, quando a imprensa comemora os 10 anos do Riocentro e ressuscita a discussão política e as viabilidades jurídicas da reabertura do inquérito. O último período analisado é 1996, quando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pede a reabertura do caso, e maio de 2000, quando, novamente, se tenta (re) encerrar o assunto dentro do âmbito da justiça militar. Para a instrumentalização teórica utilizamos o conceito de “memória emblemática” desenvolvido por Steve Stern. Sua manipulação nos ajudou a perceber parte do processo de construção da memória relacionada ao episódio. Como a pretensão de se fixar uma memória colaborou no processo de construção de memórias sobre o Riocentro e a própria percepção da atuação político-repressiva do país. Além disto, perceberemos como a tentativa de enterrar o assunto de forma imediata teve o efeito paradóxico de multiplicar as memórias e atualizar as questões levantadas pelo caso. Este trabalho analisa, por um lado, as várias memórias construídas a respeito do Riocentro e a atuação dos militares no decorrer do processo jurídico sobre o Riocentro, ou seja, uma memória “sobre” os militares. Por outro, busca perceber como os militares perceberam o Riocentro e como este episódio reflete uma luta interna das Forças Armadas, que pode ser observada desde o início do regime militar. Como este trabalho tem como eixo de análise central a memória sobre o Riocentro, o conceito de “memória emblemática” nos foi de extrema valia, uma vez que apenas pode ser utilizado por uma perspectiva ex-post. Há um processo de conversão de algo, em uma memória emblemática. O episódio Riocentro não é, em si mesmo, uma memória emblemática. Ele resulta, de formas diferentes, para atores diferentes, emblemático. Tratase de invenções humanas, mas que não são forjadas de forma arbitrária. Como define Stern, “las memorias emblematicas son productos del conflicto social. Nacen y adquirem su influencia a través de esfuerzos múltiples, conflictos y virajes históricos.4 O conceito contribui para organizar o debate criado em relação a marcos definidos. Neste caso, organiza a forma em que é relembrado o Riocentro, de como se tentou forjar emblemas para o episódio e de como ele se tornou emblemático para os militares e outros atores da sociedade. A pergunta principal desde trabalho é: Quais memórias emblemáticas foram criadas em relação ao episódio Riocentro, após este processo de lutas por sua memória? Quais são seus principais emblemas? Neste processo de construção de emblemas, significados, contamos com o que Stern chamou de “nudos convocantes”. Ou seja, de instrumentos que possibilitam reconvocar a memória de vários setores da sociedade em relação aos marcos desejados, sejam estes “nós” pessoas, datas, feitos ou lugares, que permitem associar as memórias soltas, a um contexto amplo e coletivo. A combinação entre a idéia de memória emblemática, com a idéia de “nós” convocantes permite desenvolver um método de análise que nos convida a ver com especificidade histórica o processo de construir pontes de memória e, neste caso, também a tentativa de se forjar memórias. Pontes entre as memórias soltas relacionadas ao Riocentro e a elaboração de seus emblemas no âmbito coletivo. Construção que ora passa a ser analisada e discutida. Riocentro, 30 de abril de 1981 — O fato.5 9.892 pessoas se divertiam em um show de MPB. Eram 22 horas quando explodiu uma bomba dentro de um Puma no estacionamento do Riocentro. No carro, um corpo estilhaçado no banco direito. Marcas de sangue ao lado da saída esquerda indicam que outro alguém havia sido atingido por aquele petardo. Nenhum tipo de policiamento guardava o lugar, o que seria comum neste tipo de ocasião. 10 dos 12 portões do Riocentro se encontravam trancados. 15 minutos depois, outra bomba explode perto da casa de força. Mas nada é ouvido lá de dentro, onde, naquele instante, os jovens se embalavam no ritmo da cantora Elba Ramalho. Do lado de fora, um homem, com as vísceras presas pelas mãos, caminha pelo estacionamento e pede socorro. Taxistas, ao reconhecerem no homem um membro do I 4 - STERN, Steven. De la memoria suelta a la memoria emblematica, 1998. As fontes consultadas para a elaboração desta narrativa foram retiradas dos jornais Jornal do Brasil, O Globo, O Estado de São Paulo e das revistas Manchete, Visão, Veja e Istoé. 5 Exército, recusam-se a aceitá-lo dentro do carro. Uma jovem e seu namorado que chegavam atrasados para o show, prestam socorro a vitima, conduzindo-lhe ao Hospital Miguel Couto. Ao preencher seu prontuário, o mesmo declarou ter sido vítima da explosão do motor de seu carro e pediu ajuda para um telefonema. Enquanto isso, policiais, peritos e jornalistas se deslocavam para a área do estacionamento. Inicialmente, os jornalistas chegaram e fotografaram, procurando registrar todas as imagens possíveis. Mas com a chegada de um novo comando da Polícia Militar, foi ampliada a área de isolamento para cinquenta metros e a imprensa foi proibida de fotografar, sob o argumento de que havia outra bomba no carro e que os flashs das máquinas poderiam ativalas. Neste início do tumulto, dois policiais trazem um grupo de homens que havia sido pego de forma suspeita ao redor do pavilhão. Após uma rápida conversa com o comandante da Polícia Militar — tenente Ille Marlen Lobo — foram mandados de forma imediata e ameaçadora para dentro do pavilhão. Em seguida, fotógrafos foram afastados mais ainda do local da explosão, sendo até mesmo ameaçados de terem seus filmes apreendidos. A esta altura, jornalistas já haviam filmado a retirada de dois volumes da parte traseira do Puma e identificado a vítima fatal da explosão Da mesma forma ocorreu com o outro homem que havia se encaminhado para o Miguel Couto, onde um jornalista acessou sua ficha de entrada. Tratavam-se do sargento Guilherme do Rosário, cujo corpo acabava de ser retirado do carro e conduzido para o IML, e do capitão Wilson Machado, cujos ferimentos ameaçavam gravemente sua vida. Ambos alocados no CODI do I Exército. Algumas palavras sobre os “ DOI-CODI.” No início da década de 1970 foram criados os Centros de Operações e Defesa Interna — CODI’s — e os Destacamentos de Operações Internas — DOI’s — órgãos brasileiros responsáveis pelas questões de segurança interna. Os CODI’s tinham uma característica peculiar: funcionavam com membros das três forças armadas, cujos órgãos de informações deveriam repassar-lhes as informações do que estava acontecendo em suas áreas específicas. Os DOI’s eram subordinados aos CODI’s e funcionavam como seus braços operacionais. Apesar desta subordinação, os DOI’s mantiveram um alto grau de autonomia. Suas atividades eram reservadas, seu pessoal não andava fardado e usavam viaturas disfarçadas. Possuíam instalações próprias para onde levavam as pessoas que prendiam. Eram os responsáveis pela realização das batidas, descobriam “aparelhos”, prendiam suspeitos e realizavam interrogatórios.6 As Diretrizes Especiais, com a criação dos CODI’s e dos DOI’s, apenas deram amparo jurídico a uma série de ações que vinham sendo desenvolvidas dentro das Forças Armadas e que resultaram na execução de atrocidades cometidas naquele regime. Pelo depoimento do general Fiúza de Castro no livro Anos de chumbo — o general é um dos representantes da chamada “linha dura” —, percebe-se que a tortura era uma prática comum que ocorria, principalmente, dentro dos DOI´s. Existem muitos militares que não admitem a prática de tortura em hipótese alguma, como o general Coelho Neto, pertencente à “linha dura”. De acordo com ele, no Brasil não houve tortura e sim, uma política das pessoas de esquerda de denunciar a prática de tortura. Seria uma forma que encontraram para “justificar as delações que cometiam”. Nos dizeres do general, “levavam apenas uns tapinhas” e diziam que haviam sido torturados. Dava-se apenas “uns cascudos ou encontrões [e] isto não é tortura, tortura é outra coisa.”7 Estes organismos eram os lugares por excelência da prática de tortura no país. O general Fiúza até relatou exemplos de técnicas aprendidas pelo pessoal do DOI com o serviço de inteligência inglês, aonde alguns agentes do DOI haviam feito cursos: “Interroga-se o prisioneiro de guerra logo que ele é aprisionado, porque neste momento ele diz muita coisa. Depois que se recompõe, já não fala tanto. Porque o medo é um grande auxiliar no interrogatório. Os ingleses recomendam que só se interrogue o prisioneiro despido porque, segundo eles, uma das defesas do homem e da mulher, evidentemente, é a roupa. Tirando a sua roupa, fica muito agoniado, num estado de depressão muito grande. E esse estado de desespero é favorável ao interrogador. [...] É uma técnica praticamente generalizada.”8 6 7 8 Aparelho era o termo designado pelos grupos de esquerda para definir o local em que ficavam, durante o tempo em que agiam clandestinamente. D´ARAUJO, SOARES e CASTRO. Anos de Chumbo. Memória Militar sobre a Repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p.238. D´ARAUJO, SOARES e CASTRO. Anos de Chumbo. Memória Militar sobre a Repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p.62. Apesar de afirmar que as técnicas de interrogatório desenvolvidas eram inspiradas no modelo inglês, o general procurou humanizar a forma com que elas foram conduzidas. Segundo ele, Nos DOI’s (...) quando o preso entrava, a primeira coisa que fazia é identificá-lo. Ele era fotografado, tiravam-se as impressões digitais, e se fazia, inicialmente, um interrogatório muito ligeiro (...) E depois, eles não podiam ficar com a roupa que estavam, porque podia esconder qualquer coisa. Então, eram mandados se despir, e era fornecida uma roupa especial, uma espécie de macaquinho. Para as moças(...) também era dado imediatamente um “modess”, porque a primeira coisa que acontece com a mulher quando é submetida a essa angústia da prisão é ficar menstruada. E fica escorrendo sangue pela perna abaixo, uma coisa desagradável. Em seguida, tomavam um banho, trocavam a roupa. O Frota fazia questão de cada cela tivesse roupas de cama limpas.9 Mas basta lembrar que vários oficiais brasileiros fizeram cursos na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, e que tiveram aulas de tortura ministradas por estrangeiros no Brasil com o uso de prisioneiros políticos como cobaias, para perceber que a realidade foi diferente do que pretende supor o depoimento do general.10 As práticas ilícitas cometidas não ocorriam apenas dentro destes “porões.” Integrantes do DOI também seqüestravam pessoas, espancavam e explodiam bombas. O Centro de Informações do Exército — CIE e o pessoal do DOI foram os principais responsáveis pela morte de vários militantes do Partido Comunista do Brasil — PC do B — durante a Guerrilha do Araguaia.11 Após o fim da guerrilha e o começo do processo de Abertura, o CIE, principalmente através dos “DOIs-CODIs”, foram os principais responsáveis pelas ações que visavam prejudicar o processo de distensão. No começo da década de 80, período em que explodiu a bomba do Riocentro, o Rio de Janeiro era considerado o maior foco de resistência à abertura política no Brasil. 9 D´ARAUJO, SOARES e CASTRO. Anos de Chumbo. Memória Militar sobre a Repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p.60. 10 ARNS, Dom Paulo Evaristo (org.) Tortura Nunca Mais. Petrópolis: Editora Vozes, 1985. 11 A guerrilha do Araguaia foi a última tentativa de levante armado por parte das forças de esquerda durante o regime militar. Levou aproximadamente dois anos para ser totalmente dizimada e simboliza o fim da luta armada do Brasil. De volta à cena do crime. É possível afirmar que houve uma percepção imediata de que havia ocorrido um “acidente de trabalho” naquele estacionamento. Entre o sancinamento da Anistia em 1979 e este 30 de abril de 1981, já haviam sido explodidas aproximadamente 100 bombas no eixo Rio-São Paulo, todas caracterizadas como atentados terroristas de radicais de direita. A sociedade ainda se encontrava assustada com uma destas “façanhas” dos radicais que, ao enviarem uma carta bomba endereçada ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB — , mataram a secretária Lyda Monterio. No momento em que se soube da identificação das vítimas da bomba do Riocentro, espontaneamente, houve uma associação com todos estes crimes. Tanto que, à saída do show, um grupo de rapazes que passava pelo estacionamento saiu gritando: “é a alma da D. Lyda que voltou para se vingar.”12 A presença da imprensa neste momento, registrando o máximo de informações possíveis, inclusive descobrindo a identidade das vítimas da bomba foi de crucial importância. Imediatamente após a explosão da bomba, o comando do I Exército já havia começado a tomar as providências cabíveis, no sentido de construir uma versão particular dos fatos. Mas já era tarde... A primeira foi tentar reaver os filmes utilizados pelos fotógrafos e desconfirmar a informação de que haveria outras bombas dentro do carro. No dia seguinte à explosão, quando os jornais já haviam espalhado a notícia, o comandante do I Exército, general Gentil Marcondes, enterrava com honras militares o sargento morto na explosão. Um coronel foi enviado ao departamento de jornalismo da Rede Globo, exigindo que a emissora — que já havia divulgado as imagens de peritos retirando duas outras bombas de dentro do 12 RIBEIRO, Belisa. Bomba no Riocentro. Rio de Janeiro: CODECRI, 1981. p.24. carro — desmentisse a matéria no ar, afirmando se tratar apenas de dois extintores de incêndio, o que foi imediatamente obedecido.13 Esta obediência imediata da Rede Globo pode ser entendida, uma vez que conheçamos um pouco das relações da imprensa com o Estado durante o regime militar. Sobre estas relações, poderia-se dizer que, apesar da eterna reivindicação de legitimidade para se falar da repressão estatal no regime militar, uma vez que ela própria foi sua vítima, a maioria da grande imprensa foi favorável ao golpe militar, posição que passaria a ser mudada principalmente a partir do final de 1968. Até este momento, os pequenos jornais que eram favoráveis ao presidente deposto João Goulart foram destruídos e o restante da imprensa nem mesmo sofria a intervenção da censura. Mas com a promulgação do Ato Institucional no 5 — o AI-5 — que provocou um recrudescimento do regime, a imprensa passou a ser atingida pelos órgãos de censura até a fortalecimento do processo de abertura, alterando novamente as relações Estado/Imprensa. Interessante destacar que um dos jornais que mais se vangloriou por sua postura de resistência política, é um dos jornais mais conservadores do país. Postura que não era muito diferente dos outros jornais, que passaram a agredir o regime militar apenas quando se sentiram “violentados”, pois, até então, o regime lhes tinha sido útil.14 Como exemplo, poderíamos dizer que para o jornal O Estado de São Paulo, o que houve a partir de 68 foi um “desvio autoritário” e para o Jornal do Brasil, o movimento de 64 havia se pervertido em 1968.15 O jornal O Globo constitui uma certa excepcionalidade nesta revolta tardia contra o regime. Pertence às Organizações Globo, cujo surpreendente poder foi conquistado e fortalecido naquele período, com a ajuda dos próprios militares, o jornal gozava o privilégio de nunca ter sofrido quaisquer tipos de pressão ou censura. Desta forma, tanto o jornal O Globo, quanto todo o conglomerado das Organizações Globo podem ser considerados como 13 Apenas dez anos após a explosão, que o jornalista Armando Nogueira, que em 1981 comandava a Central Globo de Jornalismo admitiu, ao Jornal do Brasil, que havia montado a versão a gosto da emissora e dos militares. DIAS, Maurício. Sem Novidades. Istoé, 08 de maio de 1991. 14 Maiores informações sobre a relação entre imprensa e Estado no regime militar brasileiro podem ser encontradas em: AQUINO, Maria Aparecida. Censura, imprensa e estado autoritário. – o exercício cotidiano da dominação e da resistência. Bauru: Edusec, 1999 e SOARES, Gláucio Ary Dilon. A censura durante o regime autoritário. Revista Brasileira de Ciências Sociais, no 10, vol.4, junho de 1989. 15 Editoriais dos jornais O Estado de são Paulo e Jornal do Brasil de 31 de março de 1994. grandes aliados dos militares, o que explica a imediata obediência do jornal à ordem militar de “desmentir” a matéria sobre a segunda bomba dentro do carro. De qualquer forma, as pressões para que o governo assegurasse uma correta condução do inquérito passaram a surgir de vários lados. Principalmente através da imprensa, que enfatizou o episódio através das matérias, editoriais e entrevistas. A sociedade civil, tendo como seus mais fortes representantes a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros — CNBB e a OAB, também exerceu uma enorme pressão16. A explosão ainda conseguiu uma proeza inédita no país. Fez com que todos os partidos políticos brasileiros esquecessem, por um instante, suas rivalidades políticas, e se unissem num ato de solidariedade para com o presidente da República. Até mesmo as facções partidárias mais radicais suspenderam suas divergências para, no que dizia respeito ao combate ao terrorismo, hipotecar o apoio ao presidente. O senador Tancredo Neves garantiu: “o presidente tem o apoio incondicional de meu partido [PMDB] para implementar a democracia plena e, também, para adotar as medidas que ele considere oportunas – dentro da lei – para debelar o terrorismo no país.”17 Vale destacar que o apoio do PMDB constituía um importante apoio político para o presidente Figueiredo. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, criado no começo do regime militar, enquanto oposição consentida, havia começado a romper com este caráter com as eleições de 1974, quando se tornou uma força política majoritária no país, detentora de uma grande parcela de poder no começo dos anos 80. Além do PMDB, a maioria dos partidos passou a confiar na condução correta da investigação. Condução reivindicada, inclusive, por pessoas que ocupavam altos postos na hierarquia federal. As hipóteses elaboradas para a explicação da explosão ou do que se passou efetivamente naquele estacionamento, eram muitas. Mas havia uma certeza: tratavase de um atentado terrorista. Poucos tinham dúvidas quanto à sua origem. Como declarou à 16 Embora tenha apoiado o golpe militar em 1964, a Igreja Católica, a partir do de aproximadamente 1967, começou a atuar em defesa das liberdades civis e contra a atuação repressiva do estado. Juntamente com a OAB, a CNBB se tornou uma importante referência brasileira na luta pela defesa dos Direitos Humanos. 17 Jornal do Brasil, 04 de maio de 1981. época o ministro da Justiça Ibrahim Abi Ackel, “a bomba explodiu debaixo da nossa cama.”18 Mas a grande novidade do Riocentro estava no fato de ele possibilitar puxar o fio que desvendaria todo o processo de terrorismo de direita que vinha sendo empregado desde a anistia. Permitiria fazer um levantamento do esquema de terror que nos últimos dois anos já havia realizado mais de uma centena de explosões. A expectativa que pairava naquele momento, estava direcionada às possibilidades de sobrevivência do capitão que se encontrava hospitalizado. Em um grande furo de reportagem, o jornal O Globo mostrou o que a imprensa em geral considerava um ato impossível: furou o cerco de segurança criado em torno do capitão e conseguiu fotografar o capitão se recuperando no hospital. A foto foi tirada por um médico residente, a pedido de um fotógrafo, e, uma vez descoberta sua atitude, foi punido com a expulsão do hospital. O então coronel Job Santana foi enviado ao jornal para exigir o negativo desta foto e impedir a veiculação da fotografia. Mas a agência O Globo já havia comercializado a foto com vários outros jornais. Brasília, e de um modo geral, boa parte da sociedade que tinha expectativas de ver este caso apurado, respirou aliviada quando descobriu que o capitão Wilson não corria mais riscos de vida. Entretanto e, apesar das pressões exercidas, inclusive por oficiais militares, como era o caso do ministro Chefe da Casa Civil, general Golbery do Couto e Silva e dos indícios recorrentes da culpabilidade, aproximadamente duas semanas após a explosão, já pairava no ar a certeza de que nada seria apurado. O isolamento do presidente Figueiredo; o silêncio do ministro do Exército Walter Pires; o consolo do general Gentil ao capitão ferido; a ordem “surgida” no dia seguinte à explosão da bomba, em que o comandante do I Exército assinava a designação dos dois militares para acompanharem o show; e a substituição do coronel Luiz Prado na condução do 18 Jornal do Brasil, 02 de maio de 1981. inquérito “por motivos de saúde”, homem julgado pela maioria das pessoas como extremamente correto, indicavam que o inquérito não seria levado a sério.19 De acordo com a jornalista Belisa Ribeiro, que publicou seu livro sobre o Riocentro ainda em 1981, o que os militares e parte da sociedade política acreditava estar em jogo era a própria abertura política no país.20 As divergências sobre a condução do inquérito já atingiam de forma dura o regime militar e as próprias forças armadas. Uma apuração rigorosa do atentado esbarraria em nomes importantes do governo, como era o caso dos generais Otávio Medeiros e Newton Cruz, chefe do SNI e chefe da Agência Central do Sistema Nacional de Informações. O general Medeiros se configurava como um candidato em potencial à Presidência após o fim do mandato de Figueiredo. Não se pode prever a instabilidade política que seria criada, uma vez atingidos os mais altos postos da hierarquia militar. As eleições de 1982 estavam em jogo. E em nome desta tranquilidade, a oposição aceitou as cartas do jogo e engoliu de forma quase passiva o resultado do inquérito apresentado pelo coronel Job Santana, logo depois, promovido a general. Abrir mão da apuração do processo teria sido uma postura assumida pela oposição, como forma de garantir o processo de transição. Palácio Duque de Caxias, 30 de junho de 1981 — A construção. Dois meses após a explosão, o espetáculo foi apresentado. Em cena, o coronel Job Santana e uma quantidade enorme de croquis, fotos, laudos periciais e slides, que foram manipulados ao longo de mais de uma hora com a intenção de se comprovar que era impossível apontar os responsáveis pelo atentado. Em uma exibição de suntuosidade e arrogância militar, o Exército pretendeu, através de seu ator principal [Mr. Job]; convencer a sociedade brasileira de que a bomba [uma lata de óleo lubrificador com capacidade para dois litros] fora colocada dentro do Puma do capitão Wilson [que circulava pelo estacionamento descaracterizado]; entre a porta esquerda e o 19 A expressão “homem correto” utilizada frequentemente quando se referiam ao coronel foi utilizada, inclusive, pelo ex-presidente João Baptista Figueiredo. COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar. Brasil 1964-1985. Rio de Janeiro: Record, 1999.p.183. 20 RIBEIRO, Belisa. Bomba no Riocentro. Rio de Janeiro: CODECRI, 1981. p.141. banco do passageiro [que deve ter uma distância máxima de 5 centímetros]; por um grupo de esquerda, provavelmente a VPR [grupo engajado na luta armada no princípio dos anos 70 que já havia sido totalmente aniquilado pelas forças repressivas do Estado]; no momento em que estes saíram para fazer “xixi” [o que, de acordo com a apresentação do coronel, deveria ser registrado como o mais longo “xixi” da história, com uma duração aproximada de 15 minutos, enquanto a média dos seres humanos normais é de 30 segundos]. Na platéia, um público restrito de jornalistas e militares assistiam ao “espetáculo” estarrecidos e calados por uma explícita proibição de dirigir quaisquer tipos de perguntas e comentários ao coronel. Nos bastidores, provas irrefutáveis da impossibilidade da bomba ter sido colocada dentro do carro; as evidências da existência de uma segunda bomba; e o silêncio de uma série de depoimentos que não foram ouvidos ou mencionados, capazes de comprovar a participação dos dois militares na execução do atentado. Homologado pelo comandante do I Exército, general Marcondes, que concordou com a solução proposta pelo coronel Santana, o IPM foi remetido à 3a auditoria do Exército quando, em 05 de julho de 1981, cinco dias após o espetáculo, o juiz Edmundo Franca o arquivou. Apesar dos vários indícios de que o inquérito seria enterrado naquele momento, a forma com que foi apresentado conseguiu surpreender a sociedade brasileira. Como declarou em entrevista o almirante Júlio de Sá Bierrembah, ministro do Supremo Tribunal Militar, que apoiou efetivamente o golpe militar de 1964, em nome da disciplina e da ordem: “não conheço as peças do IPM, mas o que penso sobre o assunto é o mesmo que você e mais de 50 milhões de brasileiros estão pensando (...) Sejam quais forem estes terroristas, acabarão entregues à justiça divina — esta é infalível.”21 As reações em meio à sociedade foram as mais variadas o possível. Entre elas, destacamos uma que exprime a forma extrovertida que parte dos brasileiros utiliza como recurso para atenuar suas decepções: “Isso tudo é uma brincadeira. Se a gargalhada soltada no momento em que as televisões divulgaram o resultado do IPM fosse amplificada, toda a Terra 21 Istoé, 08 de julho de 1981. tremeria. E o povo de Marte pensaria que a gente é feliz,” declarou um dos grandes intérpretes da música popular brasileira, Gonzaguinha.22 E outra que, de alguma forma, sintetiza a necessidade, politicamente julgada como necessária naquele momento, de se aceitar o resultado do IPM. Nas palavras do cineasta Arnaldo Jabor “É óbvio que o resultado do inquérito foi um escândalo para a nossa inteligência. Mas é óbvio também a delicadeza da situação.” Foi em nome desta delicada situação que os líderes oposicionistas, que antes haviam declarado que o episódio do Riocentro ao invés de acovardar, apenas daria mais forças para que o povo brasileiro seguisse em frente na sua luta pela liberdade, passaram a recomendar prudência em suas manifestações.23 O show de apresentação do IPM havia deixado claro os acordos que o presidente Figueiredo e seu staff militar estabeleceu com os radicais de direita e com a oposição política. Em relação aos radicais, nós não te punimos e vocês não fazem mais isto. Com a oposição, colocado de forma tácita: não mexemos no Riocentro e desta forma não criamos tumultos, garantindo as eleições de 1982 e o prosseguimento do processo de abertura. Apesar dos murmúrios e da ameaça de examinar a retirada do apoio que haviam oferecido havia dois meses ao presidente Figueiredo, no combate ao terrorismo, estas palavras permaneceram como mera retórica da esquerda. A tendência dentro dos partidos de oposição foi a de absorver o episódio, embora poucas vozes tenham endossado publicamente o conteúdo do IPM. Esta postura adotada, tanto pela oposição quanto por grande parcela da sociedade política, pode ser claramente observada na entrevista concedida por Tancredo Neves: “É preciso não perder de vista que no Riocentro, além do aspecto policial do caso, há um problema de estado mais relevante. Se nós nos ativermos exageradamente ao aspecto policial do caso, estamos correndo o risco de pôr em perigo valores muito importantes para a estabilidade e a continuidade do processo democrático em nosso país. (...) não podemos amarrar o destino do Brasil ao episódio do Riocentro. Temos pela frente objetivos transcedentais, da maior importância, da maior significação, que 22 23 Istoé, 08 de julho de 1981. Jornal do Brasil, 02 de maio de 1981. são a retomada do processo democrático brasileiro para que os episódios como este, do Riocentro, não possam acontecer”24 Importantes vozes se pronunciaram contra a condução dada aos acontecimentos. Como disse o jornalista da revista Istoé, Tão Gomes Pinto, "do espanto à submissão, à aceitação de um final que contraria o senso comum de maneira grosseira e ofensiva, vai, no entanto, uma grande distância."25 Vozes que foram “silenciadas” no momento do espetáculo começaram a querer se fazer ouvir, num decurso que iniciou com o tumultuado processo de arquivamento do IPM, explícito nas discussões entre militares que apoiavam a apuração e os que não a admitiam, e prossegue, até os dias de hoje. Este “querer se fazer ouvir” atua durante todo este processo como um dos principais “nós convocantes” da memória coletiva sobre o Riocentro. As declarações dadas por importantes testemunhas que foram ignoradas no IPM fizeram com que crescessem as dúvidas que o cercavam, tornando extremamente acidentado seu processo de arquivamento. Como resultado do emaranhado de questões levantadas acerca da viabilidade do resultado dado ao inquérito, o corregedor da Justiça Militar, Dr. Célio Lobão, ignorou as barreiras de proteção que vinham impedindo uma investigação profunda do IPM e, não concordando com o arquivamento, interpôs representação ao STM em 24 de agosto de 1981. Atento às preocupações dos dirigentes das Forças Armadas em manter o equilíbrio institucional, o Dr. Célio Lobão procurou amenizar os efeitos de seu ato. Declarou que apenas a deliberada má fé procuraria confundir a instituição com os indivíduos que a integram. Em seu texto de interposição declarou: “nenhuma instituição civil ou militar será atingida pelo fato de o comportamento de seu integrante estar sendo objeto de investigação. Elas permanecem inatingidas com a condução ilícita ou irregular daqueles que, transitoriamente, dela fazem parte.”26 24 Veja, 8 de julho de 1981. Istoé, 8 de julho de 1981 26 BIRRENBACH, Júlio de Sá. Riocentro: quais os responsáveis pela impunidade? Rio de Janeiro: Domínio Público, p.66. 25 Foi criada uma expectativa pelo resultado do julgamento desta correição parcial interposta ao STM, órgão judiciário autônomo em relação ao Poder Executivo e que tinha entre seus componentes nomes de peso dentro da luta pelos Direitos Humanos, com destaque para o Ministro Júlio Bierrenbach que, honrando com a postura assumida, pediu adiamento do prazo de seu voto assim que o inquérito chegou para ser votado pelo STM, para melhor estudar os seus autos. Bierrenbach pronunciou seu voto contra o arquivamento e foi acompanhado por seus colegas Andersen Cavalcanti, Gualter Godinho e Deoclécio Siqueira, ministros muito mais alinhados com a postura legalista de Castello Branco. Declarou que, por muito menos, civis haviam sido julgados e enquadrados na Lei de Segurança Nacional, e que, se houvesse a mínima crença por parte do Exército de que se tratava de uma operação terrorista de movimentos de esquerda, este teria mobilizado seus esforços à procura dos responsáveis. O voto, publicado na íntegra, teve a função de provar a inviabilidade do resultado do IPM e abrir ao público os bastidores do espetáculo. O que despertou a fúria do ministro do Exército, Walter Pires. Com a publicidade dos detalhes do IPM, o Exército ficou extremamente desmoralizado. E no decorrer daqueles dias, O Jornal do Brasil e a revista Istoé, principalmente, iriam revelar com detalhes, o quanto as explosões haviam atingido o presidente Figueiredo, acarretando o aumento de seu isolamento no meio militar. Não obstante todo este barulho, o IPM foi arquivado em 02 de setembro de 1981 pelo juiz Milton Menezes da Costa e só poderia ser reaberto caso surgisse algum fato novo que desse indícios da autoria do crime. O espetáculo do coronel Job Lorena havia esboçado os contornos do que se constituiria como uma das principais memórias emblemáticas do Riocentro... Esplanada dos Ministérios, 15 de outubro de 1985 — A saída. Em torno de uma mesa de almoço improvisada, reunia-se a nata da hierarquia militar. Já vivíamos sob o governo de transição do presidente civil José Sarney. À mesa, dois assuntos extremamente indigestos para as Forças Armadas. Encontravam-se preocupados com a tentativa de reabertura do caso Riocentro, mas o que dominava o cardápio era a subemenda apresentada ao Congresso Nacional pelo deputado Jorge Uequed, na qual propunha a ampliação da anistia aos militares cassados nas últimas duas décadas. Assuntos muito apimentados, na medida em que implicavam revolver o passado, cujo esquecimento era uma das condições básicas do compromisso não escrito da transição. Mal sabiam que o tormento que enfrentavam com a questão da anistia se constituiria, ao longo dos anos, como a tábua de salvação do Exército junto ao caso Riocentro. Os “nós” convocantes: testemunhas e imprensa. Era começo do mês de outubro quando a imprensa divulgou os depoimentos prestados à 3a Auditoria do Exército pelo tenente da reserva César Wachulec e pelo engenheiro Nilton Nepomuceno, ambos em serviço no Riocentro em 30 de abril de 1981. Seus depoimentos trariam informações que permitiriam dimensionar a tragédia que poderia ter ocorrido, caso o atentado do Riocentro não fracassasse. Declararam que viram duas outras bombas sendo retiradas do Puma e que tiveram informações de que outras bombas estavam localizadas debaixo do palco. Aquelas mesmas que o tenente Ille Lobo tomou conhecimento na hora em que assumiu o comando e que, de forma ameaçadora, mandou que fossem desativadas e retiradas. Parte do quebra-cabeça se encaixava: uma bomba seria lançada na casa de força e acabaria com a energia elétrica. Dentro do pavilhão, no escuro, bombas explodiriam no palco, provocando o desespero das pessoas, que correriam em direção à saída, cuja maioria dos portões se encontrava fechada. Não é difícil imaginar as consequências. E claro também, é o fato de que estas informações passaram a ser manipuladas de diversas formas, de acordo com os interesses que se encontravam em jogo. Mas as tentativas de manipulação do opinião pública não inviabilizaram o pedido de reabertura do caso Riocentro. Após os depoimentos registrados, os advogados do coronel Dickson Grael, depoente que não fora citado na apresentação do IPM anterior, encaminharam ao STM requerimento solicitando a reabertura do inquérito. A esperança do coronel de reabrir o caso tinha como fundamento dois fatos. Primeiro, o país já havia assegurado a posse do presidente civil e, segundo, de o Dr. Milton Menezes, presidente do STM que todo o tempo havia tentado obstruir o processo, havia sido substituído pelo Dr. George Tavares, que já havia advogado a causa de processados pela Lei de Segurança Nacional. Tinham fundamento as esperanças do coronel Grael, tanto que, aos 08 de outubro de 1985, o procurador Tavares aprovou a instauração de outro IPM para a apuração do Riocentro. Paralelamente era aprovada, no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional no 26 que ampliava a anistia. A partir daquele momento, ela abrangeria os crimes políticos de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, praticados nas duas últimas décadas. Foi com base nesta emenda que o ministro Antônio Telles impediu a reabertura do caso Ricoentro dentro do STM cometendo, entretanto, o maior dos absurdos. Recorreu à Emenda 26 que não havia alterado o parágrafo 4o, o qual mantinha o período da anistia compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. O atentado do Riocentro ocorreu dois anos após a anistia e a alteração elaborada pela procuradoria não resolveria, legalmente, o problema. Apesar de apontarem os erros jurídicos apresentados no parecer do relator, novamente foram vencidos os votos efetuados contra o arquivamento do inquérito em 1981, dos ministros Bierrembach, Siqueira, Godinho e Andersen. O destino do IPM já estava selado. Prevalecia o acordo realizado pelos componentes do Exército e pela nata da sociedade política em 1981, no sentido em que pretendiam manter íntegra a imagem das Forças Armadas. Curiosamente, o mesmo discurso utilizado por aqueles militares que desejavam a reabertura do caso. Como declarou, em seu voto vencido, o ministro George Belham "O fato criminoso (...) trouxe uma nódoa a nossa história, atribuída genericamente pela opinião pública, a todos os militares indiscriminadamente, os quais têm sido rotulados de autoritários, arbitrários e torturadores, alvos de suspeita e descrédito popular. (...) A apuração daquele fato emerge, imperativa tanto para atender ao ordenamento jurídico, quanto para outorgar respostas a sociedade brasileira e às futuras gerações do país da maneira como, efetivamente, os militares sempre perseguiram os mais nobres ideais da nação e sempre em defesa do Povo.”27 E esta divisão de perspectivas encontrada dentro do STM se refletia junto a outros militares. Os ministros de Estado militares, de um lado, extremamente preocupados em enterrar o assunto do Riocentro em defesa da instituição, alegando que sua reabertura seria um ato de revanchismo. Do outro, militares lutando pela reabertura do inquérito com o mesmo discurso, pela necessidade de se defender a integridade das Forças Armadas. Para esta parcela, já em 85, o Riocentro se constituía como uma das grandes farsas do regime militar. A Farsa, palavra recorrentemente utilizada pela grande parte da imprensa e da 27 BIERRENBACH, Júlio de Sá. Riocentro. Quais os responsáveis pela impunidade. Rio de Janeiro: Domínio Público, 1996. sociedade, em meio a todas estas discussões sobre a necessidade ou não de se reabrir o inquérito, iria, cada vez mais, se constituindo como um dos principais emblemas do episódio Riocentro. Interessante destacar nesta discussão, o objetivo que, em realidade, corrobora com a perspectiva das duas maiores facções do regime militar. No fundo, o discurso que os dois tentam impor é o mesmo. Falar sobre o Riocentro é uma possibilidade de expressar uma releitura do regime militar e da própria repressão, na qual a questão mais importante é afirmar o caráter isolado das ações violentas cometidas por agentes do Estado. E nisto, “duros” e “legalistas” caminham juntos. Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, 29 de setembro de 1987 — Nova tentativa O Conselho aprova, por unanimidade, requerimento da lavra do conselheiro Márcio Thomas Bastos, no sentido de dirigir ao STM o pedido de reabertura do IPM que apurou o caso do Riocentro. Fato novo: o depoimento do coronel Leo Cinelli que em 1981 chefiava a 2a Seção do I Exército. E desta vez, em aliança com o coronel Cinelli, a imprensa atuou como um dos principais atores sociais na briga pela reabertura do inquérito. Novamente o Riocentro virou assunto dos noticiários do país. A revista Veja publicou um depoimento do coronel, no qual ele afirmava que o Riocentro havia sido uma espécie de retaliação à postura que ele próprio havia tomado quando assumiu a chefia da 2a Seção. De acordo com o coronel Cinelli, quando assumiu a chefia da 2a Seção ele teria deixado muito claro que investigaria todos os atentados. Em sua perspectiva, esta postura teria feito com que os autores resolvessem se concentrar em uma ação de grande impacto, como forma de desafio à sua autoridade: o Riocentro. A revista ainda publicou, na íntegra, a carta que o general Golbery, um dos nomes mais importantes da linha legalista, escrevera ao presidente Figueiredo à época do inquérito. Nesta carta, escrita em 1981, enquanto Chefe da Casa Civil, ele exigia a correta investigação do inquérito e pedia a extinção dos CODI´s e DOI´s. Golbery afirmava: “o DOI é terrorista.” E apesar da comprovação empírica da existência da carta, Figueiredo declarou nunca tê-la recebido. Foi a partir da entrega da carta ao presidente Figueiredo que o general Golbery, um dos maiores mentores do golpe de 1964, começou a deixar o governo. Mas nem mesmo este depoimento e o início da consolidação democrática do país fez com que a camisa de força que amarrou o IPM fosse relaxada. Em 15 de março de 1988, com base na Emenda 26, a subprocuradora geral Marly Leite indeferiu o pedido de sua reabertura. 1991 - 10 anos de Riocentro As datas e aniversários são importantes conjunturas de ativação da memória: a possibilidade de falar o calado, de escutar o desconhecido, de reconhecer o parcial ou totalmente negado. Os feitos se reordenam e se desordenam esquemas existentes. Como afirma Jelin, “estos momentos son hitos, o marcas, ocasiones cuando las llaves do que está ocurriendo en la subjetividad y en el plano simbolico se tornan más visibles, cuando las memorias de diferentes actores sociais se actualizam y se vuelven “presente”. Es mas facil entonces observar los diferentes tipos de huellas y registros, que participan en la construcción de una memoria colectiva, social, politica, pública.”28 Se existe um ator social que sempre soube tirar proveito destas ocasiões no Brasil, foi a grande imprensa. Novamente ela se situou como um importante e principal ator social na reconvocação da memória da sociedade brasileira sobre o Riocentro. Para “comemorar” os dez anos do Riocentro, algumas revistas realizaram um profundo processo de investigação, trazendo à tona novas possibilidades de se reabrir o IPM. Ao que indicam, a principal função da imprensa, ao reativar a memória coletiva sobre o Riocentro, era a de tentar causar uma nova explosão na mídia. O que atingiria tanto seus interesses comerciais como políticos. Aliás, este é um importante termo por elas utilizado, como pode ser observado na matéria “Figueiredo incendeia a mentira e escancara a 28 JELIN, Elizabeth. Las luchas por la memoria. Hacia a un programa de investigación. Buenos Aires: UBA, 1998. verdade” publicada em Manchete aos 18 dias de maio de 1991: “voltando à sabedoria de quem lida com explosivos, a terceira bomba acaba de explodir no décimo aniversário do crime. E o detonador foi acionado pelo ex-presidente João Figueiredo e outros militares.” Após as declarações de Figueiredo, era impossível negar a participação de agentes do Estado na explosão das bombas. Mas a admitiam, isto de forma praticamente consensual, enquanto obra de bolsões radicais que lutavam contra a abertura política. Consenso que não havia, entretanto, sobre sua autoria e responsabilidade. Passados dez anos, a ciranda entre velhas raposas aponta para tantos nomes e siglas que dificultam, enormemente, a elaboração de quaisquer conclusões: “O Golbery “ouviu” o Medeiros dizer que o Riocentro era coisa do Coelho Neto, “raposa velha do CIE”. O coronel Leo Cinelli suspeita do gal Waldir Muniz, na época, uma espécie de interventor do SNI na Secretaria de Segurança. “Quatro minutos depois da explosão, o Muniz ligou dando detalhes da confusão, inclusive o nome dos dois militares”. A teoria do coronel é que um condomínio de gente do DOI e do SNI se articulou para sufocar a abertura e provocar, com Figueiredo, ou sem ele, um novo fechamento. O gal Waldir Muniz desconfia que Cyro Etchegoyen teria sido comandante. O chefe do CIE em Brasília também desconfiou de Etchegoyen. A tese de Etchegoyen também é a de um condomínio, só que com gente do SNI e do CIE. “É gente graúda, com o gal Newton Cruz (...) com as cotas do SNI, e o gal Braga com as do CIE. Para Newton Cruz o atentado chegou mesmo a ser planejado por um oficial superior, que mais tarde desativou a operação. Mas o capitão e o sargento levaram a ação por diante por sua própria conta O que todos admitem, implícita ou explicitamente, é que o IPM de Job Lorena vale tanto quanto uma nota de 3 dólares29. Desta forma, em 1991, cristaliza-se a principal memória emblemática formada pelos militares em relação ao Riocentro: a de que tudo tratou-se de uma grande farsa (termo que foi se firmando através de vários atores sociais ao longo destes 20 anos, tanto por imprensa, quanto sociedade e militares) no sentido de proteger generais importantes durante o governo Figueiredo. E uma vez assumida a participação militar no episódio, os próprios militares concordam que se tratou de uma estupidez. “Patetas” foi um outro emblema criado principalmente por militares para se referir ao sargento morto e o capitão que saiu 29 Veja, 1o de maio de 1991. ferido do carro, no sentido de afirmar a incompetência dos mesmos, que nem fazer o serviço direito conseguiram. Baseado no argumento de que "as declarações do presidente Figueiredo criaram um fato novo," o senador Eduardo Suplicy entrou com o pedido de reabertura do IPM.30 O que foi negado pelo juíz Milton Menezes, que considerava o caso sem interesse para a justiça desde 1985, quando o Congresso aprovou a Emenda 26. Além de mais uma vez negar as evidências — afinal de contas, como ficaria a imagem dos outros ilustres magistrados que desde 1981 vinham boicotando a apuração do caso? — o judiciário militar prosseguiu em sua tentativa de culpar os parlamentares brasileiros pela impossibilidade de se julgar o IPM. Mas em relação a isto, ficam claros pelo menos dois equívocos. Em primeiro lugar, o STM anistiou o fato, e não os criminosos. Só se poderia conceder o direito da anistia, àqueles que já tivessem sido julgados e condenados, o que não ocorreu. Em segundo lugar, pelo fato de que a Anistia apenas era válida para as pessoas julgadas e punidas por crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979. O que também não era o caso! No início dos anos 90, um outro ator que, assim se pode dizer, “reconvocou” uma memória, ainda que menos coletiva, sobre o episódio do Riocentro, foram alguns pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que a partir de 1992 recolheram uma série de depoimentos, buscando analisar a memória militar sobre os 21 anos de ditadura. Nestes depoimentos, percebe-se que o episódio do Riocentro permanece como um tema controverso, assunto que para uns, deve ser enterrado e, para outros, seriamente investigado. As duas posturas são assumidas no sentido de defender a integridade das Forças Armadas, enfatizando o caráter isolado “desta reação desesperada de dois patetas contra abertura política.” Alguns procuraram subdimensionar os efeitos do episódio, destacando que aqueles militares apenas queriam “marcar presença”. Normalmente, esta é a opinião daqueles que acham que o assunto deveria ser enterrado de uma vez e que remexer nele seria um ato de revanchismo, e os outros, procuraram perceber de forma mais clara o alcance do episódio, caso os militares lograssem sucesso. São os que acreditavam ser necessária uma correta investigação. 30 Veja, 8 de maio de 1991. Câmara dos Deputados, 11 de novembro de 1996 — Mais uma tentativa. A partir deste dia, tem início na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Congresso Nacional a coleta de depoimentos que resultaria, finalmente, na abertura de um novo inquérito para a apuração do Riocentro. Mas, o que teria convocado a memória coletiva desta vez, passados longos quinze anos? Novamente, a imprensa e as testemunhas. Desta vez, impulsionados pela ação de outros dois importantes “nós” convocantes: a publicação de duas obras em 1996, de característica intrinsecamente distintas. Uma, que traz relatos sobre o terrorismo de direita no Brasil. Uma ode à impunidade! E a outra, que traz memórias e relatos de um ministro do STM que, desde 1981, denuncia a manipulação dos dados do inquérito. Em A direita Explosiva no Brasil, organizado pelos jornalistas José Argolo e Kátia Ribeiro, e pelo engenheiro Luiz Alberto Fortunato, filho de um dos militantes do auto-denominado “Grupo Secreto” e principal depoente do livro, é narrada parte da trajetória de um grupo radical de direita, terrorista, que atuava no país desde a remota década de 40. Trata-se de uma obra de difícil leitura, onde se misturam depoimentos pessoais, documentos, entrevistas, pedaços de reportagens e fotos, e onde o principal depoente assume a autoria de mais de 40 explosões ocorridas no fim da década de 70 e início de 80. Tem a pretensão de estabelecer a verdade sobre questões obscuras do nosso passado recente, inclusive sobre o Riocentro. Neste livro o coronel Fortunato discorre sobre a formação do “Grupo Secreto”, um grupo que fundamentava-se em uma espécie de “Teoria dos Círculos Concêntricos,” um conjunto de setores distanciados entre si, mas vinculados a um só eixo ideológico.31 Outra questão levantada pelo coronel era a facilidade com que este grupo contava para a obtenção de armas e explosivos, indispensáveis às operações clandestinas realizadas. Teriam acesso à quantidade que quisessem, uma vez que o grupo era integrado, em quase sua totalidade, por militares, num ponto em que o coronel acena para o alto grau de cumplicidade existente entre vários setores militares e o “Grupo Secreto.” 31 ARGOLO, RIBEIRO e FORTUNATO. A direita explosiva no Brasil. Rio de Janeiro: Editora MAUAD, 1996. p.243. Em relação ao Riocentro, sub-dimensionado no livro, o coronel afirma: 1) Que a bomba que explodiu no Puma havia sido fabricada por José Hilário Corrales, um perito civil em bombas, radicalmente anticomunista. 2) Que o militar morto na explosão, o sargento Rosário, “era um dos principais agentes operativos do Grupo Secreto." 3) Que o capitão Wilson, atuou como coadjuvante na operação, e que talvez seja este o principal motivo pela qual sua carreira não foi interrompida. Interessante perceber em seu depoimento como que, apesar de confirmar a participação do sargento morto na explosão, ele tem a necessidade de tentar isentar de culpa a única pessoa que poderia ser atingida, juridicamente, pela reabertura do inquérito: O culpado é o sargento! Que pena, ele está morto... Aliás, a certeza da impunidade transmitida no depoimento do coronel foi um dos grandes motivos que causou revolta em meio à sociedade civil e política, principalmente aos organismos de Direitos Humanos que procurou, através das tentativas de reabertura de velhos inquéritos, fazer justiça. Declaração, ora transcrita: “Relatei por livre iniciativa minhas memórias para os autores, por acreditar que a História política brasileira deve contemplar com a maior riqueza possível seus episódios e personagens. Eu, pessoalmente, me envolvi, decididamente, neste período conturbado de nossas vidas, por acreditar na necessidade de atitudes que salvaguardassem minha pátria de perigos e omissões inaceitáveis. Mantive silêncio por muito tempo e achava, como até hoje acho, que tudo aquilo que fiz – OU QUE PODEREI FAZER SE HOUVER NECESSIDADE – teve uma justificativa perante a história. Ao longo de quase 4 décadas trabalhei intensamente para que este país não sofresse ameaças do Partido Comunista, comandado de fora do país, por aqueles que pretendiam subjugar o Brasil, destruindo-o como fizeram com seu próprio país. Não renego as iniciativas violentas naquele período por si só conturbado, nem as diretrizes que tomei, sozinho ou com o apoio de companheiros e não temo retaliações ou adjetivos a propósito das ações que empreendi. Tudo que fiz foi absolutamente compatível com minhas convicções e valores, sendo meu relato mais um compromisso com sua reafirmação. Brasília, 27/12/1994.32 32 ARGOLO, RIBEIRO e FORTUNATO. A direita explosiva no Brasil. Rio de Janeiro: Editora MAUAD, 1996. p.287. O outro livro publicado em 1996 “Riocentro: quais os responsáveis pela impunidade?” é de autoria do almirante Júlio Bierrenbach. Ao invés de se vangloriar da impunidade brasileira, denuncia-lhe e reivindica a punição, no mínimo moral, daqueles que se tornaram cúmplices e responsáveis por ela. Trata-se de uma coletânea de depoimentos, documentos, fotos, reportagens e pareceres, encaixados dentro de um discurso muito bem articulado. Denuncia a manipulação do inquérito conduzido pelo coronel Job Lorena e a manipulação de 1985, quando, a partir de então, o STM tenta jogar a culpa da não reabertura do inquérito sobre os parlamentares que ampliaram o alcance da anistia. O dossiê permite uma percepção detalhada, a partir do episódio, do tentativa de imposição de uma narrativa sobre o passado, uma tentativa de se forjar uma memória sobre aqueles anos de abertura. Estas duas obras tiveram um grande impacto na sociedade política brasileira. Foram os testemunhos nelas apresentados considerados as provas necessárias para legitimar o pedido de reabertura do inquérito. O depoimento do coronel Fortunato entalava a garganta de parte da sociedade política que estava atenta a estas causas, pelo fato de que, como colocou o deputado Roberto Valadão “essa extrema direita usou dispositivos públicos, dinheiro público, ferramentas públicas, homens públicos remunerados pelo Estado, para praticar esse terrorismo que maltratou a nação brasileira.”33 Foi sem temer o desencadeamento de posturas ameaçadoras por parte das Forças Armadas que, em novembro de 1996, a Comissão de Direitos Humanos pediu à Procuradoria Geral a reabertura do inquérito. A Comissão pretendia realizar a transferência para a justiça comum dos julgamentos de crimes políticos cometidos por militares e, dentro desta proposta, resolveu “resgatar a história” clamando por um esclarecimento oficial, ingressando com uma representação à Procuradoria Geral da República, solicitando a reabertura das investigações, desta vez junto à Polícia Federal.34 A CDH contava com a declaração do coronel Ille Lobo de que, se a investigação sobre o atentado fosse reaberta, ele identificaria alguns oficiais do Exército que estavam no local. 33 Pronunciamento do deputado Roberto Valadão durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 11 de abril de 1996. 34 CÂMARA DOS DEPUTADOS. 1996 Um ano de luta pela vida. Comissão de Direitos Humanos, Relatório Anual, Brasília 1997. p.47. Mas entre os anos de 1996 e 1999 o processo de reabertura do caso se perdeu em sua infindável tramitação burocrática, deixando o assunto recolhido nos departamentos de justiça e esquecido junto à imprensa e à sociedade. Foi apenas em 1999 que o assunto retornou ao jornais. E foi apenas em 11 de fevereiro de 1999, que a procuradora da República, Gilda Berger, emitiu seu parecer, manifestando entendimento de que a anistia não abrangia o caso Riocentro e que a competência para a propositura da ação penal era do Ministério Público Militar. Opinou pela remessa do pedido de reabertura à ProcuradoriaGeral da Justiça Militar que, em março de 1999, pediu a reabertura do caso. Em 10 de junho de 1999 o procurador Militar, Kleber Coelho, após ouvir uma série de depoimentos, decidiu reabrir o IPM. Afirmou que pretender-se ampliar o período da anistia constituía tanto uma negação da própria história recente brasileira quanto um atentado, face ao lapso temporal expresso na Emenda Constitucional no 26, “contra as mais elementares regras de hermenêutica jurídica.”35 E foi ignorando estas premissas que, em maio de 2000, o Dr. Carlos Soares, Ministro-Relator do STM, declarou extintas quaisquer punibilidades relacionadas ao caso Riocentro: Deixo de conhecer da presente Representação de lavra do Exmo Sr Procurador-Geral da Justiça militar, por estar o fato principal, denominado de atentado do “Riocentro”, e os demais a ele conexos e seus possíveis autores, co-autores e os particípies, acobertados pelo soberano acórdão do Egrégio Superior Tribunal Militar (...) que decretou a extinção da punibilidade pela anistia, prevista pelo parágrafo primeiro do artigo quarto, da Emenda Constitucional no 26 de 27 de novembro de 1985, e na forma do inciso II, do artigo 123, do Código Penal Militar. O IPM havia sido encerrado em setembro de 1999 pelo general Ernesto Conforto, no qual foram responsabilizados quatro militares: o então capitão Wilson Machado, o coronel Freddie Perdigão e o sargento Guilherme Rosário, ambos mortos, e o general Newton Cruz, que havia ficado sabendo da elaboração do atentado um mês antes da explosão e nada fez para impedi-la. Para o ministro Carlos Alberto, o inquérito já havia cumprido sua função social ao trazer à tona uma versão mais próxima da realidade. 35 Parecer do Procurador Kleber Carvalho, emitido oficialmente no dia 11 de junho de 1999. Cinco dias após o pronunciamento do relator, o presidente da CDH, deputado Marcos Rolim, entrou com o pedido de reapreciação da decisão junto ao STM e um mês depois o Supremo confirmou a decisão de se arquivar o inquérito. Não satisfeito com esta decisão, o vice-procurador geral da Justiça Militar, Roberto Coutinho, declarou que iria entrar com outro embargo declaratório para impedir o rearquivamento do inquérito. Um IPM que, apurado ou não, ainda desperta controvérsias. Desde o pedido de sua reabertura pela CDH em 1996, várias discussões foram levantadas em torno do caso, apresentando as mais diversas posturas. Parte da grande imprensa permanece em sua tentativa de [re]explodir a bomba do Riocentro. O super dimensionamento da catástrofe em que poderia ter se concretizado o episódio acirra os ânimos dos leitores que, em sua maioria, nem dele se lembravam. A denúncia da construção da farsa, a ridicularização da atuação dos agentes do DOI e a ênfase no caráter isolado da ação permanecem como objetivo principal de setores militares, da imprensa e da sociedade política, o de tentar evitar com que o episódio seja esquecido pela sociedade brasileira. "A explosão de uma bomba do Riocentro chega hoje aos 18 anos, tempo suficiente para que o episódio já estivesse recolhido aos anais da História. Mas ele permanece insepulto e incômodo, como todos os segredos produzidos por conspirações.”36 Entre outras coisas, o Riocentro se tornou um dos recursos que a imprensa, como um importante ator social, posicionada enquanto vítima da ditadura se utilizou para estimular uma releitura dos “métodos nebulosos do regime militar no Brasil” que tanto a atingiram.37 Foi através das repercussões apresentadas, principalmente através dela, que se pôde perceber a existência, em parte da sociedade civil e política, de uma demanda pela apuração correta do inquérito. Como declarou Suzana Lisboa em junho de 1999, uma das integrantes da Comissão dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos: "A reabertura do caso poderá levar finalmente à punição destes criminosos. Lutar pelo esclarecimento é lutar pelo resgate da História e da Justiça.”38 A instigante observação elaborada pelo general Newton Cruz, resume, de forma brilhante, a conotação ideológica que se procurou imprimir às discussões: 36 Folha de São Paulo, 30 de abril de 1999. Expressão utilizada pela Folha de São Paulo em 30 de abril de 1999. 38 O Globo, 11 de junho de 1999. 37 "Muita gente antes de 79 foi anistiado e ninguém falou em recuperar a História de crimes cometidos antes de 1979. 1979 não! Esses foram anistiados e não valem nada. O que saiu dois anos depois não, é História! A anistia não defende a História. História é, com ou sem anistia.”39 Belo Horizonte, 10 de novembro de 2000 — algumas observações sobre uma história inconclusa. Pelas perspectivas das memórias que acabamos de compartilhar, podemos perceber que a solução organizada pelo governo militar no momento em que a bomba explodiu, foi o que condicionou a construção da principal memória emblemática do Riocentro: a Farsa! Esta manipulação se tornou um dos mais importantes móveis de convocação da memória coletiva sobre o assunto. Não fosse arquivado da maneira surpreendente como o foi e talvez já tivesse caído ainda mais no esquecimento da opinião pública brasileira. Mas não, seja por desejo de justiça, de se julgar o regime, por alívio de consciência, ou até mesmo pela possibilidade de se afirmar a visão de militares sobre a repressão brasileira, de algo não institucionalizado, vozes antes silenciadas querem se fazer ouvir. Na tentativa de se enterrar o assunto, surge o efeito paradóxico. Enquanto se atualizam as questões levantadas pelo episódio, multiplicam-se as memórias sobre ele. A memória do Riocentro permaneceu como algo extremamente fragmentado, mesmo que para atores sociais comuns. Resultado de uma negociação entre militares e políticos, ela é composta de várias opiniões por parte da imprensa, da sociedade e dos militares.. Superdimensionado por aqueles que o desejam apurado, e subdimensionado por aqueles que o desejam esquecido, talvez tenha causado mais impactos pelo que poderia ser, do que pelo que realmente foi. Ou o “que pelo que realmente foi” já era um fator, por si só, de extrema importância, dado o significado que poderia adquirir naquele momento de abertura 39 Declaração do general Newton Cruz emitida na audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos em 04 de maio de 1999. política e retorno das liberdades civis. Afinal de contas, o depoimento do capitão era uma possibilidade de se desvendar uma série de crimes que há tempos atingia a sociedade brasileira. E no que diz respeito à nossa importante unidade de análise, a memória dos militares, percebemos que desde 1981 a discussão sobre a condução do inquérito e as possibilidades de reabertura do caso Riocentro não constituem um consenso. Se o poder Executivo e uma parte das Forças Armadas procurou manipular o processo de investigação, vários oficiais militares foram contra a forma com que as investigações foram conduzidas e seu prematuro arquivamento. Embora os caminhos sejam diferentes, a grande preocupação observada ao longo destes anos era sobre a forma ideal de se resguardar a integridade das Forças Armadas e afirmação de uma leitura sobre a repressão brasileira, não institucional. Apesar de não ter sido rigorosamente investigado, pode ser visto, segundo as intenções de militares e imprensa, de uma forma positiva. Teria posto fim a quaisquer esperanças dos radicais de assegurarem uma possível candidatura do general Medeiros à presidência da República, marcou o fim de seus atentados e fortaleceu o processo de abertura. Realmente, ainda que não tenha sido a última tentativa de abortar o processo de abertura, foi um dos mais conhecidos casos de terrorismo de direita no Brasil e também um dos responsáveis pelo crescimento da desmoralização do governo militar junto à sociedade civil. Uma memória que se converteu, a partir das tentativas de falsificação dos fatos pelos ministros militares, em um conflito ideológico absorvido pela sociedade civil, política e pelos militares. Mas como acreditamos ser pouco provável construir a memória como um ato voluntário, as próprias tentativas de manipulação da memória coletiva sobre o Riocentro é que se criou, naturalmente, o principal emblema do Riocentro: a farsa. Bibliografia: 1. ARGOLO, José A., RIBEIRO, Kátia e FORTUNATO, Luiz Alberto. A direita explosiva no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Mauad, 1996. 2. BIERRENBACH, Júlio de Sá. Riocentro. Quais os responsáveis pela impunidade? Rio de Janeiro: Domínio Público, 1996. 3. COUTO, Ronaldo Costa. Memória viva do regime militar. Brasil 1964-1985. Rio de Janeiro: Record, 1999. 4. D’ARAUJO Maria Celina, SOARES, Gláucio Ary Dilon e CASTRO, Celso. (org) Os Anos de Chumbo: memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1994. 5. D’ARAUJO Maria Celina, SOARES, Gláucio Ary Dilon e CASTRO, Celso. A volta aos quartéis. Memória Militar sobre a abertura. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. 6. GOÉS, Walder de. Militares e Política, uma estratégia para a democracia. In: REIS, Fábio e O’ODONNEL, G. (orgs) A democracia no Brasil: dilemas e perspectivas São Paulo: Vértice, 1998. 7. JELIN, Elizabeth. Sobre memorias. Texto preparado para o Seminário de La Lucila, 2000.(mimeo) 8. JELIN, Elizabeth. Las luchas por la memoria: hacia un progrmama de investigación comparativa. Trabajo preparado para el seminario de Montevideo, 1998. (mimeo) 9. RIBEIRO, Belisa. Bomba no Riocentro. Rio de Janeiro: Sisal Editora, 1999. 10. STERN, Steven. De la memoria suelta a la memoria emblematica, 1998.
Baixar