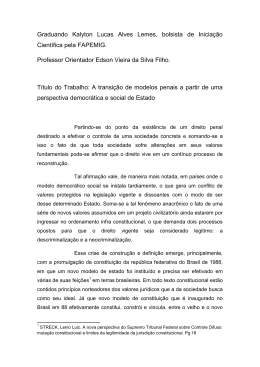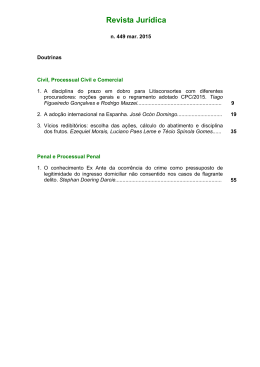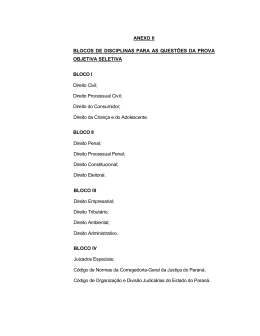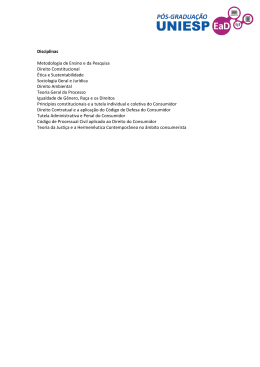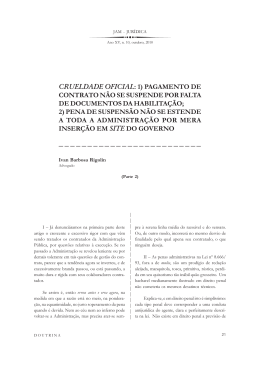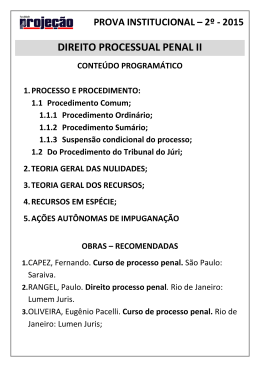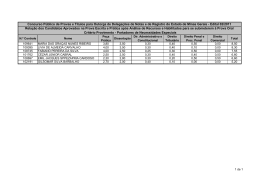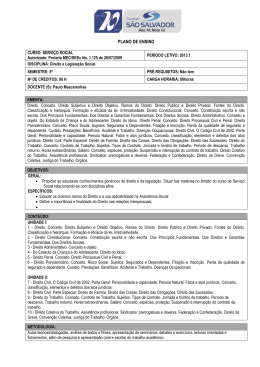REVISTA DA ESMESE “DIREITO DO FUTURO E O FUTURO DO DIREITO” Revista da Escola Superior da Magistratura de Sergipe, n° 03. 2002 ©REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA SERGIPE DE Comissão Editorial: Desª Josefa Paixão de Santana - Coordenadora; Juiz Netônio Bezerra Machado e Juíza Rosa Geane Nascimento Santos - Membros. Coordenação Técnica e Editorial: Joana Angélica de Souza Torres Revisão: Ronaldson Sousa Editoração Eletrônica: Joana Angélica de Souza Torres e Ana Lucia da Silva Lourenço Capa: Juan Carlos Reinaldo Ferreira Tiragem: 500 exemplares Impressão: Gráfica J. Andrade Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe Escola Superior da Magistratura de Sergipe Palácio da Justiça, Praça Fausto Cardoso, nº 112, 2º andar, sala 22 - Centro CEP 49010-080 - Aracaju – Sergipe Tel. 214-0115, Fax: (079) 214-0125 http: wvw.esmese.com.br e-mail: [email protected] R454 Revista da Escola Superior da Magistratura de Sergipe. Aracaju: ESMESE/TJ, n. 3, 2002. Semestral 1. Direito - Períodico. I. Título. CDU: 34(813.7)(05) COMPOSIÇÃO Diretora Desembargadora Clara Leite de Rezende Presidente do Conselho Administrativo e Pedagógico Desembargador José Artêmio Barreto Coordenadores de Curso Adriano José dos Santos Ana Leila Costa Garcez APRESENTAÇÃO O DIREITO DO FUTURO O tema que titula este número da revista, “O Direito do Futuro e o Futuro do Direito”, nos traz a reflexão às grandes mudanças por que passou a sociedade, especialmente após a revolução industrial que fez surgir uma sociedade de massa reivindicadora de uma nova ordem jurídica, capaz de atender aos seus anseios. Para sintonizar-se com os novos tempos, princípios garantidores dos direitos fundamentais do cidadão, foram se introduzindo nas constituições dos países democráticos causando uma verdadeira revolução nas concepções liberais até então reguladoras das relações sociais. As constituições materiais vão se sobrepondo às constituições formais, reflexo da superação do positivismo jurídico que se seguiu à Revolução Francesa e influenciou todos os comportamento entre os homens e entre estes com o Estado, até o início do século passado. Toda esta revolução nos possibilitou uma constituição contemporânea, de natureza material, aberta, absorvendo os princípios gerais de proteção ao cidadão, mas tendo em vista o social, possibilitando uma legislação infraconstitucional capaz de atender aos anseios de todos. Estatutos de grande alcance social surgiram para que a cidadania fosse exercida como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Alimentos, o ECA, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Legislação Ambiental se instalaram entre os estudiosos do Direito a necessidade de aprimoramento do acesso à Justiça. A explosão demográfica ocorrida nos últimos 50 anos exigiu um ajuste no ordenamento jurídico que se encontra em andamento. Neste estado de coisas o mundo foi se comportando de forma diferente na economia e na política, de maneira a estabelecer novas formas de convivência para salvaguardar o fortalecimento da economia e da manutenção da paz. Os países começam a se organizar em grupos tendo por objetivos interesses comuns, criando organismos supranacionais para gestão dos problemas que a todos atingem. O conceito de soberania começa a ser modificado a partir da aceitação de um comando que transcende as suas constituições, as quais passam a submeter-se às normas dele advindas. Assim foi formada a União Européia, principal exemplo de comunidade internacional de convivência entre países, e que, apesar dos retrocessos inevitáveis tem se mantido com muito sucesso, inicialmente com poucos países agora atingido o número de 15, numa demonstração de superação de suas divergências profundas na esfera política, para alcance de um bem maior, a paz, que possibilita o progresso econômico. Outros aglomerados de países mantêm o mesmo sistema como os asiáticos, a Alca e o nosso Mercosul, ainda em estágio de formação mas que num futuro de alcance imprevisível virá a se tornar uma comunidade internacional. No futuro a ordem jurídica não mais pertencerá a um só país mas a um grupo de países, como referido, e o cidadão terá livre acesso aos demais, exercitando os seus direitos além das fronteiras que estarão abertas. Paralelamente ao quadro que descrevemos, uma ordem econômica privada se instala através das grandes holding e do comando do mercado financeiro internacional, interferindo diretamente na economia dos países que ficam vulneráveis às suas oscilações com reflexos diretos em suas economias e qualidade de vida. É o que se chama a globalização da economia, parte do processo da globalização que envolve os demais aspectos: cultural, educacional, artístico, etc.... O comportamento social que surge num quadro de transformação radical do mundo contemporâneo gera conflitos novos em todas as suas áreas, destacando-se a área econômica e a criminal onde diferentes tipos de delitos começam a ser praticados em todo o mundo, sem que exista uma ordem jurídica correspondente para combatê-los. Assim ocorre com o chamado crime organizado cujos tentáculos alcançaram todos os países e que por objetivar finalidade econômica está respaldado em moderníssima tecnologia, dispondo de um aparato inteligente que vem desafiando a ordem jurídica dos países mais poderosos como EUA, Inglaterra, Alemanha e Itália com resultados tímidos na sua repressão. Os crimes comuns de homicídio e furto que sempre ocorreram mas dentro de um controle aceitável começam a perder importância diante da magnitude dos congêneres oriundos do narcotráfico de proporção incomparável e cujo combate esbarra na sua internacionalização, enfrentando as dificuldades da competência etc... Os crimes econômicos também ocupam papel de destaque neste quadro de novos delitos emergentes de uma sociedade global, com iguais dificuldades de repressão, como é exemplo a clonagem de cartões de crédito, as invasões de contas por hackers, o branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro), o tráfico de órgãos e de mulheres, a exploração de florestas com violação ao meio ambiente e muitos outros. É de se constatar que o mundo ainda não está preparado para estas mudanças e a ordem jurídica se presta apenas para o uso interno dos países ou no máximo para um grupo de países como é o caso da União Européia. A legislação do chamado mundo civilizado prioriza definitivamente o cidadão, mas o seu alcance é irrisório se comparado com o grande espectro não atingido. Os direitos de 4ª dimensão começam também a pressionar o legislador de todo o mundo para impor uma ética aceitável desde a produção de alimentos transgênicos, medicamentos (com possíveis efeitos futuros) e o que é mais ousado a produção de clones humanos, capazes de por em risco o futuro da espécie na ânsia de superar os limites da inteligência. A engenharia genética evolui com grande desenvoltura enquanto a sua regulamentação legal tímida não encontrou espaço no Código Civil, nem criminal. O econômico vem superando os valores resguardados aos verdadeiros objetivos contidos no ordenamento fundamental trocando-se o fim (que é indivíduo) pelos meios, instrumentos econômicos de realização do indivíduo. O direito do futuro andará por certo nessas direções mas sua evolução seguirá os novos condicionamentos do mundo, que hoje se encontra em conflito de culturas diferentes, de valores opostos numa luta de fundo econômico mas de combustível religioso alheio ao controle das grandes nações, protagonistas também deste conflito, que se localiza apenas no início, mas, que, envolve a todos numa grande batalha tecnológica de proporções mundiais. Não vislumbro onde chegará o Direito no futuro. Porém sendo o justo a ser perseguido uma construção da cultura humana, por certo que o mundo encontrará o seu ponto de equilíbrio na obtenção de uma ordem jurídica que, realizando o jogo dialético da evolução do comportamento do indivíduo e das nações, chegará a uma síntese capaz de fazer a humanidade mais justa. Penso ser este o futuro do Direito. Desembargadora Clara Leite de Rezende Aracaju, 16 de dezembro de 2002. SUMÁRIO Escola Superior da Magistratura de Sergipe Sumário APRESENTAÇÃO .............................................................................................7 DOUTRINA ....................................................................................................... 17 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E EMPRESAS - UMA PARCERIA NECESSÁRIA Fátima Nancy Andrighi ......................................................................19 CIDADANIA E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE Gustavo Tepedino .................................................................................23 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS AÇÕES COLETIVAS PARA A TUTELA DE DIREITOS OU INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS William Santos Ferreira ......................................................................45 DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL Rômulo de Andrade Moreira .............................................................85 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DEVIDO PROCESSO LEGAL Eusebio de Oliveira Carvalho Filho ...............................................119 AÇÃO POPULAR CONSTITUCIONAL Carlos Augusto Alcântara Machado ...............................................129 AS CONSEQUÊNCIAS DA SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto ..................................147 CRIMINALIDADE VIRTUAL José Anselmo de Oliveira ..................................................................153 OS PRINCÍPIOS E A IMPORTÂNCIA PRÁTICA DA REFLEXÃO TEÓRICA NO CONTEXTO PÓS-POSITIVISTA: DESCONFIANDO DA SAÍDA FÁCIL Francisco Alves Junior .......................................................................165 O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 João Hora Neto ....................................................................................199 “COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE EM RAZÃO DA LEI DOS JUIZADOS FEDERAIS” Evânio José de Moura Santos .............................................................213 ARMA DE BRINQUEDO: ARMA OU BRINQUEDO? Ana Leila Costa Garcez ....................................................................221 A GESTÃO FISCAL E O CRIME DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Manoel Cabral Machado Neto .........................................................229 UMA REFLEXÃO SOBRE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Marcelo Jatobá Lôbo ..........................................................................237 SOLO CRIADO: UM INSTITUTO CONTROVERSO Gabriela Maia Rebouças ..................................................................261 TEORIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA DESVINCULADOS DO SERVIÇO PÚBLICO Marcos Roberto Gentil Monteiro ......................................................271 A “VERTICALIZAÇÃO” DAS COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2002 Maurício Gentil Monteiro .................................................................277 POSITIVISMO JURÍDICO: O CÍRCULO DE VIENA E A CIÊNCIA DO DIREITO EM KELSEN Sidney Amaral Cardoso .....................................................................295 POR UMA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 557 DO CPC Pedro Dias de Araújo Júnior .............................................................305 A FAMÍLIA NO NOVO CÓDIGO CIVIL Luciana Martins de Faro ...................................................................313 DIREITO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA Cristiano Chaves de Farias ...............................................................319 O DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL Fernando Clemente da Rocha .........................................................331 PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, ÔNUS DA PROVA E AUTOTUTELA : O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO? José Sérgio Monte Alegre ....................................................................339 JURISPRUDÊNCIA ......................................................................................363 DOUTRINA Escola Superior da Magistratura de Sergipe JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E EMPRESAS - UMA PARCERIA NECESSÁRIA Fátima Nancy Andrighi.Ministra do Superior Tribunal de Justiça O resgate da imagem da Justiça tem sido utilizado como bandeira de luta de todos os interlocutores jurídicos, porquanto inegável a necessidade de visualização de caminhos que ofereçam alternativas para a melhoria do quadro vigente. Por esse prisma, sob pena de ser desperdiçada oportunidade única que nos foi concedida pelo Poder Legislativo para resgatar a imagem da Justiça, e que se fez marco na história do Poder Judiciário brasileiro, urge abordar uma questão emergencial que deve ser cuidada com muito zelo por todos. Trata-se do assoberbamento dos Juizados Especiais Cíveis. Inegavelmente, é alvissareira a procura dos Juizados Especiais Cíveis como leito adequado para a solução dos problemas jurídicos de pequena monta e menor complexidade, porque comprova o exercício pleno da cidadania. No entanto, é preocupante a perda da celeridade dos processos que hoje tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, devido à sobrecarga das secretarias com milhares de processos em andamento, o que faz inevitavelmente retardar a data de designação das audiências, causando, conseqüentemente, o descumprimento do prazo legal para a entrega do bem da vida reivindicado pelo cidadão. Corre notícia que, devido ao excesso de processos, as audiências de conciliação em vários Estados têm sido designadas até um ano após o ajuizamento da reclamação. Atentos a esses dados, procuramos a explicação para o abarrotamento de reclamações e, mediante estudo estatístico, ficou demonstrada a presença intensa de algumas empresas de grande importância para o setor econômico nacional, rotineiramente, na qualidade de reclamadas. O que chama a atenção é que, em razão dos milhões de clientes que atendem, o mais ínfimo número de consumidores insatisfeitos, por exemplo, das empresas de telefonia, instituições financeiras, condomínios horizontais, entre outros, representa enorme contingente de reclamantes, momento em que fica evidente a incapacidade do Poder Judiciário de acompanhar o crescimento desses vários segmentos produtivos da sociedade. A mesma pesquisa estatística permitiu observar que os clientes dessas empresas, quando recorrem ao Juizado Especial Cível, formulam reclamações, na maioria dos casos, idênticas, que culminam em decisões também idênticas. Apontando o exemplo das empresas de telefonia, verifica-se que a esmagadora maioria das reclamações busca indenização por cobrança indevida ou desligamento de linha, não obstante o regular pagamento da conta, ou então, refere-se a problemas relativos à garantia e manutenção de equipamentos. De posse dessas informações, urge uma ação imediata dos Tribunais de Justiça Estaduais para impedir que sejam aniquilados os propósitos que justificam a existência dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente a celeridade. Não podemos privar o cidadão lesado do atendimento, ao tempo em que também não é justo que algumas poucas empresas reclamadas atulhem os Juizados Especiais Cíveis. É preciso harmonizar o interesse do cidadão, em primeiro lugar, com o interesse dos Juizados Especiais. Desse modo, pensamos que chegou a hora da busca de uma nova solução, antes que se instale o caos. Ousar é preciso, por isso, invito todos a que lapidemos e adaptemos juntos a idéia da parceria com a descentralização das atividades dos Juizados Especiais Cíveis. N ão se olvida que a expressão parceria tem se revelado como verdadeiro lugar comum e muito utilizada em múltiplas áreas da Administração Pública. Mas, sem dúvida, com notórios e exitosos resultados, o que nos anima a imaginar que a adoção dessa experiência também alcançará sucesso no âmbito do Judiciário. Como uma verdadeira revolução nos atuais modelos de procedimento do Poder Judiciário, principiaríamos sugerindo uma mudança no espaço de atendimento ao cidadão, que, a partir da nova experiência, terá possibilidade de reclamar seus direitos nas sedes das próprias empresas geradoras dos conflitos, ou então, em outros locais de que elas mesmas disponham para o atendimento, ou ainda, em outros de passagem obrigatória de pessoas, mas, sempre, com fácil acesso, ao alcance da mão, sem dificuldade e tampouco burocracia. Pode parecer, à primeira vista, protecionismo direcionado à empresa geradora dos conflitos. Contudo, não se pode fechar os olhos ou ignorar o fato de vivermos num mundo dual. Dessa forma, sempre ha- verá, paralelamente, a um benefício um contra-benefício. Por isso, ensinar ao cidadão o direito de reclamar e proporcionar-lhe meios para isso importa, necessariamente, em exigir, também, o cumprimento da sua parte na contratação dos serviços, estabelecendo-se, assim, uma perfeita reciprocidade de comportamentos. Essa nova forma de solução de conflitos com parceria exige que se empregue métodos modernos de documentação e até inéditos para a atual visão do Judiciário. Para execução da parceria, idealiza-se um terminal de computador idêntico ao caixa eletrônico usado pelos bancos, que, dotado de um software, além de elaborar a reclamação com o simples preenchimento de pequenos campos, propiciará prévio, amplo e exaustivo diálogo sobre os direitos em discussão. A reclamação, que só deve ser manejada quando se esgotarem todas as possibilidades de soluções extrajudiciais, seguirá, via eletrônica, para o Juizado Especial Cível. Pretende-se, nessa parceria, além de utilizar os mediadores que prestam serviços aos Juizados Especiais, treinar e especializar os funcionários da empresa-parceira para que, unidos no mesmo ideal, atendam eqüitativamente tanto os interesses da empresa como do consumidor, desarmando-se os espíritos de beligerância, melhorando a convivência social, e, principalmente, mantendo íntegra as relações negociais. O convite à reflexão para se perfilhar a experiência da parceria Juizado Especial-Empresa implica em significativa mudança de mentalidade dos juízes, dos advogados e, também, de toda sociedade. Evidentemente fazemos parte do contexto ditado pelo mundo contemporâneo e como agentes devemos fazer cumprir a verdadeira função do Poder Judiciário, que é atender os mais comezinhos anseios do ser humano – de amor e de convivência pacífica - e com isso reduzir, na origem, os focos de violência. A psicologia do ser humano, amplamente demonstrada pelos quadros factuais que se delineiam, atesta que a animosidade advinda da insatisfação nas relações de consumo exaspera o cidadão/consumidor, levando-o, em casos extremados, à prática de atos passionais, desequilibrando a harmonia da convivência social. A semente da parceria Juizado Especial-Empresa plantada nos corações atentos e preocupados com o processo de humanização da Justiça germinará em mais e melhores idéias e, principalmente, novas portas abrir-se-ão, com intrepidez, na busca da tutela efetiva da criatura humana, razão e destinatário único da prestação dos serviços judiciários. CIDADANIA E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE * Gustavo Tepedino, Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Professor do Programa de Doutorado em Direito Civil Comparado da Universidade do Molise, Itália. Visiting Professor of Law na Universidade de San Francisco, Califórnia, U.S.A. Professeur Invitée da Faculdade de Direito da Universidade de Poitiers, França. Diretor da Revista Trimestral de Direito Civil. Procurador Regional da República. ** SUMÁRIO: 1. Introdução. A codificação brasileira e os direitos da personalidade. O Código Civil de 2002; 2. A personalidade na ordem civil-constitucional: a cláusula geral de tutela da pessoa humana; 3. A técnica das cláusulas-gerais na codificação de 2002: crítica e possibilidades hermenêuticas; 4. Insuficiência da técnica regulamentar em matéria de proteção à pessoa. Exame de hard cases; 5. Pessoa jurídica e direitos da personalidade. O art. 52 do Código Civil de 2002. A inadequação da atribuição de danos morais à pessoa jurídica. 1. Mostra-se verdadeiramente eloqüente a inclusão do tema Cidadania e os Direitos de Personalidade no temário do maior congresso jurídico brasileiro, a XVIII Conferência Nacional dos Advogados, dedicada à Cidadania, Ética e Estado. Significa, em primeiro lugar, a admissão de temas tradicionalmente afetos ao Direito privado em agenda predominantemente tratada sob o enfoque do Direito público. Sugere, em seguida, que os chamados direitos da personalidade, concebidos em sua natureza marcadamente civilista, devem ser revisitados, reestudados na perspectiva do exercício da cidadania e dos direitos humanos, especificamente no que concerne a relações em que a pessoa se torna mais vulnerável: as relações de Direito privado. A indagação imediata parece inevitável: justifica-se ainda a summa divisio público e privado, tão cara aos oitocentistas e aos (sempre atentos) iluministas de plantão? E ainda: a dogmática da teoria geral (dos direitos subjetivos e das fontes normativas) dá conta de uma proteção integral à pessoa humana, para além da fixação de novos direi- tos da personalidade? Tais indagações tornam-se angustiantes quando se tem presente a promulgação do Código Civil de 2002, em face do qual há de se manter um comportamento respeitoso, mas crítico, buscando-se a melhor solução interpretativa e sua máxima eficácia social, com base nos valores consagrados no ordenamento civil-constitucional. Chega a ser paradoxal que, embora se originando de um projeto redigido nos anos 70, tenha o Código colhido de surpresa a comunidade jurídica. E isto ocorreu provavelmente porque durante mais de sessenta anos habituou-se, no Brasil, a discutir a revisão do Código Civil de 1916, sem que se levasse efetivamente a sério a possibilidade de uma concreta recodificação1. O abandono injustificado de uma série de projetos de lei por parte do Poder Executivo parecia traduzir a vontade política negativa ou o reduzido interesse da sociedade no sentido de uma reforma da legislação civil. Vale relembrar, a título ilustrativo: em 1941 publicou-se importante projeto de lei relativo ao Código das Obrigações, elaborado pelos professores Orozimbo Nonato, Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães. Em 1961, foi convidado o professor Orlando Gomes para a redação do novo Código Civil, que deveria regular as matérias atinentes aos direitos de família, reais e das sucessões. Contemporaneamente, a elaboração do anteprojeto de lei relativo ao Código das Obrigações foi cometida ao professor Caio Mário da Silva Pereira. Seu trabalho foi convertido em Projeto de Lei, após a revisão efetuada por uma comissão composta pelo autor juntamente com os professores Orozimbo Nonato, Theóphilo Azeredo Santos, Sylvio Marcodes, Orlando Gomes e Nehemias Gueiros. Em 1967, sem que houvesse uma razão aparente, o governo simplesmente abandonou o Projeto, nomeando uma nova Comissão, composta pelos Professores Miguel Reale, que a presidiu, José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim, Sylvio Marcondes, Ebert Chamoun, Clóvis do Couto e Silva e Torquato Castro. Os trabalhos desta Comissão resultaram no Projeto de Lei n. 635, de 1975, o qual, depois de numerosas alterações, permaneceu esquecido por quase 20 anos, sendo finalmente alçado à agenda prioritária do Congresso Nacional, e aprovado por meio da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Durante todo este tumultuado arco de tempo, o Código de 1916 foi sendo profundamente alterado, de maneira gradual mas intensa, por intermédio da magistratura e do legislador especial, sobretudo depois da reforma constitucional de 5 de outubro de 1988. Pouco a pouco, o esmorecimento do interesse pelo velho projeto de lei parecia coincidir com a perda de centralidade do Código Civil no sistema de fontes normativa. Assim como na Europa Continental, numerosas leis especiais passaram a regular setores relevantes do ordenamento, na medida em que a disciplina do Código era considerada mais e mais ultrapassada. Este processo, amplamente registrado em doutrina, conhecido como movimento de descodificação, na experiência brasileira reservou à Constituição de 1988 o papel reunificador do sistema. A complexidade da produção normativa e a necessidade de uma releitura da legislação ordinária à luz da Constituição tornavam sempre mais remota a aprovação do Projeto de Código Civil. Por outro lado, a doutrina punha em dúvida a necessidade de um novo Código Civil, dissociado de uma clara transformação da cultura jurídica, que fosse capaz de demonstrar a plena consciência do impacto da Constituição nas relações de direito privado2. Ao lado disso, o interminável iter parlamentar tornava sempre mais legítima a suspeita de que o projeto não fosse se transformar em lei. Tais circunstâncias explicam a ausência de uma discussão profunda entre os civilistas - sempre mais incrédulos - e as perplexidades suscitadas pela decisão do governo de retomar o andamento do processo parlamentar e fazer aprovar o projeto. Nada obstante, o Código foi finalmente aprovado e promulgado, revelando em seu texto a influência dos Códigos Civis alemão – BGB -, de 1896, italiano, de 1942, e português, de 1966. Ao contrário do que de ordinário se verifica no processo de codificação, o Código Civil de 2002 não traduz uma uniformidade política e ideológica, em razão da distância entre os contextos políticos do início e da conclusão de sua elaboração3. Tal circunstância indica a complexidade axiológica da nova codificação brasileira, a exigir especial atenção da atividade do intérprete. Particularmente no que concerne à proteção da pessoa humana, não se pode negar a perplexidade causada pelo projeto aprovado, que retrata uma lógica patrimonialista e individualista de difícil conciliação com a ordem pública constitucional, marcada pelos valores da solidariedade social, isonomia substancial e dignidade da pessoa humana4 Os direitos da personalidade, ausentes no Código de 1916, foram admitidos no Brasil por força de construções doutrinárias, com base em leis especiais e na Constituição da República. O Código de 2002 regula alguns direitos da personalidade, na esteira de disposições semelhantes dos arts. 5 a 10 do Código Civil italiano. Encontram-se enunciados os direitos ao nome, ao pseudônimo, à imagem. Os atos de disposição do próprio corpo são vedados quando ocasionam uma diminuição permanente da integridade física ou quando sejam contrários ao bom costume. Duas cláusulas gerais são veiculadas nos arts. 12 e 21. O artigo 12 prevê a possibilidade de cessão de ameaça ou da lesão a direito da personalidade e o ressarcimento pelos danos causados. Nos termos do art. 21, “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. 4. Ambos os dispositivos, lidos isoladamente no âmbito do corpo codificado, não trazem grande novidade, sendo certo que a vida privada é constitucionalmente inviolável (CF, art. 5º, caput, e inciso X,) e que qualquer lesão ou ameaça de lesão possibilita a correspondente tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Os preceitos ganham contudo algum significado se interpretados como especificação analítica da cláusula geral de tutela da personalidade prevista no Texto Constitucional nos arts. 1º, III (a dignidade humana como valor fundamental da República), 3º, III (igualdade substancial) e 5º, § 2º (mecanismo de expansão do rol dos direitos fundamentais)5. A partir daí, deverá o intérprete romper com a ótica tipificadora seguida pelo Código Civil, ampliando a tutela da pessoa humana não apenas no sentido de admitir uma ampliação de hipóteses de ressarcimento mas, de maneira muito mais ampla, no intuito de promover a tutela da personalidade mesmo fora do rol de direitos subjetivos previstos pelo legislador codificado. Como já se teve ocasião de sublinhar, mostra-se insuficiente qualquer construção doutrinária que, tipificando vários direitos da personalidade ou cogitando de um único direito geral da personalidade, acaba por limitar a proteção da pessoa à atribuição de poder para salvaguarda meramente ressarcitória, seguindo a lógica dos direitos patrimoniais. Critica-se, nesta direção, a elaboração corrente, que concebe a proteção da personalidade aos moldes (ou sob o paradigma) do direito de propriedade 6. Desse modo, a personalidade humana deve ser considerada antes de tudo como um valor jurídico, insuscetível, pois, de redução a uma situação jurídica-tipo ou a um elenco de direitos subjetivos típicos, de modo a se proteger eficaz e efetivamente as múltiplas e renovadas situações em que a pessoa venha a se encontrar, envolta em suas próprias e variadas circunstâncias. Daí resulta que o modelo do direito subjetivo tipificado, ado- tado pelo Codificador brasileiro, será necessariamente insuficiente para atender às possíveis situações subjetivas em que a personalidade humana reclame tutela jurídica7. Permanecem os manuais brasileiros, em sua maioria, analisando a personalidade humana do ponto de vista exclusivamente estrutural (ora como elemento subjetivo da estrutura das relações jurídicas, identificada com o conceito de capacidade jurídica, ora como elemento objetivo, ponto de referência dos direitos da personalidade) e protegendo-a em termos apenas negativos, no sentido de repelir as agressões que a atingem. Reproduz-se, desse modo, a técnica do direito de propriedade, delineando-se a tutela da personalidade de modo setorial e insuficiente. Em que pese, pois, a extraordinária importância das construções doutrinárias que engendraram os direitos da personalidade, a proteção constitucional da pessoa humana supera a setorização da tutela jurídica (a partir da distinção entre os direitos humanos, no âmbito do Direito público, e os direitos da personalidade, na órbita do Direito privado) bem como a tipificação de situações previamente estipuladas, nas quais pudesse incidir o ordenamento8. Também não parece suficiente o mecanismo meramente repressivo e de ressarcimento, próprio do Direito penal, de incidência normativa limitada ao aspecto patológico das relações jurídicas, ou seja, no momento em que ocorre a violação do Direito (binômio lesão-sanção). Exige-se, ao reverso, instrumentos de promoção e emancipação da pessoa, considerada em qualquer situação jurídica que venha a integrar, contratual ou extracontratualmente, quer de Direito público quer de Direito privado 9. Procedendo-se, em definitivo, a uma conexão axiológica do tímido elenco de hipóteses-tipo previsto no Código Civil de 2002 ao Texto Constitucional, parece lícito considerar a personalidade não como um novo reduto de poder do indivíduo, no âmbito do qual seria exercida a sua titularidade, mas como valor máximo do ordenamento, modelador da autonomia privada, capaz de submeter toda a atividade econômica a novos critérios de legitimidade. Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, bem como de redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão do § 2º do art. 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, ainda que não expressos, mas decorrentes dos princípios adotados pelo Texto Maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento. Tal perspectiva, porém, não se confunde com a construção de um único direito geral de personalidade, significando, ao contrário, o ocaso da concepção de proteção da pessoa humana associada exclusivamente à atribuição de titularidades e à possibilidade de obtenção de ressarcimento. Cabe ao intérprete ler o novelo de direitos introduzidos pelos arts. 11 a 23 do Código Civil à luz da tutela constitucional emancipatória, na certeza de que tais diretrizes hermenêuticas, longe de apenas estabelecerem parâmetros para o legislador ordinário e para os poderes públicos, protegendo o indivíduo contra a ação do Estado, alcançam também a atividade econômica privada, informando as relações contratuais. Não há negócio jurídico ou espaço de liberdade privada que não tenha seu conteúdo redesenhado pelo texto constitucional. 3. A opção metodológica acima indicada demonstra a insuficiência da técnica das cláusulas gerais tão alardeada no Código Civil de 2002. O Código Civil introduz cláusulas gerais que revelam uma atualização em termos de técnica legislativa, mas que exigem cuidado especial do intérprete. Adotadas em diversos Códigos Civis, como no caso do Código Comercial brasileiro de 1850, do Código alemão de 1896 e do Código italiano de 1942, as cláusulas gerais, só por si, não significam transformação qualitativa do ordenamento. No caso do Código Comercial brasileiro, a boa-fé objetiva não chegou a ser jamais utilizada. A doutrina e a jurisprudência alemãs, a propósito da dicção do § 242 do BGB, precisaram de mais de 40 anos para determinar o real significado da boafé ali enunciada. Não foi muito diversa a experiência italiana, onde as cláusulas gerais que, no Código Civil de 1942, eram inspiradas em uma clara ideologia produtivista e autárquica, assumiram um significado inteiramente diverso por obra doutrinária, sobretudo depois do advento da Constituição de 1948 10. Em outras palavras, as cláusulas gerais em codificações anteriores suscitaram compreensível desconfiança, em razão do alto grau de discricionariedade atribuída ao intérprete: ou se tornavam letra morta ou dependiam de uma construção doutrinária capaz de lhes atribuir um conteúdo menos subjetivo. Para evitar a insuperável objeção, o legislador contemporâneo adota amplamente a técnica das cláusulas gerais de modo só aparentemente semelhante à técnica do passado, reproduzida inclusive pelo Código de 2002. O legislador atual procura associar a seus enunciados genéricos prescrições de conteúdo completamente diverso em relação aos modelos tradicionalmente reservados às normas jurídicas. Cuida-se de normas que não prescrevem uma certa conduta mas, simplesmente, definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para a aplicação das demais disposições normativas. Tal é a tendência das leis especiais promulgadas a partir dos anos 90, assim como dos Códigos Civis mais recentes e dos projetos de codificação supranacional. Na experiência brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Cidade são bons exemplos de ampla utilização da técnica das cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados associada a normas descritivas de valores. O novo Código Civil brasileiro, inspirado nas codificações anteriores aos anos 70, introduz inúmeras cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, sem qualquer outro ponto de referência valorativo. Torna-se imprescindível, por isso mesmo, que o intérprete promova a conexão axiológica entre o corpo codificado e a Constituição da República, que define os valores e os princípios fundantes da ordem pública. Desta forma dá-se um sentido uniforme às clausulas gerais, à luz da principiologia constitucional, que assumiu o papel de reunificação do Direito privado, diante da pluralidade de fontes normativas e da progressiva perda de centralidade interpretativa do Código Civil de 1916. Dito diversamente, as cláusulas gerais do novo Código Civil poderão representar uma alteração relevante no panorama do Direito privado brasileiro desde que lidas e aplicadas segundo a lógica da solidariedade constitucional e da técnica interpretativa contemporânea. A propósito, destacou-se em doutrina a importância dessa diretriz metodológica no momento em que, com o objetivo de se desenhar uma cultura jurídica pós-moderna, sublinhou-se as 4 características centrais da técnica legislativa contemporânea, dentre as quais se destaca a narrativa, como meio de legitimação e de persuasão11. A narrativa na linguagem legislativa é considerada, pois, indispensável à unificação do sistema sempre mais complexo, de modo a permitir a atuação otimizada de uma jurisprudência de valores comprometida com as opções (valorativas) da sociedade. Se o Século XX foi identificado pelos historiadores como a Era dos Direitos, à ciência jurídica resta uma sensação incômoda, ao constatar sua incapacidade de conferir plena eficácia ao numeroso rol de direitos conquistados. Volta-se a ciência jurídica à busca de técnicas legislativas que possam assegurar uma maior efetividade aos critérios hermenêuticos. Nesta direção, parece indispensável, embora não suficiente, a definição de princípios de tutela da pessoa humana, como tem ocorrido de maneira superabundante nas diretivas européias e em textos constitucionais, bem como sua transposição na legislação infraconstitucional. O legislador percebe a necessidade de definir modelos de conduta (standards) delineados à luz dos princípios que vinculam o intérprete, seja nas situações jurídicas típicas, seja nas situações não previstas pelo ordenamento. Daqui a necessidade de descrever nos textos normativos (e particularmente nos novos códigos) os cânones hermenêuticos e as prioridades axiológicas, os contornos da tutela da pessoa humana e os aspectos centrais da identidade cultural que se pretende proteger, ao lado de normas que permitem, do ponto de vista de sua estrutura e função, a necessária comunhão entre o preceito normativo e as circunstâncias do caso concreto. 4. Para se corroborar a necessidade de ampliação interpretativa da proteção da pessoa humana em face da insuficiente técnica regulamentar dos direitos da personalidade, segundo a metodologia antes proposta, temse recorrido a alguns casos emblemáticos, surgidos na experiência francesa e na européia 12. Hipótese interessante é colhida da jurisprudência italiana. Impossibilitados de conceber um filho, marido e mulher decidem recorrer aos métodos de fertilização assistida. Autorizada expressamente pelo marido, a mulher vale-se de um banco de sêmen e consegue, desta forma, através da chamada de inseminação heteróloga, dar à luz a uma criança. Passamse os anos e dissolve-se o casamento. O homem ingressa com ação negatória de paternidade, diante de sua impossibilidade absoluta para a reprodução. A magistratura acolhe o seu pedido, confirmado pelo Tribunal de Brescia. A Corte de Cassação, finalmente, em grau de recurso, reformou as decisões anteriores, afirmando que o sacrifício ao princípio do favor veritatis se impunha, em homenagem a valores cardiais do ordenamento constitucional italiano, com expressa referência ao princípio da solidariedade13. Outro caso refere-se à transexualidade. À falta de expressa previsão legal, doutrina e jurisprudência brasileiras mostram-se resistentes à admissão da intervenção cirúrgica de alteração do sexo e, mais grave, contrárias à retificação do registro civil para a mudança do sexo e do nome do transexual, mesmo após a cirurgia, normalmente realizada no exterior. Além dos inúmeros inconvenientes sofridos por transexuais com projeção na imprensa14, vale relatar hipótese em que o descompasso entre a realidade fática e a legislativa (rectius, interpretativa) propiciou verdadeira agressão à dignidade da pessoa humana. Após 10 anos de vida conjugal na Dinamarca, com um marido francês e um filho adotado segundo a legislação francesa, um brasileiro transexual, chamado Juracy, veio ao interior da Bahia para visitar a família. Decidiu, então, com o marido, adotar uma criança abandonada, José, com 6 anos de idade, “à moda brasileira”, ou seja, registrando-a como filha do casal. Juracy foi presa pela polícia federal no momento em que pretendia obter o passaporte para José, lhe sendo imputada a prática dos crimes de uso de documento falso (art. 304, C.P.) – dizia-se mulher quando na verdade constava em sua certidão o sexo masculino - promoção de ato destinado ao envio de criança para o exterior (art. 239 da Lei 8.069/ 90) e falsidade ideológica (art. 299, C.P.), além de ter sido questionada pelo Ministério Público a adoção de uma criança por um casal de homossexuais. A partir daí, a vida da família transformou-se em verdadeiro pesadelo. Juracy foi recolhida ao pavilhão masculino do aterrorizante presídio de Água Santa, no Rio de Janeiro, onde foi submetida, certamente, à mais vil degradação. Seus filhos, o maior deles um adolescente estudioso, responsável e poliglota, segundo consta nos autos, foram recolhidos a um asilo de menores. O pai, também denunciado, foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança, afirmando em juízo desconhecer inteiramente, assim como o filho adolescente, a transexualidade de Juracy. Ambos os réus foram absolvidos no processo criminal, tendo a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria de votos, mantido a sentença, rejeitando o recurso interposto pelo Ministério Público, embora a vida daquela família tenha sofrido, com o processo, a prisão e as humilhações que lhe foram impostas, danos provavelmente irreparáveis, ainda que os princípios constitucionais pudessem ser invocados, mesmo sem previsão legal específica, para a solução do conflito 15. O terceiro caso a ser destacado, na esteira das mesmas considerações até aqui desenvolvidas, alude à possibilidade de se exigir do réu, na ação de investigação de paternidade, que se submeta ao exame de DNA, mesmo contra a sua vontade. A jurisprudência, tendencialmente, tem tomado posição pela impossibilidade do constrangimento físico do réu, servindo a recusa como prova, em favor do autor, do vínculo de paternidade, a ser sopesada pelo magistrado no conjunto probatório. Este entendimento, de resto, foi o adotado pelo Código de 2002, nos arts. 231 e 232, em matéria de prova16. Alguns autores têm se manifestado no mesmo sentido, em homenagem ao “direito individual, fundamental, constitucional, natural da pessoa à sua integridade corporal. Violaria o direito constitucional à intimidade (art. 5º, X) constranger-se alguém a fornecer material ou substância para um exame biológico” 17. A matéria foi submetida no final dos anos 90 ao Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus impetrado contra a obrigatoriedade do exame determinada pelo juiz monocrático no Rio Grande do Sul, em decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. A Suprema Corte, por maioria apertada, manifestou-se pela concessão da ordem, em acórdão redigido pelo Ministro Marco Aurélio18. No controvertido julgamento restaram vencidos os Ministros Francisco Rezek, Sepúlveda Pertence e Ilmar Galvão, tendo sido relator o primeiro deles, com voto primoroso em que coteja, de um lado, os direitos à intangibilidade e à intimidade, aqui atingidos pelo dever de oferecer um fio de cabelo para o exame e, de outro, os direitos à investigação de paternidade e à elucidação da verdade biológica, concluindo pelo prevalecimento destes últimos. E remata : “A Lei 8.069/90 veda qualquer restrição ao reconhecimento do estado de filiação, e é certo que a recusa significará uma restrição a tal reconhecimento. O sacrifício imposto à integridade física do paciente é risível quando confrontado com o interesse do investigante, bem assim com a certeza que a prova pericial pode proporcionar à decisão do magistrado” 19. Apresenta-se particularmente importante, independentemente da posição vencedora, a admissão, pela Suprema Corte, do controle social atinente à ordem pública na esfera privada e nos conflitos de interesse tradicionalmente afetos ao Direito Civil - mercê da tutela da dignidade humana. Matérias que no passado eram reservadas à autonomia da vontade ou, no máximo, a presunções legais, que estabeleciam verdades jurídicas formais e indiscutíveis, tornam-se objeto de controle pelo Judiciário, na medida em que o respeito à dignidade da pessoa humana integra a ordem pública constitucional, independentemente da natureza pública ou privada da relação jurídica subjacente. Ao comentar criticamente o acórdão, observou-se, argutamente, em doutrina que a hipótese caracterizaria abuso de direito por parte do réu: “o direito à integridade física configura verdadeiro direito subjetivo da personalidade, garantido constitucionalmente, cujo exercício, no entan- as responsabilidades decorrentes da relação de paternidade” 20. Em outras hipóteses não reguladas por norma infraconstitucional, a magistratura tem-se pronunciado mediante a aplicação direta (e invocação expressa) dos princípios constitucionais. São emblemáticos desta tendência a sentença de São Paulo, prolatada em 1992, que considerou abusiva certa publicidade por atentar contra a dignidade da pessoa humana e o voto vencido do Min. Ruy Rosado de Aguiar, proferido no Superior Tribunal de Justiça, em 1994 em que considera o equilíbrio contratual como expressão do princípio da “solidariedade social (art. 3o, I, da CF)” 21. Em matéria de família, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por intermédio de voto do Desembargador Breno Mussi, considerou que o juízo competente para julgar a extinção de uma união civil de pessoas do mesmo sexo, formada por dois homossexuais, é a vara de família, não já a vara cível, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, a partir de uma visão da família funcionalizada à realização de valores existenciais, não patrimoniais, ou exclusivamente matrimoniais, como entendia o nosso Código Civil 22. Ainda no campo do Direito de Família, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por voto do Ministro Barros Monteiro, deferiu o dever de alimentos em favor da ex-companheira, após dissolvida a união estável, mesmo à falta de previsão expressa infraconstitucional, em homenagem aos vínculos de solidariedade que norteiam aquela entidade familiar, de modo a avocar a incidência da disciplina de alimentos prevista para a extinção da sociedade conjugal 23. Também o Superior Tribunal de Justiça, por sua 3a Turma, considerou discriminatória a disposição estatutária de clube social que não aceitava como dependente do sócio a criança que, estando sob a guarda judicial do sócio, não fosse seu filho. A corte compeliu o clube a incluir o menor como sócio-dependente, no quadro social. Reconhece o voto do Relator, Ministro Eduardo Ribeiro a ampla “liberdade das associações privadas para , em seus estatutos, disporem como mais adequado lhes parecer. Nada impediria, por exemplo, determinassem que só poderiam ser sócios, na qualidade de dependentes, os menores de 15 anos ou, mesmo, que não haveria tal categoria de sócios. O que não podem entretanto, é estabelecer discriminação que a lei não admite”. Tais são algumas decisões em que a magistratura brasileira tem sido chamada a se pronunciar sem norma regulamentar específica, colhendo-se do texto constitucional os princípios diretivos que diretamente servem a dirimir as controvérsias. Sublinhe-se, por outro lado, que em todas elas verifica-se a redefinição valorativa dos institutos de Direito privado, contemplando a jurisprudência a prevalência de situações existenciais sobre situações patrimoniais definidas expressamente pelo legislador ordinário. Tal reconstrução valorativa é de ser operada em relação ao elenco de direitos da personalidade previsto no Código Civil de 2002, bem como no que tange às cláusulas gerais adotadas pelo codificador, de molde a lhe emprestar conteúdo axiológico coerente com a legalidade constitucional. 5. Examine-se, a propósito, a cláusula geral contida no art. 52, segundo a qual “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade” 24. Andou bem o legislador, desta feita, em não conferir à pessoa jurídica direitos informados por valores inerentes à pessoa humana. Limitou-se aqui o art. 52 a permitir a aplicação, por empréstimo, da técnica da tutela da personalidade, apenas no que couber, à proteção da pessoa jurídica. Esta, embora dotada de capacidade para o exercício de direitos, não contém os elementos justificadores da proteção à personalidade, concebida como bem jurídico, objeto de situações existenciais. Tal como a pessoa humana, a pessoa jurídica e diversos outros entes despersonalizados são dotados de subjetividade, conferindo-se-lhes a capacidade para serem sujeitos de direito. Somente no sentido tradicional, portanto, pode-se identificar as noções de personalidade e capacidade, equiparação que, justificando-se no passado, hoje suscita inconveniente conceitual grave, na medida em que a personalidade se torna objeto de tutela jurídica. Para evitar semelhante confusão conceitual, a doutrina contemporânea aparta a noção de subjetividade daquela de personalidade 25 , esta expressão da dignidade da pessoa humana e objeto de tutela privilegiada pela ordem jurídica constitucional. As pessoas jurídicas são sujeitos de direitos - como também podem sê-lo os entes despersonalizados (basta pensar no condomínio ou na massa falida) -, dotadas de capacidade de direito e de capacidade postulatória, no plano processual, segundo as conveniências de política legislativa. Tal constatação permitiu que, ao longo do tempo, fosse estendida, pela doutrina e jurisprudência brasileiras, a proteção recém-consagrada aos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. O mesmo raciocínio, de resto, levou o Superior Tribunal de Justiça a admitir o ressarcimento por danos morais às pessoas jurídicas26. Assim é que, apesar de a importância prática da solução pretoriana, que permitiu que se assegurasse o ressarcimento em hipóteses de difícil configuração e liquidação de danos, é de se conjurar a perigosa associação da lógica empresarial, informada pelos valores próprios das relações jurídicas patrimoniais, à tutela da pessoa humana, que preside as relações jurídicas existenciais. A fórmula em apreço pode ser explicada, provavelmente, pela insuficiência das construções doutrinárias, no sentido de satisfazer os interesses ressarcitórios das pessoas jurídicas. Mas não se justifica a sua manutenção, que produz conseqüências inquietantes, dentre as quais a fixação de critérios para a valoração de danos e a gradação do quantum ressarcitório em descompasso com a axiologia constitucional, equiparando-se empresa e pessoa humana. É certo que em determinado momento histórico o trabalho jurisprudencial teve indiscutível mérito, ampliando horizontes de reparação, assim como, nos anos 70, a admissão dos danos morais deu-se por intermédio de raciocínio inteiramente patrimonializado (relembre-se, a propósito, o enunciado da Súmula n. 491do STF, pela qual “ é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”, consagrando danos morais que, todavia, seriam calculados com base em uma expectativa artificial de ganhos que o filho menor e desempregado poderia vir a gerar para a família!). A importância histórica da jurisprudência evolutiva não justifica, contudo, a repetição acrítica, pela doutrina, de tamanha promiscuidade conceitual, descomprometida com a legalidade constitucional. Resulta daí o equívoco de se imaginar os direitos da personalidade e o ressarcimento por danos morais como categorias neutras, aplicáveis à pessoa jurídica tout court, para a sua tutela (endereçada, em regra, à maximização de seu desempenho econômico e de sua lucratividade). Ao revés, o intérprete deve estar atento para a diversidade de princípios e de valores que inspiram a pessoa física e a pessoa jurídica. Não se discute ser a pessoa jurídica dotada de capacidade jurídica (e neste sentido invoca-se tradicionalmente sua personalidade jurídica), sendo efetivamente merecedoras de tutela as situações em que se verifica uma falsa semelhança com a tutela da personalidade humana. Isto ocorre, por exemplo, na proteção do sigilo industrial ou comercial, só aparentemente assemelhado ao direito à privacidade; ou no tocante ao direito ao nome comercial, cuja natureza não coincide com a do direito ao nome. Todavia, a fundamentação constitucional dos direitos da persona- lidade, no âmbito dos direitos humanos e a elevação da pessoa humana ao valor máximo do ordenamento não deixam dúvidas sobre a preponderância do interesse que a ela se refere, e sobre a distinta natureza dos direitos que têm por objeto bens que se irradiam da personalidade humana em relação aos direitos (em regra patrimoniais) da pessoa jurídica, no âmbito da atividade econômica privada27. Assim é que o texto do art. 52 parece reconhecer que os direitos da personalidade constituem uma categoria voltada para a defesa e para a promoção da pessoa humana. Tanto assim que não assegura às pessoas jurídicas os direitos subjetivos da personalidade, admitindo, tão somente, a extensão da técnica dos direitos da personalidade para a proteção da pessoa jurídica. Qualquer outra interpretação, que pretendesse encontrar no art. 52 o fundamento para a admissão dos direitos da personalidade das pessoas jurídicas, contrariaria a dicção textual do dispositivo e se chocaria com a informação axiológica indispensável à concreção da aludida cláusula geral. A rigor, a lógica fundante dos direitos da personalidade é a tutela da dignidade da pessoa humana. Ainda assim, provavelmente por conveniência de ordem prática, o codificador pretendeu estendê-los às pessoas jurídicas, o que não poderá significar que a concepção dos direitos da personalidade seja uma categoria conceitual neutra, aplicável indistintamente a pessoas jurídicas e a pessoas humanas. Descartada a equiparação dos direitos tipicamente atinentes às pessoas naturais (integridade psico-física, pseudônimo, etc.) vê-se que não é propriamente a honra da pessoa jurídica que merece proteção, nem em vertente subjetiva tampouco em caráter objetivo. A tutela da imagem da pessoa jurídica – atributo mencionado, assim como a honra, pelo artigo 20 – tem sentido diferente da tutela da imagem da pessoa humana. Nesta, a imagem é atributo de fundamental importância, de inspiração constitucional inclusive para a manutenção de sua integridade psicofísica. Já para a pessoa jurídica com fins lucrativos, a preocupação resume-se aos aspectos pecuniários derivados de um eventual ataque à sua atuação no mercado. O ataque que na pessoa humana atinge a sua dignidade, ferindo-a psicológica e moralmente, no caso da pessoa jurídica repercute em sua capacidade de produzir riqueza, no âmbito da iniciativa econômica por ela legitimamente desenvolvida. Há que se resguardar, todavia, a necessária diferenciação entre as pessoas jurídicas que aspiram ao lucro e aquelas que se orientam por outras finalidades. Particularmente neste último caso não se pode considerar (como ocorre na hipótese de empresas com finalidade lucrativa) que os ataques sofridos pela pessoa jurídica acabam por se exprimir na redução de seus lucros, sendo espécie de dano genuinamente material. Cogitando-se, então, de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deve ser admitida a possibilidade de configuração de danos institucionais, aqui conceituados como aqueles que, diferentemente dos danos patrimoniais ou morais, atingem a pessoa jurídica em sua credibilidade ou reputação. Com efeito, a maior parte dos danos que são invocados em favor da pessoa jurídica enquadram-se facilmente na categoria dos danos materiais. O ataque à imagem de uma empresa normalmente se traduz em uma diminuição de seus resultados econômicos. Situações há, contudo, em que a associação sem fins lucrativos, uma entidade filantrópica por exemplo, é ofendida em seu renome. Atinge-se a sua credibilidade, chamada de honra objetiva sem que, neste caso, se pudesse afirmar que o dano fosse mensurável economicamente, considerando-se sua atividade exclusivamente inspirada na filantropia. Aqui não há evidentemente dano material. E tal constatação não pode autorizar a irresponsabilidade, ou, em sentido contrário, a admissão de uma desajeitada noção de dignidade corporativa ou coletiva (que chega a lembrar o Ministro de Estado que, anos atrás, se referiu carinhosamente a seu cão de estimação como sendo um ser humano...). A solução, pois, é admitir que a credibilidade da pessoa jurídica, como irradiação de sua subjetividade, responsável pelo sucesso de suas atividades, é objeto de tutela pelo ordenamento e capaz de ser tutelada, especialmente na hipótese de danos institucionais. Tal entendimento mostra-se coerente com o ditado constitucional e não parece destoar do raciocínio que inspirou a recente admissibilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos danos morais à pessoa jurídica28. Pode-se falar, portanto – e não injustamente – de ocasiões perdidas por parte do codificador brasileiro de 2002, o qual teria podido descrever e esmiuçar analiticamente os princípios constitucionais, de modo a lhes dar maior densidade e concreção normativa, solucionando, finalmente, tantas controvérsias que agitam os tribunais. De todo modo, cabe ao intérprete, não mais ao legislador, a obra de integração do sistema jurídico; e esta tarefa há de ser realizada em consonância com a legalidade constitucional. A tutela da personalidade há de ser perseguida em perspectiva integral e unitária, como manifestação dos fundamentos e objetivos da República, esculpidos nos artigos 1º e 3º do Texto Constitucional, não já no sentido de assegurar novas posições jurídicas de titularidade (perspectiva que necessariamente exclui os não titulares de direitos), mas como forma de emancipação existencial e social, atinente a toda e qualquer pessoa humana, segundo os ditames da solidariedade social. 29. * O presente trabalho, acrescido das notas bibliográficas, reproduz substancialmente o texto apresentado à XVIII Conferência Nacional dos Advogados, em 13 de novembro de 2002. Basta observar que o mesmo Governo Federal que patrocinou politicamente a promulgação no Código Civil de 2002 convocou, contemporaneamente, sob seus auspícios, Comissão de Juristas, presidida pelo ilustre Professor SILVIO RODRIGUES, para a Consolidação das Leis vigentes em matéria de Família e Sucessões. A Consolidação foi levada a cabo em março de 2000, ao mesmo tempo em que o Governo Federal estimulava a tramitação no Congresso de Projeto de Lei, encomendado a outra ilustre Comissão, constituída no DOU de 2.10.1996, sob a relatoria do Professor ARNOLDO WALD, em matéria de União Estável. Tais iniciativas pareceriam indicar a determinação do Poder Executivo no sentido de não fazer aprovar um novo Código Civil. 2 Contrapondo-se à conveniência de um novo Código, FRANCISCO AMARAL, A Descodificação do Direito Civil Brasileiro, in Revista do Tribunal Regional Federal da 1° Região, Vol. 8, out.-dez. 1996, p. 635 e ss. 3 O exemplo mais eloqüente de unidade ideológica de um corpo codificado tem-se no Código Napoleão, por isso mesmo chamado de Code des Français, em relação ao qual “si può parlare quasi di un fatale incontro con la storia”, conforme assinala STEFANO RODOTÀ, Un Codice per L’Europa ? Diritti nazionali, diritto europeo, diritto globale, in P. CAPPELLINI e B. SORDI (a cura di), Codici – una riflessione di fine millennio, Milano, Giuffrè, 2002 p. 541 e ss. 4 Para uma contundente demonstração da inconstitucionalidade do Projeto, LUIZ EDSON FACHIN e CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK, Um Projeto de Código Civil na Contramão da Constituição, in Revista Trimestral de Direito Civil, 2000, vol. 4, p. 243 e ss. V., ainda, o Editorial da Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, Editora Padma, 2001, vol. 7, intitulado O Novo Código Civil: duro golpe na recente experiência constitucional brasileira. 5 Para a identificação no Texto Constitucional de uma cláusula 1 geral de tutela da personalidade seja consentido remeter a GUSTAVO TEPEDINO, Temas de Direito Civil, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2001, 2° ed., p. 23 e ss. 6 GUSTAVO TEPEDINO, Temas, cit, p. 23 e ss. Sobre o tema, PIETRO PERLINGIERI , La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., passim.V. também, do mesmo autor: La tutela giuridica della ‘integrità psichica’ (a proposito delle psicoterapie), in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1972, p. 763 e ss.; Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rassegna di diritto civile, 1982, p. 1021 e ss; Perfis do Direito Civil, Rio de Janeiro, Renovar, 1997, p. 153 e ss. 7 PIETRO PERLINGIERI , La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., esp. p. 174 e ss. 8 Atente-se para a palavra precursora de JOSÉ LAMARTINE CORREA DE OLIVEIRA e FRANCISCO J OSÉ FERREIRA M UNIZ, O Estado de Direito e os Direitos da Personalidade, cit., p. 14, que propuseram (em 1980!) uma cláusula geral de tutela da pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro, aos moldes da experiência alemã, relatada pelos autores, os quais destacam: “A tipologia que se pretende exaustiva não exaure a realidade e camufla o sentido único de toda a problemática”. 9 Para uma crítica aguda às técnicas tradicionais dos direitos da personalidade, v. EZIO CAPIZZANO, Vita e integrità fisica, cit., p. 1003, segundo o qual “o direito à integridade física, como especificação de um mais amplo direito à saúde, reflete o interesse público à eliminação das condições de fato (ambientais, etc.) que, possibilitando a agressão a tal bem, constituem, em razão do seu próprio valor instrumental, um obstáculo de natureza social à atuação e ao desenvolvimento da personalidade”; e M ASSIMO DOGLIOTTI , I diritti della personalità: questioni e prospettive, in Rassegna di diritto civile, 1982, p. 657 e ss. 10 PIETRO PERLINGIERI , Profili del diritto civile, Napoli, Esi, 1994, 3a ed., p. 32 11 ERIK JAYME , Cour général de droit international privé, in Recueil des Cours, Académie de Droit International, The Hague-Boston-London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, t. 251, 1996, p. 36-37 e ss, que enumera, ao lado da narrativa, o pluralismo, a comunicação e o retorno aos sentimentos (retomada dos direitos humanos). Mais adiante, op. cit., p. 259, o autor ressalta o liame entre as diversas expressões da cultura pósmoderna nas quais se manifesta a narrativa : “Les beaux-arts sont retournés à la peinture figurative. L’architecture ne se limite plus à démontrer la fonction de la construction technique; elle cherche à signaler des valeurs humaines. Les édifices font allusion à l’histoire, ils contiennent des parties descriptives qui racontent les faits de la vie humaine. Le porteur de la narration est de nouveau la façade du bâtiment à laquelle les architectes ont restitué la tâche traditionnelle de décrire, au public, la fonction sociale et humaine des édifices. En ce qui concerne le droit, nous notons un phénomène particulier: l’émergence des ‘normes narratives’. Ces normes n’obligent pas, elles décrivent des valeurs”. 12 V., a propósito, GUSTAVO TEPEDINO, Direitos Humanos e Relações Jurídicas Privadas, in Temas de Direito Civil, cit, p. 55 e ss , onde são examinados diversas hipóteses da jurisprudência. No primeiro deles ( p. 58 e ss.), o Prefeito de Morsang-sur-Orge, valendo-se do seu poder de polícia, interditou o espetáculo, em cartaz numa certa discoteca, constituído pelo arremesso de um homem de pequena estatura - um anão - pelos clientes, de um lado a outro do recinto, em certame com objetivos de entretenimento. A decisão da Prefeitura, que pretendia debelar a visível humilhação a que era submetido o anão, teve fundamento no art. 3º da Convenção Européia de Salvaguardas dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, cujo texto consagra o princípio da dignidade da pessoa humana. O problema é que o próprio anão, litisconsorciado com a empresa interessada, recorreu ao Tribunal Administrativo, obtendo êxito em primeira instância, ao argumento de que aquela atividade não perturbava “a boa ordem, a tranqüilidade ou a salubridade públicas”, aspectos em que se circunscreve o poder de polícia municipal. Em outras palavras, a tutela da dignidade humana, só por si, segundo a jurisprudência francesa até então vigente, não integrava o conceito de ordem pública. O pedido fundamentava-se, ainda, no fato de que a atividade econômica privada e o direito ao trabalho representam garantias fundamentais do ordenamento jurídico francês. O caso acabou sendo submetido, em grau de recurso, ao Conselho de Estado, órgão de cúpula da jurisdição administrativa que, alterando o entendimento dominante, reformou a decisão do Tribunal de Versailles, assentando que “o respeito à dignidade da pessoa humana é um dos componentes da (noção de) ordem pública; (e que) a autoridade investida do poder de polícia municipal pode, mesmo na ausência de circunstâncias locais específicas, interditar um espetáculo atentatório à dignidade da pessoa humana” Observou-se, ainda no exame da mesma hipótese, que o Conselho de Estado, ao se valer de princípio insculpido na Convenção européia, adotou orientação em sentido análogo à tendência do Conselho Constitucional da França, o qual, na ausência de norma expressa, decidiu, em 1994, “ao examinar a argüição de inconstitucionalidade de uma lei versando sobre doação e utilização de elementos e partes do corpo humano, ‘elevar’ o princípio da dignidade da pessoa humana ao status de ‘principe à valeur constitutionelle’. E o fez utilizarse não de uma disposição da Constituição em vigor (de 1958) mas de uma declaração de princípios inserida na Constituição do pós-guerra (1946)” . 13 Sent. N. 2315/99 Cassazione – Sezione Prima Civile – Relatore G. Graziadei. 14 O caso mais notório parece ser o de Luís Roberto Gambine Moreira, conhecido como Roberta Close, submetido à cirurgia de alteração de sexo em Londres, em 1989. Em 1992, através de substanciosa sentença de 58 laudas, cuidadosamente proferida pela Juíza Dra. Conceição Mousnier, da 4ª Circunscrição de Registro Civil, após perícia médica, foi-lhe autorizada a alteração de nome e alteração de sexo, nos termos do pedido, para que passasse a se chamar Roberta, com indicação do sexo feminino. O Ministério Público recorreu, tendo então a 8ª Câmara do Tribunal de Justiça, por unanimidade, através dos Desembargadores Geraldo Batista, Luís Carlos Guimarães e Carpena Amorim, reformado a sentença, para manter o nome e o sexo masculino na Certidão de Nascimento de Roberta Close. O Recurso Extraordinário que se seguiu foi inadmitido, assim como improvido foi o agravo de instrumento interposto contra a sua inadmissão, deixando assim a Suprema Corte de examinar a matéria. Conforme amplamente divulgado pela imprensa, a referida artista mudou-se para a Suíça, onde constituiu família, casando-se e assumindo integralmente a sua condição de mulher. 15 Os elementos acima apresentados constam da apelação criminal n. 92.18299-0/RJ, julgada em 8 de março de 1993, tendo sido Relatora a Dra. Tânia Heine e vencido o Dr. Clélio Erthal. 16 Eis o teor dos preceitos invocados: art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa; art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. 17 ZENO VELOSO, Direito Brasileiro da Filiação e Paternidade, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 110. 18 Ac. S.T.F., n. 71373-4-RS, de 10.11.94 (D.J.U., 22.11.94, p. 45.686), com a seguinte ementa: Investigação de Paternidade - Exame DNA - Condução do Réu “Debaixo de Vara”. Discrepa, a mais não po- der, de garantias constitucionais implícitas e explícitas - preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta da obrigação de fazer - provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório “debaixo de vara” para coleta do material indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos 19 M ARIA CELINA BODIN DE M ORAES, Recusa à Realização do Exame de D.N.A. na Investigação de Paternidade e Direitos da Personalidade, in A Nova Família: Problemas e Perspectivas (Org. Vicente Barretto), Rio de Janeiro, Renovar, 1997, p. 169 e ss. A necessidade de superação das técnicas setoriais é suscitada pela autora, segundo a qual a solução entre o “conflito de valores constitucionais: direito à (real) identidade pessoal versus direito à integridade física”, seja dirimido em favor do primeiro, considerando a recusa abusiva. “A perícia compulsória se, em princípio, repugna aqueles que, com razão, vêem o corpo humano como bem jurídico intangível e inviolável, parece ser providência necessária e legítima, a ser adotada pelo juiz, quando tem por objetivo impedir que o exercício contrário à finalidade de sua tutela prejudique, como ocorre no caso do reconhecimento do estado de filiação, direito de terceiro, correspondente à dignidade de pessoa em desenvolvimento, interesse este que é, a um só tempo, público e individual (grifou-se). E conclui (p. 194): “o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece sempre os limites intransponíveis, para além dos quais há apenas ilicitude”. Parece aliás sintomático que, nos manuais italianos, a matéria já comece a ser enfrentada em perspectiva unitária. Além da escola doutrinária analisada no texto ( v. o manual de PIETRO PERLINGIERI , Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, ESI, 1984, p. 347 e ss.), fazem-se estimulantes as páginas de C. M ASSIMO BIANCA , Diritto civile, vol. I, La norma giuridica - I soggetti, Roma, Giuffrè, 1990 (rist.), p. 143 e ss., em que o autor trata do tema como “Os direitos fundamentais do homem ou direitos da personalidade”( literalmente, I diritti fondamentali dell’uomo o diritti della personalità), esclarecendo que “os direitos fundamentais do homem, ditos também direitos da personalidade, são aqueles direitos que tutelam a pessoa nos seus valores essenciais” (...) inserindo-se na categoria mais ampla dos direitos pessoais, como direitos que tutelam os interesses ine20 rentes à pessoa, isto é, os seus diretos interesses materiais e morais”, em contraposição aos “direitos patrimoniais, os direitos que tutelam interesses econômicos”. Em perspectiva metodológica unitária apresenta-se também PIETRO RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, Jovene, 1994, p. 223 e ss., que se refere ao tema em capítulo sugestivamente intitulado “Tutela civile della persona”, no qual aborda simultaneamente as garantias constitucionais, a Convenção européia dos direitos do homem e os direitos da personalidade previstos na legislação infraconstitucional. 21 As decisões encontram-se publicadas na Revista do Consumidor, vol. 4, p. 260 e vol. 17, p. 179 22 Agravo de Instrumento n. 599075496, julgado pela 8a Câmara Cível do TJRS, em 17.06.99. A decisão foi objeto de comentário de GUI LHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA , A união civil entre pessoas do mesmo sexo, no prelo da Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 2, 2000. 23 Resp n. 102.819-RJ, decido por unanimidade pela 4a Turma do STJ, in DJ de 12.04.99. O acórdão mereceu a análise de M ARIA CHISTINA DE ALMEIDA, Em sede de Especial, a sensível abertura de olhar, no prelo da Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 1, 2000 24 A análise crítica do art. 52, exposta no texto, reproduz fundamentalmente a contribuição encaminhada pelos Profs. BRUNO LEWICKI e D ANIL O DO N E DA , juntamente com o signatário, como proposta interpretativa à Jornada de Direito Civil organizada no Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho de Justiça Federal, nos dias 11 a 13 de setembro de 2002. A sugestão foi apresentada sob o seguinte enunciado: A diversidade de valores informadores da tutela da pessoa humana e da pessoa jurídica impede a aplicação apriorística e automática dos direitos da personalidade no âmbito empresarial. A ofensa à imagem ou à chamada honra objetiva da pessoa jurídica, em regra, tem repercussão exclusivamente patrimonial, atingindo seus resultados econômicos. Não se trata de direitos da personalidade propriamente ditos, nem sua ofensa acarreta danos morais. Sendo os danos morais próprios da pessoa humana, o art. 52 poderá ser utilizado para a fixação de danos institucionais que atingem a credibilidade das pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa. 25 Eis a lição insuspeita de ANTÓNIO M ENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, Coimbra, Almedina, vol. I, Parte Geral, Tomo I, 2000, 2a ed., p. 201 e ss. 26 O entendimento foi consagrado no recente enunciado da Súmula n. 227 daquela Corte: “As pessoas jurídicas podem sofrer danos morais”. 27 Cfr. o Prefácio a ALEXANDRE ASSUMPÇÃO, A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 1998. 28 Segundo a Súmula n. 227 do STJ “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 29 Veja-se M ARIA CELINA BODIN DE M ORAES, O Princípio da Solidariedade, in M. M. PEIXINHO , I. F. GUERRA E F. NASCIMENTO FILHO (orgs.), Os Princípios da Constituição de 1988, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2001, p. 167 e ss. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS AÇÕES COLETIVAS PARA A TUTELA DE DIREITOS OU INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS William Santos Ferreira, Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Membro Efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Professor Concursado de Direito Processual Civil e Prática Forense da PUC-SP. Professor Palestrante da Pós-Graduação Lato Sensu da PUC-COGEAESP. Professor de Direito Processual Civil da UNIB e UNICID. Advogado em SP RESUMO: O tratamento legislativo dos direitos ou interesses individuais homogêneos, sem sombra de dúvida, foi uma das maiores inovações do nosso ordenamento jurídico neste século, mas trata-se de instituto ainda pouco difundido. Foram, principalmente, estas características que estimularam este estudo. Abre-se o trabalho com a busca de uma exata definição do que vem a ser “direito individual homogêneo”, bem como identificando-se as peculiaridades que o diferenciam dos direitos “coletivos” (stricto sensu) e “difusos”. Há uma breve análise de institutos similiares: do Direito norteamericano (“class action”) e do Direito francês (Lei Royer, de 27/12/73); mereceram, ainda, tratamento específico: a legitimação e os problemas em torno do acordo judicial, a atuação do Ministério Público, a competência, a execução, as questões processuais que surgiram com a aplicação do instituto e um especial destaque para a recente Lei nº 9.494/97. ÍNDICE: 1. Natureza Jurídica; 2. Class Action; 3. Abrangência da ação coletiva para a defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos; 4. Questões em torno da legitimação e do acordo judicial; 5. Atuação do Ministério Público; 6. Ineficácia do veto ao parágrafo único do art. 92; 7. As gravíssimas consequências da “nova” redação do art. 16 da Lei 7.347/85 e uma proposta de solução; 8. Jurisdição e competência; 9. Ajuizamento da ação e sua publicidade; 10. Sentença, 10.1. Abrangência e efeitos, 10.2. Publicidade; 11. Habilitação e liquidação da sentença; 12. Execução, 12.1. Execução coletiva e competência, 12.2. Execução promovida pelos próprios consumidores ou seus sucessores e a competência, 12.3. Concurso de créditos, 12.4. A fluid recovery prevista no art. 100 do CDC; 13. Últimas reflexões; 14. Bibliografia. 1. NATUREZA JURÍDICA O Código de Defesa do Consumidor (CDC) veio por extirpar dúvidas inerentes a exata definição dos interesses e direitos: DIFUSOS, COLETIVOS (“stricto sensu”) e INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Para tanto no artigo 81 definiu-os. Serão interesses ou direitos difusos os metaindividuais ou transindividuais que atinjam pessoas indeterminadas que se encontram ligadas por uma circunstância de fato e cujos interesses ou direitos sejam indivisíveis. Serão interesses ou direitos coletivos (stricto sensu) os transindividuais que atinjam um grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis que encontram-se ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base e cujos direitos ou interesses sejam indivisíveis. Por estas duas classificações já nos é possível colecionar as características, em síntese apertada, diferenciadoras, bem como a de igualdade. O traço comum é a indivisibilidade do objeto. O traço diferenciador é a indeterminação dos titulares nos direitos ou interesses difusos, diversamente ocorrendo nos coletivos propriamente ditos nos quais verifica-se serem seus titulares determinados ou no mínimo determináveis, seja esta determinação através dos titulares ligados entre si por uma relação jurídica base ou então por vínculo jurídico que os une a parte contrária. Estes dois institutos já eram conhecidos em nosso ordenamento jurídico pátrio, especialmente na Ação Popular (Lei 4.717/65) e na Ação Civil Pública (7.347/85), embora não estivessem tão definidos como atualmente pela promulgação do CDC, bem como seu espectro de atuação era muito restrito. No entanto, o terceiro instituto, dos direitos ou interesses individuais homogêneos, só recentemente veio por surgir no ordenamento jurídi- co brasileiro. Surgiu com a Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989 e trata do âmbito da ação civil pública para reparação pelos danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, legitimou-se o Ministério Público a adotar as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento dos danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado. O disposto no art. 2º da citada lei determina que a importância determinada na condenação deverá reverter em favor dos investidores lesados, “na proporção dos seus prejuízos”; no § 1º do mesmo artigo regulou-se sobre a habilitação dos beneficiários; e por sua vez no § 2º foi previsto que não havendo habilitação ou dela decaindo os beneficiários, a quantia equivalente a estes será recolhida como receita da União1. Portanto, não foi o CDC a primeira normatização a respeito dos interesses Individuais Homogêneos, mas foi sim através dele que não só estabeleceu-se sua definição, como também, ampliou-se sobremaneira sua incidência. A definição exposta no Inciso III do artigo 81 do CDC é singela: “interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos os decorrentes de origem comum”. Ao que nos parece o legislador sintetizou a conceituação frente a não só existência de tratamento já na doutrina, como também pela própria compreensão que a denominação do instituto nos propicia. Senão vejamos: Fala-se em direito individual, a primeira característica que se observa é a divisibilidade do objeto, em segundo lugar, homogêneo segundo Aurélio Buarque de Holanda: “cujas partes todas são da mesma natureza” ou “cujas partes ou unidades não apresentam ou quase não apresentam desigualdades” 2 3 . Em nossa opinião a adoção da palavra homogêneos foi uma postura muito feliz, pois sintetiza a mens legis do instituto, qual seja, são direitos ou interesses que apesar de poderem ser reclamados individualmente, são de tal forma ligados, enfeixados, que podem e devem ter um tratamento especial, mais consentâneo com sua natureza. Trata-se inquestionavelmente da resposta do legislador a ineficácia dos institutos processuais ortodoxos, diante das alterações constantes da sociedade moderna, em especial após as “Grandes Guerras”. Na década de vinte, na Europa já era detectável o fenômeno da ascensão das massas, decorrente especialmente da revolução industrial4. Na América Latina, em especial no Brasil, este fenômeno ocorreu uma ou duas décadas após a Segunda Guerra Mundial quando ao lado do fenômeno da ascensão de massas, ocorreu um grande fluxo migratório para os grandes centros, criando-se as megalópolis e consequentemente reduzindo-se a qualidade de vida nestes bolsões populacionais. Desta crise gerou-se outra que pode ser detectada pelas sérias dificuldades de acesso à justiça, que portanto passou a ter sua eficiência questionada5. Constata-se que da mesma forma que a sociedade passou da produção artesanal para a produção em série, no processo civil concluiu-se pela imperiosa mutabilidade da ótica meramente individualista para a coletiva, e da fusão destas, surgiu o instituto dos interesses individuais homogêneos. Arruda Alvim, com a maestria que lhe é peculiar, aponta que “o Código do Consumidor, em verdade, procurou estabelecer uma correlação ou articulação entre o direito processual e o material (modificando profundamente o direito privado = comercial) preexistente.”6. Os interesses ou direitos individuais homogêneos definidos por Barbosa Moreira como “acidentalmente coletivos”, apesar de acidentalmente, não deixam de receber tratamento de um Direito Coletivo, não sendo por outro motivo que no CDC encontra-se no Título III, Capítulo II - “Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos”. Em primeiro momento o binômio coletivo-individual pode parecer uma antinomia, no entanto, um dos grandes avanços do Direito Processual moderno foi justamente esta compatibilização, que trouxe consigo uma série de inovações necessárias à adaptação do nosso ordenamento jurídico. Esta compatibilização propiciada pelo CDC tem como base a palavra homogêneos, isto porque só da união de direitos ou interesses individuais que tenham como base uma origem comum é que poderemos dizer que estaremos diante de um direito individual homogêneo. Como dizíamos, origem comum é o traço qualificador, identificador da homogeneidade destes direitos. Waldemar Mariz de Oliveira Jr. constata que “esses direitos e interesses não são mais de caráter simplesmente individual, mas, pelo contrário, apresentam-se como de natureza coletiva, gerando, se desrespeitados ou violados, danos igualmente coletivos”7; e conclui o doutrinador que “os direitos mencionados não podem mais ser tutelados individualmente, de acordo com a orientação tradicional, em face de ser outra a sua própria natureza jurídica, isto é, porque são eles de caráter coletivo”8. Constata Vincenzo Vigoriti que “la class action è uno strumento forgiato per la tutela di situazioni individuali a dimensioni collettiva, situazioni che, isolatamente considerate, no avrebbero acceso alla giustizia, per cui davvero l’imposizione di una pesante bardatura garantistica servirebbe solo a comprometterne le aspirazioni di tutela” 9. A diferenciação marcante entre os direitos ou interesses difusos e coletivos e o individual homogêneo reside na DIVISIBILIDADE DO OBJETO, v. g., nada impede que um titular “x” de um direito individual, apesar da existência de uma ação proposta pelo Ministério Público em que se discute direito individual homogêneo (que a “x” também se refere, como a outros titulares do respectivo direito individual), promova individualmente a ação. Como adverte Nelson Nery Jr.: “a pedra de toque do método classificatório é o tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando se propõe a competente ação judicial”10 A advertência do Doutrinador é de todo procedente, porque de um mesmo FATO podem surgir pretensões que reclamam tutelas diversas. Exemplificando: Uma indústria que despeja dejetos químicos em um rio, pode originar: a) Uma pretensão a reclamar uma tutela jurisdicional a direitos ou interesses difusos -> dano a toda a coletividade pelo prejuízo causado ao meio ambiente, pleiteando-se reparação pecuniária e a ordem para cessar o ato danoso; b) Uma pretensão a reclamar uma tutela jurisdicional a direito ou interesse coletivo (stricto sensu) -> associação dos agricultores locais que requer a suspensão imediata do ato prejudicial à qualidade da água que é pelos agricultores utilizada para irrigação; c) Uma pretensão a reclamar uma tutela jurisdicional a direitos ou interesses individuais homogêneos -> pela mesma associação dos agricultores pleiteando condenação genérica da indústria (para posterior habilitação) frente aos prejuízos sofridos decorrentes da perda das plantações que foram contaminadas; d) E porque não dizer, uma pretensão a reclamar uma tutela jurisdicional a direitos ou interesses individuais -> pleiteada a indenização diretamente pelo próprio agricultor lesado, individualmente considerado. Nesta análise não podemos deixar de comentar parecer elaborado antes da vigência do CDC, por Luíz Antonio de Andrade no qual discutiase a legitimidade ad causam do Ministério Público para a tutela jurisdicional de interesses individuais de consumidores, mas especificamente, para discussão a respeito da ilegalidade dos aumentos praticados por empresas de seguro de saúde. O parecerista após análise dos limites impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial da Lei da Ação Civil Pública, conclui pela ilegitimidade ad causam do Ministério Público, demonstrando, citando Ada Pellegrini Grinover, que no Direito brasileiro não havia, como no Direito norte-americano a class action, “sob âmbito da qual seria de fato possível a proteção judicial de uma pluralidade de interesses individuais semelhantes, por iniciativa de um ou de alguns dos integrantes da classe, investidos de ‘representatividade adequada’, ou de um órgão público” 11. Conclui Luíz Andrade que: “... qualquer tentativa que se empreendesse no sentido de destacar o adjetivo ‘coletivos’ para atribuir-lhe significado equivalente à adoção do instituto semelhante à ‘class action’ estaria, quando menos, nas dificuldades acima apontadas só superáveis por obra do legislador.”12. O legislador agora previu respectivo tratamento, a “class action brasileira”13. 2. CLASS ACTION Ada Pellegrini Grinover14 leciona que a tutela dos direitos ou interesses individuais homogêneos é uma adaptação brasileira da class action for damages americana. Os Estados Unidos trataram a primeira vez do tema, apesar de contornos imprecisos, no Bill of Peace do século XVII, tendo sido disciplinada pelas Federal Rules of Civil Procedure de 1938, com readaptações pela Federal Rules de 1966 (Rule nº 23). A tutela judicial naquele ordenamento compreende os interesses e direitos coletivamente tratados, quer se trate de bens indivisivelmente considerados, quer se trate de bens divisíveis e individualizáveis, pertencentes pessoalmente a cada membro da class. Desde que reconhecida pelo juiz a adequacy of representation, entende-se que a legitimação do autor coletivo é ordinária, agindo no interesse próprio e representando os demais membros da class, a denominação utilizada é real party in interest 15. Exemplo clássico citado por Ada Pellegrini Grinover é o Caso Eisen, julgado em 1974 pela Corte Suprema, na qual 3.500.000 operadores da Bolsa de Nova York acionaram por intermédio do Sr. Eisen, agentes que haviam lesado pessoalmente cerca de 6.000.000 de pessoas, impondolhes uma sobretaxa ilegal. Invocando as características constitucionais da defesa, considerou-se necessária a citação pessoal dos réus, o que acarretou a desistência do processo. Mas apesar disto - e do rude golpe que a decisão significou para esse tipo de class action - o juiz e a Suprema Corte nenhuma dúvida tiveram em reconhecer a admissibilidade da ação como ação de classe16. Na França a Lei Royer, de 27 de dezembro de 1973, destinada à proteção dos consumidores, permite que as associações de défense do consumidor pleiteiem a reparação coletiva do dano comum, conferindo-lhe a necessária legitimação. Interessante se notar alguns requisitos desta lei para que se garanta a representatividade das associações: existência jurídica e concreta operatividade por pelo menos um ano, seus objetivos institucionais, um número mínimo de 10.000 associados para fins nacionais e um número suficiente de membros para fins locais. Estes requisitos são avaliados pelo Ministério Público e são condições prévias e necessárias para aferir-se a capacidade e legitimação processuais17. Interessante se notar que os requisitos de legitimação são muito semelhantes aos do artigo 82, inciso IV do CDC que trata justamente da legitimação das associações. 3. ABRANGÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA PARA A DEFESA DE DIREITOS OU INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS Parece claro que a ação de que tratam os artigos 91 a 100 do CDC refere-se apenas aos casos em que a sentença, apesar de genérica, dará margem a uma condenação pecuniária. Inúmeros são os argumentos favoráveis a esta conclusão: a) no artigo 91 menciona-se “vítimas”, “ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos”; b) no artigo 95 fala-se em “caso de procedência do pedido a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”; c) no artigo 96, que foi vetado, previa-se “a sentença condenatória”; d) no artigo 97 taxativamente previu-se a “liquidação”; e) no parágrafo único do artigo 97 que foi vetado falava-se em “liquidação por artigos” e “nexo de causalidade, o dano e seu montante”; f) no artigo 98 preconizou-se “indenizações”; g) no inciso II do § 2º do artigo 98 classificou-se o tipo de ação como “ação condenatória”; h) no artigo 99 fica claro que o tipo de tutela jurisdicional pleiteada será pecuniária, até pela própria menção a “concurso de créditos”; i) no artigo 100 constata-se claramente que a solução jurisdicional será pecuniária. Ao que nos parece, as pretensões das ações em estudo cingir-se-ão a uma pretensão condenatória, isto é, no escopo de possibilitar aos consumidores lesados a obtenção de uma indenização pecuniária. Não se admi- tirá que nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos existam pretensões de índole constitutiva, meramente declaratória ou mandamental18. Como ressalta Ada Pellegrini Grinover: “A pretensão processual do autor coletivo, na ação de que trata o presente Capítulo, é de natureza condenatória e condenatória será a sentença que acolher o pedido.” 19. E também: “objetivam tais ações a reparação, por ações coletivas, dos danos pessoalmente sofridos pelos consumidores...” 20 Há apenas um ponto que deve ser aclarado, trata-se do disposto no Inciso I do artigo 93 que trata da competência, porque neste dispositivo verifica-se uma previsão para competência levando-se em conta o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Ora, em análise precipitada poder-se-ia argumentar que não se tratará apenas de demandas em que o dano tenha ocorrido, e portanto poderia ter caído por terra as argumentações retro-realizadas. Todavia, não é o que ocorre. Analisando-se mais profundamente o dispositivo dele podemos inferir que o escopo é de evitar-se questionamentos a respeito da competência porque como a ação tratará de um número, a princípio, apenas determinável de consumidores, verificar-se-á que poderão estes consumidores no momento exatamente anterior à propositura da ação já terem sofrido o dano ou então estarem na iminência de sofrê-lo, devendo ser levado em conta que a intervenção destes ou de seus sucessores poderá ocorrer em momento muito posterior ao da demanda, no momento da Liquidação (Habilitação). Cumprindo salientar também que se ainda alguma dúvida poderia existir, o que não acreditamos, cingir-se-ia apenas a este dispositivo, frente a que todos os demais, conforme já analisamos, levam a uma conclusão de que a pretensão das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos será de natureza condenatória, em outras palavras, objetiva-se um ressarcimento pecuniário pelos danos auferidos pelos consumidores que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória genérica, serão individualmente verificados. Resta-nos apontar mais uma questão: já que a pretensão será condenatória, só haverá a condenação em obrigação de dar (pecuniária) ou é possível também condenação em obrigação de dar (lato sensu) e nas de fazer e não fazer? Em princípio, por haver capítulo que trata expressamente das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos (Capítulo II), da interpretação de seus dispositivos não nos parece ser possível esta abrangência. Mas devemos levar em conta que o artigo 84 do Capítulo I, das disposições gerais, traz, sem excepcionar, regulamentações para as ações que tenham por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e estas também decorrem de uma pretensão condenatória. Ada Pellegrini Grinover em comentário à Lei 7.347/85 afirmava que “a defesa dos consumidores, coletivamente considerada, ficará portanto naturalmente limitada, pela nova lei (Lei 7.347/85), às ações preventivas, que visem à tutela inibitória, mediante a condenação a uma obrigação de fazer ou não fazer.”21 (parêntesis nosso). 4. QUESTÕES EM TORNO DA LEGITIMAÇÃO E DO ACORDO JUDICIAL Serão legitimados para propor a ação coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos os legitimados do artigo 82 do CDC. A legitimação ativa de que trata o art. 91 é extraordinária, pois os legitimados atuam em nome próprio, todavia no interesse alheio. Esta legitimação só é possível porque decorre de expressa disposição legal, já que reza o disposto no artigo 6º do CPC que: “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.” Celso Agrícola Barbi preleciona que a legitimação extraordinária recebeu desde Kohler o nome de substituição processual, utilizada também por Chiovenda e pela maioria dos autores modernos22. Ada Pellegrini Grinover ao comentar o art. 91 do CDC sustenta enfaticamente que o dispositivo trata de legitimação extraordinária a título de substituição processual. Não nos opomos à correta classificação da doutrinadora de tratarse de hipótese de legitimação extraordinária, no entanto ousamos divergir no tocante a ser a título de substituição processual. Na substituição processual como a própria denominação do instituto nos explicita há a “troca”, processualmente falando, do titular do direito pelo legitimado extraordinário. Como adverte Donaldo Armelin “... ontologicamente, é impossível a coexistência de substituição, compreendida no sentido supra (efetiva substituição do legitimado ordinário pelo extraordinário), e litisconsórcio com o substituto.”23, sendo da mesma opinião Waldemar Mariz de Oliveira e Pontes de Miranda24. Como na ação em estudo o artigo 94 admite este litisconsórcio acreditamos ser imprópria a utilização da terminologia “substituição processual”. A legitimação conferida pelo art. 91 do CDC é concorrente e disjuntiva. Destas características nos é possível inferir que os legitimados do artigo 82 podem encontrar-se no pólo ativo sozinhos ou conjuntamente. Como se trata de legitimidade concorrente, como vimos, os demais legitimados extraordinários do artigo 82 que não ingressaram no processo como litisconsortes (art. 94 e art. 5º, § 2º da Lei 7.347), estarão sujeitos à eficácia da decisão judicial25. Na ocorrência do litisconsórcio entre os legitimados do artigo 82, bem como dos consumidores ou seus sucessores que integrarem o pólo ativo na forma do artigo 94 do CDC, este litisconsórcio será facultativo e unitário, facultativo porque a legitimação é concorrente e disjuntiva, ou seja, podem (e não devem) encontrar-se no pólo ativo; e é unitário porque a origem do direito individual homogêneo é comum, sendo sua decisão qualitativa uniforme26. Não é impossível que se verifique a propositura de duas ações possuindo a mesma causa pedir, o mesmo pedido e o mesmo pólo passivo, todavia, não havendo identidade física dos integrantes do pólo ativo destas demandas; nesta hipótese apesar de não ocorrer esta identidade física, os legitimados possuem identidade de função jurídica, sendo que a situação deverá ser solucionada como hipótese de litispendência 27 ou continência (se o objeto de uma ação for mais amplo que o da outra), em suma, nestas hipóteses a diferenciação nominal do pólo ativo não impede o reconhecimento da litispendência ou da continência uma vez que os legitimados ativos, na terminologia proposta por Arruda Alvim, possuem identidade de função jurídica. Uma questão surge do aprofundamento da matéria: Há viabilidade legal de acordo entre o integrante ou integrantes do pólo passivo e os legitimados do artigo 82?, em outras palavras: a legitimação extraordinária conferida pelo art. 91 c/c o art. 82 autoriza que os legitimados acordem com os integrantes do pólo passivo? Cremos que a resposta negativa se impõe, principalmente se verificarmos que a pretensão deduzida em juízo é genérica e que na verdade os legitimados apenas e tão somente podem pretender a condenação genérica, já que o direito individual de cada consumidor permanecerá intacto, sendo apenas atingidos: a) se a sentença transitada em julgado lhe for favorável (art. 103, III); b) se o consumidor ou seus sucessores houverem integrado a lide (§ 2º do art. 103); e c) a hipótese do art. 104, in fine. Logo, pela própria DIVISIBILIDADE DO OBJETO que é carac- terística marcante nos interesses e direitos individuais homogêneos, impossível conferir-se validade ao acordo. Cumprindo salientar que a legitimação extraordinária é única e exclusivamente para deduzir em juízo uma pretensão clamando por uma sentença condenatória genérica e na hipótese de um acordo esta sentença jamais existirá. Como leciona Ada Pellegrini Grinover ao tratar da legitimação e representação para liquidação: “Tanto num como noutro caso, porém, a liquidação e a execução serão necessariamente personalizadas e divisíveis.” 28. A legitimação extraordinária não alcança a esfera individual, ou seja, o direito individual de cada um dos consumidores ou seus sucessores. Os acordos, portanto, só poderão verificar-se na esfera individual e personalizada de cada consumidor lesado ou seus sucessores, sendo que só a estes caberá o ato. A transação é negócio jurídico bilateral em que se tem por escopo pôr fim a um litígio ou então para evitar que ocorra; materializa-se através de concessões recíprocas, logo só atingido-se a esfera individual de cada consumidor é que se torna possível a transação, justamente pela divisibilidade do objeto. Não há, frente às características peculiaríssimas da hipótese tratada, possibilidade de transação pelo legitimado extraordinário, já que, em síntese, sua legitimação apenas atinge a esfera processual29 (e assim mesmo apenas no primeiro momento), não se estendendo, em hipótese nenhuma, a esfera do direito material de cada consumidor. A impossibilidade da transação pelos legitimados extraordinários envolvendo direitos individuais homogêneos é muito mais clara do que nos direitos difusos e coletivos, já que nos primeiros existem a divisibilidade e a determinação dos titulares do direito material. Portanto, acreditamos que não é possível ao legitimado extraordinário a realização de acordo30. Pelos seguintes motivos: duas constatações basilares originarão fundamentações que inviabilizam a ocorrência do acordo tratado: a) Enquanto tratado como direito individual homogêneo o bem é DIVISÍVEL, PORÉM NÃO ESTÁ DIVIDIDO, tanto que Ada explicita que: a defesa processual dos interesses (ou direitos) individuais homogêneos é feita de forma indivisível no processo de conhecimento, levando a uma sentença condenatória genérica que reconhece a existência do dano geral e fixa o dever de indenizar” 31; b) O titular da ação para defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos NÃO É O TITULAR DO DIREITO MATERIAL. Destas decorrem: a) O direito é INDISPONÍVEL porque até a sentença condenatória genérica este direito é tratado de forma indivisível, não sendo possível a ocorrência de sua divisão por ato do legitimado extraordinário e MUITO MENOS SUA ATUAÇÃO COMO TITULAR DO DIREITOMATERIAL; b) Não se reconhece ao legitimado extraordinário o direito a transacionar, porque este ato é exclusivo do titular do direito individualmente considerado já que a transação implica em renúncia parcial ao direito (art. 1027 do CC); c) Ao legitimado nada mais é possível a não ser a dedução em juízo de uma pretensão condenatória genérica, o que no caso do acordo não ocorreria, pois haveria não só a divisão, como também a extinção do processo com julgamento de mérito porém, sem apreciação da dita pretensão condenatória genérica; d) a transação produz entre as partes o efeito da coisa julgada (art. 1030) e a irradiação destes efeitos aos titulares do Direito é impossível já que a transação não aproveita nem prejudica senão aqueles que nela intervieram (art. 1031); e) Qualquer acordo que verse sobre direito individual homogêneo obrigatoriamente teria que atingir os consumidores ou seus sucessores e isto não é possível já que como titulares do direito material estes tem que estar presentes ao ato de acordo, pois sua ausência impede que os efeitos do acordo os atinjam, tanto que mesmo no caso de improcedência ou carência da ação coletiva estes poderão promover ações individuais se não participaram da demanda; e por último, f) entender-se o contrário é admitir-se a ingerência externa no Direito material de cada consumidor lesado, da qual mesmo que a lei o admitisse esta seria inconstitucional, já que se vinculativa, impediria o detentor do Direito material transacionado acesso ao Poder Judiciário, em afronta ao disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal. A coisa julgada secundum eventum litis (art. 103, III do CDC), ratifica a conclusão a que chegamos, pois como assevera Ada Pellegrini Grinover “coaduna-se com a natureza da pretensão indenizatória a título individual, não se podendo ocorrer o risco de prejudicar terceiros, que não tiveram oportunidade de integrar o contraditório, mediante sentença que iria afetá-los em seus direitos subjetivos personalíssimos” 32. Uma posição conciliadora e pragmática pode ser defendida: o acor- do é feito com a expressa ressalva que cada consumidor (isto nos direitos individuais homogêneos) poderá postular individualmente seu direito, ou estão optar por “aderir” aos termos do acordo coletivo. 5. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O Ministério Público é um dos legitimados para promover ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos33, quando este não integrar o pólo ativo deverá atuar SEMPRE como fiscal da lei, ex vi do disposto no art. 92 do CDC. O objetivo é claramente conferir lisura ao processo, evitando, com sua participação, a adoção de quaisquer medidas, de boa ou má-fé, que venham a prejudicar os consumidores ou ofender a lei. Ada Pellegrini Grinover reconhece que as ações coletivas reguladas pelos arts. 91 usque 100 do CDC: “são indiscutivelmente de natureza privada; mas existe, assim mesmo um interesse público à correta condução do processo de índole meta-individual, que aconselha a técnica ora utilizada”34. A redação do dispositivo não enseja dúvidas, ou o Ministério Público ajuizará a ação ou atuará como fiscal da lei; inadmissível portanto a duplicidade de atuações. Pela literalidade do artigo (“atuará sempre...” norma cogente) podemos concluir que ao Ministério Público é vedada a integração posterior ao ajuizamento da ação como litisconsorte ativo, neste caso atuará, porém como fiscal da lei. Frente a independência no exercício de suas funções, nada há que impeça ao Ministério Público, atuando como fiscal da lei, segundo sua liberdade para formação de sua convicção acerca da ação posta em juízo, opor-se a esta, através de razões fundamentadas no interesse público e nos interesses indisponíveis35, seria no mínimo incongruente o M.P. verificando algum aspecto contrário a lei ter que silenciar-se apoiando o pólo ativo a todo custo. Repete-se, atuará nesta hipótese como fiscal da lei e o cumprimento desta deve estar embasado em elementos de convicção concretos, lícitos e não em postura denotadora de parcialidade, sustentarse o contrário é opor-se a mandamento constitucional expresso, inserto no artigo 127, caput. 6. INEFICÁCIA DO VETO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 92 Inobstante o veto do parágrafo único do artigo 92, suas disposições permaneceram intactas já que o artigo 113 acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei 7.347/85 e por sua vez o artigo 90 que restou incólume aos vetos presidenciais reza: “Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições”. Como salienta Couture “um dispositivo legal só adquire sentido em função de todo o conjunto sistemático do direito.”36. Trata-se aqui de evidente aplicação subsidiária, devendo ser observadas, em caráter complementar, as disposições do Código de Processo Civil e da Lei da Ação Civil Pública. 7. AS GRAVÍSSIMAS CONSEQUÊNCIAS DA “NOVA” REDAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/85 E UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO A antiga redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública era: “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.” Porém, a Lei 9.494 de 10.09.1997 alterou o art. 16, acrescentando a seguinte restrição: “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.” Como se vê, limitou-se a atividade jurisdicional do julgador da ação civil pública “aos limites de sua competência territorial”. A intenção nefasta é clara: pulverizar as ações coletivas, pois, por exemplo, a decisão de um juiz de Campinas só atingirá aqueles que se encontrem nos limites de sua competência territorial. Um primeiro problema seria: a dita competência territorial seria vista pela “competência do julgador” (logo, no exemplo, só a Comarca de Campinas) ou pelo órgão que representa (Justiça Estadual, todo Estado de São Paulo)? Pela literalidade do dispositivo a resposta seria a adoção mais restritiva pois o artigo fala da competência do “órgão prolator”. Na doutrina fervorosas críticas surgiram à nova redação do artigo 16, vão desde preocupações com decisões conflitantes (pois vários serão os julgadores a analisar a mesma matéria), podendo ser ainda elencadas as seguintes críticas: total desvirtuamento das ações coletivas (cujo elemento essencial é a força da unificação de um número enorme de discussões em um único feito), prejuízo ao Poder Judiciário (pelo maior número de processos tratando do mesmo tema), tratamento tecnicamente inadequado das ações coletivas; e o que é pior: inconstitucionalidade desta nova redação do artigo 1637. Mas vamos concentrar nossa análise no reflexo do art. 16 na ações envolvendo direitos ou interesses individuais homogêneos; Concordamos com a inconstitucionalidade do dispositivo conforme sustentam os doutrinadores citados, mas ainda para aqueles que defendem a constitucionalidade do dispositivo, procuraremos comprovar sua inaplicabilidade as ações que versem sobre direitos individuais homogêneos com base no Código de Defesa do Consumidor. Como já se viu, a intenção do legislador foi claramente limitar, com questionável técnica, os efeitos das decisões em ações civis públicas. Porém o artigo 16 rege a ação civil pública, mas a regulamentação específica dos direitos individuais homogêneos, especialmente relacionados ao consumidor, encontra-se nos artigos 91 a 100 do Código de Defesa do Consumidor, e nenhum destes artigos foi alterado. Ora, ao tratar da competência o artigo 93 reza que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça local: “I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional...” Como se comprova, há uma aparente contradição entre o artigo 93 (que estabelece a competência de UM JULGADOR para questões até de âmbito nacional!) e do art. 16 (que trata de uma restrição de competência). Ocorre que a norma específica (93, CDC) não pode ser alterada por regulamentação genérica (art. 16, Lei da Ação Civil Pública) daí e porque o artigo aplicável é o 93 do CDC, pois este preconiza que um juiz do foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal é competente para questões de âmbito regional e até nacional38, não se podendo olvidar que não haveria razão para o previsto no inciso II do artigo 93 se a decisão do julgador não pudesse ter alcance até nacional, já que é regra básica de interpretação que: a lei não contém disposições inúteis. Diante disto: nas ações envolvendo relações jurídicas reguladas pelo CDC, mais especificamente sobre direitos individuais homogêneos, mesmo que a nova redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública não seja considerada inconstitucional, ainda assim, será, para o caso, inaplicável por colidir com o disposto no artigo 93 do CDC, que pelos motivos expostos deve prevalecer. Como se sabe, quando a relação jurídica for regulada pelo CDC – um microssistema na lição de Nelson Nery Jr. – a Lei da Ação Civil Pública tem aplicação subsidiária, o que significa que SUAS NORMAS SÓ SERÃO APLICÁVEIS SE NÃO CONTRARIAREM AS DISPOSIÇÕES DO CDC, conforme expressamente previsto no artigo 90 do próprio Código de Defesa do Consumidor. Por sorte (e por descuido legislativo!), mais uma vez pode-se consertar o que seria um gravíssimo retrocesso no tratamento dos direitos individuais homogêneos. Resta agora apenas torcer para que não reincida o legislador. 8. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA A interpretação do disposto no artigo 93 do CDC traz importantes consequências. Antes de procedermos a sua análise é muito importante que diferenciemos competência e jurisdição. A palavra jurisdição deriva do latim juris e dicere, em tradução literal, dizer o direito, trata-se, portanto, do “Poder encarregado da aplicação das leis aos casos concretos, onde haja lide (jurisdição contenciosa) ou não (jurisdição voluntária)”39. A concretização da jurisdição se dá através das regras de competência 40, portanto, “chama-se competência essa quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos” 41. Todo órgão (ou órgãos) do Poder Judiciário possui jurisdição, exercendo-a nos limites de sua competência. O caput do artigo 93 do CDC, que trata do processo de conhecimento da ação coletiva para a defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos tendo como legitimados extraordinários para sua propositura os mencionados no artigo 82 do CDC, estabelece que é competente para a causa a Justiça local (Estadual), ressalvada a competência da Justiça Federal. Esta divisão estabelece uma regra de competência, resta-nos esclarecer qual é o critério de competência. Esta ressalva do dispositivo em análise é mera ratificação do disposto no artigo 109 da Constituição Federal que define como de competência da Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. Para Ada Pellegrini Grinover42 esta competência é objetiva, assim também entendendo Celso Agrícola Barbi43, mas para a processualista é objetiva em razão da matéria, enquanto que para o doutrinador é objetiva em razão da qualidade das pessoas. Esta divergência não gera maiores consequências já que adotada uma ou outra a competência será objetiva e portanto absoluta, improrrogável. Concluímos, que a competência estabelecida no caput do artigo 93 é absoluta. Uma vez definida a competência segundo os ditames constitucionais mencionados, devemos averiguar uma outra regra de competência que está prevista nos incisos I e II do art. 93 do CDC. A análise da competência tem dois momentos, o primeiro que irá definir a competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual e o segundo momento que é o que vamos tratar. O segundo momento de definição de competência é o que determina a competência territorial uma vez que o elemento definidor é o da extensão do dano44 porque se este for: a) de âmbito local será competente o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano (Inciso I do art. 93); b) se os danos forem de âmbito regional ou nacional será competente o foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal (aplicando-se as regras dos artigos 106 e 205 do CPC nos casos de competência concorrente) (Inciso II do art. 93). A lei não explicita o que vem a ser âmbito local, regional e nacional. Mas podemos partir do sistema adotado pela Constituição que é o Federativo formado pela “união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal” (caput do art. 1º da C.F.) do que decorre que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios...” (caput do art. 18 da C.F.). Apreciada esta divisão, podemos concluir que o dano ou sua iminência será de âmbito local quando não ultrapassar a esfera de um Município, tanto que a própria Constituição define que o Município é competente para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I); será de âmbito regional quando ultrapassar os limites de um Município, mas não ultrapassar os limites de um Estado; e, por fim, será de âmbito nacional quando ocorrerem danos em mais de um Estado da Federação45. A competência aqui é relativa, admitindo-se a prorrogação se não for proposta a exceção declinatória de foro, ex vi do disposto no artigo 114 do CPC46. Um equívoco que parcela da doutrina e da jurisprudência têm incorrido nas hipóteses de dano nacional é entender que se um juiz estadual embora possua competência para julgar uma ação coletiva, suas decisões não podem ultrapassar os limites do Estado ao qual pertence47. Este equívoco deriva justamente da exata compreensão de jurisdição e competência, uma vez que competente o juiz, suas decisões poderão irradiar-se por todo o território nacional, visto que a jurisdição é una48. A exata compreensão da competência e da jurisdição estão diretamente relacionadas com o sistema Federativo adotado pela Constituição Federal; prova disto é que o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é competente para o inventário, partilha... (caput do art. 96 do CPC), sendo que, v.g., no formal de partilha que se encontre determinado bem situado no Rio de Janeiro-RJ, nesta cidade deverá se proceder a transcrição no Registro de Imóveis local, sendo que o inventário teve curso em Porto Alegre-RS por ser o domicílio do autor da herança. Seguindo-se o entendimento equivocado anteriormente exposto, conduzir-se-ia a conclusão de que deveriam ser ajuizados diversos inventários tantos fossem os Estados em que se encontrassem os bens do de cujus, o que evidentemente o Código de Processo Civil expressamente afasta. 9. AJUIZAMENTO DA AÇÃO E SUA PUBLICIDADE A determinação do artigo 94 do CDC de que proposta a ação deverá ser publicado edital no órgão oficial tem direta correlação com os efeitos da coisa julgada, porque em caso de procedência haverá um condenação genérica para beneficiar todas as vítimas ou seus sucessores (art. 103, III do CDC), a eficácia do julgado se faz secundum eventum litis. Quanto aos requisitos desta citação-edital devem ser aplicados, desde que compatíveis com o CDC, as regras do artigo 232 do Código de Processo Civil49; como corretamente aponta Camargo Mancuso serão aplicáveis as normas relativas a afixação de edital na sede do juízo, e os prazos - Incisos II, III e IV do art. 232 do CPC, todavia não serão aplicáveis os dispositivos relativos à advertência quanto à revelia (a eficácia do julgado é secundum eventum litis) - Inciso V do art. 232 ou à parte beneficiária da Assistência Judiciária (§ 2º do art. 232)50. Esta comunicação por edital não impede a ampla divulgação por outros meios por parte dos órgãos de defesa do consumidor, apenas esta divulgação suplementar não é exigida pelo artigo 94 do CDC. Esta admissão dos interessados de intervirem no processo, segundo o art. 94, se dará na forma de litisconsórcio. Ada Pellegrini Grinover ressalva que esta intervenção “a título de litisconsórcio, não autoriza os litisconsortes a formularem pretensão indenizatória pessoal, pois isso desvirtuaria o objeto do processo coletivo e a natureza da sentença” 51. De todo procedente a ressalva da processualista, uma vez que o processo de conhecimento nesta ação coletiva possui contornos peculiaríssimos, inclusive a sentença (e portanto o pedido deduzido pelo legitimado extraordinário), se procedente, será condenatória genérica (art. 95 do CDC), o que por si só já impede maiores questões sobre a impossibilidade do interessado deduzir pretensão indenizatória pessoal. Esta intervenção como litisconsorte gera para este interessado a consequência de que será atingido pelos efeitos da coisa julgada, favorável ou não, não podendo posteriormente ajuizar ação a título individual52. Um ponto a doutrina não trata: que o interessado não poderá atuar no processo formulando pretensão indenizatória pessoal não há dúvidas, mas e no tocante a aferição da legitimidade deste, em tese, interessado? Com certeza o problema surgirá, pois só intervirá no processo como litisconsorte se tiver interesse em que a sentença seja procedente, logo, só se poderá admitir sua integração ao pólo ativo se demonstrar este interesse, em outras palavras, se demonstrar que a sentença condenatória genérica lhe será útil. Esta exigência de comunicação aos interessados (art. 94 do CDC) foi adaptada para o ordenamento jurídico brasileiro tomando por base o sistema da class action norte-americana que tem por regra a exigência de que todos os membros da class recebam uma fair notice do processo, pois a coisa julgada valerá para todos eles53. No entanto, no sistema norte-americano esta notícia deriva de uma consequência diversa da que ocorre no Brasil, porque na class action o membro da class que não desejar ser atingido pelos efeitos da sentença deve requerer expressamente (right to opt out); a regra é que todos os membros sejam atingidos, qualquer que seja a decisão, daí a necessidade de ciência aos interessados. No procedimento do CDC, o interessado que desejar integrar o pólo ativo da demanda deve provar o seu interesse (do que, para o caso, decorrerá a sua legitimidade), porque não se pode admitir que qualquer um que alegue ter interesse seja admitido como litisconsorte. Mas, sem dúvida, esta necessidade de comprovação combinada com os direitos inafastáveis do integrante do pólo passivo ao contraditório e a ampla defesa podem gerar um verdadeiro caos no processo, inviabilizando o seu andamento. Melhor seria o legislador ter impedido a atuação dos interessados do que não decorria nenhuma inconstitucionalidade porque não só poderiam ajuizar ações individuais, como também a coisa julgada será secundum eventum litis e in utilibus 54. 10. SENTENÇA 10.1. Abrangência e Efeitos Preconiza o artigo 95: “Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. A pretensão que deve ser externada pelo legitimado extraordinário que propõe a ação coletiva para a defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos só pode ser almejando uma condenação genérica, porque o artigo 95 do CDC estabelece que em caso de procedência a sentença será condenatória genérica, é porque o pedido formulado por um dos legitimados do artigo 82 será genérico, consequentemente a causa de pedir também deverá ser genérica, embora evidentemente respaldada em elementos que permitam o reconhecimento judicial de sua procedência; esclarece Ada Pellegrini Grinover que os danos deverão ser apurados, todavia por amostragem e perícia 55. Como se infere, não haverá um processo cognitivo que apure individualmente todos os danos, o que ocorrerá é inicialmente uma apuração genérica na qual a defesa processual dos direitos individuais homogêneos é feita de forma indivisível, ocasionando um sentença condenatória genérica que reconhece a existência de um dano geral56; posteriormente haverá a habilitação dos consumidores ou seus sucessores57, momento no qual deverão ser provados a existência do dano individual, o nexo de causalidade com o dano genérico apontado na sentença e o montante deste dano. Nesta fase processual, prevista no artigo 97 do CDC, não mais se cuidará de um direito individual homogêneo, mas sim de um direito individual que será apurado não em um mero processo de liquidação nos moldes tradicionais, mas sim em um autêntico processo cognitivo (de habilitação). Há estreita correlação entre o pedido e a sentença (artigo 440 do CPC), no Código de Defesa do Consumidor ao invés de se determinar que o pedido seria necessariamente de uma condenação genérica, o que em caso de procedência conduziria a uma sentença condenatória genérica (conforme artigo 460 do CPC), preferiu-se trazer as mesmas consequências só que de forma invertida, isto é, determinou-se que em caso de procedência, a sentença será condenatória genérica, logo no pedido só poderá se almejar esta condenação genérica. Chiovenda aponta que “entre la demanda y la sentencia que la estima, existe una relación de correspondencia, la cual da lugar a una serie de fenómenos que se llaman comúnmente efectos sustantivos de la demanda judicial, o, con más exatitud, efectos del proceso.” 58. O que se pretende demonstrar é que o processo de conhecimento deverá ser julgado sobre este prisma, até mesmo porque a sentença condenatória genérica só será útil àqueles que demonstrarem terem sofrido individualmente o dano, neste momento sim em processo cognitivo exauriente. O dano efetivamente auferido não será comprovado na execução, mas sim em processo imediatamente precedente que nada mais é do que a dilação probatória exauriente, para que cada consumidor venha a demonstrar a ocorrência de seu prejuízo. Não podemos deixar de verificar um relevante equívoco terminológico que a jurisprudência vêm incidindo, em acórdão da sexta câmara cível do Tribunal de Justiça de São Paulo59 afirmou-se, embasando o indeferimento do pedido de condenação, que o “dano hipotético não pode justificar indenização”, quando tratamos, no processo de conhecimento, de direitos individuais homogêneos, o que se apura é o dano ocasionado no plano genérico (coletivo) e não sobre “dano hipotético”. Se o dano ocasionado no plano genérico (coletivo) não for comprovado, evidentemente não caberá a procedência do pedido de indenização; não bastará a alegação, o legitimado que ajuíza a ação coletiva deve, no mínimo, realizar prova dos prejuízos por amostragem. O que é importante é se afastar as regras insertas no Código de Processo Civil que não se coadunam com o microssistema do CDC60. Cândido Rangel Dinamarco reconhece que a sentença condenatória genérica prevista no artigo 95 do CDC declara que houve lesão a direitos individuais homogêneos, mas, como toda sentença coletiva, não individualizará os sujeitos lesados61. A sentença condenatória genérica, sob o prisma individual, tem uma certeza condicionada ao processo de liquidação que será cognitivo exauriente, uma vez que é neste que o consumidor ou seus sucessores demonstrarão se inserirem, a título individual, como lesados na forma da sentença. Portanto, a título individual, a certeza será definitivamente demons- trada na liquidação e a liquidez e a exigibilidade se formarão no processo de liquidação. A sentença que condena genericamente o pólo passivo “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC) não significa, como apontado anteriormente, que todos os consumidores fariam jus a indenização, já que só aqueles que lograssem êxito na comprovação do dano, do nexo causal entre o ato do réu e a ocorrência deste dano, e, também, seu montante é que poderiam obter uma sentença condenatória (digamos, específica), e a partir desta promover a execução. Isto tudo sem se falar nas excludentes de responsabilidades, desde que admissíveis, que poderiam ser suscitadas pelo réu. A sentença condenatória genérica prevista no artigo 95 está condicionada a um procedimento individual no qual sejam cabalmente comprovados todos os requisitos acima tratados, sem o que, sequer pode se argumentar, em última análise e sob a ótica do dano individual, que estaria a sentença dotada de certeza, liquidez e exigibilidade. Cândido Rangel Dinamarco reconhece que a sentença condenatória genérica prevista no artigo 95 do CDC declara que houve lesão a direitos individuais homogêneos, mas, como toda sentença coletiva, não individualizará os sujeitos lesados. Finaliza o doutrinador: “No tocante a cada um destes (consumidores), portanto, ela (sentença) não contém mais do que a declaração de mera potencialidade lesiva (...) Ao conteúdo mais restrito dessa sentença corresponde o objeto ampliado da liquidação que se lhe segue.”62. 10.2. Publicidade A publicidade da sentença condenatória genérica é imprescindível para viabilizarem-se as liquidações-habilitações que serão promovidas pelas vítimas ou seus sucessores (art. 97 do CDC). O artigo 96 do CDC que tratava justamente da publicidade da sentença transitada em julgado, foi vetado sob a justificativa de que fazia referência errônea ao artigo 93, quando o correto seria o 9463. Melhor tivesse mantido o equívoco. Esta lacuna da lei não pode evidentemente impedir a publicidade da sentença, o que além de se inviabilizar o procedimento, estar-se-ia ofendendo o princípio da publicidade dos atos processuais estampado no art. 5º, inciso LX e no art. 94, Inciso IX da Constituição Federal. A questão da publicidade da sentença condenatória genérica transitada em julgado é imprescindível na análise do dies a quo do prazo de um ano para o recolhimento da fluid recovery a que menciona o artigo 100 do CDC. Por este motivo vamos abordar com mais profundidade a questão da publicidade da sentença no item 11.4. 11. HABILITAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA Em regra, o processo de liquidação previsto no Código de Processo Civil, o an debeatur deve ser comprovado no processo de conhecimento e em processo de liquidação só se discute sobre o quantum debeatur. Não se pode interpretar a literalidade do disposto no artigo 97 do CDC que traz a denominação “liquidação”, sem proceder-se a uma interpretação sistemática. O disposto neste artigo deve ser interpretado em combinação com a integralidade do Capítulo II do Título III do CDC, do que se conclui que a liquidação tratada será mais abrangente que a liquidação por artigos tradicionalmente conhecida64, porque “cada liquidante em processo de liquidação, deverá provar, em contraditório pleno e com cognição exauriente, a existência do seu dano pessoal e o nexo etiológico com o dano globalmente causado (ou seja, o “an”), além de quantificá-la (ou seja, o “quantum”).”65. O artigo 97 admite que a liquidação e execução da sentença sejam promovidas pelos legitimados do art. 82. Mesmo nesta hipótese a liquidação e execução se dará de forma individualizada, sendo que os entes e pessoas enumeradas no art. 92 irão agir em nome das vítimas ou seus sucessores, sendo esta atuação a título de representação e não mais legitimação extraordinária 66. Mas após a publicação do edital existe um prazo preclusivo para esta habilitação? O CDC é omisso quanto a este prazo. Em razão disto, ao que parece, a solução apontada por Ada Pellegrini Grinover de que o prazo preclusivo não pode ser inferior ao prazo previsto para prescrição da pretensão, é a única capaz de responder ao questionamento supra. Mas esta solução gera sérias consequências no que se refere a fluid recovery como adiante trataremos. Em razão do veto ao parágrafo único do artigo 97 do CDC, não há previsão do foro competente para os processos de liquidação e execução. Para Ada Pellegrini Grinover deve ser aplicado subsidiariamente o art. 101, I do CDC que reza: “a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor.” 67. Admitindo-se a propositura da liquidação no domicílio do consumidor. Bem embasado, Camargo Mancuso aponta que a competência para o processo de liquidação é absoluta e não admite a dissociação entre o processo de conhecimento coletivo e a liquidação individual. Embora reconheça o processualista que a matéria é suscetível de controvérsia 68. Não se pode olvidar de que após o ajuizamento do processo de liquidação (habilitação), no qual haverá processo cognitivo exauriente, deverá haver a citação pessoal do demandado, uma vez que pela especificidade do processo formar-se-á uma nova relação processual, o que para sua existência é imprescindível a citação (artigo 214 c/c artigo 215 do Código de Processo Civil). 12. EXECUÇÃO Nesta fase já foi ultrapassada a habilitação e liquidação individual; sendo que é possível cada credor executar seu crédito ou poderá ser promovida a execução coletiva. 12.1. Execução coletiva e competência A qualificação coletiva deve ser adequadamente compreendida; coletiva no sentido de que os legitimados do artigo 82 poderão executar os títulos executivos judiciais conjuntamente, todavia serão individualizados69 e os credores serão os consumidores ou seus sucessores, não deve ser confundida a execução coletiva do artigo 98 com a fluid recovery do artigo 100, ambos do CDC. No caso de execução coletiva o foro competente é o da ação condenatória, conforme expressamente determina o Inciso II do § 2º do artigo 98 do CDC, devendo ser ação condenatória entendida como sinônimo do processo de conhecimento coletivo. A competência aqui não gera maiores dúvidas. A execução coletiva poderá ser provisória, isto é, sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado das sentenças dos processos de liquidação. Esta interpretação decorre da interpretação do § 1º do artigo 98 que determina que a execução coletiva será feita “com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado”70. Se a execução deverá ser instruída com certidão que declare a ocorrência ou não do trânsito em julgado é porque será possível a execução provisória na execução coletiva. Camargo Mancuso ressalva que se o executado é o Poder Público, a sentença não poderá ser executa- da, antes de ser revista em segundo grau, no denominado reexame necessário71. 12.2. Execução promovida pelos próprios consumidores ou seus sucessores e a competência A competência na execução promovida pelos próprios consumidores ou seus sucessores pode ser ou do juízo em que teve curso a liquidação ou do juízo em que tramitou a ação condenatória (coletiva). Como se vê, a primeira hipótese fica esvaziada em razão do veto ao parágrafo único do artigo 8772, já que segundo Camargo Mancuso há competência funcional por conexão sucessiva entre os foros da ação e da execução (art. 575, II do CPC)73. A não ser que se entenda, como Ada Pellegrini Grinover, que é possível que o processo de liquidação seja ajuizado no domicílio do consumidor. Resta-nos concluir se é possível ou não a execução provisória da sentença no caso desta ser proposta pelo próprio credor, uma vez que para a ação coletiva a lei foi clara. A execução provisória está atrelada à inexistência do efeito suspensivo quando interposta apelação. A regra é que a apelação tem efeito suspensivo, ressalvadas as enumerações constantes dos incisos do art. 520 do Código de Processo Civil (ou de legislação especial). É verdade que o inciso III do artigo 520 do CPC não confere efeito suspensivo à apelação interposta de sentença que julga a liquidação, porém a liquidação a que se refere o CPC é a liquidação que este próprio diploma legal se refere e que não se coaduna, como já demonstramos, à liquidação do artigo 97 do CDC. Esta liquidação é um autêntico processo cognitivo, em que até as partes são diversas do processo coletivo. Da inaplicabilidade do inciso III do artigo 520 do CPC combinada com a omissão do CDC podemos concluir que não poderá haver execução provisória na hipótese de execução promovida pelo próprio credor do título executivo judicial. Prova disto é que o parágrafo único do artigo 99 do CDC determina que a importância recolhida ao Fundo (art. 13 da LACP) ficará sustada enquanto pendentes de decisão em segundo grau as ações de indenização pelos danos individualmente sofridos. 12.3. Concurso de Créditos O art. 99 do CDC com toda clareza declara a preferência dos créditos decorrentes de indenizações individuais frente aos créditos que se destinam ao Fundo a que menciona o art. 13 da Lei 7.347/85. Todavia, esta preferência se dará nos casos em que se verificar cumulativamente que: a) ambas as “indenizações” tiverem como ponto de igualdade “o mesmo evento danoso”, ou seja, se entre as indenizações da Lei 7.347 e as individuais verificar-se a conexão pela causa de pedir 74; b) como se fala “em créditos” obrigatoriamente deverão os credores (ou legitimados para cobrança do crédito), devido a esta qualificação, estarem com seu crédito embasado em um título executivo judicial, que como vimos, só poderá ser executado após o trânsito em julgado da sentença que o constituiu ou após o julgamento da apelação nos casos em que os recursos contra esta decisão não sejam dotados de efeito suspensivo, e só a partir de um destes momentos é que se poderá falar em concurso de créditos. O parágrafo único do art. 99 determina que a importância recolhida ao Fundo (art. 13 da LACP) ficará sustada enquanto pendentes de decisão em segundo grau as ações de indenização pelos danos individualmente sofridos, a exceção a esta regra veremos a seguir. Deste dispositivo podemos concluir que sua aplicação ocorrerá quando verificados concomitantemente os seguintes requisitos: a) já existir um crédito satisfeito na ação que trata do bem indivisível; b) existirem em andamento ações de indenização a danos individuais que ainda não possuam decisões em segundo grau. Estas ações são: ou as denominadas liquidações (habilitações) do art. 97, ou as ações propostas individualmente pelos consumidores ou seus sucessores, nos moldes tradicionais do Código de Processo Civil. Esta análise é decorrente da literalidade do parágrafo único do art. 99 que trata das ações pelos “danos individuais”, portanto, pessoalmente sofridos, individualizados; c) verificar-se a conexão das ações pela identidade da causa petendi; d) constatar-se, de maneira inequívoca, que o patrimônio do devedor é invariavelmente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Todas estas exigências se coadunam com o espírito do CDC de privilegiar o dano individual do consumidor. Cumprindo salientar-se que a mera existência de uma ação coletiva para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos, enquanto processo de conhecimento, não tem incidência o disposto no art. 99, já que este incide nos casos de existência de processo de conhecimento de danos já individualmente considerados. Uma questão de índole eminentemente pragmática: Em um país de dimensões continentais como o Brasil, sem um sistema de centralização de informações do Poder Judiciário, como se constatar a existência de ditas ações individuais quando o dano for de âmbito nacional? Poderia se imaginar, em análise precipitada, que basta a comprova- ção que o patrimônio do devedor é suficiente para responder pela integralidade das dívidas, o que por si só possibilitaria a não incidência do regramento estampado no parágrafo único do art. 99. Mas o problema continua, ou até mais agravado, já que se a mera constatação das ações individuais é praticamente impossível (principalmente se o dano extravasar o âmbito regional), o que se dirá dos valores nelas pleiteados. A única forma de propiciar-se a não incidência do regramento é a prova negativa, ou seja, a não ocorrência de um dos requisitos acima previstos. 12.4. A Fluid Recovery prevista no art. 100 do CDC Segundo o artigo 100 do CDC: “Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único - O produto da indenização reverterá para o Fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.”. Algumas importantes questões surgem da análise do dispositivo. A primeira é no tocante ao início do prazo de 1 (um) ano preconizado no art. 100. Na realidade a interpretação tornou-se complexa porque o art. 96 foi vetado e este estabelecia que transitada em julgado a sentença condenatória genérica seria publicado um edital. Inobstante o veto, inafastável a imprescindível comunicação da decisão condenatória genérica e esta deverá observar uma interpretação sistemática do CDC combinada com atividade de interpretação analógica dos dispositivos do Código de Processo Civil (art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil). Segundo Ada Pellegrini Grinover75 e Camargo Mancuso76 a solução seria a adoção da notícia via edital. Embora ambos os doutrinadores concordem com a forma de publicidade (edital), estes discordam na forma pela qual esta será realizada. a) Para Ada deve-se aplicar por analogia o art. 94 do CDC e o art. 5º, LX e 94, IX ambos da CF77. b) Para Mancuso78 deve se aplicar os artigos 652 e seguintes do CPC (edital em execução) e prazo de 30 dias (ou 60 art. 15 da Lei 4.347/ 85), finda a dilação assinada pelo juiz no prazo (art. 241, III e 184, § 2º do CPC) iniciar-se-ia o prazo do art. 100 de um ano. Ao que nos parece, o correto seria uma conjugação das duas soluções, vejamos: a) No tocante a opção por edital razão assiste a doutrinadora, já que o art. 94 do CDC aclara o que este diploma entende como meio hábil para a comunicação aos consumidores ou seus sucessores, logo, a princípio, aplicável ao caso, o edital, sob o emprego de analogia do art. 94, já que a utilização desta decorre de encontrar-se para o caso de omissão legal um dispositivo do ordenamento jurídico que mais se coaduna com o necessário suprimento da lacuna, sendo que o meio mais adequado de obtê-la, sendo possível, é o emprego da analogia dos dispositivos insertos no próprio diploma em se encontra a omissão79; b) No tocante à questão dos prazos para incidência do dies a quo do art. 100, acreditamos adequada a solução preconizada por Mancuso, que consiste na previsão pelo juiz de um prazo após a publicação do edital (arts. 241, III e 184, § 2º do CPC), findo este iniciar-se-ia o prazo de um ano do art. 100; c) Não conseguimos vislumbrar no presente caso a necessidade do prazo de 30 ou 60 dias proposto por Mancuso entre a sentença e a realização dos editais. Acreditamos, porém, plenamente aplicável, por analogia, as disposições do art. 232 do CPC que rege a citação por edital, evidentemente com as adequações necessárias; d) por último, não podemos olvidar a ressalva de Ada sobre a orientação constitucional inserta nos arts. 5º, LX e 94, IX de que cabe ao juiz dar efetiva aplicação ao princípio da publicidade dos atos processuais. Na class action norte-americana, exige-se, desde que possível (mesmo que difícil), a comunicação direta a todos os membros da class, em casos especiais a comunicação é admitida por correio, e raramente por editais, tudo embasado no princípio do due process of law 80. É claro que a comunicação se deve às especificidades deste sistema, por exemplo, o membro da class se avisado e não pedir seu desligamento (opt out) ele será atingido pelos efeitos da decisão da ação coletiva. Em que pese a especificidade do sistema, conclui-se, no mínimo, necessária uma reflexão sobre a eficiência da comunicação por edital, bem como sua possibilidade de aplicação frente à ausência de regramento específico do CDC e também sobre os princípios constitucionais, principalmente se levarmos em conta que a comunicação por edital é uma “ficção jurídica” e como tal pode eventualmente ser aceita apenas nos casos em que a lei expressamente a autoriza, o que não ocorreria no caso do disposto no art. 100 do CDC81. Outra disposição a ser analisada é qual a compreensão do que vem a ser “sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano”. Sem dúvida, caberá ao magistrado a verificação que poderá decorrer de pedido fundamentado de um dos legitimados do art. 82, sendo que somente após a decisão judicial que reconheça a ocorrência da hipótese preconizada no caput do art. 100 do CDC é que se procederá a liquidação e a execução da “indenização devida”. Sobre este tema Ada, com a maestria que lhe é peculiar, aponta: “Assim o juiz deverá proceder à avaliação e quantificação dos danos causados, e não dos prejuízos sofridos. Avulta aqui, sua “defining function” e seus poderes se tornam mais amplos” 82. José Geraldo Brito Filomeno traz ilustrativo exemplo: Uma fábrica vendia latas que deveriam possuir 1 litro de oléo, mas que só possuiam 900 ml. Não havendo um número de interessados compatível, haverá uma aferição de quantas latas foram produzidas, e portanto desta constatação proceder-se-á a cálculos aritméticos de qual o valor total dos danos causados, deste abater-se-á as indenizações individualmente pagas, e o que remanescer será revertido ao Fundo83. Waldemar Mariz de Oliveira Júnior84 cita exemplo de uma class action sobre um posto de gasolina que praticava um preço superior ao de tabela. Um dos lesados intentou uma ação contra o posto, ao final julgada procedente, mas houve uma condenação totalmente inusitada, o posto foi compelido a fornecer gasolina gratuitamente, até atingir a exata quantia que vendera acima da tabela. Neste caso, acreditamos que é inaplicável o exemplo retro ao sistema brasileiro, já que por se tratar de reconhecida hipótese de pretensão que exterioriza a proteção a interesses ou direitos individuais homogêneos o CDC é taxativo em determinar que na inexistência da habilitação dos interessados “em número compatível com a gravidade do dano” a fluid recovery “reverterá” (norma cogente) ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Portanto, a determinação é obrigatória, não admitindo qualquer grau de discricionariedade. 13. ÚLTIMAS REFLEXÕES O tratamento legislativo dos direitos ou interesses individuais homogêneos sem sombra de dúvida foi uma das maiores inovações do nosso ordenamento jurídico. Trata-se de instituto ainda pouco difundido entre os profissionais do Direito, que dirá entre toda a população. Se a exata compreensão dos direitos difusos e coletivos apresenta-se ainda distante do ideal, o que apressadamente se almejar em relação a um instituto que foi criado pelo binômio coletivo-individual? Mas o fenômeno mais importante foi sua criação, rompendo-se sérias barreiras à sua positivação. Os percalços que surgiram e que ainda certamente surgirão para aplicação dos postulados relacionados aos direitos individuais homogêneos não poderão ser vistos como empecilho a sua efetiva aplicação, mas sim como o caminho para sua adequada compreensão, que só seu tratamento diuturno será capaz de propiciar. Ao se propalar a coragem na aplicação do novo, não devemos nos cegar, como orienta o eminente jurista Mauro Cappelletti: “Ao saudar o surgimento de novas e ousadas reformas, não podemos ignorar seus riscos e limitações... É preciso que se reconheça, que as reformas judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as reformas políticas e sociais.” 85. Todavia, apesar de dever ser observada a ressalva de Cappelletti, os aplicadores do Direito não podem se acomodar em aplicações preconcebidas que não guardam correlação com este vanguardista instituto; não podem, pois, se utilizar de preceitos seculares construídos com base na inspiração individualista radical86. O novo em um primeiro momento gera temor, dúvidas em sua aplicação, mas estes devem ser extirpados do espírito do aplicador do Direito e em seu lugar deve-se inserir a paixão pelo novo, assimilado-se todo o entusiasmo que pode originar a vontade de se romper barreiras. BIBLIOGRAFIA ALMEIDA, Carlos Ferreira de; Os Direitos dos Consumidores; Livraria Almedina; Coimbra; 1982. ALMEIDA, João Batista de; A Proteção Jurídica do Consumidor; 1ª edição; Editora Saraiva; São Paulo; 1993. ANDRADE, Luiz Antônio de; “Interesses Difusos ou Coletivos - Ação Civil Pública - Lei 7.347/85 - Proteção aos Consumidores”; in RT 648, pp. 08 e ss.; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1989. ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; Teoria Geral do Processo; et. alli; 10ª edição; Malheiros Editores; São Paulo; 1994. ARMELIN, Donaldo; Legitimidade para Agir no Direito Processual Civil Brasileiro; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1979. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manuel de; “Anotações sobre as Perplexidades e os Caminhos do Processo Civil Contemporâneo Sua Evolução ao Lado do Direito Material”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 2; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo. —————————— Manual de Direito Processual Civil; Vol. II; 3ª edição; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1986. —————————— Tratado de Direito Processual Civil; Vol. 1; Editora Revista dos Tribunais; 2ª edição; São Paulo; 1990. BARBI, Celso Agrícola; Comentários ao Código de Processo Civil; Vol. I; 8ª edição; Editora Forense; Rio de Janeiro; 1993. BARBOSA MOREIRA, José Carlos; “A Proteção Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos”, in A Tutela dos Interesses Difusos; et. alli; 1ª edição; Editora Max Limonad; São Paulo; 1984. BOJART, Luiz Eduardo Guimarães, “Ação Civil Pública: Limitação ou Controle Constitucional? Limitação.”, in CD-ROM – Revista Jurídica – Consulex 97 (jan/dez), Brasília, 1997. BOURGOIGNIE, Thierry; “O Conceito Jurídico de Consumidor”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 2; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo. BULGARELLI, Waldírio; “A Tutela do consumidor na Jurisprudência Brasileira e “de lege ferenda”; in A Tutela dos Interesses Difusos; et. alli; 1ª edição; Editora Max Limonad; São Paulo; 1984. CAPPELLETTI, Mauro; e Bryant Garth; Acesso à Justiça; tradução e revisão de Ellen Gracie Northfleet; Sérgio Antonio Fabris Editor; Porto Alegre; 1988; original de 1978. CHIOVENDA, Giuseppe; Instituciones de Derecho Procesal Civil; Vol. I; Tradução do italiano e notas de Direito Espanhol por E. Gomez Orbaneja; Editorial Revista de Derecho Privado; Madrid; 1954. COUTURE, Eduardo J.; Interpretação das Leis Processuais - Tradução para o português de Gilda Maciel Corrêa Meyer Russomano; 2ª edição; Editora Forense; Rio de Janeiro; 1993. DINAMARCO, Cândido Rangel; Execução Civil; 3ª edição; Malheiros Editores; São Paulo; 1993. — — — — — — — — — — Teoria Geral do Processo; et. alli; 10ª edição; Malheiros Editores; São Paulo; 1994. DONATO, Maria Antonieta Zanardo; Proteção ao Consumidor; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1993. FERREIRA, William Santos; “Prescrição e Decadência no Código de Defesa do Consumidor”, in Revista de Direito do Consumidor nº 10, pp. 77/96, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994. —————————— “Surfista Ferroviário - Indenização” - Jurisprudência Comentada, in Revista de Direito do Consumidor nº 10, 229/243, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994. —————————— “Arrendamento Mercantil - “Leasing” - Art. 53 do CDC” - Jurisprudência Comentada, in Revista de Direito do Consumidor nº 11, pp. 196/207, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994. —————————— “Estacionamento - Roubo de veículo - Força Maior” - Jurisprudência Comentada, in Revista de Direito do Consumidor nº 11, pp. 212/217, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994. —————————— “Ação Civil Pública - Prazo de instalação de telefones - Multa - CDC” - Jurisprudência Comentada, in Revista de Direito do Consumidor nº 16, pp. 129/139, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1995. —————————— “Ação Civil Pública - Contribuinte e consumidor - Distinção - Ilegitimidade ativa “ad causam” - Jurisprudência Comentada, in Revista de Direito do Consumidor nº 16, pp. 160/169, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1995. —————————— “Medidas Cautelares para dar Efeito Suspensivo a Recurso e para Obstar Efeitos da Decisão Rescindenda” - in Revista de Processo nº 77, pp. 149-163, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1995. GARTH, Bryant; e Mauro Cappelletti; Acesso à Justiça; tradução e revisão de Ellen Gracie Northfleet; Sérgio Antonio Fabris Editor; Porto Alegre; 1988; original de 1978. GRINOVER, Ada Pellegrini; Código Brasileiro de Defesa do Consumidor diversos autores; 1ª edição; Editora Forense Universitária; Rio de Janeiro; 1991. —————————— Novas Tendências do Direito Processual de Acordo com a Constituição de 1988; Forense Universitária; 2ª edição; Rio de Janeiro; 1990.———— —————— “Ação Civil Pública e a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 5; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo. —————————— “A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos no Direito Comparado”; in A Tutela dos Interesses Difusos; et. alli; 1ª edição; Editora Max Limonad; São Paulo; 1984. —————————— “A Ação Civil Pública e a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 5; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1993. —————————— Teoria Geral do Processo; et. alli; 10ª edição; Malheiros Editores; São Paulo; 1994. L’HEUREUX, Nicole; “Acesso Eficaz a Justiça”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 5; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo. MANCUSO, Rodolfo de Camargo; Comentários ao Código de Proteção do Consumidor - diversos autores -; Editora Saraiva; São Paulo; 1991. —————————— Interesses Difusos - Conceito e Legitimação para Agir; 2ª edição; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1991. —————————— Ação Civil Pública; 2ª edição; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1992. —————————— “Defesa do Consumidor: Reflexões Acerca da Eventual Concomitância de Ações Coletivas e Individuais”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 2; Revista dos Tribunais; São Paulo; 1992. MAZZILLI, Hugo Nigro; A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo; 3ª edição; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1991. MAXIMILIANO, Carlos; Hermenêutica e Aplicação do Direito; 12ª edição; Editora Forense; Rio de Janeiro; 1992. NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do; Comentários ao Código do Consumidor; 2ª edição; Editora AIDE; Rio de Janeiro; 1991. NERY JUNIOR., Nelson; “Aspectos do Processo Civil no Código de Defesa do Consumidor”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 1; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo. —————————— “Os Princípios Gerais do Código de Defesa do Consumidor”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 3; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1992. —————————— Princípios do Processo Civil na Constituição Federal; 1ª edição; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1992. OLIVEIRA, Francisco Antonio; “Da Ação Civil Pública: Instrumento de Cidadania – Inconstitucionalidade da Lei 9.494, de 10.09.1997.”, in RT 744, Editora Revista dos Tribunais, pp. 31 e seguintes, São Paulo, 1997. OLIVEIRA JUNIOR, Waldemar Mariz de; “Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos”; in A Tutela dos Interesses Difusos; et. alli; 1ª edição; Editora Max Limonad; São Paulo; 1984. OTHON SIDOU, J.M.; Proteção ao Consumidor; Editora Forense; 1ª edição; Rio de Janeiro; 1977. STIGLITZ, Gabriel A.; Protección Jurídica Del Consumidor; 2ª edição; Ed. Depalma; Buenos Aires; 1990. STUCCHI, Gisele Beltrame; “Transação Relativa Aos Direitos Decorrentes do Código de Defesa do Consumidor”; in Revista de Direito do Consumidor; Vol. 6; Editora Revista dos Tribunais; São Paulo; 1993. TUCCI, José Rogério Cruz e; “Class Action” e Mandado de Segurança Coletivo; Editora Saraiva; São Paulo; 1990. VIGLIAR, José Marcelo Menezes; “A Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, e a nova disciplina da coisa julgada nas ações coletivas: inconstitucionalidade.”, in RT 745, Editora Revista dos Tribunais, pp. 67 e seguintes, São Paulo, 1997. VIGORITI, Vincenzo; Interessi Collettivi e Processo - la legitimazione ad agire; Milano; Giuffrè; 1979. WATANABE, Kazuo; “Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos: A Legitimação para Agir”; in A Tutela dos Interesses Difusos; et. alli; 1ª edição; Editora Max Limonad; São Paulo; 1984. Ada Pellegrini Grinover, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado, pp. 542/543. 2 Dicionário Aurélio Eletrônico. 3 Esta fundamentação etimológica também é realizada por Maria Antonieta Zanardo Donato, Proteção ao Consumidor, pp. 180/181. 4 Arruda Alvim “Anotações Sobre as perplexidades e os caminhos do pro1 cesso civil contemporâneo - sua evolução ao lado do direito material”, in Revista de Direito do Consumidor nº 2, pp. 78/79. 5 Arruda Alvim, op. cit., pp. 79/83. 6 Op. cit., p. 85. 7 “Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos”, in Tutela dos Interesses Difusos, p. 10. 8 Idem, Ibidem, p. 11. 9 Interessi Collettivi e Processo - la legitimazione ad agire, p. 276. 10 “Aspectos do processo civil no Código de Defesa do Consumidor”, in Revista de Direito do Consumidor nº 1, p. 202. 11 “Interesses Difusos ou Coletivos - Ação Civil Pública - Lei 7.347/ 85 - Proteção a Consumidores”, in RT 648/11. 12 Op. cit., p. 12. 13 A denominação é apenas ilustrativa já que o sistema brasileiro é muito diferente do sistema norte-americano. 14 Op. cit., pp. 538/543. 15 Vigoriti, “Interessi collettivi e processo”, apud Ada Pellegrini Grinover, “A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos no Direito Comparado”, in A Tutela dos Interesses Difusos, p. 80. 16 Op. cit., pp. 540. 17 Ada Pellegrini Grinover, “A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos no Direito Comparado”, in A Tutela dos Interesses Difusos, p. 82. 18 Mas não se pode olvidar que tais pretensões desde que tratem de direitos difusos e coletivos (“stricto sensu”) poderão ser deduzidas em juízo pelos legitimados do art. 82. Aproveitamos também para ressaltar que embora nossa posição atual é a veiculada na conclusão acima, continuamos estudando o assunto especialmente em face do disposto no art. 83 do CDC. 19 Cód. Bras. de Defesa do Consumidor Comentado, p. 552. 20 Idem, Ibidem, p. 543. Todavia, Ada Pellegrini Grinover não afirma categoricamente que a única pretensão dedutível em juízo nas ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos poderá ser a de condenação pecuniária. 21 A Defesa dos interesses Difusos em Juízo, apud Rodolfo de Camargo Mancuso; Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, p. 288. 22 Comentários ao Código de Processo Civil; Vol I; pp. 64/65. 23 Legitimação para Agir no Direito Processual Civil Brasileiro, pp. 132/ 133. Apud, Donaldo Armelin, Legitimidade para Agir no Direito Processual Civil Brasileiro, p. 133. 25 Para um estudo pormenorizado, Donaldo Armelin, op. cit., p. 123 e seguintes. 26 Rodolfo de Camargo Mancuso, op. cit., p. 318. 27 Arruda Alvim, Tratado de Direito Processual Civil, Vol. 1, p. 516. 28 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, p. 557. 29 Arruda Alvim ao tratar do legitimado extraordinário (sob a denominação de substituto processual) reconhece que o rol de direitos processuais fica afeto ao substituto processual, todavia, certos direitos “são insuscetíveis de transferência ... assim, os atos que impliquem disposição de direito, ou que a possam acarretar como a transação, exemplificativamente, não poderão ser praticados pelo substituto, sem a manifestação da vontade do substituído...”. Tratado de Direito Processual Civil, Vol. 1, p. 518. 30 Comunga desta conclusão Hugo Nigro Mazzilli, embora aclare que na prática não é o que se tem constatado. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, pp. 156/160. 31 “A Ação Civil Pública e a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos”, in Revista de Direito do Consumidor nº 5, p. 216. 32 “Ações Coletivas para a Tutela do Ambiente e dos Consumidores”, in COAD - 1986 - p. 9, apud Rodolfo de Camargo Mancuso, Coment..., p. 323. 33 Hugo Nigro Mazzilli entende que não é atribuição constitucional do Ministério Público (arts. 127, caput e 129, III) a defesa dos interesses individuais homogêneos, mas sim apenas e tão somente os direitos coletivos e difusos. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, pp. 70/72. De opinião contrária, Nelson Nery Jr. sustenta a legitimidade constitucional do Ministério Público para defeder direitos individuais homogêneos, embasando-se nos arts. 127, caput e 129, IX conbinados com o art. 1º do CDC. “Aspectos do Processo Civil no Código de Defesa do Consumidor”, in Revista de Direito do Consumidor nº 1, pp. 202/203. Admitindo a tese exposta por Nelson Nery Jr., inclusive tratando do questionamento de taxa de iluminação acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 49.272-RS, 1a Turma, Relator: Ministro Democrito Reinaldo, v.u.: e m e n t a Processual civil. ação civil publica para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos. taxa de iluminação publica. Possibilidade. A Lei n. 7.345, de 1985, e de natureza essencialmente processual, limitan24 do-se a disciplinar o procedimento da ação coletiva e não se entremostra incompatível com qualquer norma inserida no titulo iii do código de defesa do consumidor (Lei n. 8.078/90). É principio de hermenêutica que, quando uma lei faz remissão a dispositivos de outra lei de mesma hierarquia, estes se incluem na compreensão daquela, passando a constituir parte integrante do seu contexto. O artigo 21 da Lei n. 7.345, de 1985 (inserido pelo artigo 117 da Lei n. 8.078/90) estendeu, de forma expressa, o alcance da ação civil publica a defesa dos interesses e “direitos individuais homogêneos”, legitimando o ministério publico, extraordinariamente e como substituto processual, para exercita-la (artigo 81, parágrafo único, iii, da Lei 8.078/90). Os interesses individuais, “in casu”, (suspensão do indevido pagamento de taxa de iluminação publica), embora pertinentes a pessoas naturais, se visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcendem a esfera de interesses puramente individuais e passam a constituir interesses da coletividade como um todo,impondo-se a proteção por via de um instrumento processual único e de eficácia imediata - “a ação coletiva”. O incabimento da ação direta de declaração de inconstitucionalidade, eis que, as leis municipais nos. 25/ 77 e 272/85 são anteriores a constituição do estado, justifica, também, o uso da ação civil publica, para evitar as inumeráveis demandas judiciais (economia processual) e evitar decisões incongruentes sobre idênticas questões jurídicas. recurso conhecido e provido para afastar a inadequação, no caso, da ação civil publica e determinar a baixa dos autos ao tribunal de origem para o julgamento do mérito da causa. decisão unânime. “ (In JUIS – Jurisprudência Informatizada Saraiva, Saraiva Data, CD-ROM nº 13) 34 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado, p. 547. 35 Rodolfo de Camargo Mancuso, Comentário..., pp. 317/318. 36 Interpretação das Leis Processuais, p. 29. 37 Para uma análise mais profícua: Francisco Antonio de Oliveira, “Da Ação Civil Pública: Instrumento de Cidadania – Inconstitucionalidade da Lei 9.494, de 10.09.1997.”, in RT 744, pp. 31 e seguintes; José Marcelo Menezes Vigliar, “A Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, e a nova disciplina da coisa julgada nas ações coletivas: inconstitucionalidade.”, in RT 745, pp. 67 e seguintes; Luiz Eduardo Guimarães Bojart, “Ação Civil Pública: Limitação ou Controle Constitucional? Limitação”, in CD-ROM – Revista Jurídica Consulex 97 – jan/dez. 38 Alguns argumentos completamentares serão lançados no capítulo seguinte. Rodolfo de Camargo Mancuso, Comentários ..., p. 319. Arruda Alvim, Manual de Direito Processual Civil, Vol. I, p. 128. 41 Ada, Araújo Cintra e Dinamarco, Teoria Geral do Processo, p. 226. 42 Cód. Bras. de Defesa do Consumidor Comentado, p. 548. 43 Coment..., pp. 246/247. 44 Ada Pellegrini Grinover, Cód. Bras. de Def. do Cons. Coment., pp. 548/549. 45 Tupinambá Miguel Castro do Nascimento tem o mesmo posicionamento, todavia não empregando os fundamentos constitucionais expostos. Comentários ao Código do Consumidor, pp. 108/109. 46 Ada, op. cit., p. 550. Rodolfo de Camargo Mancuso após uma profunda análise dos institutos da jurisdição e competência, conclui , pelo que entendemos, que no caso dos incisos I e II esta competência é de natureza absoluta (Coment..., pp. 319/322), todavia ousamos divergir do doutrinador, com base nos argumentos anteriormente expostos. Um argumento muito utilizado é o de que no art. 2º da lei 7347/85, inobstante o critério de competência ser o do local do dano, estabeleceu expressamente que a competência é funcional. Primeiramente, o CDC não repetiu a expressão competência funcional da LACP, e em segundo lugar o fato local do dano é expressão inequívoca de competência territorial, como salienta Celso Agrícola Barbi “as causas são, então, atribuídas aos juízes, não pela sua natureza, mas pela circunstância de coincidir algum elemento dela com a circunscrição territorial em que o juiz tem competência.” (Coment..., p. 254). 47 Equívoco agravado pela nova redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, já tratado no capítulo anterior. 48 Ada, Araújo Cintra e Dinamarco, Teoria Geral do Processo, p. 226. 49 Ada Pellegrini Grinover, Cód. Bras. de Def. do Cons. Coment., p. 551. 50 Coment..., p. 326. 51 Cód. Bras. de Def. do Cons. Coment., p. 552. 52 Idem, ibidem, p. 552. 53 José Rogério Cruz e Tucci, “Class Action” e Mandado de Segurança Coletivo. 54 Rodolfo de Camargo Mancuso, Coment..., p. 323. 55 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, p. 553. 56 Ada Pellegrini Grinover, “Ação Civil Pública e a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos”, in Direito do Consumidor, Vol. 5, p. 216. 57 Ou a hipótese prevista no artigo 100 do CDC; para um estudo 39 40 sobre a “fluid recovy” prevista no artigo citado - Ada Pellegrini Grinover, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, pp. 562/565 e Rodolfo de Carmargo Mancuso, Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, pp. 345/349. 58 Instituciones de Derecho Procesal Civil, Vol. I, p. 185. 59 Apelação Cível nº 138.862/1, in Repertório IOB de Jurisprudência nº 13/91, pp. 273/276. 60 Salienta Nelson Nery Jr. que o CDC é um microssistema próprio que não pode ser contaminado por princípios fundamentais de outros ordenamentos jurídicos - op. cit., p. 211. 61 Execução Civil, p. 553. 62. Op.cit., pp. 553/554. 63 Ada Pellegrini Grinover, Cód. Bras. de Def. do Cons. Coment., p. 554. 64 O que levou Cândido Rangel Dinamarco a reconhecê-la como “especialíssimo processo de liquidação por artigos”, mais amplo que a autêntica e tradicional liquidação do Código de Processo Civil. - Execução Civil, p. 553. 65 Ada Pellegrini Grinover, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, p. 556. 66 Ada Pellegrini Grinover, Cód. Bras. de Def. do Cons. Coment., p. 557. Contrariamente, Camargo Mancuso entende que é caso de legitimação extraordinária, op. cit., pp. 336/337. 67 Idem, ibidem, p. 559. 68 Coment..., p. 334/3355. 69 Ada Pellegrini Grinover, Op. cit., p. 560. 70 Negrito nosso. 71 Coment..., p. 339. 72 Conforme já tratamos anteriormente. 73 Coment..., p. 339. 74 Rodolfo de Camargo Mancuso, Coment..., p. 344. 75 Cód. Bra. de Def. do Cons. Coment., pp. 562/565. 76 Coment..., pp. 345/346. 77 Op. cit., pp. 563/564 78 Coment..., pp. 345/346. 79 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, pp. 209/ 211. 80 José Rogério Cruz e Tucci, “Class Actio” e Mandado de Segurança Coletivo, pp. 23/26. Nos Estados Unidos esta questão ainda é muito debatida: no caso Eisen v. Carlisle & Jacquelin exigiu-se a notificação pessoal dos membros da class; no caso Richland v. Cheatham exigiu-se a notificação pessoal, mas pelo correio e no caso Both v. General Dynamics Corp. no qual o demandante demonstrou a desproporcional despesa que seria necessária para a notificação de todos os contribuintes, admitiu-se a feitura por edital, por entender a Corte que a notificação pessoal se constituiria em mais do que “razoável esforço”. Apud José Rogério Cruz e Tucci, op. cit., p. 25. 82 Cód. Bras. de Def. do Cons. Coment., p. 565. 83 Apud Rodolfo de Camargo Mancuso, Coment..., p. 349. 84 “Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos”, in A Tutela dos Interesses Difusos, p. 23. 85 Acesso à Justiça, p. 161. 86 Termo utilizado por Arruda Alvim, “Anotações Sobre as Perplexidades e os Caminhos do Processo Civil Contemporâneo - Sua Evolução ao Lado do Direito Material, in Revista de Direito do Consumidor, p. 76. 81 DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL Rômulo de Andrade Moreira - Promotor de Justiça e Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça. Ex-Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais do Ministério Público do Estado da Bahia. Professor de Direito Processual Penal da Universidade Salvador-UNIFACS na graduação e na pós-graduação. Pós-graduado, lato sensu, pela Universidade de Salamanca/Espanha (Direito Processual Penal). Especialista em Processo pela UNIFACS (Curso coordenado pelo Professor Calmon de Passos). Membro da Association Internationale de Droit Penal, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais - ABPCP. Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim e ao Movimento Ministério Público Democrático. I - INTRODUÇÃO O direito ao devido processo legal vem consagrado pela Constituição Federal no art. 5º, LIV e LV, ao estabelecer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e ao garantir a qualquer acusado em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Além destes dois incisos outros há que também compõem o leque de garantias judiciais estabelecidas na Carta Magna, a saber: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, “inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da casa, da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas e da imagem das pessoas”, “não haverá juízo ou tribunal de exceção”, “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, “nenhuma pena passará da pessoa do acusado”, “individualização da pena”, “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”, “inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meio ilícitos”, “não culpabilidade até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, “publicidade dos atos processuais”, “direito ao silêncio”, etc. Todas estas garantias estão estabelecidas taxativamente no texto constitucional, algumas com ressalvas, evidentemente. Assim, do ponto de vista da Constituição Federal, o devido processo legal pressupõe o contraditório (paridade de armas, a defesa se pronunciar sempre depois da acusação, etc), a garantia da ampla defesa (defesa técnica e autodefesa), o duplo grau de jurisdição, a proibição das provas ilícitas, etc., etc., etc. II – O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL Por sua vez, o nosso velho Código de Processo Penal, em que pese estar absolutamente ultrapassado, mesmo porque concebido sob uma ótica não democrática e com sérios resquícios de inquisitoriedade, de toda maneira, ali e acolá, traz algo garantidor, por assim dizer. A propósito, os arts. 233 (“as cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo”), 261 (“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”), 194/262 (“curador ao réu menor”), 310 (“liberdade provisória”), 366 (“impossibilidade de julgamento à revelia de réu citado por edital”), 381 (“motivação das sentenças”, em conformidade com o art. 93, IX da Constituição), etc. Aliás, não se pode mesmo esperar algo melhor do nosso Código de Processo Penal, pois sendo do ano de 1941, e tendo sofrido ao longo desse período poucas alterações, não acompanhou as mudanças sociais ocorridas no País, bem como a nova ordem constitucional vigente. O seu surgimento, em pleno Estado-Novo2 , traduziu de certa forma a ideologia de então, mesmo porque “las leyes son e deben ser la expresión más exacta de las necesidades actuales del pueblo, habida consideración del conjunto de las contingencias históricas, en medio de las cuales fueron promulgadas” (grifo nosso).3 À época tínhamos em cada Estado da Federação um Código de Processo Penal, pois desde a Constituição Republicana a unidade do sistema processual penal brasileiro fora cindida, cabendo a cada Estado da Federação a competência para legislar sobre processo, civil e penal, além da sua organização judiciária. Como notara o mestre Frederico Marques, “o golpe dado na unidade processual não trouxe vantagem alguma para nossas instituições jurídicas; ao contrário, essa fragmentação contribuiu para que se estabelecesse acentuada diversidade de sistemas, o que, sem dúvida alguma, prejudicou a aplicação da lei penal.”4 Até que em 03 de outubro de 1941 promulgou-se o Decreto-Lei nº. 3.689, que entraria em vigor a partir de 1º. de janeiro do ano seguinte; para resolver principalmente questões de natureza de direito intertemporal, promulgou-se, também, o Decreto-Lei nº. 3.931/41, a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Este Código, elaborado, portanto, sob a égide e “os influxos autoritários do Estado Novo”, decididamente não é, como já não era “um estatuto moderno, à altura das reais necessidades de nossa Justiça Criminal”, como dizia Frederico Marques. Segundo o genial mestre paulista, “continuamos presos, na esfera do processo penal, aos arcaicos princípios procedimentalistas do sistema escrito (...) O resultado de trabalho legislativo tão defeituoso e arcaico está na crise tremenda por que atravessa hoje a Justiça Criminal, em todos os Estados Brasileiros. (...) A exemplo do que se fizera na Itália fascista, esqueceram os nossos legisladores do papel relevante das formas procedimentais no processo penal e, sob o pretexto de por cobro a formalismos prejudiciais, estruturou as nulidades sob princípios não condizentes com as garantias necessárias ao acusado, além de o ter feito com um lamentável confusionismo e absoluta falta de técnica.”5 Assim, se o velho Código de Processo Penal teve a vantagem de proporcionar a homogeneidade do processo penal brasileiro, trouxe consigo, até por questões históricas, o ranço de um regime totalitário e contaminado pelo fascismo, ao contrário do que escreveu na exposição de motivos o Dr. Francisco Campos, in verbis: “Se ele (o Código) não transige com as sistemáticas restrições ao poder público, não o inspira, entretanto, o espírito de um incondicional autoritarismo do Estado ou de uma sistemática prevenção contra os direitos e garantias individuais.” É bem verdade que ao longo dos seus 60 anos de existência, algumas mudanças pontuais foram marcantes e alvissareiras como, por exemplo, o fim da prisão preventiva obrigatória com a edição das Leis de nºs. 5.349/67, 8.884/94, 6.416/77 e 5.349/67; a impossibilidade de julgamento do réu revel citado por edital que não constituiu advogado (Lei nº. 9.271/96); a revogação do seu art. 35, segundo o qual a mulher casada não poderia exercer o direito de queixa sem o consentimento do marido, salvo quando estivesse separada dele ou quando a queixa contra ele se dirigisse (Lei nº. 9.520/97); modificações no que concerne à prova pericial (Lei nº. 8.862/94); a possibilidade de apelar sem a necessidade de recolhimento prévio à prisão (Lei nº. 5.941/73); a revogação dos artigos atinentes ao recurso extraordinário (Lei nº. 3.396/58), etc. Por outro lado, leis extravagantes procuraram aperfeiçoar o nosso sistema processual penal, podendo citar as que instituíram os Juizados Especiais Criminais (Leis nºs. 9.099/95 e 10.259/01), e que constituem, indiscutivelmente, o maior avanço já produzido em nosso sistema jurídico processual, desde a edição do Código de 1941. Há, ainda, a que disciplinou a identificação criminal (Lei nº. 10.054/00); a proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas (Lei nº. 9.807/99); a que possibilitou a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais (Lei nº. 9.800/99); a lei de interceptações telefônicas (Lei nº. 9.296/96); a Lei nº 8.038/90, que disciplina os procedimentos nos Tribunais, e tantas outras, algumas das quais, é bem verdade, de duvidosa constitucionalidade. Este é o quadro atual. Além de algumas alterações pontuais, seja no próprio texto consolidado, seja por intermédio de leis esparsas, nada mais foi feito para modernizar o nosso diploma processual penal, mesmo após a nova ordem constitucional consagrada pela promulgação da Carta Política de 1988. E, assim, o atual código continua com os vícios de 60 anos atrás, maculando em muitos dos seus dispositivos o sistema acusatório, o devido processo legal, não tutelando satisfatoriamente direitos e garantias fundamentais do acusado (vide o seu art. 594, a título de exemplo), olvidando-se da vítima, refém de um excessivo formalismo (que chega a lembrar o velho procedimentalismo), assistemático e confuso em alguns dos seus títulos e capítulos (bastando citar a disciplina das nulidades6 ). Atento a esta realidade, o então Ministro da Justiça, Dr. José Carlos Dias, ao assumir o Ministério, editou o Aviso nº. 1.151/99, convidando o Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, do qual somos membros, a apresentar uma proposta de reforma do nosso Código de Processo Penal. Este mesmo Ministro, agora por via da Portaria nº. 61/00 constituiu uma Comissão para o trabalho de reforma, tendo como membros os juristas Ada Pellegrini Grinover (Presidente), Petrônio Calmon Filho (Secretário), Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo Carneiro Leão, René Ariel Dotti (que mais tarde saiu, sendo substituído por Rui Stoco), Rogério Lauria Tucci e Sidnei Beneti. Com a inesperada e lamentável saída do Ministro Dias o novo titular da Pasta, Dr. José Gregori, pela Portaria nº. 371/00 confirmou a Comissão anteriormente formada, com a substituição já referida. Ao final dos trabalhos, a Comissão de juristas entregou ao Ministério da Justiça, no dia 06 de dezembro de 2000, sete anteprojetos (todos acompanhados de uma exposição de motivos) que, por sua vez, originaram os seguintes projetos de lei: 1º.) Projeto de Lei nº. 4.209/01: investigação criminal; 2º.) Projeto de Lei nº. 4.207/01: suspensão do processo/procedimentos; 3º.) Projeto de Lei nº. 4.205/01: provas; 4º.) Projeto de Lei nº. 4.204/01: interrogatório/defesa legítima; 5º.) Projeto de Lei nº. 4.208/01: prisão/medidas cautelares e liberdade; 6º.) Projeto de Lei nº. 4.203/01: júri; 7º.) Projeto de Lei nº. 4.206/01: recursos e ações de impugnação. Estes projetos originários da referida Comissão (pois já há outros, absolutamente inaceitáveis e retrógrados) têm como finalidades precípuas a modernização do velho código e a sua adaptação ao modelo acusatório, com os seus consectários lógicos, tais como a distinção nítida entre o julgador, o acusador e o acusado, a publicidade, a oralidade, o contraditório, etc. Sobre o sistema acusatório, assim escreveu Vitu: “Ce système procédural se retrouve à l’origine des diverses civilisations méditerranéennes et occidentales: en Grèce, à Rome vers la fin de la Republique, dans le droit germanique, à l’époque franque et dans la procédure féodale. “Ce système, qui ne distingue pás la procédure criminelle de la procédure, se caractérise par des traits qu’on retrouve dans les différents pays qui l’ont consacré. “Dans l’organisation de la justice, la procédure accusatoire suppose une complète égalité entre l’accusation et la défense.”7 Para Afrânio Silva Jardim, “o devido processo legal está vinculado diretamente à depuração do sistema acusatório, mormente quando conjugado com a regra do art. 129, I do novo texto constitucional, bem como com as demais normas que sistematizam e asseguram a independência do Poder Judiciário, em prol de sua imparcialidade e neutralidade na prestação jurisdicional e aquelas outras que, igualmente, tutelam a autonomia e independência funcional dos órgãos do Ministério Público.”8 Esta reforma está mais ou menos consentânea com os princípios estabelecidos pelo Projeto de Código Processual Penal-Tipo para Ibero América. Neste Código-Modelo há alguns princípios básicos, a saber: 1) “O julgamento e decisão das causas penais será feito por juízes imparciais e independentes dos poderes do Estado, apenas sujeitos à lei.” (art. 2º.). 2) “O imputado ou acusado deve ser tratado como inocente durante o procedimento, até que uma sentença irrecorrível lhe imponha uma pena ou uma medida de segurança.” (art. 3º.). 3) “A dúvida favorece o imputado”. (idem). 4) “É inviolável a defesa no procedimento.” (art. 5º.). Tais idéias serviram também de base para outras reformas feitas (ou por serem realizadas) em outros países, como a Argentina, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Chile, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Honduras, Equador, Itália e Portugal.9 Aliás, “el Derecho procesal penal de los países latinoamericanos, observado como conjunto, ingresó, a partir de la década del’80, en un período de reformas totales, que, para el lector europeo, puede compararse con la transformación que sufrió el Derecho procesal penal de Europa continental durante el siglo XIX. No se trata, así, de modificaciones parciales a un sistema ya adquirido y vigente, sino, por lo contrario, de una modificación del sistema según otra concepción del proceso penal. Descrito sintéticamente, se puede decir que este proceso de reformas consiste en derogar los códigos antiguos, todavía tributarios de los últimos ejemplos de la Inquisición – recibida con la conquista y la colonización del continente -, para sancionar, en más o en menos, leyes procesales penales conformes al Estado de Derecho, con la aspiración de recibir en ellas la elaboración cumplida en la materia durante el siglo XX.”10 Pode-se, portanto, inferir que as reformas processuais penais já levadas a cabo em vários países da América Latina e por virem em tantos outros, são frutos, na verdade, de modificações no sistema político destes países que foram, paulatinamente, saindo de períodos autoritários para regimes democráticos. É como se a redemocratização impulsionasse o sistema processual do tipo inquisitivo para o sistema acusatório. Aliás, é inquestionável a estreita ligação entre o sistema processual penal de um país e o seu sistema político. Um país democrático11 evidentemente deve possuir, até porque a sua Constituição assim o obriga, um Código de Processo Penal que adote o sistema acusatório, eminentemente garantidor. Ao contrário, em um sistema autoritário, o processo penal, a serviço do Poder, olvida os direitos e garantias individuais básicos, privilegiando o sistema inquisitivo, caracterizado, como genialmente escreveu Ferrajoli, por “una confianza tendencialmente ilimitada en la bondad del poder y en su capacidad de alcanzar la verdad”. O sistema inquisitivo, portanto, “confía no sólo la verdad sino también la tutela del inocente a las presuntas virtudes del poder que juzga”.12 Assim, a “uniformidade legislativa latino-americana – na verdade compreendendo agora a comunidade cultural de fala luso-espanhola – apoiada em bases comuns e sem prejuízo das características próprias de cada região, é uma velha aspiração de muitos juristas do nosso continente. Além disso, ela foi o sonho de alguns grandes homens, fundadores de nossos países ou de nossas sociedades políticas. (...) “Em nossos países, geralmente, a justiça penal tem funcionado como uma ‘caixa-preta’, afastada do controle popular e da transparência democrática. O apego aos rituais antigos; As fórmulas inquisitivas, que na cultura universal já constituem curiosidades históricas; a falta de respeito à dignidade humana; a delegação das funções judiciais; o segredo; a falta de imediação; enfim, um atraso político e cultural já insuportável, tornam imperioso começar um profundo movimento de reforma em todo o continente.”13 É evidente que o ideal seria uma reforma total, completa, que propiciasse uma harmonia absoluta no sistema processual penal, com a garantia absoluta do devido processo legal, mas, como sabemos, se assim o fosse as dificuldades que já existem hoje, seriam ainda maiores. Preferiu-se, de outro modo, uma reforma que, se não chega a ser total (o que seria de difícil aprovação, à vista das evidentes dificuldades de natureza legislativa que todos nós conhecemos), também não chega a ser simplesmente pontual, até porque, como esclarece Ada, não incide “apenas sobre alguns dispositivos, mas toma por base institutos processuais inteiros, de forma a remodelá-los completamente, em harmonia com os outros.” Não é, portanto, uma reforma isolada, mas “tópica”.14 Este movimento reformista não se limita à América Latina. Na Europa também se encontram em franco desenvolvimento reformas no sistema processual penal. A título de exemplo, podemos referir a Alemanha, onde “también el Derecho procesal penal há sido modificado en varias ocasiones entre 1997-2000”15 , a Itália 16 e a Polônia, país que “desde hace 12 años se realizan reformas en la legislación, relacionadas con el cambio de régimen político, económico y social, que tuvo lugar en 1989 y también con la necesidad de adaptar las soluciones jurídicas polacas a las soluciones aceptadas en la Unión Europea. (...) Las reformas de la legislación penal e procesal penal constituyen una parte esencial del ‘movimiento legislativo reformador’, segundo nos informa a Drª. Barbara KunickaMichalska, do Instituto de Ciências Jurídicas da Academia de Ciências da Polônia, em Varsóvia.17 III – OS PACTOS INTERNACIONAIS Por outro lado, além do texto constitucional e do Código de Processo Penal, devemos nos referir aos pactos internacionais subscritos e adotados pelo nosso Direito Positivo. Assim, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos firmado em Nova York, em 19 de dezembro de 1966 e promulgado pelo Governo brasileiro através do Decreto nº. 592/92, estabelece em suas cláusulas alguns preceitos garantidores e reveladores de um devido processo legal, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, promulgado entre nós pelo Decreto nº. 678/92. Nestes documentos, verbi gratia, encontramos o direito à não auto-incriminação, à “presunção de inocência”, a um julgamento sem dilações indevidas (ver adiante), à ampla defesa (idem), à publicidade do processo, dentre outras. IV – A AMPLA DEFESA A ampla defesa compõe-se da defesa técnica e da autodefesa. O defensor exerce a defesa técnica, específica, profissional ou processual, que exige a capacidade postulatória e o conhecimento técnico. O acusado, por sua vez, exercita ao longo do processo (quando, por exemplo, é interrogado) a denominada autodefesa ou defesa material ou genérica. Ambas, juntas, compõem a ampla defesa. A propósito, veja-se a definição do jurista espanhol Miguel Fenech: “Se entiende por defensa genérica aquella que lleva a cabo la propia parte por sí mediante actos constituídos por acciones u omisiones, encaminados a hacer prosperar o a impedir que prospere la actuación de la pretensión.. No se halla regulada por el derecho con normas cogentes, sino con la concesión de determinados derechos inspirados en el conocimiento de la naturaleza humana, mediante la prohibición del empleo de medios coactivos, tales como el juramento – cuando se trata de la parte acusada – y cualquier otro género de coacciones destinadas a obtener por fuerza y contra la voluntad del sujeto una declaración de conocimiento que ha de repercutir en contra suya”. Para ele, diferencia-se esta autodefesa da defesa técnica, por ele chamada de específica, processual ou profissional, “que se lleva a cabo no ya por la parte misma, sino por personas peritas que tienen como profesión el ejercicio de esta función técnico-jurídica de defensa de las partes que actuán en el processo penal para poner de relieve sus derechos y contribuir con su conocimiento a la orientación y dirección en orden a la consecusión de los fines que cada parte persigue en el proceso y, en definitiva, facilitar los fines del mismo”.18 Ressalte-se que o defensor não é parte, nem sujeito processual, nem, tampouco, substituto processual, agindo apenas como um representante técnico da parte; neste mister, parece-nos que cabe a este profissional exercitar a sua defesa mesmo contra a vontade do réu, até porque o direito de defesa é indisponível: “En interés del hallazgo de la verdad y de una defensa efectiva, puede, sin duda, actuar también en contra de la voluntad del inculpado, por ejemplo, interponer una solicitud para que se examine su estado mental”.19 Admite-se, por exemplo, a interposição de recurso mesmo contra a vontade do réu, pois “deve, como regra geral, prevalecer a vontade de recorrer, só se admitindo solução diversa quando, por ausência do interesse-utilidade, não seja possível vislumbrar, em face de circunstâncias do caso, vantagem prática para o acusado.” Isto ocorre por que a regra da disponibilidade dos recursos “sofre exceções no processo penal, em que a relação jurídica de direito material controvertida é de natureza indisponível, havendo limitações à disponibilidade dos recursos quando estejam em jogo os direitos de acusar e de defender.” Assim, “havendo conflito de vontades entre o réu e o advogado, a opinião mais coerente com as garantias da defesa é a de que deve prevalecer a vontade do defensor, que recorreu, não só em razão de seus conhecimentos técnicos, mas sobretudo para melhor garantia do direito de defesa.” 20 A respeito deste tema, recentemente decidiu o STJ no sentido do texto: “Em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, na hipótese de conflito entre o réu, que renunciou ao direito de recorrer da sentença condenatória, e seu defensor, prevalece a vontade da defesa técnica, com idoneidade para avaliar as conseqüências da não impugnação da decisão condenatória.” (STJ, HC 18.400-SP, Rel.: Min. VICENTE LEAL, DJU de 06/05/2002, p. 321). Consta do voto do Relator: “Examinando-se a hipótese «sub examen», é de se reconhecer a procedência do pedido. Ora, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, na hipótese de conflito entre o réu, que renunciou ao direito de recorrer da sentença condenatória, e seu defensor, prevalece a vontade da defesa técnica, com idoneidade e conhecimento para avaliar as conseqüências da não impugnação da decisão condenatória. É o que bem ressalta a ilustre Subprocuradora-Geral da República em seu parecer, «verbis»: «De fato, embora o réu seja o legítimo titular do direito de recorrer, a defesa técnica há de preponderar sobre a autodefesa, no que tange ao recurso, tendo em vista que o profissional especializado possui melhores condições de avaliar a conveniência ou não das medidas legais a serem utilizadas, para um patrocínio o mais eficaz possível, dos interesses do outorgante. Para reforçar ainda mais a tese da ilustre Procuradora de Estado impetrante - que, ressalte-se, apesar de toda a sobrecarga notoriamente conhecida no âmbito das Defensorias Públicas, vem, «in casu» zelar firmemente pelos interesses de um paciente que renunciou ao seu direito -, vê-se que, apesar de o Termo de Renúncia ao Direito de Recurso haver sido assinado por Ademilton Messias Rosa (fl. 14), não existe, mesmo, naquele ato, qualquer indício de haver sido o paciente assistido por um defensor.” (fls. 93/94). Vejamos outros julgados do mesmo STJ a respeito da matéria, citados, inclusive, nesta decisão unânime: “Processual penal. «Habeas corpus». Extorsão. Apelação. Divergência entre réu e defensor. Havendo conflito entre o réu, que renunciou ao direito de recorrer da sentença condenatória, e o seu defensor, que interpôs apelação, deve prevalecer a manifestação deste, tendo em vista que, por ter conhecimentos técnicos, em tese, está em melhores condições para avaliar a necessidade da impugnação. «Habeas corpus» deferido.” (HC 15.983, Quinta Turma, Rel. em. Min. Félix Fischer, DJ 20/08/2001). “Criminal. HC. Roubo tentado. Recurso de apelação. Conflito entre as vontades do réu e de seu defensor. Preponderância da vontade do defensor. Conhecimento técnico. Apelo em liberdade. Demora não-razoável no julgamento do recurso. Constrangimento ilegal. Ordemconcedida. I. Na hipótese de conflito entre a vontade do réu e a de seu defensor, no que se refere à interposição de recurso, tendo em vista a renúncia do acusado ao direito de recorrer, prevalece a vontade do defensor, constituído ou nomeado, em razão do conhecimento técnico para avaliar as conseqüências da não impugnação da decisão penal condenatória. II.(...) III. Ordem concedida para determinar que o e. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo proceda ao julgamento do mérito do recurso de apelação interposto em favor de Edgar Santos Pereira, permitindo-se-lhe aguardar em liberdade tal desfecho.” (HC 15.693/SP, Quinta Turma, rel. em. Min. Gilson Dipp, DJ 27/08/2001). “Processo penal. Direito irrenunciável do réu de recorrer. 1. Pode o defensor interpor recurso, embora o réu tenha se manifestado em sentido contrário, posto que irrenunciável o seu direito de recorrer, em face do princípio da ampla defesa, devendo aquele decidir sobre a conveniência ou não do exercício da faculdade de apelar. 2. Recurso do MP não conhecido.” (REsp 120.170/DF, Sexta Turma, Rel. em. Min. Fernando Gonçalves, DJ 30/06/97). É evidente que todo acusado deve obrigatoriamente ser defendido por um profissional do Direito, a fim de que se estabeleça íntegra a ampla defesa, sendo imperioso destacar que o direito de defesa no Processo Penal deve ser rigorosamente obedecido, sob pena de nulidade: “Para que haya un proceso penal propio de un Estado de Derecho es irrenunciable que el inculpado pueda tomar posición frente a los reproches formulados en su contra, y que se considere en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a discusión”.21 Mesmo para o réu ausente ou foragido é indispensável, sob pena de nulidade absoluta, que se lhe nomeie um defensor; se menor de 21 anos, além do defensor, necessário se faz a presença também de um curador, ressalvando a Súmula 352 do STF. O defensor nomeado ou dativo será obrigado a aceitar a defesa, sob pena de responder por infração disciplinar (art. 34, XII, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). Se, porém, o acusado para o qual o juiz nomeou um defensor na realidade não for pobre, será obrigado a pagar os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz (art. 263, parágrafo único, CPP). A constituição de advogado no processo penal pode ser feita por procuração ou por indicação verbal quando da realização do interrogatório, dispensando-se, neste último caso, a juntada do instrumento procuratório. Ainda que inicialmente tenha sido nomeado um defensor dativo, pode o acusado a qualquer momento constituir um profissional de sua confiança (art. 263, caput). Aliás, em razão de entendermos que a ampla defesa pressupõe necessariamente a autodefesa e a defesa técnica é que pugnamos pela necessidade da presença do advogado no interrogatório, sob pena de se ferir o devido processo legal. É bem verdade que se discute na doutrina se, nesta fase, é necessária a presença de advogado. Boa parte entende que sim tendo em vista o disposto nos arts. 261 e 263 do CPP. Neste sentido, Tourinho Filho, Frederico Marques e Espínola Filho. Há quem entenda, porém, a sua desnecessidade por se tratar de um momento processual típico da autodefesa (e não defesa técnica), podendo, ademais, haver retratação a qualquer instante. A jurisprudência claramente se inclina neste segundo sentido, a ponto do próprio Tourinho Filho observar que “nunca se anulou qualquer processo pelo não-comparecimento do Advogado ao ato do interrogatório”.22 Mirabete, por exemplo, acompanhando esta corrente jurispruden- cial majoritária, sustenta que “a presença do defensor no interrogatório é apenas facultativa, já que não pode normalmente intervir nesse ato processual, razão por que a sua ausência não constitui nulidade no processo (RT 600/369, 610/407, JTACrSP 59/340)”. Em posição contrária, defende Ferrajoli “el derecho del imputado a la asistencia y, en todo caso, a la presencia de su defensor en el interrogatorio, para impedir abusos o cualesquiera violaciones de las garantias procesales”.23 Recentemente, porém, a Suprema Corte, através de um dos seus mais destacados Ministros, Celso de Mello, através de liminar concedida em Mandado de Segurança (acima referido) deixou assentado que “cabe reconhecer, por isso mesmo, que a presença do advogado em qualquer procedimento estatal, independentemente do domínio institucional em que esse mesmo procedimento tenha sido instaurado, constitui fator inequívoco de certeza de que os órgãos do Poder Público (Legislativo, Judiciário e Executivo) não transgredirão os limites delineados pelo ordenamento positivo da República, respeitando-se, em conseqüência, como se impõe aos membros e aos agentes do aparelho estatal, o regime das liberdades públicas e os direitos subjetivos constitucionalmente assegurados às pessoas em geral, inclusive àquelas eventualmente sujeitas, qualquer que seja o motivo, a investigação parlamentar, ou a inquérito policial, ou, ainda, a processo judicial”. Esperamos que tal decisão seja confirmada no mérito, assentando-se definitivamente em nossa práxis forense a necessidade do defensor no ato de interrogatório do réu, como ocorreu no julgamento a seguir descrito: “NULIDADE. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. Nulo é o processo em que o acusado é interrogado sem a presença de advogado defensor. Agressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º., LV, da Constituição Federal). Nulidade decretada a partir, inclusive, do interrogatório.” (Apelação Criminal nº. 70001997402 – TJRGS – 5ª. Câmara Criminal – Rel. Des. Amilton Bueno de Carvalho – j. 14/02/01). A propósito, observamos que o acima referido Projeto de Lei nº. 4.204/01 estabelece a obrigatoriedade da presença de advogado, nomeado ou constituído, quando do interrogatório do acusado, pois a nova redação do art. 185 assim prescreve: “O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.” V – O CONTRADITÓRIO Não há devido processo legal sem o contraditório, que vem a ser, em linhas gerais, a garantia de que para toda ação haja uma correspondente reação, garantindo-se, assim, a plena igualdade de oportunidades processuais. O contraditório, por exemplo, obriga que a defesa fale sempre depois da acusação. Assim, no Processo Penal as testemunhas arroladas na peça acusatória são inquiridas em primeiro lugar (art. 396, CPP), as alegações finais do réu são oferecidas também anteriormente as do acusador (art. 500), e assim por diante... Questão que se mostra polêmica é o parecer do Ministério Público na segunda instância. Como se sabe, na segunda instância o Ministério Público, por intermédio de um Procurador de Justiça, exara um parecer escrito antes do respectivo processo criminal ser encaminhado para julgamento. É um privilégio que parece ferir alguns princípios basilares e algumas regras orientadoras do processo penal, como tentaremos mostrar a seguir. Com efeito, sempre nos pareceu que este pronunciamento do Procurador de Justiça na segunda instância, ainda que na condição de custos legis, soava estranho, mesmo porque fiscal da lei também é o Promotor de Justiça atuante junto à primeira instância e, no entanto, nunca se dispensou a ouvida da defesa... Para nós, este privilégio fere o contraditório (ação versus reação), a isonomia (paridade de armas), o devido processo legal (a defesa fala por último) e a ampla defesa (direito do acusado de ser informado também por último). A propósito, ouçamos a boa doutrina, capitaneada por Frederico Marques: “Bem de ver é, porém, que na Justiça criminal, se apresenta algo esdrúxula essa função consultiva do procurador-geral, uma vez que o Ministério Público está constituído, precipuamente, como órgão da ação penal e da pretensão punitiva do Estado. Além disso, não se compadece muito com a estrutura contraditória do processo penal pátrio, e com as garantias de defesa plena do réu, que fale em último lugar um órgão investido de funções nitidamente persecutórias. Daí se nos afigurar errônea e infeliz a disposição contida no art. 610 do CPP, sobre a abertura de vista ao procurador-geral.”24 Vejamos agora outro grande processualista, Tourinho Filho: “Mal saídos de uma fatigante atividade combativa, assumem função completamente imparcial, própria dos fiscais da lei e, muitas vezes, com várias e honrosas exceções, o custos legis é traído pelo Acusador, quebrando, assim, uma regra decor- rente do devido processo legal, segundo a qual a Defesa fala por último... Ademais, o Procurador de Justiça, membro que é do Ministério Público, não pode ficar eqüidistante das partes. Entranhada e psicologicamente tem laços com uma delas. É difícil o corte desse cordão umbilical. E, para evitar essas traições, a nosso ver, deveria o Ministério Público, na segunda instância, limitar-se à análise dos processos sob o aspecto formal, deixando a apreciação do mérito aos Tribunais.”25 Então, pergunta-se: “no processo penal, quando o processo atinge o grau recursal qual das partes fala por último? O réu ou o Ministério Público? Os arts. 610 e 613 do Código de Processo Penal nos dão a resposta: o Ministério Público manifesta-se depois da defesa e, ordinariamente, a defesa sequer tem vista do que foi oficiado pelo MP – a não ser que requeira vista dos autos e se lhe for concedida. Alguns autores fundamentam tais incompreensíveis dispositivos legais com a função de fiscal da lei que o MP desempenharia nos recursos criminais. Ora, não se pode confundir a função de parte com a de fiscal da lei. No processo criminal por ação de iniciativa pública é o MP, uno e indivisível, quem oferece denúncia; é ele quem postula a aplicação da sanção penal; e é ele quem, mesmo em grau de recurso, tem legitimidade para sustentar oralmente o recurso do promotor, visando, até, à majoração da pena. Então, não se pode falar que o mesmo órgão público, o mesmo órgão do Estado, possa ser, ao mesmo tempo, fiscal da lei e parte, ao ponto de, na instância recursal, desaparecer a parte, permanecendo apenas o fiscal da lei, em uma estranha ação penal sem autor.”26 Veja-se este recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “Ministério Público. Atuação. Parte. A Turma, por maioria, concedeu a ordem para anular o processo a partir do julgamento, por entender que, na hipótese, o Ministério Público, além de atuar como fiscal da lei, era também parte, e como tal, à luz da Constituição vigente, não pode proferir sustentação oral depois da defesa. (HC 18.166-SP, Rel. originário Min. Fernando Gonçalves, Rel. para o acórdão Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 19/02/2002). Observa-se que é possível, ainda que em grau de recurso, haja a feitura de diligências ordenadas pelo relator, por força do art. 616 do Código de Processo Penal. Nesta hipótese, perguntamos quem estaria representando o Ministério Público nesta nova instrução. Evidentemente que se a diligência (uma acareação, por exemplo) fosse realizada no próprio Tribunal somente um Procurador de Justiça poderia atuar, o que vem a corroborar o fato de que, além de fiscal da lei, continua ele como representante da parte acusadora. Neste aspecto, veja-se a lição de Ada, Scarance e Gomes Filho: “o tribunal poderá livremente apreciar, no recurso, aspectos que não foram suscitados pelas partes. Se o entender conveniente, converterá o julgamento em diligência para a produção de novas provas, destinadas à formação do convencimento de seus membros e poderá excluir as que considerar ilícitas do material probatório; se o considerar oportuno, poderá reinquirir o réu e será livre para levantar novas teses jurídicas. Apenas, deverá garantir que tudo isso seja feito em contraditório, na presença das partes, dando a estas a oportunidade de contradizer, inclusive provando. O contraditório, na melhor doutrina, não se limita às questões de fato, devendo abranger as questões de direito que o juiz levantar de ofício (Tarzia).”27 Por outro lado, simplesmente suprimir o parecer ministerial não é possível, sob pena de se incorrer em nulidade absoluta, tendo em vista o disposto no art. 564, III, d do Código de Processo Penal.28 VI – O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO O devido processo legal deve igualmente garantir a possibilidade de revisão dos julgados. A falibilidade humana e o natural inconformismo de quem perde estão a exigir o reexame de uma matéria decidida em primeira instância, a ser feito por juízes coletivos e magistrados mais experientes. A Constituição Federal prevê o duplo grau de jurisdição, não somente no já referido art. 5º., LV, como também no seu art. 93, III (“acesso aos tribunais de segundo grau”) e pressupõe, evidentemente, uma decisão judicial e a sucumbência (prejuízo). Ademais, para recorrer deve-se atentar para pressupostos de natureza subjetiva, a saber: o interesse e a legitimidade. Há mais de 20 anos, o jurista baiano Calmon de Passos mostrava a sua preocupação com “a tendência, bem visível entre nós, em virtude da grave crise que atinge o Judiciário, de se restringir a admissibilidade de recursos, de modo assistemático e simplório, em detrimento do que entendemos como garantia do devido processo legal, incluída entre as que são asseguradas pela nossa Constituição.” Neste mesmo trabalho, nota o eminente Mestre que “o estudo do duplo grau como garantia constitucional desmereceu, da parte dos estudiosos, em nosso meio, considerações maiores. Ou ele é simplesmente negado como tal ou, embora considerado como ínsito ao sistema, fica sem fundamentação mais acurada, em que pese ao alto saber dos que o afirmam, certamente por força da larga admissibilidade dos recursos em nosso sistema processual, tradicionalmente, sem esquecer sua multiplicidade.”29 Tal garantia se encontra também estabelecida na Convenção América de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), no seu art. 8º., 2, “h”. VII – O JUIZ E O PROMOTOR NATURAL Questão importante, e que se prende intimamente ao devido processo legal, é o princípio do Promotor Natural30 que pressupõe a independência funcional do membro do Ministério Público (art. 127, § 1º., CF), a sua inamovibilidade (art. 128, § 5º., I, b), a investidura por concurso público e a determinação legal e anterior de suas atribuições. A independência e a autonomia funcionais, ambas consagradas no art. 127, §§ 1º. e 2º. da Constituição Federal, são princípios que compõem a figura do Promotor Natural, advertindo-se, desde logo, que a “autonomia funcional atinge o Ministério Público enquanto instituição, e a cada um dos seus membros, enquanto agentes políticos.”31 Sobre o assunto, o velho Bento de Faria já escrevia: “O Ministério Público, como fiel fiscal da lei, não poderia ficar constrangido a abdicar das suas convicções, quando devidamente justificadas. Do contrário seria um instrumento servil da vontade alheia.”32 O grande Roberto Lyra já afirmava que “nem o Procurador-Geral, investido de ascendência hierárquica, tem o direito de violentar, por qualquer forma, a consciência do Promotor Público, impondo os seus pontos de vista e as suas opiniões, além do terreno técnico ou administrativo.” Para este autor (que dedicou toda a sua vida ao estudo do Direito Criminal e ao Ministério Público, a ponto de ser chamado por Evandro Lins e Silva de o “Príncipe dos Promotores Públicos brasileiros”) “quanto ao elemento intrínseco, subjetivo, dos atos oficiais, na complexidade, na sutileza, na variedade de seus desdobramentos, como a apreciação da prova, para a denúncia, a pronúncia, o pedido de condenação, a apelação, a liberdade provisória ou a prisão preventiva, é na sua consciência livre e esclarecida, elevada a um plano inacessível a quaisquer injunções ou tendências, que o Promotor Público encontra inspiração”, concluindo “que a disciplina do Ministério Público está afeta ao Procurador-Geral. No entanto, esse não intervem na consciência do subordinado.”33 O saudoso Esmeraldino Bandeira já escrevia que o Promotor de Justiça na “sua palavra é absolutamente livre e independente, e em suas requisições não atende senão à sua consciência.”34 Ainda a propósito, certa vez um antigo Promotor de Justiça do Distrito Federal, Dr. Murillo Fontainha, ao recusar determinação do Procurador-Geral de oferecer denúncia em um caso, escreveu: “No exercício das suas elevadas funções, o Ministério Público ‘só recebe instruções da sua consciência e da lei’ (Sentença do saudoso Magistrado Raul Martins, D. Oficial de 10 de outubro de 1914, p. 10.844) e ‘as ordens que o Chefe do Ministério Público tem o direito de impor aos seus inferiores são ordens que não afetem à consciência dos mesmos. E o Promotor, que fugindo aos impulsos da sua convicção, deixar-se sugestionar pelas imposições extrínsecas, é um que homem ultraja à sua consciência e um Magistrado que prostitui a lei. Vê, pois, V. Exª., que nas funções em que entra a convicção do Promotor, como elemento principal, a ordem do Chefe do Ministério Público não pode ter o caráter de preceito imperativo obrigatório’ (Auto Fontes, Questões Criminais p. 75-6).” E continua adiante: “Todas essas explanações evidenciam que nas hipóteses em que o Ministério Público tem que opinar da sua conduta no caso que lhe for concluso, quer de oportunidade ou cabimento de recurso legal a interpor, quer de apreciação sobre elementos para denúncias ou arquivamento de processos, só deve receber instruções da sua íntima convicção, de sua consciência. Nessa esfera, as instruções do Chefe do Ministério Público não podem penetrar, porque é a própria lei em vigor que o diz quando terminantemente dispõe que incumbe aos Promotores Públicos oferecer denúncia quando se convençam da existência de crimes de sua competência.” (grifo nosso).35 Em resposta, eis o que decidiu o Procurador-Geral de Justiça: “Entende o Procurador-Geral que, na espécie, existem fartos elementos para instauração da ação penal, e, não podendo determinar ao Dr. 1º Promotor Público que ofereça denúncia, sujeitando-se às sanções legais, em caso de recusa, por haver cessado a sua competência no juízo da 4ª Vara Criminal, recomendo ao seu substituto ofereça denúncia contra aqueles indiciados.”36 (grifo nosso). Encerremos, então, com mais esta lição do grande Lyra: “Decairia de sua própria independência moral o Promotor Público se ficasse sujeito, em matéria opinativa, às injunções, quer dos juízes, quer dos chefes, esses funcionários da confiança do Governo. Ocorreria ainda o perigo de, indiretamente, submeter-se o Promotor Público ao arbítrio oficial no desempenho de uma tarefa de sutilíssima subjetividade.” (p. 176). Ao lado do Promotor Natural, fundamental que tenhamos, também, o Juiz Natural, figura consagrada no art. 5º., XXXVII e LIII da Constituição, bem como nos arts. 8º. e 10º. da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O Juiz Natural é aquele constitucional, legal e previamente competente para julgar determinada causa criminal, imparcial e independente, garantindo-se-lhe a inamovibilidade (arts. 95, II e 93, VIII, CF/88), a irredutibilidade de vencimentos (art. 95, III, CF/88) e a vitaliciedade (art. 95, I, CF/88). VIII – O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Compõe também o devido processo legal a possibilidade de se aguardar em liberdade o recurso interposto contra uma sentença condenatória penal. É bem verdade que pela regra imposta no art. 594 do Código de Processo Penal, “o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime que se livre solto.” Assim, em relação ao condenado que não seja primário e não tenha bons antecedentes, dois ônus a ele se impõem por força de lei: a prisão automática decorrente da sentença condenatória (salvo se se livrar solto ou prestar fiança, sendo esta cabível) e a impossibilidade de recorrer se não for recolhido à prisão. Na verdade, se nos limitarmos a interpretar literalmente este artigo chegaremos forçosamente à conclusão que ele afronta a Constituição (e, portanto, é inválido) em pelo menos duas oportunidades: 1ª.) quando o texto constitucional garante a presunção de inocência 37 ) e 2ª.) quando assegura a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Ora, se o art. 5º., LVII, da Constituição proclama que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, é de todo inadmissível que alguém seja preso antes de definitivamente julgado, salvo a hipótese desta prisão provisória se revestir de caráter cautelar, independentemente de primariedade e de bons antecedentes. Soa, portanto, estranho alguém ser presumivelmente considerado não culpado (pois, ainda não foi condenado definitivamente) e, ao mesmo tempo, ser obrigado a se recolher à prisão, mesmo não representando a sua liberdade nenhum risco seja para a sociedade, seja para o processo, seja para a aplicação da lei penal. Mais estranho se nos afigura ao atentarmos que aquela presunção foi declarada constitucionalmente. Desta forma, esta prisão provisória, anterior a uma decisão transitada em julgado, só se revestirá de legitimidade caso seja devidamente fundamentada (art. 5º., LXI, CF/88) e reste demonstrada a sua necessidade (periculum libertatis38 ). No mesmo passo, há a segunda questão: se a Constituição também assegura aos acusados em geral a ampla defesa com os recursos a ela inerentes, parece-nos também claro que uma lei infraconstitucional não poderia condicionar este direito de recorrer àquele que não tem bons antecedentes e não é primário, ao recolhimento à prisão. Observa-se que esta regra legal está complementada no artigo seguinte, segundo o qual “se o réu condenado fugir depois de haver apelado, será declarada deserta a apelação.” (art. 595, CPP). Da mesma forma, agora igualmente soa estranho para nós não se permitir ao acusado o acesso ao duplo grau de jurisdição, quando não seja primário e não tenha bons antecedentes. Não esqueçamos que a “adoção do duplo grau de jurisdição deixa de ser uma escolha eminentemente técnica e jurídica e passa a ser, num primeiro instante, uma opção política do legislador.”39 Apesar do texto constitucional não conter expressamente a garantia do duplo grau de jurisdição (como ocorre com a presunção de inocência), é indiscutível o seu caráter de norma materialmente constitucional, mormente porque o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) que prevê em seu art. 8º., 2, h, que todo acusado de delito tem “direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”, e tendo-se em vista o estatuído no § 2º., do art. 5º., da CF/88, segundo o qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” Ratificamos, também, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque que no seu art. 14, 5, estatui que “toda pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior, em conformidade com a lei.” É bem verdade que a doutrina se debate a respeito da posição hierárquica que ocupam as normas advindas de tratado internacional. Parte dela entende que caso a norma internacional trate de garantia individual, terá ela status constitucional, até por força do referido § 2º. Fábio Comparato, por exemplo, informa que “a tendência predominante, hoje, é no sentido de se considerar que as normas internacionais de direitos humanos, pelo fato de expressarem de certa forma a consciência ética universal, estão acima do ordenamento jurídico de cada Estado. (...) Seja como for, vai-se afirmando hoje na doutrina a tese de que, na hipótese de conflitos entre regras internacionais e internas, em matéria de direitos humanos, há de prevalecer sempre a regra mais favorável ao sujeito de direito, pois a proteção da dignidade da pessoa humana é a finalidade última e a razão de ser de todo o sistema jurídico”40 : é o chamado princípio da prevalência da norma mais favorável.41 Ada, Dinamarco e Araújo Cintra, após admitirem a indiscutível natureza política do princípio do duplo grau de jurisdição (“nenhum ato estatal pode ficar imune aos necessários controles”) e que ele “não é garantido constitucionalmente de modo expresso, entre nós, desde a República”, lembram, no entanto, que a atual Constituição “incumbe-se de atribuir a competência recursal a vários órgãos da jurisdição (art. 102, II; art. 105, II; art. 108, II), prevendo expressamente, sob a denominação de tribunais, órgãos judiciários de segundo grau (v.g., art. 93, III).”42 Resta-nos, então, já que legem habemus, interpretar este dispositivo legal (infraconstitucional e fruto de uma lei de 1973) à luz da Constituição Federal, a fim de que possamos entendê-lo ainda como válido, fazendo, porém, uma leitura efetivamente garantidora. Ora, se temos a garantia constitucional da presunção de inocência, é evidente que não pode ser efeito de uma sentença condenatória recorrível, pura e simplesmente, um decreto prisional, sem que se perquira quanto à necessidade do encarceramento. Como sabemos, entre nós, cabível será a prisão preventiva sempre que se tratar de garantir a ordem pública, a ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. São estes os requisitos da prisão preventiva e que configuram exatamente o periculum libertatis. Estes requisitos, portanto, representam a necessidade da prisão preventiva, que não é outra coisa senão uma medida de natureza flagrantemente cautelar, pois visa a resguardar, em última análise, a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (há, ainda, os pressupostos desta prisão, que não nos interessam no presente estudo). Se assim o é, fácil é interpretar este artigo 594 da seguinte forma e nos seguintes termos: a prisão será uma decorrência de uma sentença condenatória recorrível sempre que, in casu, fosse cabível a prisão preventiva contra o réu, independentemente de sua condição pessoal de primário e de ter bons antecedentes; ou seja, o que definirá se o acusado aguardará preso ou em liberdade o julgamento final do processo é a comprovação da presença de um daqueles requisitos acima referidos. Conclui-se que a necessidade é o fator determinante para alguém aguardar preso o julgamento final do seu processo, já que a Constituição garante que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” Por outro lado, como a ampla defesa (e no seu bojo a garantia do duplo grau de jurisdição) também está absolutamente tutelada pela Carta Magna, o artigo ora analisado não pode ser interpretado literalmente, porém, mais uma vez, em conformidade com aquele Diploma, lendo-o da seguinte forma: não se pode condicionar a admissibilidade da apelação ao recolhimento do réu à prisão, mesmo que ele não seja primário e não tenha bons antecedentes. Aqui, vamos, inclusive, mais além: mesmo que a prisão seja necessária (e se revista, portanto, da cautelaridade típica da prisão provisória), ainda assim, admitir-se-á o recurso, mesmo que não tenha sido preso o acusado, ou que, após ser preso, venha a fugir. Observa-se que, agora, mesmo sendo cabível o encarceramento provisório (por ser, repita-se, necessário), o não recolhimento do acusado não pode ser obstáculo à interposição de eventual recurso da defesa, e se recurso houver, a fuga posterior não lhe obstará o regular andamento (não pode ser considerado deserto). Não concordamos, outrossim, que a exigência da prisão para recorrer seja uma “regra procedimental condicionante do processamento da apelação”, como pensa Mirabete43 , pois, como contrapõe Luiz Flávio Gomes, “se não ofende a presunção de inocência ou a ampla defesa, indiscutivelmente ofende o princípio da necessidade de fundamentação da prisão, inscrito no art. 5º., LXI.”44 Vê-se que não optamos pela interpretação literal do art. 594, o que seria desastroso, tendo em vista as garantias constitucionais acima vistas. Por outro lado, utilizamo-nos do critério da interpretação conforme a Constituição, procurando adequar o texto legal com o Texto Maior e evitando negar vigência ao dispositivo, mas, antes, admitindo-o válido a partir de uma interpretação garantidora e em consonância com a Constituição. Afinal de contas, como já escreveu Cappelletti, “a conformidade da lei com a Constituição é o lastro causal que a torna válida perante todas.”45 Devemos atentar que o presente artigo foi inserido em nosso código processual penal pela Lei nº 5.941/73, época em que vigiam em nosso País a Constituição anterior a 1988 (que não trazia o princípio da presunção de inocência) e um regime político não democrático. Naquele contexto histórico, portanto, fácil era entender que uma lei ordinária viesse a dificultar o direito ao recurso e a prever a prisão automática decorrente de sentença condenatória recorrível. Bastava a sentença condenatória e a prisão impunha-se automaticamente, por força de lei, presumindo-se a culpabilidade ou a periculosidade do réu.46 Ocorre que desde 1988 temos outra Constituição, com outros princípios, muitos dos quais expressamente previstos (o que não impede a existência de princípios constitucionais implícitos, como, v.g., o da proporcionalidade). A lei anterior, então, tem que ser interpretada segundo este critério, ou seja, em conformidade com a nova ordem constitucional (sob pena de ser considerada não recepcionada e, logo, inválida), evidentemente sem ultrapassar o seu sentido literal, apenas conformando-a com a Constituição. Como dissemos, no tempo em que foi inserida em nosso sistema jurídico, a lei traduzia, em verdade, o momento histórico em que vivia o país, cabendo, por isso mesmo, atentarmos, agora, para o elemento histórico-teleológico (concepção subjetivista da interpretação, ou teoria da vontade), segundo o qual a lei obedece ao tempo em que foi intencionalmente (finalisticamente) concebida, devendo ser interpretada preferencialmente em conformidade com aquela realidade. James Goldshimidt já afirmava no clássico “Problemas Jurídicos e Políticos del Proceso Penal” que a estrutura do processo penal de um país indica a força de seus elementos autoritários e liberais. 47 Devemos, então, buscar abrigo neste elemento histórico, acomodando a lei às “novas circunstâncias não previstas pelo legislador”, especialmente aos “princípios elevados a nível constitucional”.48 Só poderíamos interpretar este artigo literalmente se este modo interpretativo fosse possível à luz da Constituição. Por outro lado, não entendemos ser o caso de, simplesmente, reconhecer inválida a norma insculpida naquele artigo de lei. A nós nos parece ser possível interpretála em conformidade com o texto constitucional, sem que se o declare inválido e sem “ultrapassar os limites que resultam do sentido literal e do contexto significativo da lei.”49 Se verdade é que “por detrás da lei está uma determinada intenção reguladora, estão valorações, aspirações e reflexões substantivas, que nela acharam expressão mais ou menos clara”, também é certo que “uma lei, logo que seja aplicada, irradia uma acção que lhe é peculiar, que transcende aquilo que o legislador tinha intentado. A lei intervém em relações da vida diversas e em mutação, cujo conjunto o legislador não podia ter abrangido e dá resposta a questões que o legislador ainda não tinha colocado a si próprio. Adquire, com o decurso do tempo, cada vez mais como que uma vida própria e afasta-se, deste modo, das idéias dos seus autores.” (grifo nosso): teoria objetivista ou teoria da interpretação imanente à lei.50 Portanto, não se pode ler o artigo 594 e inferir, hoje, o que se traduz gramaticalmente desta leitura. A interpretação literal efetivamente deve ser o início do trabalho, mas não o completa satisfatoriamente.51 Em reforço à tese ora esboçada, ilustra-se dizendo que o projeto de lei de reforma do Código de Processo Penal, expressamente, revoga os arts. 594 e 595 do atual CPP. Na respectiva exposição de motivos, justifica-se a revogação afirmando que teve “como objetivo definir que toda prisão antes do trânsito em julgado final somente pode ter o caráter cautelar. A execução ‘antecipada’ não se coaduna com os princípios e garantias do Estado Constitucional e Democrático de Direito.” São os novos tempos... Vê-se que “las leyes son e deben ser la expresión más exacta de las necesidades actuales del pueblo, habida consideración del conjunto de las contingencias históricas, en medio de las cuales fueron promulgadas.” (grifo nosso)52 Ademais, atentando-se, outrossim, para o sistema jurídico e fazendo uma interpretação sistemática do dispositivo53 , assinalamos que, posteriormente a ele, surgiu no cenário jurídico brasileiro a Lei nº. 8.072/90 (Crimes Hediondos), dispondo que “em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.” (art. 2º., § 2º., com grifo nosso).54 Atenta-se, com Maximiliano, que o “Direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar próprio.”55 Veja-se a propósito a seguinte decisão do STJ: HABEAS CORPUS Nº 11.738 – PE (1999/0120892-0) (DJU 24.09.01, SEÇÃO 1, P. 346, J. 23.05.01) RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO IMPETRANTE: C.A.A. IMPETRADO : PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PACIENTE : V.N.A. (PRESO) EMENTA DIREITO PROCESSUAL Penal. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DENEGAÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Permanece o entendimento anterior da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quanto à exigência de fundamentação da negativa do apelo em liberdade de réu condenado por tráfico de entorpecente, em processo a que respondeu solto, não bastando a simples referência ao artigo 35 da Lei de Tóxicos (parágrafo 2° do artigo 2° da Lei 8.072/90). 2. Ordem concedida. Para finalizar, recorremos, mais uma vez, a Larenz: “Mediante a interpretação ‘faz-se falar’ o sentido disposto no texto, quer dizer, ele é enunciado com outras palavras, expressado de modo mais claro e preciso, e tornado comunicável. A esse propósito, o que caracteriza o processo de interpretação é que o intérprete só quer fazer falar o texto, sem acrescentar ou omitir o que quer que seja. Evidentemente que nós sabemos que o intérprete nunca se comporta aí de modo puramente passivo.”56 IX – O EXCESSO PRAZAL O devido processo legal pressupõe, outrossim, um procedimento sem dilações indevidas. O excesso prazal macula o processo e obriga a soltura do réu preso, ainda que presentes os requisitos da prisão cautelar. É lição antiga da doutrina que tal situação processual é absolutamente inadmissível, ainda mais se tratando de acusado preso. Ary Franco, por exemplo, já pontificava há tempos: “A questão relativa ao prazo de encerramento da instrução criminal sempre foi preocupação máxima dos poderes públicos, por isso mesmo que é mister acautelar os interesses do réu, que não pode nem deve, como elemento da sociedade, ficar indefinidamente à espera de que os órgãos da sociedade que integram o Poder Judiciário ultimem a sua situação de acusado, para declará-lo inocente, ou não.”57 Outro antigo processualista, Câmara Leal, já indicava como causa justificadora para a concessão de habeas corpus “quando, estando o réu preso em flagrante ou preventivamente, não é o processo julgado dentro do prazo legal, exceto se ocorrer legítimo impedimento.”58 Vicente de Azevedo, outro saudoso jurista, enfrentando esta mesma questão, alertava que acaso não concedido, em tais hipóteses, o habeas corpus acabaria “o réu cumprindo a pena cominada em abstrato na lei penal antes de julgado”59 ... A doutrina mais recente, por sua vez, é uníssona, bastando ser citados, por todos, Frederico Marques e Tourinho Filho, respectivamente: “A manutenção do réu sob carcer ad custodiam não pode, em regra, exceder o prazo legal. (...) No Direito inglês é observado, com sumo rigor, o preceito que veda manter-se preso o réu, demoradamente, sem julgamento definitivo. Entre nós, isso nem sempre acontece, o que é injusto e iníquo.”60 É o que vimos neste processo. “Se o réu não pode ser culpado pela inobservância do prazo, é o habeas corpus o meio idôneo para pôr cobro à coação cautelar, por não se conter esta nos limites temporais em que a lei permite a vulneração da incoercibilidade no âmbito da liberdade de ir e vir.”61 Não esqueçamos que há entendimento jurisprudencial solidamente firmado no sentido de que a instrução criminal no processo de rito ordinário deve se encerrar em um prazo máximo de 81 dias se o réu estiver preso (se solto, não necessariamente). Este prazo é contado individuadamente e não conglobadamente, não se podendo compensar o atraso em uma fase com a agilização em uma posterior (há quem prefira a contagem global). Ex.: as testemunhas arroladas pela acusação devem ser ouvidas em 20 dias se o réu estiver preso; se este prazo não for obedecido, não se compensa o atraso com um posterior adiantamento da fase seguinte e assim por diante... O constrangimento ilegal pela demora no término do respectivo ato processual surge imediatamente, independentemente do ato subseqüente. Acompanhando este entendimento pretoriano, a Lei nº 9.034/95, que disciplina o combate às ações praticadas por organizações criminosas, estabeleceu expressamente o prazo de 81 dias para o encerramento da instrução criminal em caso de réu preso e de 120 dias se solto ele estiver (art. 8º.). De toda forma, a injustificada demora processual acarreta constrangimento ilegal a ser remediado via habeas corpus, salvo se o atraso foi causado exclusivamente pela defesa. Nesse sentido, a Súmula 64, do STJ, in verbis: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. Este mesmo Tribunal Superior também sumulou que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula 52). Vê-se que nenhuma das duas súmulas pode ser aplicada a este caso. É verdade que alguns motivos às vezes justificam o atraso e impedem a alegação de constrangimento ilegal. Cita-os, exemplificando, Mirabete: processo em que há vários réus envolvidos, necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, citação editalícia, etc.62 A doença do réu ou do seu defensor, a complexidade da causa ou outro motivo de força maior também justificam a demora (art. 403, CPP). Nada disto, porém, aconteceu na presente hipótese, tudo a corroborar o evidente constrangimento ilegal ora suportado, e desde há muito, pelo acusado. Esta questão da demora no julgamento de um processo criminal, mormente quando se trata de réu preso, é causa de preocupações inclusive na doutrina alienígena, a ponto de estar expressamente consignado no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos firmado em Nova York, em 19 de dezembro de 1966 a seguinte cláusula: “3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias: (...) “c) De ser julgado sem dilações indevidas” (art. 14, 3, c). Igualmente lê-se no Pacto de São José da Costa Rica: “Art. 8º. – Garantias Judiciais “1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente...” (grifo nosso). No mesmo sentido, confira-se a Convenção européia para salvaguarda dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, art. 6º., 1. Na atual Carta Magna espanhola, art. 24, 2, temos: “Asimismo, todos tienen derecho (...) a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías...” (grifo nosso) Do mesmo modo a VI Emenda à Constituição americana: “Em todas as causas criminais, o acusado gozará do direito a um juízo rápido e público...” É o direito ao speedy trial. Aliás, determina o nosso Código de Processo Penal dever o juiz consignar nos autos sempre que a instrução terminar fora do prazo (art. 402). Muito a propósito deste processo, vejamos três julgados do STJ: “Configura-se o excesso de prazo, autorizável do habeas corpus, quando constatada a desídia do Juízo.” (STJ – RHC – Rel. Pedro Acioli – RSTJ 51/ 370). “Configurando o excesso de prazo a que não deu causa a defesa, configurado está o constrangimento ilegal. Foi a receita do legislador para que o Estado não ficasse indefinidamente com um acusado sob sua custódia, privado de liberdade, seu bem mais sagrado, sem o devido processo legal. É a maneira da Lei, denunciando a desídia dos agentes do poder público, estancar a coação ilegal que vez por outra se perpetra em nome do Estado.” (STJ – 5ª. Turma – HC 5284 – Rel. Min. Edson Vidigal – j. 04/03/97 – DJU 05/05/97, p. 17.062). “Comprovado excesso de prazo ensejador da impetração, e restando claro que a demora na instrução criminal ocorre por culpa do Juízo processante, há que ser concedido o benefício requerido.” (STJ – RHC – Rel. Min. Edson Vidigal – RSTJ 12/138 e RT 668/345). X – A PEÇA ACUSATÓRIA O devido processo legal também pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada, permitindo que o réu, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena. Por isso, inadmissível a aceitação da denúncia genérica no Processo Penal, bem como da chamada imputação alternativa, assim definida e aceita por Afrânio Silva Jardim: “diz-se imputação alternativa quando a peça acusatória vestibular atribui ao réu mais de uma conduta penalmente relevante, asseverando que apenas uma delas efetivamente terá sido praticada pelo imputado, embora todas se apresentem como prováveis, em face da prova do inquérito. Desta forma, fica expresso, na denúncia ou queixa, que a pretensão punitiva se lastreia nesta ou naquela ação narrada. “Por outro lado, como veremos mais adiante, a alternatividade também pode referir-se ao sujeito ativo da infração penal, acarretando um litisconsórcio no pólo passivo da relação processual penal.”63 Para o autor carioca, a imputação alternativa, portanto, poderá ser real (objetiva) quando por mais de um fato delituoso é acusado alguém; ou pessoal (subjetiva) quando mais de uma pessoa é acusada, alternativamente. É a chamada cumulação imprópria de pedidos. 64 Entre nós poucos doutrinadores enfrentaram esta questão. Frederico Marques, ainda que sem muita fundamentação, admite-a, afirmando que não há nada que a impeça, “pois que em face de uma situação concreta, que se apresenta equívoca, pode o acusador atribuir um ou outro fato ao réu. Não será motivo de escândalo – diz Pasquale Saraceno – a citação ‘de Tício como acusado de furto ou de receptação’. “Também Luigi Sansò admite la imputazione alternativa, uma vez que se traduza em acusação explícita, dizendo, por isso, que é perfeitamente ‘concebível a imputação alternativa do fato delituoso’. E isto quer se trate de alternativa entre um aliud e um aliud, e de alternativa entre um majus e um minus, visto que em ambos os casos há fatos diversos imputados ao réu.”65 Não admitimos qualquer imputação alternativa, pois estamos convencidos que toda acusação, seja pública, seja de iniciativa privada, deverá sempre ser determinada, especificando-se, inclusive, o mais possível, em que consistiu a conduta delituosa e a participação de cada um dos autores do fato, salvo absoluta impossibilidade.66 Se o “quadro probatório relativamente incerto constante do inquérito polici- al”67 não permite uma imputação certa, que sejam devolvidos os autos para novas e esclarecedoras diligências. O que não podemos admitir é que o réu tenha que se defender não se sabe exatamente de que, ou que alguém tenha que enfrentar todos os percalços de um processo criminal sem que tenha sido imputado a ele, de uma maneira mais ou menos certa (a denúncia exige, no mínimo, indícios da autoria) um fato delituoso. Ademais, nos moldes em que se dá a imputação alternativa, não poderá o acusado defender-se satisfatoriamente, já que dois fatos lhe foram imputados não cumulativamente. O réu precisa (e tem o direito) de saber qual a infração penal que se lhe atribuem, a fim de que possa, com o seu advogado, exercer a defesa em sua plenitude (defesa técnica + autodefesa). Por tudo quanto exposto, não entendemos possível, à luz do devido processo legal, a imputação alternativa, seja a real (ou objetiva) seja a pessoal (ou subjetiva). XI - CONCLUSÃO Estes são, em linhas gerais, os aspectos mais importantes que envolvem o direito ao devido processo legal. É evidente que há outros e muito mais poderíamos escrever. Não esquecemos, evidentemente, das provas ilícitas, do ne procedat judex ex officio, do princípio da correlação entre acusação e sentença, e tantos outros. De toda maneira, importante extrairmos esta lição de Bobbio e o faremos a título de conclusão: “Não é difícil prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais e não só dos homens. O que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas.”68 Período que abrange parte do governo de Getúlio Vargas (1937 – 1945) que encomendou ao jurista Francisco Campos uma nova Constituição, extraparlamentar, revogando a então Constituição legitimamente 2 outorgada ao país por uma Assembléia Nacional Constituinte (1934). 3 Fiore, Pascuale, De la Irretroactividad e Interpretación de las Leyes, Madri: Reus, 1927, p. 579 (tradução do italiano para o espanhol de Enrique Aguilera de Paz). 4 Marques, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. I, Campinas: Bookseller, 1998, p. 104. 5 Ob. cit. p. 108. 6 Comentando a respeito do Título que trata das nulidades no processo penal, o saudoso Frederico Marques adverte que “não primou pela clareza o legislador pátrio, ao disciplinar o problema das nulidades processuais penais, pois os respectivos artigos estão prenhes de incongruências, repetições e regras obscuras, que tornam difícil a sistematização coerente de tão importante instituto. (...) Ainda aqui, dá-nos mostra o CPP dos grandes defeitos de técnica e falta de sistematização que pululam em todos os seus diversos preceitos e normas, tornando bem patente a sua tremenda mediocridade como diploma legislativo” (ob. cit., Vol. II, p. 366/367). 7 Vitu, André, Procédure Pánale, Paris: Presses Universitaires de France, 1957, p. 13/14. 8 Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 10ª. ed., 2001, p. 318. 9 Grinover, Ada Pallegrini, “A reforma do Processo Penal”, in www.direitocriminal.com.br, 15.01.2001. 10 Maier, Julio B. J.. e Struensee, Eberhard, Las Reformas Procesales Penales en América Latina, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000, p. 17. 11 Norberto Bobbio assinala, muito a propósito, que “Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais” , in A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 1. 12 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Madrid: Editorial Trotta, 3ª. ed., 1998, p. 604. 13 Exposição de Motivos do Projeto de Código Processual PenalTipo para Ibero-América, com a colaboração dos Professores Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, in Revista de Processo, nº. 61, p. 111. 14 Grinover, Ada Pallegrini, “A reforma do Processo Penal”, in www.direitocriminal.com.br, 15.01.2001. Walter, Tonio, Professor da Universidade de Friburgo, in Revista Penal, “Sistemas Penales Comparados”, Salamanca: La Ley, p. 133. 16 Segundo Daniele Negri, da Universidade de Ferrara, “quizá nunca como en estos últimos cinco años había sufrido el procedimiento penal italiano transformaciones tan amplias, numerosas y frecuentes. (...) La finalidad de dotar de eficiencia a la Justicia se ha presentado como la auténtica meta de las innovaciones normativas que se han llevado a cabo en los últimos años (1997-2001).”, in Revista Penal, “Sistemas Penales Comparados”, Salamanca: La Ley, p. 157. 17 Revista Penal, “Sistemas Penales Comparados”, Salamanca: La Ley, p. 164. 18 Miguel Fenech, Derecho Procesal Penal, Vol. I, 2ª. ed., Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1952, p. 457. 19 Klaus Tiedemann, Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Barcelona: Ariel, 1989, p. 185. 20 Ada Pellegrini Grinover e outros, Recursos no Processo Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3a. ed., 2001, págs. 42 e 130. Nesta matéria trava-se séria divergência jurisprudencial (veja-se na obra citada a página 79). Conferir também excelentes trabalhos de Sergio Demoro Hamilton, publicado na Revista Consulex, nº. 18, junho/1998, Afrânio Silva Jardim, Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nº. 07, 1998 e de Ana Sofia Schmidt de Oliveira, Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim, nº. 48, junho/1996. 21 Klaus Tiedemann, Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Barcelona: Ariel, 1989, p. 184. 22 Ob. cit., p. 273. 23 Ob. cit., p. 608. 24 Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, 1ª. ed., 2ª. tiragem, Campinas: Bookseller, 1998, p. 213. 25 Código de Processo Penal comentado, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 4a. ed., 1998, p. 351. 26 Castanho de Carvalho, Luis Gustavo Grandinetti, O Processo Penal em face da Constituição, Rio de Janeiro: Forense, 2ª. ed., 1998, p. 85. Nesta obra, em carta dirigida ao autor, Tourinho Filho reafirma a sua posição acima transcrita, nos seguintes termos: “Todos sabemos que os Procuradores eram Promotores. Como podem eles, da noite para o dia, perder a agressividade acusatória para adquirir a serenidade da toga? Com raríssimas exceções, os Procuradores quando se manifestam nas apelações e nos recursos em sentido estrito deixam entrever, com clareza, que o cordão umbilical que os liga à parte acusadora não foi 15 cortado... Sendo assim, como podem atuar com imparcialidade? Ademais, como a defesa deve falar por último, a rigor, os autos deveriam sair da Procuradoria e ser encaminhados à OAB...” (p. 1). 27 Recursos no Processo Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª., ed, 2001, p. 52. 28 Sobre o assunto, conferir Dóro, Tereza Nascimento Rocha / Grecco, Leonardo. O parecer acusatório do Procurador de Justiça nos autos da apelação criminal (Da notória desigualdade de armas no duelo entre promotor de Justiça e advogado). Disponível na internet: http:// direitocriminal.com.br , 05/10/2001. 29 Estudos Jurídicos em Homenagem à Faculdade de Direito da Bahia, São Paulo: Saraiva, 1981, p. 88. 30 A propósito, veja-se no STF o HC nº. 67.759, rel. Min. Celso de Mello. 31 Hugo Nigro Mazzilli, Regime Jurídico do Ministério Público, São Paulo: Saraiva, 3ª. ed., 1996, p. 94. 32 Código de Processo Penal, Vol. I, Rio de Janeiro: Record, 2ª. ed., 1960, 120. 33 Teoria e Prática da Promotoria Pública, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2ª. ed., 1989, p. 158. 34 Apud Roberto Lyra, obra citada, p. 160. 35 Apud Roberto Lyra, obra citada, p. 164. 36 Idem, p. 165. 37 Tucci, respaldado pelas lições de Guglielmo Sabatini, prefere a expressão não-consideração prévia de culpabilidade, pois “l’imputato è sempre e solo imputato ai fini dello svolgimento del processo. Quindi non va considerato nè come innocente, nè come colpevole.” (in Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 1993, p. 401). Outros autores falam em princípio da não-culpabilidade e, como Dotti, em princípio da incensurabilidade. 38 Expressão preferida pelos italianos, ao invés do periculum in mora (cfr. Delmanto Junior, Roberto, in As Modalidades de Prisão Provisória e seu Prazo de Duração, Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 67). 39 Moraes, Maurício Zanoide de, Interesse e Legitimação para Recorrer no Processo Penal Brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 29. 40 Apud Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, A Convenção Americana sobre Direitos Humanos e sua Integração ao Processo Penal Brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 91. “Este princípio, perseguido pelo direito internacional geral, e vigorosamente defendido por setores da doutrina brasileira, parece não haver ganho, até o presente, expressiva concreção na jurisprudência brasileira, devendo ser lembrada a questão do depositário infiel.” (Bahia, Saulo José Casali, Tratados Internacionais no Direito Brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 116). O STF, reiteradamente, combate-o. 42 Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 15ª. ed., p. 74. 43 Processo Penal, São Paulo: Atlas, 10ª. ed., 2000, p. 649. 44 Direito de Apelar em Liberdade, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª. ed., p. 32. 45 Apud José Frederico Marques, in Elementos de Direito Processual Penal, Campinas: Bookseller, 1998, Vol. I, p. 79. 46 Ocorre que “nenhuma presunção emanada do legislador infraconstitucional pode prevalecer sobre a presunção constitucional”, como diz Luiz Flávio Gomes, ob. cit., p. 26. 47 Apud José Frederico Marques, in Elementos de Direito Processual Penal, Vol. I, Campinas: Bookseller, 1998, p. 37. 48 “Estes são, sobretudo, os princípios e decisões valorativas que encontram expressão na parte dos direitos fundamentais da Constituição, quer dizer, a prevalência da ‘dignidade da pessoa humana’ (...), a tutela geral do espaço de liberdade pessoal, com as suas concretizações (...) da Lei Fundamental.” (Larenz, Karl, Metodologia da Ciência do Direito, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª. ed., 1997, p. 479). 49 Idem, p. 481 50 idem, ibidem, p. 446. 51 “Toda a interpretação de um texto há-de iniciar-se com o sentido literal” (idem, p. 450). 52 Fiore, Pascuale, De la Irretroactividad e Interpretación de las Leyes, Madri: Reus, 1927, p. 579 (tradução do italiano para o espanhol de Enrique Aguilera de Paz). 53 “Consiste o processo sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto”, segundo nos ensina Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1961, 7ª. ed., p. 164. 54 Infelizmente já houve um retrocesso, pois a nova lei de tóxicos (Lei nº. 10.409/02, art. 46, § 12), estabelece que terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso 41 do respectivo procedimento, o que é lamentável. 55 Idem, p. 165. 56 Ob. cit., p. 441. Código de Processo Penal, Vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 7ª. ed., 1960, p. 157. 58 Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro, Vol. IV, 1943, p. 178. 59 Curso de Direito Judiciário Penal, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 1958, p. 377. 60 Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, Campinas: Bookseller, 1ª. ed., 1998, págs. 370/371. 61 Código de Processo Penal Comentado, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 6ª. ed., 2001, p. 460. 62 Ob. cit., p. 476. 63 Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 10ª. Ed., 2001, 149. 64 A cumulação própria existe normalmente no Direito Processual Penal, seja nos casos de co-autoria, seja na hipótese de concurso de crimes. 65 Elementos de Direito Processual Penal, Vol. II, Campinas: Bookseller, 1998, p. 153/154. 66 Admitimos a chamada denúncia genérica, excepcionalmente, no caso, por exemplo, de um roubo praticado por várias pessoas, em concurso, sem que se possa estabelecer exatamente que Fulano se dirigiu ao caixa, Sicrano imobilizou o vigilante, Beltrano subtraiu o dinheiro dos caixas, etc. 67 Afrânio, idem. 68 A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 18. 57 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DEVIDO PROCESSO LEGAL Eusebio de Oliveira Carvalho Filho, Advogado – Bahia, Professor do curso de especialização em Direito Civil e Processual Civil da pós-graduação da Fundação Cairu, Professor visitante da ESMESE – Escola Superior da Magistratura do Estado de Sergipe. SUMÁRIO. 1. Introdução e delimitação do tema; 2. Noções propedêuticas da responsabilidade do proprietário do veículo pelas infrações de trânsito; 3. Procedimento para aplicação de penalidade de trânsito segundo o CTB; 4. Consequência jurídica da falta de notificação da autuação; 5. Sistematização do procedimento de aplicação de penalidade segundo o CTB; 6. Conclusão; 7. Bibliografia. 1 . INTRODUÇÃO Uma das características do Código de Trânsito Brasileiro que tem recebido maior destaque nos comentários que lhe são feitos, diz respeito ao rigor das penalidades, não só pelo valor pecuniário das multas, mas também no que concerne a anotação de pontos na CNH, os quais podem implicar na suspensão do direito de dirigir. Assim, na mesma proporção que há rigorosidade, deve-se assegurar o direito de defesa do cidadão, entendido este em seu sentido mais amplo. Sendo uma forma de limitação ao direito de ir e vir, o Direito de Trânsito deve ser analisado e interpretado sempre sob o aspecto constitucional, a fim de que sejam respeitados e sopesados os princípios garantidores do interesse coletivo e da dignidade da pessoa humana. Neste breve estudo, será analisada a garantia do devido processo legal nos processos administrativos de aplicação de penalidade por infra- ção de trânsito ao proprietário do veículo. 2. NOÇÕES PROPEDÊUTICAS DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Preliminarmente, deve-se esclarecer como a Lei 9.503/97 (CTB) manifesta-se a respeito da responsabilidade pelas infrações de trânsito. Especificamente em relação ao proprietário do veículo e ao transportador da carga o art. 257, §§§ 1, 2º e 5º do CTB determina: “ 257 – As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, ... § 1º - Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de “per si” pela falta em comum que lhes for atribuída. § 2º - “ Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes e agregados, habilitação legal e compatível com seus condutores, quando esta for exigida, e outras exigências que deva observar. § 5º - O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. ” Tal artigo é claro e importantíssimo, pois no caso de aplicação de uma multa de trânsito, fica definido quem é o responsável pelas consequências advindas da penalidade (multa e anotação de pontos). Desta forma, sempre que infrações forem cometidas pelo proprietário, embarcador ou transportador, o condutor não tem legitimidade para ser notificado da autuação. A lei é clara quando diferencia condutor de infrator, não cabendo interpretação em sentido contrário. Confundir os conceitos de condutor, proprietário e infrator é reflexo do esquecimento da lição de Bobbio no sentido de dar a cada coisa o seu nome não é mera preocupação formalista, porém necessidade para construção de uma ciência.1 Assim, toda vez que o infrator for o transportador de uma carga ou o proprietário de um veículo, são estes que devem ser notificados da infração. O condutor do veículo não tem legitimidade para ser notificado, posto que pessoa estranha à relação jurídica obrigacional. 3. PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEGUNDO O CTB Diz o art. 280 da CTB: Art. 280 – “ Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: VI – assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.” No § 3º do mesmo artigo fica expresso: “§ 3º - Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II, e III, para procedimento no artigo seguinte.” Assim, é lógico que se o infrator não tiver ciência da infração no ato da fiscalização, tornar-se-á peremptório que o mesmo seja notificado nos moldes do artigo 281. Tal procedimento é exigido, pois o agente fiscalizador apenas tem competência para lavrar o auto de infração informando ao possível infrator que este poderá ser penalizado, abrindo-se prazo para defesa. Se o notificado é outrem, que não o responsável pela infração, não é de se esperar que seja do seu interesse apresentar a defesa, vez que não será ele que eventualmente sofrerá a penalidade. Com efeito, tanto o auto de infração como a decisão que aplica a penalidade de trânsito são atos administrativos, o primeiro efetuado pelo agente fiscalizador, no momento em que ocorreu a infração, e o segundo pela própria autoridade de trânsito, quando julgada subsistente a autuação. Segundo o escólio de Celso Antônio Bandeira de Melo o ato administrativo, para existir no mundo jurídico, precisa ser perfeito, válido e eficaz, senão vejamos: “ 12. O ato administrativo é perfeito quando esgotadas as fases necessárias à sua produção. Portanto, ato perfeito é o que completou o ciclo necessário a sua formação. Perfeição, pois, é a situação do ato cujo processo está concluído. 13. O ato administrativo é válido quando foi expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo. Vale dizer, quando se encontra adequado aos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. Validade, por isto, é a adequação dos atos às exigências normativas. 14. O ato administrativo é eficaz quando está disponível para a produção de seus efeitos próprios; ou seja, quando o desencadear de seus efeitos típicos não se encontra dependente de qualquer evento posterior, como uma condição suspensiva, termo inicial ou ato controlador a cargo de outra autoridade. Eficácia, então, e a situação atual de disponibilidade para produção dos efeitos típicos, próprios, do ato.”2 Não é por outro motivo que a Lei Federal n.º 9.503/97 (CTB) estabelece no seu capítulo XVII, de forma cristalina, o processo administrativo que a Administração Pública deve seguir a fim de que o ato administrativo de aplicação de penalidade de trânsito seja perfeito, válido e eficaz. Entretanto, data vênia, o que vem ocorrendo é que a Administração Pública, após cincos anos de vigência da Lei 9.503/97 (CTB), ainda não obedece aos princípios norteadores do devido processo legal, e, ao arrepio da lei, “rasga a Constituição”, transformando o processo de aplicação de penalidade de trânsito num espetáculo teratológico a dar inveja aos inquisitores medievais. 4. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO Neste diapasão, após constatada a infração, o auto deve ser encaminhado à autoridade de trânsito. Esta, na esfera da competência estabelecida pelo CTB e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível, art. 281 do CTB. Para alguém “julgar” é fundamental que seja oportunizado o contraditório às partes envolvidas. Se o agente autuou, é sintomático que o infrator possa contestar essa autuação para que o “julgamento” sobre a consistência do Auto de Infração seja pleno, cabendo logicamente a contestação tanto técnica quanto de mérito. Ressalte-se, assim, que, caso a autoridade não expeça a notificação para o infrator dentro do prazo de 30 dias, o auto de infração será arquivado e o registro julgado insubsistente. “Art. 281 - ... Parágrafo único – O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I – se considerado insubsistente ou irregular; II – se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.” ( redação alterada pela Lei n.º 9.602/98 ) Da legislação mencionada no presente trabalho, fica claro que o respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º CF, LV) induz logicamente que a infração de trânsito não poderá ser aplicada se o infrator não for notificado, posto que este tem o direito de tomar conhecimento da acusação, para, destarte, exercitar sua defesa. O princípio da legalidade impõe a administração pública fazer o que a lei determina. Na lição do eterno mestre Hely Lopes Meirelles: “ A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na administração não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “ deve fazer assim”. 3 Destarte, demonstrou-se que a imposição legal dos artigos 257, 280 e 281 deve ser respeitada e, em nenhum momento pode a Administração dela se afastar, sob pena de estar cometendo abuso de autoridade. O respeito ao princípio da eficiência (art. 37, CF) impõe que a Administração adote todas as medidas necessárias para dar o máximo de efetividade aos seus atos. Neste sentido, o presente estudo demonstra que a Administração, ao considerar válida a notificação de autuação de trânsito feita na pessoa do condutor do veículo, quando este não é o infrator, fere o princípio da eficiência, tendo em vista que este procedimento faz com que os atos administrativos possam ser anulados. Este fato é muito grave, pois desvirtua o ato do agente fiscalizador (muitas vezes correto) e causa graves prejuízos ao erário. Sobre o princípio da eficiência, assim discorre Alexandre de Moraes: “ Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Notese que não se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços sociais essenciais à população, visando a adoção de todos os meios legais e morais possíveis para satisfação do bem comum. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que o princípio da eficiência “ impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis a consecução dos fins que cabem ao estado alcançar”, advertindo, porém, que “ eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade sob pena sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito.” 4 Não é por outro motivo, que a jurisprudência dos Tribunais tem abraçado a tese que ora sustentamos, senão vejamos: “ ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. EXIGÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. CTN, ARTIGOS 110, 115 E 194. DECRETO 62.127/68, (ARTS. 125, 210 E 217). SÚMULA 127/STJ. 1. Como condição para o licenciamento, é ilegal a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação do infrator para defender-se em processo administrativo. 2. Precedentes jurisprudenciais. Súmula 127/STJ. 3. Recurso Improvido. Por unanimidade, negar provimento ao recurso.” RESP 184554/SC; DJ 29/03/1999, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA 03/11/1998, PRIMEIRA TURMA “ ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTA. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. DIREITO DE DEFESA. IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I – Não se pode renovar licenciamento de veículo em débito de multas. Para que seja resguardado o Direito de Defesa do suposto infrator, legalmente assegurado, contudo, é necessário que ele (infrator) seja devidamente notificado, conforme determinam os artigos 194 e 210 do Decreto n. 62.127, de 1968, alterado pelo Decreto n. 98.933/90. II – A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que, não havendo prévia notificação do infrator, para exercitar seu Direito de Defesa, é ilegal a exigência do pagamento de multas de trânsito, para a renovação de licenciamento de veículo. Súmula 127 – STJ. III – Recurso provido, sem discrepância.” (STJ, 1ª Turma, RESP 89265/ SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 03/06/1996, DJU 01/07/1996). Este também é o entendimento do STF: “ ... renovação de licença de veículo. Exigência de pagamento de Multa. Notificação do Infrator. Acórdão que concedeu a segurança sob o argumento que é ilegal o ato da autoridade que exige, para renovação do licenciamento do veículo, o pagamento de multa imposta sem prévia notificação do infrator para defender-se em processo administrativo. Inocorrência de negativa de vigência do art. 110 do Código Nacional de Trânsito. Dissídio jurisprudencial, não demonstrado. Recurso extraordinário de que não se conhece”( RE. 100.246 –PR – Rel. Min. Francisco Rezek, in RTJ 107/1.306 ) Sinaliza-se que na fundamentação do voto foram acolhidas as seguintes razões: “... 5. Em caso de infração, não sendo possível a notificação no ato (210 do Decreto n.º 62.127/68) deverá esta ser procedida a posteriori, pelos meios usuais, inclusive através da publicação em órgão oficial, como se prevê, aliás, na hipótese do art. 217 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Deve ser lembrado que somente com a notificação se formaliza a exigência. Antes dela, a multa é inexigível do proprietário. 6. A antiga praxe de não notificar o infrator, aguardando a época da renovação da licença para compeli-lo ao pagamento (CNT, art. 110), implica em última análise, em recusar-lhe o direito de defesa, assegurado pela própria legislação do Trânsito (artigos 112 a 116 do Código e artigos 21 a 221 do regulamento)” in RTJ 107/130. Nesse sentido, relatando o RE 89.072/SP, o eminente Ministro Thompson Flores, no pertencente à indispensabilidade da notificação ao infrator, comentou: “... O que assegurou é que , por exigi-las , é mister a prévia notificação pessoal do infrator, eis que conhecida sua residência, ressalvando, todavia, à recorrida proceder a sua cobrança. Deu exegese, pois, ao artigo 217 do Decreto n.º 62.127/68 e de forma mais razoável. Restam os artigos 125 e 110 do referido decreto. O primeiro conjuga-se com o já citado artigo 110 da Lei 5.108/68. Apenas admite ele, que a renovação se faça quando da imposição da multa tenha havido recurso não julgado. Não é o caso, pois, sequer o prazo passou a fluir para o recurso que exige depósito e pela ausência de notificação” in RTJ 92/316. Sobrepaira, ficando à deriva de específico exame da ocorrência, ou não, de infração, é que faltante a notificação, consubstancia-se a ilegalidade, obstacularizando a regular constituição do débito, por afronta à legislação vigente, qual seja, o CTB, Lei n.º 9.503/97. Desta forma, ressalta que no caso da falta de expedição da notificação ao infrator em tempo hábil, o auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente (art. 281, § único, II, do CTB). 5 . SISTEMATIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEGUNDO O CTB Com a finalidade de ilustrar-se o correto procedimento de aplicação de infração e penalidade, de acordo com o CTB, pede-se “venia” para exibir o diagrama a seguir: INFRAÇÃO ART. 280 DO CTB LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NA PRESENÇA DO INFRATOR (FLAGRANTE) ART. 280, INC. VI DO CTB LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO SEM A PRESENÇA DO INFRATOR ART. 280, § 3º DO CTB NOTIFICAÇÃO DO COMETIMENTO DA RECUSA DO INFRATOR APOSIÇÃO DA IN FRAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 EM ASSINATURA DO (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA NO AUTO APOR SUA INFRATOR NO AUTO LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO, caso DE INFRAÇÃO DE INFRAÇÃO contrário aplica-se - ART. 281, § ÚNICO, INC. II DO CTB APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO ART. 1º DA RES. 829/97 CONTRAN APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO JULGAMENTO DA CONSISTÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ART. 281, “CAPUT” DO CTB APLICAÇÃO DA PENALIDADE IDEM NOTIFICAÇÃO PENALIDADE DA AO IMPOSIÇÃO PROPRIETÁRIO DA DO VEÍCULO, ONDE CONSTE PRAZO PARA: • • • • PAGAMENTO DA MULTA; INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À JARI; 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DO RECEBIMENTO DA NOTIFI INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À JARI SEM PAGAMENTO DA MULTA ART. 286 DO CTB 6. CONCLUSÃO O tema é por demais instigante e deve ser estudado com atenção, pois da mesma forma que há rigorosidade na aplicação da penalidade, deve haver respeito aos dispositivos que garantem ao cidadão coibir os abusos de agentes e autoridades arbitrárias. O que se deseja demonstrar é a exigência de um procedimento que respeite o direito de defesa e garanta a dignidade do ser humano (art. 1º, III, CF), sem atingir o interesse da coletividade, posto que, uma vez consubstanciado o procedimento ilegal aqui apontado, a invalidade do ato administrativo de aplicação de penalidade de multa por infração de trânsito é providência que se impõe. Em virtude da nulidade do ato administrativo, a coletividade é prejudicada como um todo, posto que o infrator continua impune e o erário fica prejudicado (desperdício de tempo, material e dinheiro). Desta maneira, o processo administrativo de aplicação de penalidade de infração de trânsito deve ser respeitado para não restar configurado o mito Sísifo. 5 6 . BIBLIOGRAFIA. BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico: Editora Universidade de Brasília. FERREIRA, Pinto. Comentários à nova Constituição. MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 8ª ed., Malheiros Editores. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 21ª ed., Malheiros Editores. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 5ª ed., Atlas. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 13ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 1997. WITTER e LAZZARI, Ilton Roberto da Rosa e Carlos Flores. Nova Coletânea de Legislação de Trânsito, 17ª ed., Porto Algre, Sagra Luzzato. Teoria della Scienza Giuridica, p. 217. Curso de Direito Administrativo, 8ª ed., pag. 216, Malheiros 3 Direito Administrativo Brasileiro, 21ª ed. , p. 82, Malheiros Editores. 4 Direito Constitucional, 5ª ed., pág. 294, Atlas. 5 El mito de Sísifo, por Albert Camus. Segundo a mitologia grega, os deuses tinham condenado Sísifo a empurrar sem descanso um rochedo até ao cume de uma montanha, de onde a pedra caía de novo, em conseqüência do seu peso. Tinham pensado, com alguma razão, que não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. 1 2 AÇÃO POPULAR CONSTITUCIONAL Carlos Augusto Alcântara Machado, Promotor de Justiça e Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Sergipe (UFS), da Universidade Tiradentes (UNIT) e da Escola Superior da Magistratura de Sergipe (ESMESE), em Aracaju. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará (UFS) e autor do livro Mandado de Injunção – Um Instrumento de Efetividade da Constituição, publicado pela Editora Atlas em São Paulo. PALESTRA PROFERIDA NO SENEJ (Seminário Nacional de Estudos Jurídicos), no dia 10.10.02, promovido pelo Centro Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju (SE). 1. CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS E BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO: A utilização do nomem juris ação popular deriva, como recorda José Afonso da Silva1 em clássica obra, do fato de atribuir-se ao povo, ou parcela dele, legitimidade para pleitear a tutela jurisdicional de interesses que não lhe pertencem, ut singulis, mas à coletividade. O autor popular, deste modo, faz valer um interesse que só lhe cabe, ut universis, como membro de uma comunidade. Dessa forma, age pro populo. Registra a doutrina que a ação popular remonta ao clássico Direito Romano. Os estudiosos do Direito da antigüidade clássica legaram para o futuro a idéia de que as actiones populares constituíram fenômenos especiais no direito processual de ação. Isto porque a ação em geral é informada pelo princípio de que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Não é o que ocorre, rigorosamente, com a ação popular. Se por ação se definia ordinariamente o direito de pleitear a tutela jurisdicional para a proteção daquilo que nos é devido, não seria lícito agir em nome de outro, isto é, perseguindo direito alheio, salvo em defesa da coletividade, do povo. Daí a expressão pro populo. Constituindo-se em exceção a regra geral do direito de ação, as chamadas actiones populares seriam aquelas ações confiadas a um representante do povo para defender o direito do próprio povo. Com esse fundamento, diziam-se populares as ações que podiam ser intentadas por qualquer pessoa do povo, para a conservação das coisas públicas, nas precisas palavras de José Homem Corrêa Telles2 . Teriam a função de possibilitar a defesa do interesse coletivo e os cidadãos, fazendo uso da ação popular, exerciam uma espécie de poder de polícia em forma jurisdicional, como refere Bielsa3 . Observa-se, no entanto, que no Direito Romano as ações populares tinham um vasto campo de incidência e aplicabilidade. Procurando ilustrar a afirmação, de forma meramente exemplificativa, destacam-se algumas das ações qualificadas pelos romanos como populares: ação de sepulchro violato (violação de sepulcro, coisa santa ou religiosa); ação de positis et suspensis (qualificada também de popular penal, cabível contra quem mantivesse objetos na sacada ou na aba do telhado); interdictum de homine libero exbibendo (poderia ser interposto por qualquer um, em defesa da liberdade) e ação de collusione detergenda (cabível quando escravos ou libertos eram declarados nascidos livres). O que se percebe é que as ações populares poderiam ter um conteúdo de defesa da res pública, com caráter patrimonial, às vezes até penal, ou buscar a proteção de interesses individualizados. Lembra Paulo Lúcio Nogueira4 , que figurava o autor popular como sujeito de um direito subjetivo ou mero agente da coletividade na defesa de interesses coletivos. No Direito comparado, especificamente a partir do séc. XIX, encontramos, também, a utilização desse instrumento processual. Na Itália, a ação popular não tem nascedouro na Constituição. Pode ser utilizada na área civil como na penal, classificação essa de acordo com a modalidade da pretensão. A legislação prevê a possibilidade expressa de utilizada visando tutelar o direito patrimonial das instituições de beneficência, corrigir irregularidades e apurar eventuais responsabilidades dos seus administradores. Também na Alemanha há referências à ação popular como forma de defesa dos direitos fundamentais e instrumento de controle da constitucionalidade confiado a qualquer pessoa, mediante recurso ao Tribunal Constitucional. Na França é utilizada como um recurso contra o excesso de poder. Em Portugal encontramos a ação popular para defesa de coisa de uso comum do povo. Verificamos registros da utilização do instrumento também na Bélgica, Espanha, Argentina e na Inglaterra, evidentemente, sempre, cada uma, guardando características particulares. Algumas com caráter civil ou administrativo; outras até com caráter penal. A Constituição Portuguesa de 1976, no seu art. 52, reconhece o direito de ação popular, nos casos e nos termos previstos em lei. A Constituição da Espanha de 1978, da mesma forma, estabelece (art. 125) que os cidadãos poderão exercer a ação popular. Os dispositivos constitucionais são genéricos, não se observando a definição do campo material da ação. No Direito brasileiro, cuja origem advém do velho Direito lusitano, já encontramos, desde as antigas ordenações portuguesas, a possibilidade de utilização da ação popular. Poderia ser intentada por qualquer do povo para a conservação e defesa das coisas públicas. Desde a sua origem a ação popular brasileira foi compreendida como um instrumento de defesa da sociedade em geral, da coisa pública, não sendo possível a sua utilização para a tutela ou proteção de direitos subjetivos. Essa a razão pela qual, anos mais tarde, o Supremo Tribunal Federal delimitou o campo de atuação da ação popular, afirmando, com a Súmula Nº 101, editada em 16 de dezembro de 1963, que o mandado de segurança não substitui a ação popular5 . Durante o período do império, é de se destacar o conteúdo do art. 157 da Constituição de 1824. Dizia ele: “por suborno, peita, peculato e concussão, haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecido em lei” (grifos nossos). A primeira Constituição Republicana não acolheu a ação popular, nem mesmo a de aspecto penal prevista na Constituição do Império. Entretanto manteve-se o entendimento da possibilidade de sua utilização na defesa de logradouros públicos. Com a Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho, é que houve a introdução verdadeira da ação popular no Direito brasileiro, como forma de defesa do patrimônio público, de caráter eminentemente civil. Previa o texto constitucional no inciso 38 do art. 113: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade e a anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios”. Considerando que esta Constituição não teve vida duradoura, o instituto não foi utilizado. Abolida na Constituição de 1937, explicável em face do seu caráter autoritário, ressurgiu ação popular com a Carta Constitucional de 1946, desta feita um pouco mais ampliada. Estabelecia o seu art. 141, § 38: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade e a anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista”. O grifo destaca o acréscimo. A Constituição de 1967 manteve o instituto, com uma ligeira alteração na redação do dispositivo. Referia-se, genericamente, ao patrimônio de entidades públicas (art. 153, § 31). De idêntico conteúdo a disposição constante da Emenda Constitucional Nº 01/69, que funcionou, materialmente, como uma verdadeira Constituição. Foi no período compreendido entre a Constituição de 1946 e a de 1967, logo após o golpe militar de 1964 que surgiu a regulamentação legal do remédio constitucional: a Lei Federal Nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Tal legislação permanece até os dias atuais com modificações levadas a efeito pela Lei Federal Nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973 e pela Lei Nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977.. A Constituição de 05 de outubro de 1988, chamada de Constituição-cidadã, foi responsável não só pela permanência do instrumento processual, como também pela ampliação do seu objeto de incidência. Preceitua o atual texto magno (art, 5º, LXXIII): “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. Inaugura-se, com a nova Carta Magna, uma nova fase do instituto. 2. OBJETO E FINALIDADE DA AÇÃO POPULAR: Desde a promulgação da Lei Nº 4.717/65, acusada de casuísmos e com defeitos de técnica, como acentua Hely Lopes Meirelles6 , que se definiu o objeto de incidência da ação popular: buscou-se proteger o patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia, conforme já estabelecia a Constituição de 1946, como também o de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos (art. 1º, caput). A lei em foco indica o significado de patrimônio público como sendo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (§ 1º do art. 1º). Tais dispositivos, sucessivamente recepcionados pelas Constituições posteriores, deverão, evidentemente, ser interpretados na esteira do mandamento constitucional vigente, consubstanciado no art. 5º, LXXIII. No atual texto constitucional a ação popular foi elevada à categoria de direito fundamental, além de prever a possibilidade de ser utilizada também para buscar a anulação de ato lesivo à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Um grande avanço. É um instrumento de proteção especial do patrimônio público especificamente ou de entidade de que o Estado participe, não importando se pessoa jurídica de Direito público ou privado. Conclusivamente, é de se dizer, com José Cretella Júnior7 , que a ação popular visa impugnar não só os atos praticados por órgãos da Administração direta, ou centralizada, como também os praticados por empresas públicas, sociedades de economia mista, serviços sociais autônomos e entes de cooperação. Assim, havendo ilegalidade do ato ou ilegitimidade, associada a sua conseqüente lesividade em relação aos bens tutelados e anteriormente mencionados, autoriza-se o manejo da ação popular. Evidentemente, considerando a sua definição constitucional, a ação popular não se presta exclusivamente para ser ajuizada em casos de violação à lei (ilegalidade), mas também quando se detectar a hipótese de imoralidade administrativa. A lesividade poderá, ainda, ser presumida, quando presentes as hipóteses previstas no art. 4º da Lei Nº 4.171/65. Busca-se com o remédio heróico anular o ato lesivo, possuindo uma natureza tipicamente repressiva, sem no entanto vedar-se o seu possível caráter preventivo. É de se destacar, conforme dispõe a lei regulamentadora do instituto, mais precisamente no § 4º do art. 5º, que na defesa do patrimônio público caberá suspensão liminar do ato lesivo. A legislação de regência condiciona a declaração de nulidade dos atos administrativos à conjugação de dois requisitos: a irregularidade e a lesão ao erário (RSTJ 34/143). Nessa oportunidade é de se indagar se quaisquer atos podem ser impugnados por meio da ação popular. Em regra, somente os atos administrativos são passíveis de questionamento. Entretanto, algumas observações merecem ser destacadas. Tem-se compreendido que os atos de índole jurisdicional, ordinariamente, não estão incluídos no objeto da ação popular, porquanto contra eles há todo um sistema processual (recursal) para a impugnação respectiva e mesmo após o trânsito em julgado, é possível valer-se da ação rescisória. Como se percebe, com amplo respaldo doutrinário e jurisprudencial (J. M. Othon Sidou 8 ; Hely Lopes Meirelles9 e STF10 ) nem todos os atos estatais estão sujeitos a contestação mediante ação popular. Contra lei em tese e contra atos tipicamentes judiciais11 é incabível a ação popular. Sobre o tema, conclui o Min. Celso de Mello, quando apreciou o RMS-23.657, decisão publicada em 01 de agosto de 2000: “Tratando-se de ato de índole jurisdicional, cumpre considerar a seguinte dilemática: ou o ato em questão ainda não se tornou definitivo – podendo, em tal situação, ser contestado mediante utilização dos recursos previstos na legislação processual -, ou, então, já transitou em julgado, hipótese em que, havendo decisão sobre o mérito da causa, expor-se-á à possibilidade de rescisão”. Isto não quer dizer, no entanto, que qualquer ato proveniente do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário estão imunes à ação popular. As leis de efeito concreto e os atos e resoluções do Poder Judiciário, de conteúdo materialmente administrativo, são perfeitamente passíveis de impugnação através da ação popular. Por lei de efeito concreto entende-se aquela que se exaure no momento da sua aplicação ou, como explicita Hely Lopes Meirelles12 , é aquela que já traz em si as conseqüências imediatas de sua atuação13 . São leis, atos normativos somente no sentido formal, pois originárias do Poder Legislativo. São leis lato sensu e não stricto sensu, visto que as verdadeiras leis são aquelas em sentido formal e material, conjuntamente. Cumpre destacar, nesse passo, que, como antes afirmado, contra os atos e resoluções judiciais, de conteúdo materialmente administrativo, afetados pelo vício da ilegalidade e agravados pela nota da lesividade patrimonial, é possível a utilização da ação popular. A conclusão encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal14 . Rigorosamente, a ação popular presta-se à impugnação de atos ou omissões no plano puramente administrativo, sendo indiferente a origem (se do Poder Executivo – o que é o mais comum -, se do Poder Legislativo ou mesmo do Poder Judiciário). Por último, é de se destacar que com a ação popular persegue-se a anulação do ato lesivo, ilegal ou imoral. Essa é a razão pela qual o autor popular não pode pretender se substituir ao administrador público quanto à opção política por ele praticada na escolha de prioridades na gestão da coisa pública. Nesse caso a hipótese estaria imune, em regra, ao controle judicial15 . Além da declaração de nulidade do ato impugnado, com o resultado final da ação poderá haver também, a depender da situação, a condenação em perdas e danos. A ação popular, como legítimo meio processual de controle dos atos dos administradores públicos em geral ou de quem gerencia verbas públicas é um verdadeiro instrumento de defesa dos interesses da coletividade. E para tanto, como afirmou o eminente Min. Celso de Mello16 , em lapidar decisão monocrática, o autor popular tem direito, ação e pretensão à desconstituição judicial de quaisquer atos cuja validade ético jurídica esteja em desarmonia com os princípios e paradigmas de legitimação referidos no art. 5º, LXXIII, da Carta da República. E diz mais: a ação popular tem uma eficácia neutralizadora do estado de lesividade. 3. O AUTOR POPULAR: Desde a instituição constitucional da ação popular, nos idos de 1934, que se firmou entendimento no sentido de que é o cidadão quem dispõe de legitimatio ad causam para ingressar em juízo com o remédio processual, visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio público. A matéria amplamente discutida na doutrina e na jurisprudência foi devidamente pacificada no entendimento dos tribunais, mantendo uma interpretação autêntica, ao firmar o entendimento de que o manejo da ação popular foi confiado, com exclusividade ao brasileiro no exercício dos seus direitos políticos. Com essa definição de elementos encontrase o conceito clássico de cidadão. É dizer: considera-se cidadão para fins de ação popular somente a pessoa natural, física, desde que nacional e portador do título de eleitor ou documento que comprove o seu alistamento junto à Justiça Eleitoral (§ 3º do art. 1º da Lei Nº 4.717/65)17 . E tudo isso no fundamento de que se cabe ao eleitor escolher os governantes no processo eleitoral, caberá também, ao mesmo eleitor (cidadão), fiscalizar os atos dos governantes escolhidos democraticamente pelo povo18 . Alguns, considerando a amplitude do conceito de cidadania consagrado na Lei Maior vigente, procuraram elastecer o sentido do vocábulo cidadão constante no inciso LXXIII do art. 5º, buscando uma exegese ampliativa de seu conteúdo. Entretanto, a nova compreensão não ganhou corpo e manteve-se a tradicional posição. Registre-se que já há muito, em face inclusive da elaboração da Súmula do STF Nº 365, firmada em 16 de dezembro de 1963 – e ainda válida – que a nossa mais alta Corte de Justiça entende que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular, pelos argumentos anteriormente aduzidos. Os Tribunais brasileiros, vez por outra, enfrentam a matéria e têm se posicionado nesse mesmo sentido. Assim, a possibilidade, a aptidão para o gozo dos direitos políticos é condição inafastável para que uma pessoa possa figurar como autor popular, provando, documentalmente, a sua qualidade de eleitor. Somente desta maneira poderá figurar no pólo ativo da demanda. Uma questão relevante a ser discutida diz respeito à possibilidade de o menor de 21 anos figurar no pólo ativo da demanda sem assistência, como se exige nos demais casos do processo. O questionamento terá que ser respondido afirmativamente, porquanto foi a própria Constituição Federal que estabeleceu a situação singular de autor popular. Se a cidadania, no direito brasileiro, é comprovada com o título de eleitor ou documento equivalente, mesmo o menor de 18 anos e maior de 16, caso já seja eleitor, poderá ingressar com a ação popular sem necessidade alguma de assistência 19 . Diante do exposto, é de se concluir que no vocábulo cidadão, constante do art. 5º, LXXIII da Lei das leis, encontra-se presente tanto a legitimatio ad causam, como a legitimatio ad processum. Como a Lex Legum conferiu ao maior de dezesseis anos a possibilitar de votar, de ser eleitor, como expressão de um direito político, não poderíamos partir para uma interpretação restritiva, negando seu direito de, livremente, estar em juízo, na defesa da coletividade. Não há necessidade alguma de assistência 20 . Evidentemente que não estamos nos referindo ao jus postulandi, pois essa condição pressupõe uma habilidade técnica, a condição de advogado. O autor popular ingressará em juízo, através de advogado legalmente constituído. Em face de tudo que foi argumentado no presente item, estariam excluídos da condição de autor popular, portanto: a) Os estrangeiros; b) Os nacionais não eleitores; c) As pessoas jurídicas em geral, inclusive os partidos políticos, sindicatos ou associações civis; e d) Os nacionais que estejam privados temporária ou definitivamente do exercício dos direitos políticos. 4. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O PROCESSO DA AÇÃO POPULAR: Com a promulgação da Carta Magna de 1988, o Ministério Público foi erigido à condição de defensor da ordem jurídica, essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe também a defesa do regime democrático. O órgão ministerial, antes mesmo do advento da vigente Lei Maior, já funcionava no processo judicial na qualidade de órgão agente ou órgão interveniente (custos legis). Em determinadas ações, como o mandado de segurança, verbi gratia, por determinação legal, funcionava obrigatoriamente, sob pena de nulidade de todo o processo. A lei que regula a ação popular, desde a sua promulgação nos idos de 1965, já estabelecia a necessária participação do Ministério Público. A intervenção do órgão promotorial passou a ser obrigatória e o seu não chamamento à ação traria um vício insanável21 ao processo. Com a nova Constituição – e elevado o Ministério Público ao patamar de guardião do regime democrático – com muito mais sentido a sua participação no processo da ação popular, porquanto tal ação se constitui em instrumento de controle dos atos administrativos particularmente, quando lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Os bens tutelados pela Lei da Ação Popular guardam uma certa identificação com aqueles previstos na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.447, de 24 de junho de 1985 - meio ambiente e patrimônio histórico), cuja utilização foi confiada ao Ministério Público, sem no entanto ser-lhe atribuída legitimidade ativa privativa. É de se averbar que, conforme preceitua Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 12 de março de 1993), incumbe, também, ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (art. 25, IV, “b”). A presente atribuição é decorrência do mandamento constitucional que confere ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social (art. 129, III – CF). Recorde-se, ainda, que a Lei Nº 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa) visa proteger o patrimônio público (lesão ao erário) e consagra legitimidade ativa ad causam ao Ministério Público para promover a ação principal e medidas cautelares respectivas. Assim, em face das disposições jurídicas indigitadas, dispõe o Ministério Público de atribuição para, na qualidade de órgão agente, promover ações buscando proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e o patrimônio histórico, numa verdadeira identidade de objeto com o que pretende tutelar a Ação Popular. Diversa, no entanto, é a posição processual do órgão ministerial no processo da Ação Popular. Considerando a legitimidade ativa específica para quem possui a condição de cidadão, o Ministério Público não está autorizado a ingressar com o instrumento processual em estudo. Deverá participar como órgão interveniente, exercendo a função, como preceituam alguns, de parte pública autônoma22 . Conforme os ensinamentos de José Afonso da Silva23 , as atividades ou funções do Ministério Público serão de dois tipos: obrigatórias e facultativas. Em relação às atividades obrigatórias, a Lei de regência atribui ao Ministério Público deveres; no que pertine às facultativas, consagra direitos, faculdades. Ingressa o Ministério Público no processo da ação popular logo na fase inicial, visto que ao despachar a inicial o juiz ordenará, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público (art. 7º, I, “a” da Lei nº 4.717/65). Com tal ato processual toma conhecimento da ação e tem o dever constitucional e legal, como custos legis (defensor da ordem jurídica) e, notadamente, como curador do patrimônio público e social, de verificar a regularidade do processo, argüindo eventuais falhas detectadas. Pela dicção do § 4º da Lei nº 4.717/65 é dever do Ministério Público acompanhar todas as fases do processo, cabendo-lhe: a) Apressar a produção da prova; e b) Promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem. Desincumbindo-se da função constante do item “a”, deverá, ainda, providenciar para que as requisições determinadas pela autoridade judiciária sejam atendidas no prazo consignado. Um outro aspecto importante é a condição que poderá ser assumida pelo membro do Ministério Público: sucessor do autor popular. Logo, se o autor desistir da ação ou não promover o seu adequado andamento por desídia, serão publicados editais, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público promover o prosseguimento da ação (art. 9º, da Lei nº 4.717/65)24 . Na hipótese, entendemos ser faculdade e não dever. Evidentemente que, sem embargo da vedação constante da parte final do art. 6º, § 4º, da multi-referida lei, onde preceituou o legislador ordinário que é defeso ao Ministério Público assumir a defesa do ato impugnado ou de seus autores, isso não quer dizer que não possa se manifestar, quando do seu parecer final, pela improcedência da ação. Por fim duas últimas observações: 1ª) Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e o Ministério Público (art. 19, § 1º - Lei nº 4.717/65); e 2ª) Caberá, ainda, ao Ministério Público promover a execução da sentença condenatória, caso o autor popular assim não proceda no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da sentença de segunda instância (art. 16 – Lei nº 4.717/65). Resumindo, diríamos, na linha da jurisprudência 25 que o parquet, na ação popular, tem funções múltiplas: fiscal da lei; parte principal (promoção da responsabilidade civil ou penal quando for o caso); substituto do autor ou seu sucessor. 5. OUTRAS QUESTÕES POLÊMICAS: Ao final desse trabalho, elegemos duas outras questões que reputamos relevantes para o estudo da matéria. A primeira diz respeito ao foro competente para o processamento da ação e a segunda se relaciona à possibilidade do controle difuso da constitucionalidade. A Lei nº 4.717/65, no seu art. 5º, consagra uma nítida regra de competência: “conforme origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município”. Como na ação popular, na parte passiva (réus ou requeridos), poderemos ter pessoas públicas ou privadas e todos, enfim, aqueles referidos no art. 1º da Lei nº 4.717/6526 , o foro competente para processar e julgar a ação popular será a Justiça Estadual ou a Justiça Federal. Dependerá, portanto, da presença ou não, no pólo passivo da demanda da União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Em caso positivo, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal, a competência será da Justiça Federal. Não sendo detectado o interesse da pessoa jurídica de direito público federal ou de entes federais, competente será a Justiça Estadual. Havendo, no entanto, interesses conjugados (União e Estado), a competência também será da Justiça Federal (§ 2º do art. 5º Lei nº 4.717/65). Firmada a competência, estadual ou federal, a ação será processada sempre no primeiro grau de jurisdição, mesmo que estejam envolvidas autoridades que, em ações outras, como por exemplo no Mandado de Segurança, teriam foro privilegiado por prerrogativa de função. A matéria já foi apreciada sucessivas vezes pelo Supremo Tribunal Federal27 e, em todas as oportunidades, decidiu nesse sentido, inclusive na hipótese de ser o ato impugnado de autoria do Presidente da República. Mesmo nessa situação firmou-se o entendimento de que o juízo competente é o do primeiro grau de jurisdição. É interessante destacar, como acréscimo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a matéria, deliberou que a competência deve ser aferida não pela origem do ato a ser anulado, mas pelo fim a que ela visa. Assim, julgando caso específico sob a sua apreciação, que envolvia matéria eleitoral, definiu a competência para a Justiça Eleitoral, fazendo-nos concluir que não é somente a Justiça Comum que está autorizada a processar e julgar ações populares. Após o desenvolvimento de todos os aspectos abordados, apresentaremos uma última observação, concluindo o presente trabalho, que não teve a pretensão de esgotar a matéria e sim suscitar alguns questionamentos relevantes sobre o tema. Muito se discute se na ação popular seria possível o controle difuso da constitucionalidade. O controle da constitucionalidade, no Brasil, poderá ser levado a efeito por via de Ação Direta ou por via de exceção ou defesa. O primeiro caminho ficou conhecido como controle concentrado e o segundo, como controle difuso. O controle concentrado, operacionalizado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), visa o controle abstrato de leis e atos normativos editados em incompatibilidade com a Constituição Federal. É o controle da lei em tese, de competência privativa e originária do Supremo Tribunal Federal. A decisão reconhecerá a nulidade da norma impugnada, com eficácia erga omnes, vinculante e ex tunc. O controle difuso ou incidental é confiado a qualquer órgão do Poder Judiciário: juízes e tribunais. Tal modalidade de controle ocorre sempre no caso concreto, como forma de defesa de direitos individuais ou coletivos. Funciona como uma questão prejudicial ao mérito da demanda, e a decisão operará efeitos inter partes. O controle incidenter tantum poderá ser suscitado em qualquer ação e em qualquer grau de jurisdição. Há quem sustente a impossibilidade de se efetuar o controle difuso na ação popular, alegando que haveria usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não é o que pensamos. Na Ação Popular, como já explicitado, se impugna um determinado ato, individualmente considerado, levando em conta a lesividade aos bens por ela tutelados. Se esse ato está fundamentado em uma norma que padece do vício da inconstitucionalidade, tal situação será aferida como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio prin- cipal. Esse já é o atual entendimento da nossa mais alta Corte de Justiça28 . Objetivando deixar bem claro a possibilidade processual aqui defendida, permitimo-nos transcrever ementa de decisão do Supremo Tribunal Federal que, apreciando a questão, concluiu, cristalinamente, pela viabilidade do controle difuso em sede de ação popular: “A instauração do processo de ação popular constitui meio instrumentalmente adequado para a realização, pela via difusa, da fiscalização concreta de constitucionalidade, em ordem a permitir a qualquer magistrado a resolução da controvérsia cujo fundamento imponha, a esse órgão do Poder Judiciário, para efeito de acertamento do litígio, a necessidade de prévio reconhecimento da incompatibilidade vertical dos atos do Poder Público com o texto da Constituição da República” (STF – RCL 721-0/AL, DJU de 19.02.98, p. 08). O entendimento encontra amparo também na doutrina, expressa, por exemplo, nas lições de Guilherme Amorim Campos Silva e André Ramos Tavares29 . 6. SÍNTESE CONCLUSIVA: De tudo que foi exposto, é de se concluir: 1º) A ação popular é um instrumento processual apto para se buscar a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural; 2º) O cidadão, isto é, aquele que é eleitor, no gozo de seus direitos políticos, é o único que dispõe de legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação popular; 3º) O manejo da ação popular somente será possível desde que presente o binômio ilegalidade-lesividade; 4º) No processo da ação popular poderá ser impugnado, quando lesivo, o ato administrativo, stricto sensu ou o que lhe faça as vezes, originário de quaisquer dos poderes estatais; 5º) O Ministério Público funcionará no processo da ação popular tanto na qualidade de custos legis, como na condição de órgão agente, visando promover a responsabilidade penal e civil dos que nela incidirem. Deverá apressar a produção probatória, podendo funcionar como sucessor do autor popular; 6º) Para o regular processamento da ação popular o foro competente será sempre o do lugar do dano (Justiça Federal ou Estadual), no primeiro grau de jurisdição; 7º) É perfeitamente possível o controle difuso da constitucionalidade na ação popular, pois decisão prejudicial ao mérito da demanda. Essas as considerações que reputamos pertinentes para o estudo da Ação Popular Constitucional. Ação Popular Constitucional. São Paulo: RT, 1968, p. 02. Apud José da Silva Pacheco. O Mandado de Segurança e outras Ações Constitucionais Típicas, 3. ed. revista e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 518. 3 Apud José Afonso da Silva. Op. cit. , p. 15. 4 Instrumentos de Tutela e Direitos Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 94. 5 Em decisão mais recente o STF (MS-23.182/PI – DJU 03.03.2000) ratificou a jurisprudência da Suprema Corte e manteve o entendimento. 6 Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1992, p. 94. 7 Os Writs na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1989, p. 140. 8 Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ação Popular - As Garantias Ativas dos Direitos Coletivos, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 346. 9 Ob. cit., p. 96. 10 RMS-23.657, noticiado no Informativo STF nº 195 e publicado no DJU de 01.08.2000. 11 O Supremo Tribunal Federal, expressamente, reconhece que contra atos de conteúdo jurisdicional revela-se inadmissível o ajuizamento de ação popular pelos argumentos antes declinados. Só é possível contra atos de conteúdo eminentemente administrativo. Registra, também, a jurisprudência que é incabível ação popular para modificar decisão judicial com força de coisa julgada (TRF – 3ª Turma, REO 106.916-RJ, DJU de 01.1087, p. 21.010). 12 Ob. cit, pp. 95/96. 13 Como exemplos de leis de efeito concreto poderíamos citar aquela que considerada de utilidade pública uma determinada associação de moradores; a que dá nome a uma rua; a que desapropria bens; a que concede isenções; aspectos específicos das leis orçamentárias anuais, etc.. 1 2 RMS-23.657, noticiado no Informativo STF nº 195 e publicada no DJU de 01.08.2000. Manifestando-se pela impossibilidade de utilização da ação popular contra ato tipicamente jurisdicional José Afonso da Silva, ob. cit., p.130; Hely Lopes Meirelles, ob. cit., pp.122/123; José Cretella Junior, ob. cit., p. 128 e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 10 ed. São Paulo: Atlas, p. 540). 15 Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Apelação Cível 19990110762267APC DF, decisão em 27.05.2002, DJU de 21.08.2002. 16 ADPF-17, noticiada no Informativo STF nº 243 e publicada no DJU de 28.09.2001. 17 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, julgando a Remessa de Ofício 20000110431685RMO no dia 09.05.2002 (DJU de 12.06.2002), definiu a legitimidade do autor popular (cidadão – nacional no gozo dos direitos políticos), como também o documento comprobatório necessário: título de eleitor, não bastando a Carteira de Identidade ou do CPF para suprir eventual falha. 18 Hely Lopes Meirelles. Ob. cit., p. 88. 19 O art. 14, §1º, II, “c” da Constituição de 1988 estabelece que os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos podem se alistar como eleitores, facultativamente. 20 Ver nesse sentido as lúcidas lições de José Afonso da Silva, ob. cit., pp. 181/182. 21 Consoante registro da nota 2a. ao art. 6º da Lei de Ação Popular no Código de Processo Civil e legislação processual em vigor de Theotônio Negrão, 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 1035, “anula-se o processo desde o momento em que deixou de ser intimado o MP (RJTJESP 114/188)”. 22 Hely Lopes Meirelles, ob. cit., p. 98, leciona que “o Ministério Público tem posição singular na ação popular: é parte pública autônoma”. 23 Ob. cit., pp. 199/200. 24 Eis o texto expresso da Lei: “Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação”. 25 Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Apelação Cível 20010150053118APC DF, decisão em 27.05.2002, DJU de 21.08.2002. 26 Ver item 2 do presente trabalho. 27 AO-772, noticiado no Informativo STF nº 215, decisão em 14 19.12.2000. Em diversos acórdãos o STF decidiu que o STF não dispõe de competência para julgar ação popular (PET-2018, Informativo STF nº 199; PET-2239, Informativo STF nº 216; AGRPER-2018/SP, DJU de 16.02.01; RMS-23.657 e Informativo STF nº 195) 28 RCL-664, noticiada no Informativo STF nº 269, decisão em 25.04.2002; RE-100.354/SC, DJU de 01.02.85; ADPF-17, noticiada no Informativo STF nº 243, DJU de 28.09.2001. 29 Extensão da Ação Popular enquanto direito político de berço constitucional elencado no título dos direitos e garantias fundamentais dentro de um sistema de democracia participativa, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Político, nº 11/118-119. São Paulo: Revista dos Tribunais, citado por Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil Interpretada, São Paulo: Atlas, 2002, p. 431. AS CONSEQUÊNCIAS DA SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracaju/SE Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I- QUANDO O AUTOR DEIXAR DE COMPARECER A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS DO PROCESSO; Aparentemente, o texto legal acima transcrito não traz qualquer dúvida acerca do momento da sua aplicação, entretanto, na prática, tal dispositivo está sendo utilizado, data maxima venia, de modo inadequado. A Lei nº 9.099/95 dispõe sobre o trâmite do processo cível de sua competência, disciplinando, em síntese, quatro fases processuais distintas: - fase postulatória ; - fase conciliatória; - fase instrutória; - fase decisória. Inexistindo êxito na sessão de conciliação, imediatamente será realizada a audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa (art.27). Caso não possa ser realizada imediatamente a instrução do feito, será designada nova data, intimando-se as partes, seus patronos e eventuais testemunhas. De logo, observa-se que a Lei dispõe acerca da existência de duas audiências distintas: uma a audiência de conciliação (sessão de conciliação) e a outra a audiência de instrução e julgamento. Caso o autor deixe de comparecer a qualquer uma das duas audiências, sem motivo justificado, o processo será extinto, sem a apreciação do mérito, nos termos do art.51, inciso I da Lei n.9.099/95. A polêmica surge a partir do momento em que a audiência de instrução e julgamento, já iniciada, inclusive com a apresentação da con- testação, é suspensa, sendo designada nova data para a sua continuação. Neste momento cabe um adendo, no sentido de que, em regra, a audiência de instrução e julgamento tem o seu início e o seu encerramento no mesmo dia, ou seja, é proposta nova conciliação, não obtido o êxito, é colhida a contestação, ouvidos os depoimentos das partes e de suas testemunhas, encerrada a instrução , e prolatada a sentença. Excepcionalmente, acontecem situações em que a audiência tem que ser suspensa, seja pela existência de pedido contraposto (art.31, parágrafo único), seja por excesso de documentos apresentados pela defesa que impossibilite a manifestação imediata do pleiteante, seja pela ausência de testemunhas devidamente intimadas ou por qualquer outro motivo relevante. Na data e horário designados para a continuação da audiência de instrução e julgamento, o autor não comparece, sem apresentar qualquer justificativa, qual a solução para esta situação? A questão aparenta ser de facílima solução, aplica-se, no caso, o disposto no art.51, inciso I do diploma legal multicitado, ou seja, o processo será extinto , sem apreciação do mérito, em virtude do autor ter deixado de comparecer a uma das audiências do processo. A questão é mais complexa do que aparenta, não sendo essa a solução mais acertada, uma vez que contraria as lições básicas de processo civil. A priori , a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, quanto ao procedimento cível, prevê apenas a realização de duas audiências distintas: a audiência de conciliação e a de instrução e julgamento, as duas realizadas na mesma data, ou em datas distintas, entretanto de modo único, sem qualquer previsão de o ato ser desdobrado ou partilhado. Em face dos dispositivos legais contidos na legislação específica, têm-se entendido que a audiência de instrução e julgamento quando suspensa , dando ensejo à designação de nova data para a sua continuação , dá origem a uma nova audiência de instrução e julgamento , ou seja, um processo em sede de Juizados Especiais Cíveis poderia ter duas , três , cinco , ou mais audiências da mesma natureza, sem que jamais tivesse continuação e a ausência do autor, a qualquer das “audiências de instrução”, causaria a extinção do feito. Tal entendimento é processualmente equivocado uma vez que não há como se falar em múltiplas audiências de instrução e julgamento em um mesmo processo. Existe, sim, apenas uma única audiência que pode ser suspensa, partilhada, desdobrada, para ser continuada em datas e horários distintos, até o seu efetivo encerramento. Segundo o que dispõe o art.455 do CPC: Art.455. A audiência é una e contínua. Não sendo possível concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento, o juiz marcará o seu prosseguimento para dia próximo. – grifos nosso. Comentando acerca da audiência de instrução e julgamento, os Professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in Manual do Processo de Conhecimento – A tutela jurisdicional através do processo de conhecimento – Editora Revista dos Tribunais, 2001, fls.417 e 418, dissertam in verbis: 13.2 A unidade da audiência de instrução e julgamento e a possibilidade de seu desdobramento. A audiência de instrução e julgamento é una e contínua. Apenas quando não é possível concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento, é que o juiz marcará o seu prosseguimento para o dia próximo (art.455 do CPC). Note-se que a continuação da audiência não pode ser confundida com uma segunda audiência. Assim, se o interessado não apresentou, no prazo de cinco dias antes da audiência, o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome , a profissão e a residência (art.407 do CPC), não se abre , apenas porque a audiência foi desdobrada, novo prazo para a indicação, ou a livre substituição, das testemunhas. Desta forma, se o interessado deixa de arrolar dez testemunhas na oportunidade em que pode fazê-lo (art.407, parágrafo único, do CPC), arrolando, por exemplo, apenas cinco, ele não poderá arrolar mais cinco testemunhas apenas porque a audiência foi desdobrada para nova data. Porém, cabe realizar a diferença entre a audiência que começou e foi desdobrada e a audiência designada para determinada data, mas que sequer teve o seu início. Nesse caso, ao contrário do outro, em que a audiência deve continuar, abre-se nova oportunidade para a parte apresentar rol de testemunhas. – grifos nosso. Saliente-se que, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a situação de arrolar testemunhas é totalmente diversa da prevista no CPC, devendo ser ressaltado que o texto acima foi transcrito com o intuito de frisar a inexistência de audiências de instrução estanques no mesmo processo, sendo a mesma sempre contínua. Nesta mesma linha de raciocínio disserta o insigne Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2º Volume, 10ª edição, 1995, às fls.231: A audiência é una e contínua. Não sendo possível concluir num só dia a instrução, o debate e o julgamento , o juiz marcará o seu prosseguimento para dia próximo, mas não se tratará de nova audiência , mas sim da mesma audiência em continuação. – grifo nosso. O professor Humberto Theodoro Júnior, no seu Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, Editora Forense, às fls.529, analisando o desdobramento da audiência de instrução e julgamento, ensina: Una, na expressão do Código, quer dizer que, embora fracionada em mais de uma sessão, a audiência é tratada como uma unidade, um todo. Há, assim, uma continuidade entre os atos fracionados, e não uma multiplicidade de audiências, quando não é possível iniciar e encerrar os trabalhos numa só sessão. – grifo nosso. Corolário desta regra é que, se houver motivo para nulidade da primeira sessão, todas as demais posteriormente realizadas estarão afetadas, pois o vício atingirá a audiência como um todo. Desse modo, existe apenas uma única audiência de instrução e julgamento que, embora seja una, pode ser desdobrada, por consequência, equivocado o entendimento de que , ausente o autor no prosseguimento da audiência de instrução e julgamento, o feito deva ser extinto com fundamento do art.51, inciso I. Assim, tecnicamente, o correto é, mesmo ausente o autor à continuação da audiência de instrução, sem motivo justificado, o ato deve ser praticado normalmente, com a colheita da prova a ser produzida pela defesa, com o posterior encerramento da instrução e a prolação da sentença, inclusive com a apreciação do mérito. Caso , nem o autor, nem o requerido, compareçam à continuação da audiência de instrução e julgamento, a mesma deverá ser aberta, constar as ausências, ser encerrada e o processo será julgado no estado em que se encontrar, com as provas que já tiverem sido produzidas até aquele momento. Qualquer decisão em sentido contrário à realização da audiência, no sentido da extinção do feito, com base no multimencionado art.51, inciso I, ao que parece, além de tecnicamente incorreta, é injusta, pois dá ensejo ao processo ficar ao livre e total arbítrio do demandante, ou seja, ele apresenta a reclamação, tem conhecimento do inteiro teor da contestação, das provas apresentadas por seu oponente, observa que as mesmas lhe são desfavoráveis, consequentemente poderá ter inacolhida a sua pretensão e , para evitar a apreciação do mérito, provoca a extinção do processo sem o seu julgamento meritório. A Lei nº 9099/95 dispõe de dois momentos distintos, independentemente do requerimento de desistência, para o autor provocar a extinção do feito sem a apreciação do mérito, quais sejam: a audiência ou sessão de conciliação e a audiência de instrução e julgamento, entretanto esta iniciada, não pode mais o autor dar causa à extinção do processo por sua ausência, deve o mesmo obter a prestação jurisdicional. Tal posicionamento tem que ser adotado não apenas em respeito ao órgão jurisdicional , como, e principalmente , em respeito ao requerido que produziu a sua defesa, tendo direito à apreciação da mesma com a solução do litígio pelo Poder Judiciário. Assim, iniciada a instrução, designada data para a continuação da mesma, independentemente do comparecimento do demandante, o ato deverá ser praticado, sendo proferida a sentença a posteriori. Ultrapassada a situação de o autor não comparecer à continuação da audiência de instrução e julgamento, chega o momento da análise da situação de o requerente comparecer à continuação do ato e o requerido não, apesar de ofertada a contestação. Aplica-se à revelia ou não? O art.20 da Lei nº 9.099/95 dispõe: Art.20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Pelos mesmos argumentos já lançados, caso o demandado não compareça à audiência de conciliação, de logo é decretada a sua revelia, ressalvada a hipótese legal da convicção contrária do juiz, o mesmo ocorrerá quando o demandado , mesmo tendo comparecido à sessão de conciliação, deixar de comparecer à audiência de instrução e julgamento. Caso tenha sido apresentada a contestação, e a audiência de instrução e julgamento tenha sido suspensa, a ausência do demandado na continuação do ato não pode ensejar a decretação da sua revelia, mas sim a audiência deve ocorrer normalmente, sendo colhida a prova do autor , apenas, com o consequente julgamento do processo com a apreciação do mérito. Em conclusão ao tema objeto deste diminuto estudo, tem-se que, na continuação da audiência de instrução e julgamento, não cabe a incidência dos arts. 20 e 51, inciso I , ambos da Lei nº 9.099/95. CRIMINALIDADE VIRTUAL José Anselmo de Oliveira, Juiz de Direito do TJSE,professor da Universidade Tiradentes e da Escola Superior da Magistratura de Sergipe. Resumo: A importância do Brasil legislar sobre os crimes virtuais ou cibercrimes está na adequada prevenção e punição desses delitos que cada vez mais se aperfeiçoam diante da rapidez das mudanças tecnológicas. Palavras-chaves: crimes virtuais – direito penal – informática e direito penal. INTRODUÇÃO O Brasil necessita urgentemente de uma legislação penal para os crimes praticados através da rede mundial de computadores. A importância da informática no final do século passado e neste início de milênio é indiscutível, tanto para o avanço do conhecimento humano como das demais conquistas tecnológicas. Ao mesmo tempo, a criminalidade também com acesso às novas tecnologias passou a praticar delitos usando os recursos da informática. O Brasil tem um Código Penal de 1940 e que entrou em vigor em 1941, escrito sob as idéias e as realidades da década de 30 do século passado, portanto totalmente inadequado para o enfrentamento das questões como os crimes virtuais. Todavia, alguns delitos onde os resultados ilícitos são encontrados pela experiência da política-criminal, como é o caso do dano ao patrimônio, a violação da privacidade, a obtenção de lucros com o trabalho de outrem, só para citar estes, podem ser tratados com a lei penal existente. Mas, nem todas as condutas estão albergadas pela legislação penal codificada, e nem mesmo pela legislação penal especial, deixando um campo livre para a prática de crimes inabituais e que podem permanecer impunes. Impõe-se ao Estado, que tem o poder legiferante, a solução. Solução que passa pela discussão na sociedade civil e no Legislativo, para garantir um resultado digno de um Estado Democrático de Direito. 1. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A INTERNET Desde o ano de 1979 quando a IBM lançou o computador pessoal PC-XT até novembro de 1998 quando foi lançado o Pentium III, capaz de executar mais de 400 milhões de operações por segundo a uma velocidade superior a 500 MHZ, podendo hoje superar a casa de 1 GHZ, definitivamente entramos na era da informação. O desenvolvimento de tecnologias voltadas para interligação dos computadores, as poderosas redes, propiciaram a existência de quase (sic) um mundo paralelo, virtual, a coexistir com o mundo físico literalmente vagaroso, hermético, dividido por fronteiras (físicas, culturais, ideológicas, políticas, econômicas e tributárias). A rapidez da coleta, análise e disseminação de dados pelas corporações e pelo Estado têm proporcionado benefícios e, na mesma proporção, malefícios para a sociedade, como afirma GUSTAVO TESTA CORRÊA1. O conceito técnico de internet nos será útil para a compreensão do fenômeno de comunicação. Nos Estados Unidos, Flórida, o Procurador Geral do Estado definiu como “ A Internet é uma rede mundial, não regulamentada, de sistemas de computadores, conectados por comunicações de fio de alta velocidade e compartilhando um protocolo comum que lhes permite comunicar-se”2. Importante que se lembre aqui o fato de a World Wide Web, também conhecida como WWW não ser a Internet, esta é o meio pelo qual se torna possível a comunicação entre os computadores. Do ponto de vista econômico, a rede mundial movimentará um crescente mercado superior a 50 bilhões de dólares americanos até o ano de 2005, interligando no mundo inteiro cerca de 200 milhões de pessoas, número que deverá alcançar até 2010 a casa dos 700 milhões. Esses expressivos números revelam o potencial de relações econômicas e jurídicas que prescindem a sua operacionalização, empresas de hardware e de software, provedores de acesso, empresas de comércio virtuais entre outras. Paralelamente ao fantástico mundo da telemática, surgiu nos anos 70, através de Ted Nelson3, a idéia do hipertexto, cujo princípio, simples, era a de através de um documento cujas palavras selecionadas direcionassem o usuário para outro documento em que houvesse uma relação com aqueles vocábulos. A idéia era conectar toda a informação mundial em um sistema gigante de hipertexto. Ensina GUSTAVO TESTA CORRÊA que a web ou WWW é um conjunto de padrões e tecnologias que possibilitam a utilização da Internet por meio dos programas navegadores. Em março de 1989, no Laboratório de Física de Genebra, foi proposto por Tim Bernes-Lee o desenvolvimento de “sistema de hipertexto” que possibilitasse a troca de informações entre grupos de pesquisadores em diferentes locais, sendo apresentado o projeto um ano depois, em outubro de 1990. Em 1991 já era anunciada pelo Laboratório de Física de Genebra a disponibilidade do programa WWW para toda a comunidade científica que pesquisava física e energia. Mas, é em 1993 o marco do período de desenvolvimento contínuo da WWW, atualmente possibilitando a comunicação sem fios de imagens e sons, e a já anunciada comunicação tridimensional. Este crescimento vertiginoso fez com que os Estados nacionais cuidassem de ordenar as novas relações jurídicas e institutos como os domínios ou endereços eletrônicos e seus respectivos registros, entre outras. No Brasil os Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia constituíram em 1995 o Comitê Gestor Internet com a finalidade, entre outras, de tornar efetiva a participação da sociedade nas decisões sobre a implantação, administração e uso da internet. Neste ponto, começam a surgir questões ligadas ao direito autoral, criminal e tributário, entre outras relativas às garantias fundamentais previstas na Constituição da República Federativa Brasileira. Neste trabalho, a ênfase será especificamente para as questões do Direito Penal. 2.INFORMÁTICA E DIREITO PENAL O surgimento da tecnologia da informação como evolução da cultura ocidental dos átomos, hoje assentada na cultura dos bits, a uma velocidade cada vez maior, tem sido um desafio para o direito de um modo geral. É que de meio físico das relações jurídicas no caso da cultura dos átomos, sua evolução insurgiu-se contra este simples “meio” para se cons- tituir numa específica relação jurídica nova. Rompem-se com a tecnologia da informática as variáveis de tempo e espaço que permitiam uma definição clássica do Direito e sua aplicação. Não há mais fronteiras. Os limites físicos que limitavam as ações humanas foram desfeitos. Não há submissão sequer a uma ordem jurídica determinada posto que inexistem limites espaciais. De certo modo, o direito tradicional encontra dificuldades de ordem teórica e pragmática para enfrentar novas condutas e novas relações que surgiram com a tecnologia da informação, especialmente com a internet. No campo do Direito Penal o problema é muito mais grave ainda. Os cânones do Direito Penal se apresentam caducos e insuficientes para enfrentarem as condutas que lesionam bens juridicamente protegidos por falta de uma adequação legal. Esse não é um problema do Brasil. No mundo inteiro enquanto se tenta adequar a legislação penal para solucionar as novas exigências da criminalidade eletrônica, a rapidez com que os programas e processos eletrônicos se modificam, evoluem, impedem pela doutrina clássica de se alcançar determinadas condutas. Os problemas que de modo unívoco vem causando indignação e perplexidade pela virtualidade do meio, são as condutas que abusam sexualmente das crianças e adolescentes, a chamada pedofilia; os crimes de invasão de privacidade; os furtos pelos meios eletrônicos; os crimes contra os direitos fundamentais, especialmente os que difundem posturas e idéias neonazistas que divulgam a intolerância racial e social, a violência genocida sem fronteiras e ainda por cima anônimas. Portanto, os crimes virtuais ou de informática, merecem por parte dos estudiosos tanto da informática como do Direito uma reflexão. Há necessidade de se conduzir a moderna tecnologia dentro de uma postura ética condizente com os valores universais. O desafio está lançado. A busca da conciliação da superação dos limites tecnológicos de informação e a garantia do Estado Democrático de Direito. Quem sabe, o desafio maior mesmo não seja o de harmonizar a transnacionalidade da internet com os ordenamentos penais locais e regionais? Como o Direito é uma ciência cultural, com toda a certeza a perspectiva é que a esses novos fatos, que se modificam a uma velocidade até pouco tempo impossível de se imaginar, informem a produção de novos conceitos e normas jurídicas penais. A grande discussão atual é se os legisladores estariam preparados para darem corpo às normas nesta área tão volátil como a da informação. Da mesma forma, esta discussão pode, e deve, ser estendida aos operadores do Direito de um modo geral, e em especial, aos juízes que tem o poder da aplicação do Direito no caso concreto. Indiscutivelmente é necessário mais que nunca discutir o tema nas faculdades de Direito, na graduação e na pós-graduação, nas escolas superiores das carreiras jurídicas e nas próprias instituições, no Judiciário, Ministério Público e na Ordem dos Advogados. A informação num Estado Democrático de Direito deve servir aos princípios democráticos. A discussão sobre computadores e redes, que de algum modo afeta a vida de todos os cidadãos, do mais abastado ao miserável, nem que seja para as estatísticas governamentais, ou mesmo para trivialidades como usar o telefone público deve ser de interesse e com a participação de todos. Ao contrário dos que vêm no avanço da tecnologia da informação uma ameaça aos valores da sociedade estabelecida dogmaticamente nos princípios da era industrial e do liberalismo econômico e social, é de se perceber que existe um ganho com a democratização das informações. A globalização já existe através do computador e que as fronteiras ainda existem por uma questão de tempo e que tudo isso é um ensaio para uma nova sociedade alicerçada em novos paradigmas, inclusive de ordem criminal. 3. A TEORIA DO DELITO E OS CHAMADOS CRIMES VIRTUAIS A sociedade da era da informação descobriu com a popularização do uso do computador e da internet o inevitável conflito de interesses emergentes a exigir uma posição do Direito. Em especial, do Direito Penal. Não foi por outro motivo que em 1994, no período de 4 a 10 de setembro no Rio de Janeiro, foi tema no XV Congresso Internacional de Direito Penal da A.I.D.P. 4, tratando dos crimes de computador e dos outros crimes contra a tecnologia da informação. Informações são riquezas, e onde houver riquezas haverá crime. Sendo a internet um meio novo, rápido e frágil, por onde somas vultosas transitam em operações digitais, abriram-se frentes para o chamado crime digital, interceptando e “furtando”, fraudando assinaturas digitais, cartões de crédito, além do uso da rede para alimentar a exploração da prostituição e da pornografia, inclusive infantis, da pirataria eletrônica de software, da lavagem eletrônica de dinheiro e crime de hacking. A preocupação com o avanço e a ousadia dos chamados crimes virtuais ou de informática tem levado os países de todo o mundo a tentar encontrar soluções jurídico-penais, o que não vem sendo muito fácil, tanto pelo desconhecimento e despreparo dos legisladores para discutirem essa nova realidade e normarem a conduta dos envolvidos, como pelo dogmatismo que marca o Direito Penal, em especial quanto à teoria do delito. O Direito Penal moderno tem por fundamento princípios próprios do Estado de Direito democrático, destacando-se entre eles, o da legalidade dos delitos e das penas, da reserva legal ou da intervenção legalizada5. “O delito é uma construção fundamentalmente jurídico-penal”, como afirma LUIZ REGIS PRADO6, apesar de ser objeto de exame por outras ciências, a exemplo da criminologia, política-criminal, sociologia, medicina legal. LIZT ensinava que o “delito é o fato ao qual a ordem jurídica associa a pena como legítima conseqüência”7, estabelecendo assim uma relação de contrariedade entre o fato e a lei penal. Substancialmente o delito representa uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, de caráter individual, coletivo ou difuso. A ação ou omissão quando se constituir de caráter danoso ou desvalor social, verificados num dado momento histórico, colhidos da experiência da vida social onde tais condutas venha tornar a vida comunitária instável e insegura. Dogmaticamente o delito é toda ação ou omissão típica, ilícita ou antijurídica e culpável. Observando-se que a teoria do delito é também garantidora contra o abuso do próprio Estado, não se podendo deixar à discricionariedade do Estado-Juiz a criminalização das condutas, por isso o princípio do nullun crimem, nulla poena, sine lege. Assim é que se impõe uma legislação penal adequada, no tocante à informática, tipificando-se condutas para atender o postulado do nullun crimen, especialmente quando estas são frutos da especialíssima atividade. Não existe no Brasil legislação penal que conceitue os dados do computador, e aí a possibilidade de se aplicar no caso de “hacking” a figura típica do crime de dano, por exemplo, já se torna impossível. Nesse tipo de crime podem existir mais de uma conduta distintas: uma, onde o hacker destrói os dados do computador; em outras, usa o computador para causar lesão ao patrimônio alheio, ou também copia os dados para auferir lucros em seu benefício ou de outrem. As condutas decorrentes do uso ou abuso dos computadores e da internet independentemente de lei nova, dependendo da ação, poderá ser aplicada a legislação vigente, a exemplo do que possa constituir fraude, posto que a figura típica do art. 171, caput, CP, aplica-se sem qualquer discussão. Outro exemplo está no caso da exploração sexual de crianças, com a aplicação do art. 241, do ECA, que pune aquele que fotografar e publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Podemos ainda elencar as disposições penais relativas aos direitos autorais e a patentes, como exemplos de que a lei que existe é suficiente para algumas das condutas danosas no campo da informática. É fato incontroverso que há novidades de condutas, e que não imaginava e nem poderia supor o legislador, e por isso, tornou-se imperioso que o mais rápido possível se tipifique estas condutas que possam lesionar bens juridicamente tutelados. A Itália enfrentou este problema juntamente com toda a comunidade européia, e já no período de 29 de dezembro de 1992 a 23 de dezembro de 1993, a lei de informática italiana sofreu algumas modificações para preencher as lacunas existentes8. Os Estados Unidos também vêm enfrentando problemas da mesma natureza, em 1986 foi promulgada a lei mais importante, chamada de Computer Fraud and Abuse Act - Lei de Fraudes e Abusos por Computador, na qual a tipificação das condutas delitógenas fôra dividida em categorias: a) acessar sistemas sem autorização, com o objetivo de obter informação governamental restrita; b) acessar sistemas sem autorização, com o objetivo de obter informação financeira restrita; c) ter a intenção de acessar, sem autorização, qualquer computador do governo, ou qualquer computador utilizado pelo governo; e, d) transmissão de dados através de computador objetivando fins ilícitos. Em 1996 foi promulgada a Communication Decency Act - Lei de Decência nas Comunicações que objetiva controlar o aumento da pornografia e informações terroristas dentro da internet, responsabilizando os provedores de acesso pelo controle, mas que por decisão judicial foi declarada inconstitucional por ferir a liberdade de expressão, princípio fundamental da Constituição norte-americana. No Brasil a liberdade de expressão também é um direito fundamental garantido na Constituição da República Federativa brasileira, e enfrentaremos com certeza muitas discussões todas as vezes que tivermos que tratar de questões que envolvam direitos fundamentais de um lado e do outro a busca do controle para evitar o abuso na internet. Um problema concreto, embora não ligado diretamente ao Direito Penal, mas ao processo penal, é a jurisdição. Na internet os crimes podem ser praticados à distância, de um país para outro, estabelecendo dificuldades face às questões de soberania dos Estados, quanto a competência para julgar o infrator. Mais do que nunca é necessário se pensar em um tratado internacional como forma de permitir, como no Pacto de San José da Costa Rica, que o autor do crime possa ser processado por qualquer signatário independente de sua nacionalidade. Não é desarrazoada a crítica do despreparo dos legisladores para fazer leis contra cibercrimes. É preciso abrir o debate com a comunidade e seus segmentos para que não nasça uma lei incapaz de ser útil à sociedade. 4.AS PROPOSTAS DISCUTIDAS NO LEGISLATIVO BRASILEIRO No Brasil, não é diferente, só que os projetos de lei tramitam de forma muito lenta para a importância e a rapidez com que as condutas são alteradas. O primeiro Projeto de Lei n.º 1.713, de 1996, de autoria do deputado federal, Cássio Cunha Lima, e até o momento nada foi definido. Arrasta-se no Senado o projeto de lei de imprensa em que também se criminaliza algumas condutas, e também tramita na Câmara o Projeto de Lei 84/1999 do deputado federal Luiz Piauhylino que trata também de crimes de informática. No Projeto de Lei 84/99 são criadas algumas figuras típicas a exemplo do crime de dano a dado ou programa de computador (art. 8.º), seguindo de um modo geral a experiência italiana. Pune o acesso indevido ou não autorizado (art. 9.º), a alteração de senha ou mecanismo de acesso a programa de computador ou dados ( art. 10), a obtenção indevida ou não autorizada de dado ou instrução de computador ( art. 11), a violação de segredo armazenado em computador, meio magnético, de natureza magnética, óptica ou similar (art. 12), a criação, desenvolvimento ou inserção em computador de dados ou programa de computador com fins nocivos (art. 13), e a veiculação de pornografia através de rede de computadores (art. 14). O Projeto n.º 1.713/96 ,do deputado Cássio Cunha, trata dos mesmo delitos do Projeto n.º 84/99. Observando a importância da matéria, tendo em vista que todos estamos à mercê dos crimes virtuais, inclusive o governo cujas informações e dados já foram vitimados por hackers, e o particular de maneira geral face à automação bancária e aos serviços postos na rede mundial de computadores, as compras pela internet e o uso dos cartões de crédito, entre outros, o processamento além de lento não vem sendo objeto de discussão com a sociedade civil. Para não dizer que não existe nenhuma lei brasileira que puna algum crime de informática, a Lei n.º 7.646, de 18 de dezembro de 1987, que dispõe sobre os direitos autorais de programas de computador e sua comercialização no país, em seus arts. 35 e 37, cria tipos penais específicos para punir a violação dos direitos do autor de programas de computador e a importação, exposição, depósito, para fins de comercialização de programas de computador não cadastrados. Estamos longe ainda do enfrentamento das questões criminais da informática, a exemplo da investigação desses crimes. Num país onde os crimes comuns não conseguem ser desvendados por faltar apuro técnico na maioria das vezes, é de se preocupar quando o crime objeto da investigação é o da fina tecnologia envolvendo conhecimentos técnicos de elevado nível. Como se não bastasse o problema da investigação, outro deve ser discutido em nível de elaboração legislativa, o da competência: será um crime federal ou crime comum? O que determinará se a competência será da Justiça federal ou da estadual? E mais, como ficam os crimes de informática conexos com outros como o narcotráfico, lavagem de dinheiro, crimes do colarinho branco, entre outros? A solução será dada com a aplicação da parte geral do Código Penal, ou terá uma regra especial? Essas dúvidas bem que poderiam fazer parte da discussão da comissão de reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal brasileiros. CONCLUSÃO A título de conclusão podemos afirmar que as questões criminais da informática são relevantes para a sociedade e os governos, se não houver uma legislação que possa punir e assim tentar evitar a prática dessas condutas, o risco é muito grande para os governos, os administrados e a sociedade em geral. As informações e os dados que estão disponibilizados nos computadores no mundo inteiro podem gerar de uma catástrofe a guerras. O perigo de essas informações caírem em mãos inescrupulosas não é virtual, é potencial. Impotentes estão os governos e os Estados diante da rapidez e da fluidez das comunicações na rede mundial de computadores, num contraponto em relação à lentidão burocrática do Legislativo e da falta de discussão ampla dos problemas com a sociedade civil, essencial quando se busca coroar o Estado Democrático de Direito. No Brasil, estamos atrasados. E isto pode comprometer o esforço da sociedade brasileira no sentido de alcançar o mesmo nível na área da informação dos países mais desenvolvidos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Livros AMÊNDOLA NETO, Vicente. Direito Penal Princípio da Legalidade. Campinas: Julex, 1997. CORRÊA, Testa Gustavo. Aspectos jurídicos da internet. São Paulo: Saraiva, 2000. GRECO, Marco Aurélio. Internet e Direito. São Paulo: Dialética, 2000. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. REALE JR., Miguel. Teoria do delito .São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2000. ROXIM, Clauss. Tradução de Luís Greco. Política Criminal e Siste- ma Jurídico-Penal. Rio de Janeiro: Renovar,2000. Artigos na Internet ARDIZZONE, Salvatore. A Legislação Penal Italiana em matéria de crimes de computador. htpp://neofito.direito.com.br/artigos/ DIMANTAS, Hernani. Políticos não estão preparados para fazer leis contra cibercrimes. www.direito.com.br. CÉSAR, Ricardo P.. Leis para regulamentar a internet se arrastam no Congresso www.direito.com.br.. 1 In Aspectos Jurídicos da Internet, São Paulo: editora Saraiva, 2000. Citado por Gustavo Testa Corrêa, op.cit. 3 Pesquisador do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. 4 Associação Internacional de Direito Penal 5 Ver o art. 5.º, XXXIX, CF, e o art. 1.º, CP. 6 In Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. Pág. 133. 7 VON LIZT, Franz. Tratado de Derecho Penal, II, p. 262. 8 Foram editados o decreto legislativo n.º 518, de 29.12.1992, a lei n.º 547, de 23.12.1993. O primeiro a tutelar o direito do autor dispondo penalmente sobre a duplicação ou a manipulação abusiva dos programas, e a segunda, modificou o Código Penal Italiano, acatando sugestões do XV Congresso Internacional de Direito Penal e a lista mínima contida na recomendação do Conselho da Europa, de n.º 89, de 13.09.1989. 2 OS PRINCÍPIOS E A IMPORTÂNCIA PRÁTICA DA REFLEXÃO TEÓRICA NO CONTEXTO PÓS-POSITIVISTA: DESCONFIANDO DA SAÍDA FÁCIL Francisco Alves Junior, Juiz de Direito e Professor da ESMESE “Constituição é, nesse sentido, um espelho da publicidade e da realidade. Ela não é, porém, apenas o espelho. Ela é, se se permite uma metáfora, a própria fonte de luz. Ela tem, portanto, uma função diretiva eminente” (Peter Härbele) 1. Introdução 2. Antítese jusnaturalismo x positivismo jurídico 3. O pós-positivismo 4. A tópica 5. A tópica “mitigada”: método hermenêutico-concretizador de Hesse e Müller 6. Härbele e a “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”: a conexão entre tópica e democracia 7. Os princípios na obra de Dworkin 8. Os princípios na obra de Alexy 9. A razão comunicativa de Harbemas 10. O paradigma póspositivista 11. Um exemplo concreto: o problema da presunção de violência nos crimes sexuais em razão da idade da vítima 12. Conclusões 1. INTRODUÇÃO O presente trabalho tem por objetivo verificar se os esquemas clássicos de silogismo, aplicados pelo método positivista de interpretação jurídica, ainda respondem à demanda social por soluções justas. Nesta seara, avulta a importância do estudo, identificação e reflexão teórica acerca dos princípios jurídicos, que passam a ocupar posição de destaque no cenário jurídico. De fato, “sem aprofundar a investigação acerca da função dos princípios nos ordenamentos jurídicos não é possível compreender a natureza, a essência e os rumos do constitucionalismo contemporâneo”1. E forçoso é constatar que, de há muito, Cada vez mais, juristas vindos de todos os cantos do horizonte recorrem aos princípios gerais de direito, que poderíamos aproximar do antigo jus gentium e que encontrariam no consenso da humanidade civilizada seu fundamento efetivo e suficiente. O próprio fato de esses princípios serem reconhecidos, explícita ou implicitamente, pelos tribunais de diversos países, mesmo que não tenham sido proclamados obrigatórios pelo Poder Legislativo, prova a natureza insuficiente da construção Kelseniana que faz a validade de toda regra de Direito depender de sua integração num sistema hierarquizado e dinâmico, cujos elementos tirariam, todos, sua vontade de uma norma suprema pressuposta2. Tal reflexão se mostra necessária na medida em que propicia a crítica do sistema normativo posto, viabilizando a reconstrução da coerência esperada do mesmo, sempre a partir do viés constitucional, com vistas à construção mais justa para o caso concreto. O estudo se volta para análise da evolução do pensamento jurídico contemporâneo, procurando sintetizar suas principais correntes, partindo da antítese entre o jusnaturalismo e o positivismo jurídico e chegando ao atual momento de dupla ruptura epistemológica, que se convencionou chamar pós-positivismo. A hipótese é de que não é mais possível a aplicação do Direito positivo com base em pura lógica formal, sendo fundamental para a praxe jurídica a reflexão teórica concatenada com as modernas teorias que tentam explicar o Direito contemporâneo, em busca da racionalidade prática, sob pena de frustração das expectativas normativas que emergem da sociedade plural e hipercomplexa em que vivemos. 2. ANTÍTESE JUSNATURALISMO X POSITIVISMO JURÍDICO O movimento positivista, aflorado a partir da vitória da Escola Histórica do Direito, surge como antítese ao jusnaturalismo3. Esta reação se dá a partir do momento em que o mundo ocidental mergulha no extremo desenvolvimento das ciências exatas ou da natureza. O problema do método se mostra com vigor, exigindo das disciplinas aspirantes ao modelo de cientificidade vigente o distanciamento do sujeito cognoscente para com o objeto cognoscitivo. A Escola Histórica do Direito, cujo principal expoente foi Savigny, inaugura um pensamento marcado pela individualidade e variedade do homem, irracionalidade das forças históricas, pessimismo antropológico, amor pelo passado e sentido da tradição4. O jusnaturalismo, ou doutrina do Direito Natural, apoiado em bases absolutas de validade do Direito, a partir da concepção metafísica de matriz supra-humana ou supra-legal, de caráter divino, racional ou justo, não se afeiçoava às exigências de neutralidade e rigor metodológico então exigidas. Se o Direito, para o jusnaturalismo, era justificado a partir da natureza divina, da razão ou da idéia de justiça, não se observava nos diversos ordenamentos uma correspondência de univocidade confirmadora da tese. A reação imediata a ordenamentos que não comportassem os ideais de Justiça da mencionada escola não eram reconhecidos como jurídicos. Tal estado de coisas levou ao questionamento formulado pelo juspositivismo. O jusnaturalismo, destarte, entra em crise a partir da crítica juspositivista. Tal doutrina vê na lei formalmente editada a justificativa do Direito. O Direito seria o que é lei. “O positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe outro direito senão o positivo”5. Lembra Cláudio Pereira de Souza Neto que: Tal como ocorria na obra de Hobbes, o bom e o justo são identificados com o legal, não existindo qualquer critério externo para a aferição da legitimidade da lei positiva. Daí resulta que o juiz deve aplicar a lei de acordo com a vontade do legislador. De outra forma, o ideal de autonomia estaria maculado. Se o juiz realiza sobre o texto legal uma interpretação construtiva, para esta concepção, está sujeitando o jurisdicionado a uma norma que não resultou de sua vontade, mas sim da vontade particular do juiz. Isso gera, portanto, uma situação imoral de heteronomia. Daí resulta também um forte apego ao princípio da segurança jurídica, tão caro a uma sociedade onde a previsibilidade da atuação estatal, bem como o respeito aos contratos, é requisito fundamental para o desenvolvimento das atividades produtivas.6 No limite, a idéia de Justiça resultou estranha à ciência do Direito e a evolução da doutrina apontou para os normativismos de Kelsen e Hart. Kelsen formulou a sua Teoria Pura do Direito, afirmando categoricamente ser este um sistema normativo lastreado no pressuposto lógico-hipotético, representado pela norma fundamental, norma que não teria bases metafísicas ou suprajurídicas, mas encontraria a sua raiz dentro da própria lógica do sistema. Na concepção positivista, todo o sistema jurídico encontra-se estratificado, contendo séries de normas escalonadas hierarquicamente, segundo critérios de supra-infra-ordenação, de modo que cada norma tem seu fundamento de validade em outra norma que lhe é superior, ao mesmo tempo em que serve de fundamento para uma terceira norma, inferior a si própria 7. As normas de mais alta hierarquia encontram-se na Constituição do país, a qual encontra seu fundamento de validade em uma outra Constituição anterior, que por sua vez encontra fundamento de validade em uma outra constituição, ainda mais anterior, num processo regressivo que atinge a primeira Constituição histórica, resumindo-se a norma fundamental no seguinte enunciado: “devemos conduzir-nos como a Constituição prescreve”8. Explicava o mestre de Viena que “A ordem jurídica determina o que a conduta dos homens deve ser. É um sistema de normas, uma ordem normativa [...] A sua existência é independente da sua conformidade ou não conformidade com a Justiça ou o Direito ‘natural’”9. E arrematava: “A teoria pura recusa-se a ser uma metafísica do Direito”10. Desta forma, a teoria pura kelseniana se coadunava com as aspirações de cientificidade, numa ótica fulcrada no modelo cartesiano de pensamento, sendo marcantes o silogismo e a lógica formal. Mas Kelsen não desconhecia a possibilidade do seu método esbarrar em conteúdos interpretativos diversos, possíveis diante da análise do texto positivo. Acontece que, diante destas várias possibilidades, o aplicador da norma haveria de escolher uma delas, sem qualquer critério ao qual se reconhecesse a qualidade de jurídico, movendo-se discricionariamente dentro da chamada “moldura” da norma. A decisão judicial, neste ponto, seria um ato de vontade, guiado por fatores sociais, políticos, econômicos e até psicológicos, mas fugindo completamente ao terreno jurídico, de sorte que se opera a exclusão do conteúdo material das normas do objeto da ciência do Direito. O direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentre deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível [...] Só que, de um ponto de vista orientado pelo Direito positivo, não há qualquer critério com base no qual uma das possibilidades inscrita na moldura do Direito a aplicar possa ser preferida à outra. Não há absolutamente qualquer método – capaz de ser classificado como de Direito positivo – segundo o qual, das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como ‘correta’ – desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis: possíveis no confronto de todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica.11 Esta noção de decisão como ato de vontade, balizado apenas pelos limites textuais da norma posta, a qual possuiria assim uma “textura aber- ta”, reaparece na obra de Hart, que afirma: A textura aberta do Direito significa que há, na verdade, áreas de conduta em que muitas coisas devem ser deixadas para serem desenvolvidas pelos tribunais e ou pelos funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à luz das circunstâncias, entre interesses conflituantes que variam em peso, de caso para caso. 12 Tais concepções do Direito entram em crise a partir do momento em que, ainda que involuntariamente, foram usadas para fundamentar intelectualmente regimes totalitários de inspiração nazi-facista. O positivismo se revela, então, insuficiente para dar conta da hipercomplexidade social contemporânea, marcada pelo pluralismo cultural e econômico, surgindo a necessidade de um novo paradigma13. 3. O PÓS-POSITIVISMO Com a crise do positivismo jurídico, dá-se a superação dialética da antítese examinada no item anterior, a qual se convencionou chamar de pós-positivismo. As traumáticas experiências levadas a cabo durante o Século XX, em plena efervescência do movimento positivista, levaram a um breve ensaio de retorno do jusnaturalismo no pós-guerra, logo sepultado em função das expectativas de segurança social e jurídica, reclamadas pela situação de “guerra-fria”. Daí a necessidade do novo modelo. O jusnaturalismo se revelou insuficiente, sendo solapado em suas bases pelo positivismo. Este, por seu turno, também já se mostrava inadequado aos novos anseios sociais14. Todavia, boa parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras ainda se guia pelo modelo positivista. Interessa saber até que ponto o positivismo foi (ou é) hegemônico no Brasil, inclusive dentro das faculdades de Direito. Somente em 1988, com a promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil, de índole marcantemente social e continente de textos oxigenados por aspirações libertárias, próprios de uma sociedade recém-saída de um regime ditatorial que imperou por duas décadas, é que o movimento jurídico passa a experimentar os influxos internacionais, no sentido de apontar para a superação dialética que ora se examina, também identificada como a segunda fase da dupla ruptura epistemológica na área do direito. Todavia, ao que parece, os novos rumos do pensamento jurídico ocidental não são suficientemente conhecidos por todos os que militam no meio forense, o que potencializa a perda de qualidade do sistema jurídico, na medida em que soluções orientadas de forma empírica, no mais das vezes obtidas através do singelo método silogístico clássico, não respondem adequadamente à demanda de justiça exigida pela sociedade plural e democraticamente organizada. O perigo de frustração das expectativas sociais neste campo se torna ainda mais visível quando se observa a maciça produção normativa infraconstitucional, que é aplicada acriticamente ao lado de um sem número de textos legislativos datados do século passado e, portanto, gerados sob a égide de um outro paradigma. Observa-se, assim, a necessidade de resgate da racionalidade do discurso jurídico e da conexão entre jurisdição e democracia, a partir da reflexão crítica acerca do manancial normativo disponível. Para tanto, o primeiro passo é visitar as principais idéias que dominam o palco das discussões jurídicas na atualidade. 4. A TÓPICA Iniciemos analisando o movimento conhecido como tópica jurídica. Tal corrente aparece como complemento da Teoria Pura do Direito, pois se caracteriza pela busca de uma metodologia para a escolha da decisão, dentre aquelas que se apresentem possíveis dentro do contexto da “moldura” normativa kelseniana. Como sintetiza Cláudio Pereira de S. Neto, “A proposta da teoria é justamente incluir no âmbito da teoria do Direito uma teoria da decisão judicial, que tome por base como efetivamente se constrói o raciocínio judiciário. Nesse sentido, a teoria pura do Direito deveria ser necessariamente completada pela tópica”15. Como num resgate da antiga retórica grega, há uma grande fé na argumentação e “é através de argumentos razoáveis que a decisão logra obter a adesão da comunidade à qual se dirige”16. O pressuposto é a existência dos topoi17, certos “lugares-comuns”, que vêm a ser idéias ou enunciados compartilhados pelo grupo, os quais funcionam como pontos de partida do discurso argumentativo, o qual objetiva a adesão de um “auditório”. A busca pela melhor solução do problema, com base na busca do melhor argumento para conquistar a adesão do auditório, é a preocupação da tópica. Neste particular, convém assinalar que A tópica enfatiza o problema e não a norma ou o sistema. Enquanto o normativismo concebe o ato jurisdicional como ato de vontade, adstrito a limites definidos racionalmente, a tópica, ao contrário, nem valoriza a existência de limites para a decisão judicial estabelecidos prévia e normativamente, e nem, por outro lado, pensa o ato jurisdicional como mero ato de vontade. A norma é, para a tópica “pura”, apenas mais um topos a ser levado em consideração no processo argumentativo que leva à decisão do caso concreto. O que importa é causar a adesão do auditório composto pela comunidade jurídica e pela comunidade de cidadãos – para o que a norma pode ser útil, mas não possui, por outro lado, qualquer primazia necessária [...] Com ênfase nos valores, a tópica chama a atenção para o fato da efetividade do direito não tomar por base, apenas, a coercitividade que acompanha as decisões judiciais, mas também a adesão voluntária dos jurisdicionados, provocada pela força dos melhores argumentos18. E aqui reside o aspecto que mais de perto nos interessa, dada a proximidade com o tema: Para a tópica, a idéia de valores é intercambiável com a de princípios. Também os princípios são considerados como topoi aos quais o juiz pode recorrer como ponto de partida na fundamentação da decisão [...] Os princípios gerais do Direito são considerados por Perelman justamente como lugares específicos do direito [...] Isso leva a que o autor não considere os princípios como obrigatórios19. Não é à toa que o autor citado faz referência a Perelman que, ao lado de Viehweg, constitui-se num expoente da tópica, também conhecida como “nova retórica”, sendo ele o responsável pela sistematização da idéia de “auditório”. O grande mérito da abordagem tópica, em sua formulação dita “pura”, parece consistir justamente na viabilidade do “resgate do senso comum”20, no que acaba por conferir uma conexão entre a jurisdição e a democracia. Com efeito: Se argumentação jurídica tem como objetivo promover o convencimento de um jurista, mas também do homem comum, ela tem que abrir mão de justificar tecnicamente as decisões judiciais. Ela deve lançar mão de argumentos emergentes da realidade social; deve buscar satisfazer as expectativas normativas geradas espontaneamente no espaço público; deve, portanto, operar também com o senso comum. Ao contrário do positivismo jurídico, a tópica possui a preocupação fundamental de se coadunar com a teoria democrática21. 5. A TÓPICA “MITIGADA”: MÉTODO HERMENÊUTICOCONCRETIZADOR DE HESSE E MÜLLER É possível entrever que a tópica em estado puro, apesar da contribuição de ordem democrática, enseja um certo vazio em termos de segurança jurídica. Nesta linha de pensamento, surge o chamado método hermenêutico-concretizador, observado nas obras de Konrad Hesse e Friedrich Müller, como tentativa de preencher esse vazio de segurança. A proposta é operar correções de ordem normativa na abordagem tópica, identificando limites normativos dentro dos quais tal abordagem se dará. Hesse parte da idéia de força normativa da constituição como resposta à noção de constituição como “fatores reais de poder”, cunhada por Ferdinand Lassale22. Para Hesse, a norma tem força vinculante, não é mero topos, e a tópica opera balizada pelo texto da norma. Isto confere estabilidade à Constituição através da admissibilidade de interpretações diferentes, sem alteração do texto constitucional, em torno de seu eixo ou núcleo duro (mutação constitucional), onde não é possível a modificação do texto (emenda). Somente o rompimento constitucional não é admitido, isto é, a alteração das linhas mestras ou cláusulas pétreas. Mas este núcleo duro se adapta às exigências sociais ao longo do tempo em função de ser permeável a novas interpretações, sobre uma mesma base textual inalterada e inalterável. Müller, por sua vez, expressa maior racionalização metódica em contraste com Hesse23. Propõe que a interpretação compreende a definição do “programa da norma” expresso no “texto da norma”. Trata-se de idéia convergente, mas não idêntica, à moldura kelseniana ou à textura aberta de Hart. Müller chama de concretização o processo legal que parte da definição do programa da norma até a decisão, passando pela fase intermediária de definição do “âmbito da norma”, onde são utilizados os topoi. Assim, o programa da norma define os limites da tópica. Ou seja: Antes de lançar mão da tópica, o magistrado deverá identificar o chamado programa da norma, que decorre do texto da norma, e pode ser identificado através da utilização dos elementos tradicionais de interpretação, acrescidos dos princípios de interpretação especificamente constitucionais. Feito isso, o magistrado chega a um rol de decisões possíveis. É aí que tem lugar a tópica. Essa deverá atuar no sentido de permitir que o magistrado justifique razoavelmente sua opção por uma – e não por outra – das interpretações possíveis. Percebe-se que, para este último ponto de vista, a norma possui primazia sobre o problema, mas o pensamento problemático não está descartado, apenas balizado normativa e sistematicamente24. 6. HÄRBELE E A “SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO”: A CONEXÃO ENTRE TÓPICA E DEMOCRACIA Merece destaque a teoria de Peter Härbele, segundo a qual cada cidadão é intérprete da Constituição, já que vive sob o manto protetivo desta, e não apenas os órgãos designados para formular a interpretação vinculante, geralmente o Judiciário. Partindo desta premissa, o autor identifica a necessidade de permear a decisão judicial aos influxos interpretativos emergentes de agentes não oficiais, fora do Estado. Para tanto, assume relevância o procedimento para a tomada da decisão, que será tanto mais adequado quanto maior for a possibilidade de efetiva influência na decisão por parte dos envolvidos. O autor parte para além da noção de legitimação pelo procedimento, na forma como entendida por Niklas Lhuman. Também a “Legitimação pelo procedimento” no sentido de Luhman é uma legitimação mediante participação no procedimento. Todavia, trata-se de algo fundamentalmente diferente: participação no processo não significa aptidão para aceitação de decisões e preparação para se recuperar de eventuais decepções [...] Legitimação, que não há de ser entendida apenas em sentido formal, resulta da participação, isto é, da influência qualitativa e de conteúdo dos participantes sobre a própria decisão. Não se trata de um “aprendizado” dos participantes, mas de um “aprendizado” por parte dos Tribunais em face dos diversos participantes25. Pode-se perceber que a racionalidade é situada no processo comunicativo e não mais no sujeito do magistrado. Todavia, é evidente que se exige do magistrado, bem como dos demais operadores do sistema jurídico, a racionalidade mínima suficiente para não fechá-lo, boicotando as interpretações exógenas, especialmente quando se trata de normas constitucionais, tão propensas a uma textura hiperaberta, em razão mesmo da necessidade de albergar valores e conferir estabilidade ao próprio sistema. Isto leva à necessidade de maior informação e inserção dos operadores no contexto social, fugindo ao isolamento característico que culmina por formar uma espécie de “tecnocracia judicial”. 7. OS PRINCÍPIOS NA OBRA DE DWORKIN Ronald Dworkin aparece como um dos mais festejados autores contemporâneos. Sua compreensão do Direito o enquadra como sistema de regras e princípios, e não somente como um sistema de regras. Esta tomada de posição tem amplos reflexos. Em primeiro lugar, é reconhecida a normatividade dos princípios, já que estes são espécie superior do gênero norma, o qual também compreende as regras, a outra espécie normativa. Afasta-se, assim, a antiga crença positivista segundo a qual os princípios teriam uma conotação fraca, aplicáveis apenas de forma subsidiária, em caráter supletivo e integrador do sistema, em caso de falta de regra aplicável26. Ora, sendo os princípios verdadeiras normas, ainda que de especial dignidade e natureza, até porque negar isto significaria não ter como sustentar o seu caráter vinculante, não é aceitável a dicotomia princípionorma, senão após uma convenção didática no discurso, qual seja, a referência a princípio significaria referência a norma principiológica, enquanto a menção a norma representaria relação à simples regra ou preceito. A propósito, convém gizar a lição de Bobbio, que vem ao encontro desta compreensão: Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A princípio leva a engano, tanto que é velha questão entre os juristas se os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é também a tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, através de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também eles: se abstraio da espécie animal, obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. E com que finalidade são extraídos em caso de lacuna? Para regular um comportamento não regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que servem as normas expressas. E por que não deveriam ser normas?27 Categórico é Paulo Bonavides para quem “fica para trás, já de todo anacrônica, a dualidade, ou, mais precisamente, o confronto princípio versus norma, uma vez que, pelo novo discurso metodológico, a norma é conceitualmente elevada à categoria de gênero, do qual as espécies vêm a ser o princípio e a regra. Isto já se acha perfeitamente elucidado, definido, reconhecido e difundido”28. Em segundo lugar, há uma forte preocupação em reduzir e até mesmo eliminar a discrição judicial, utilizando-se os princípios como critérios para decisão, sobretudo nos chamados hard cases29. A questão que se põe é: como reconhecer os princípios? O autor propugna um método caracterizado como reconstrutivo. O juiz deve interpretar o ordenamento pressupondo-o um todo coerente. “A função do magistrado é a de reconstruir racionalmente a ordem jurídica vigente, identificando os princípios fundamentais que lhe dão sentido [...] Enquanto o legislador constrói a ordem jurídica, o juiz a reconstrói”30. O princípio judiciário de integridade instrui os juízes a identificar direitos e deveres legais, até onde for possível, a partir do pressuposto de que foram todos criados por um único autor – a comunidade personificada —, expressando uma concepção coerente de justiça e eqüidade31. Contudo, o que se pretende não é a interpretação histórica no sentido de buscar pura e simplesmente a “vontade do legislador”. A base é a moralidade dinâmica que permite a atualização interpretativa. Mas, para que se possa chegar à decisão correta, através da reconstrução racional do ordenamento, o autor cria a noção monológica do chamado “juiz Hércules”, o magistrado ideal, dotado de todas as habilidades e munido de todas as informações necessárias à hercúlea tarefa de descortinar o vasto horizonte jurídico e retirar do ordenamento a solução justa. Note-se que a racionalidade se volta novamente para o sujeito, para o magistrado, que carece da reflexão teórica para iluminar o caminho de Hércules. 8. OS PRINCÍPIOS NA OBRA DE ALEXY Robert Alexy concebe o Direito como um sistema de regras, princípios e procedimentos, buscando superar a concepção dworkiana. Observe-se a manutenção dos avanços em termos de reconhecimento da normatividade dos princípios e diferenciação destes para com as regras. Segundo Alexy, as regras são “mandatos definitivos”, enquanto os princípios são “mandatos de otimização”, pois permitem a sua aplicação em diferentes graus32. Por conta disto, é fundamental compreender a sistemática adequada à resolução de conflitos normativos quando as normas em choque são de natureza principiológica, sistemática esta que é diferente da que ocorre quando as normas conflitantes pertencem à categoria das meras regras. De plano, Alexy ressalta a necessidade de ponderação para solução dos conflitos entre princípios, escolhendo-se racionalmente qual princípio deve prevalecer na solução do caso concreto, sem que se anule o princípio não aplicado, ao contrário do que se passa entre as regras, as quais são aplicadas ou não, resolvendo-se o conflito na base do tudo ou nada33. Digna de nota é a diferença abissal entre o pensamento de Alexy para com Kelsen, na medida em que este afirma não haver “nenhuma possibilidade de decidir racionalmente entre valores opostos”34. Por outro canto, Alexy aponta a insuficiência da noção monolítica do juiz Hércules de Dworkin, e parte para a necessidade de procedimentos adequados, isto é regras procedimentais que garantam a racionalidade da argumentação, com vistas à satisfação da pretensão de correção da resposta interpretativa final35. Note-se bem: deve-se buscar satisfazer a pretensão de correção, já que seria praticamente inatingível a correção absoluta. Assim, o importante é perseguir uma correção relativa, através de procedimentos adequados. 9. A RAZÃO COMUNICATIVA DE HARBEMAS Alexy inspirou-se em Habermas, que criou o conceito de razão comunicativa, para expressar a racionalidade garantida pela discussão argumentativa. Na concepção positivista, a forma jurídica pode se adequar a qualquer conteúdo, inclusive aos de grande irracionalismo. Além disso, o positivismo negligencia o fato importante de que os jurisdicionados possuem expectativas normativas em relação ao texto legal. Para a efetividade social do direito é importante não somente sua dimensão de validade (que se define com referência ao direito produzido pelas autoridades estatais), e o aspecto da coerção, que a acompanha. É necessário também que o direito seja legítimo, e as decisões possam ser aceitas pela comunidade de jurisdicionados. Por isso, a racionalidade do ordenamento jurídico é fundamental para legitimá-lo, provocando o assentimento espontâneo do grupo social atingido36. Com esta preocupação, Habermas constrói a sua concepção de legitimidade no procedimento, a partir da chamada razão comunicativa, a qual “somente pode ser entendida como alternativa à chamada razão centrada no sujeito”37. Mais uma vez a racionalidade se desloca do sujeito para o proces- so de argumentação. “O fundamental é que as expectativas normativas geradas espontaneamente no espaço público possam afetar as decisões judiciais, rompendo com o caráter antidemocrático inserido no processo de autonomização do sistema jurídico”38. O autor tem em vista deslocar a razão do sujeito para o processo comunicativo, fazendo com que a própria razão seja o outro da razão, i. e., com que a autoreflexão crítica se processe através do olhar do outro. [...] O sujeito do conhecimento pode refletir sobre o conhecimento por ele produzido a partir da perspectiva do outro sujeito com quem dialoga. A razão comunicativa é, portanto, reflexiva visto que pode se expor à sua própria luz. [...] Essa perspectiva sinaliza para influência freudiana (dualidade pulsional) na obra do autor. [...] Daí decorre a exigência de formulação de regras não só referentes à estrutura dos argumentos, mas também aos aspectos éticos da interação discursiva: “tais condições procedimentais e pragmáticas garantem de modo ideal que todos os argumentos e informações relevantes sobre um tema, disponíveis numa determinada época, possam vir completamente à tona, isto é, possam desenvolver a força da motivação racional inerente a eles.” Essa distinção pode ser observada, e. g., na versão habermasiana do imperativo categórico kantiano, que é a seguinte: “são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes do discurso racional.” Essa regra traduz um princípio de universalização de natureza dialógica, diferente do presente na obra de Kant, que é resolvido monologicamente39. 10. O PARADIGMA PÓS-POSITIVISTA Como observado, as novas exigências sociais forçam a evolução do pensamento jurídico contemporâneo, ante as insuficiências do positivismo jurídico. Essa evolução aponta para o resgate da racionalidade do discurso jurídico, verificando-se a tendência para centralizá-la muito mais no processo argumentativo do que nos sujeitos da argumentação. Cláudio Pereira da S. Neto sintetiza o atual momento, identificando as tendências deste novo paradigma emergente, comparando-o com o paradigma anterior: Note-se, por exemplo, que o paradigma liberal-positivista contém em si uma 1) teoria da norma constitucional, segundo a qual a) lei e constituição se identificam, b) a norma constitucional possui uma textura fechada, e c) a constituição é um sistema coerente e completo; 2) uma teoria da decisão, segundo a qual a) a aplicação da norma constitucional se identifica com a aplicação da norma infraconstitucional, b) não há que falar em ato de decisão, mas simplesmente de cognição, já que o ato jurisdicional se esgota na aplicação de uma vontade pré-construída, c) o magistrado é capaz de, monologicamente, fazer uma leitura racional do texto normativo, sem a interferência de seus valores e interesses pessoais; 3) uma teoria da democracia segundo a qual a) a vontade estatal deve ser formulada pelo órgão que foi legitimado para tanto através do voto popular, o parlamento, e b) o magistrado deve se ater ao disposto no texto legal, senão estará usurpando a vontade popular. [...] o paradigma pós-positivista já sinaliza a consolidação de certas características gerais que se encontram na obra da maioria dos autores. Assim é que o paradigma pós-positivista, 1) no campo da teoria da norma constitucional, enfatiza, de forma mais ou menos homogênea, a) a presença dos princípios no ordenamento constitucional, e não só das regras jurídicas, b) a estrutura aberta e fragmentada da Constituição; 2) no campo da teoria da decisão, investe na a) reinserção da razão prática na metodologia jurídica, rejeitando a perspectiva positivista de que somente a observação pode ser racional, b) propõe uma racionalidade dialógica, centrada não no sujeito, mas no processo argumentativo, que c) vincula a correção das decisões judiciais ao teste do debate público; 3) no âmbito da teoria democrática propugna a) pelo caráter procedimental do processo democrático e b) pela possibilidade de limitação do princípio majoritário em nome da preservação da própria democracia 40. Em suas conclusões, o mesmo autor arremata: 1) No âmbito da teoria da norma, a redução do direito às normas jurídicas que se manifestam na forma de regras tende a ser abandonada. Além das regras emergem com toda a força os princípios, que traduzem a preocupação fundamental de que o direito seja também justo. Os princípios atuam no ordenamento jurídico como reserva de justiça e, portanto, em razão de seu status predominantemente constitucional, servem como limites à atividade legislativa, além de fornecerem critérios normativos para a resolução dos casos difíceis. Além disso, caem por terra os dogmas da coerência e da completude do ordenamento jurídico. Em especial, a Constituição é considerada como constituição aberta e fragmentada, contendo muitas vezes dispositivos que apontam em sentidos diversos, de modo que, para concretizá-los, é necessária a utilização, por parte do magistrado, de recursos mais amplos que a mera lógica formal. 2) No âmbito da teoria da decisão, opera-se a reabilitação da razão prática. [...] Somente as proposições normativas que passem pelo teste do debate público podem ser consideradas racionais. [...] 3) No âmbito da teoria democrática, o caráter dialógico da racionalidade prática leva a que se valorize a formação do espaço público autônomo (do aparato burocrático estatal) em que as pretensões normativas sejam objeto de intenso debate. A democracia é entendida, portanto, como participação, e não como mera representação. Além disso, os direitos individuais deixam de ter uma justificação metafísica para se apresentarem como condições fundamentais da interação comunicativa, viabilizadoras do processo democrático. 4) A legitimação da jurisdição constitucional será, portanto, obtida por duas vias combinadas fundamentais – através da conclusão de que o ato jurisdicional não é um ato de mera vontade, mas sim um ato racionalizado dialogicamente, e através da conclusão de que o princípio majoritário pode ser limitado pelo próprio procedimento democrático. Nessa perspectiva, os tribunais constitucionais são considerados como guardiões do processo deliberativo democrático41. Convém então frisar a importância da boa interpretação dos direitos e garantias fundamentais para a manutenção da democracia. O Judiciário assume, desta forma, papel de relevo no regime, devendo esforçarse para bem aplicar ditos direitos, atentando para o fato de que, na maior parte das vezes, justamente porque se trata de princípios, haverá a necessidade de ponderação, mormente nos chamados casos difíceis. Entretanto, quais são os casos difíceis? Esta indagação pretende instigar o leitor a raciocinar que a utilização da lógica formal como método interpretativo, enraizada que se encontra no pensamento jurídico nacional e por conduzir à aplicação acrítica das regras positivas, pode culminar numa saída “fácil”, mas totalmente inadequada às exigências sociais ou expectativas normativas diante do caso concreto. Observar-se-á que o mais freqüente é o caso não ser difícil, mas o problema situar-se justamente em se adotar a saída “fácil”, porém inadequada. Evidentemente, não cabe mais discutir amiúde o problema da supremacia da Constituição. Toma-se tal idéia como premissa fundamental, dentro da teoria constitucional. Dessa maneira, as normas que servem de fundamento de validade para todo o sistema infraconstitucional encontram-se veiculadas pelo texto da Constituição, implícita ou explicitamente, não sendo de todo ruim a utilização da formulação kelseniana de “fundamento de validade”. Dentre as normas constitucionais, como vimos, as mais caras ao sistema são justamente os princípios, categorias normativas prenhes de valores porque encerram alta carga axiológica e atuam como “antenas”, captando os principais valores eleitos pelo grupo social. É verdade que todas as normas se referem direta ou indiretamen- te a um ou mais valores, isto é, é bastante possível identificar o valor que informa determinada regra, a partir do princípio que lhe serve de matriz. Ocorre que os princípios veiculam essencialmente valores, dado que representam nitidamente estes, são puro conteúdo, essência, ao passo que as outras categorias de normas representam limites, obedientes sempre ao conteúdo que bebem diretamente dos princípios, supernormas que lhe servem de fundamento. Pois bem. Se os princípios são por excelência o encerramento normativo de valores, e se a Constituição é a expressão máxima destes valores eleitos pelo grupo, então é na constituição que iremos encontrar o habitat dos princípios. Evidentemente, e aqui recorreremos à clássica distinção entre Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal, há no texto constitucional uma parte que diz respeito às decisões políticas fundamentais: escolha do tipo de Estado, da forma de governo, do regime, a tripartição do Poder, os direitos e garantias fundamentais. Por outro canto, outras normas não se referem a estes aspectos, sendo consideradas constitucionais apenas porque formalmente o são, já que inscritas na Constituição. Na primeira categoria, encontraremos os verdadeiros princípios constitucionais, os quais, por isto mesmo, servirão de norte tanto para a criação como para a interpretação de normas pelo Poder Constituído. Por óbvio, este mesmo Poder Constituído também deverá interpretar a própria Constituição de forma sistêmica, à luz ou com a “lente” dos princípios, por ela mesma veiculados. Neste processo, surgirá com certeza a hipótese de colisão entre princípios. É que os valores, conteúdo manifesto das normas principiológicas, são relativos, e freqüentemente colidem uns com os outros. Como o Direito se pretende completo e de forma ordenada, os conflitos entre normas têm de ser pressupostos como aparentes. Isto é, havendo colisão entre normas, deve o intérprete encontrar a solução segundo a qual somente uma delas se aplique. Conforme a lição de Alexy, acima examinada, no campo das simples regras, este fenômeno, o da colisão ou conflito aparente de normas, se resolve na dimensão de validade. O intérprete, recorrendo à hermenêutica, encontrará a norma verdadeiramente aplicável, afastando a incidência da não aplicável, podendo chegar à conclusão pela invalidade total desta (revogação), e não apenas pela inaplicabilidade dela ao caso. Esta última situação, pela qual se reconhece a “morte” de uma das normas em conflito, é denominada antinomia (anti nomos). As coisas não se passam assim quando o conflito envolve normas principiológicas. Quando dois princípios estão em choque — o que não é raro, como dito alhures — tal conflito não se resolverá na dimensão de validade, como sói acontecer no plano das simples regras, mas sim na dimensão de prevalência. Realmente, havendo colisão entre princípios, deverá o intérprete verificar qual destes deverá prevalecer no caso concreto, sem contudo anular o outro, isto é, sem revogar a norma que veicula o princípio não prevalente. Outra solução não é possível. A uma, porque princípios são ou representam valores e os valores, embora em conflito na sociedade, não se anulam. A duas, porque, como visto, os princípios são veiculados naturalmente pelo Poder Constituinte e, destarte, não poderia haver incoerência deste a ponto de criar antinomias dentro do próprio texto constitucional42. Os princípios têm, então, este condão de orientar a criação, a interpretação e a aplicação das demais normas, sejam estas subprincípios ou simples regras. Como ensina o jurista Luís Roberto Barroso: Feita essa sistematização preliminar, é preciso destacar o papel prático dos princípios dentro do ordenamento jurídico constitucional, enfatizando sua finalidade ou distinção. Cabem-lhes, em primeiro lugar, embasar as decisões políticas fundamentais tomadas pelo constituinte e expressar os valores superiores que inspiram a criação ou reorganização de um dado Estado. Eles fincam os alicerces e traçam as linhas mestras das instituições, dando-lhes o impulso vital inicial. Em segundo lugar, aos princípios se reserva a função de ser o fio condutor dos diferentes segmentos do Texto Constitucional, dando unidade ao sistema normativo. Um documento marcantemente político como a Constituição, fundado em compromissos entre correntes opostas de opinião, abriga normas à primeira vista contraditórias. Compete aos princípios compatibilizá-las, integrando-as à harmonia do sistema. E, por fim, na sua principal dimensão operativa, dirigem-se os princípios ao Executivo, Legislativo e Judiciário, condicionando a atuação dos poderes públicos e pautando a interpretação e aplicação de todas as nor- mas jurídicas vigentes 43 . Portanto, no estudo do caso a ser resolvido, deve o jurista partir do princípio, estudar o caso com “a lente” do princípio, a fim de alcançar a finalidade expressa no próprio princípio, num raciocínio que bem poderia ser representado por um movimento circular, donde se parte do princípio, mantém-se nos “trilhos” do princípio, a fim de se chegar ao princípio mesmo. Daí porque compreendemos que o princípio jurídico é princípio, meio e fim. E daí a importância de ter o aplicador da norma, especialmente o juiz, um cuidado especial em matéria de princípios, segundo adverte o próprio Luís Roberto Barroso: Os tribunais têm certa capacitação para lidar com questões de princípio que o Legislador e o Executivo não possuem. Juízes têm, ou devem ter, a disponibilidade, o treinamento e o distanciamento para seguir os caminhos da sabedoria e isenção ao buscar os fins públicos. Isto é crucial quando se trata de determinar os valores permanentes de uma sociedade. Este distanciamento e o mistério maravilhoso do tempo dão aos tribunais a capacidade de recorrer aos melhores sentimentos humanos, captar as melhores aspirações, que podem ser esquecidos nos momentos de grande clamor 44. A noção de supremacia dos princípios enseja, portanto, a maior cautela e fidelidade ao seu cumprimento, já que, como afirmado por Celso Antônio Bandeira de Melo, em lição que já se torna clássica: Princípio ¾ já averbamos alhures — é por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque apresenta insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustém e alui-se toda a estrutura neles esforçada 45. E não há necessidade de outra conclusão, senão a que chega Paulo Bonavides: Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente fase do pós-positivismo com os seguintes resultados já consolidados: a passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicistica (seu ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios como espécie diversificada do gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a tal hegemonia e preeminência dos princípios46. Repassados assim os principais pontos que delineiam a nova forma de pensar o Direito, lembrando que não basta o discurso, antes é preciso concretizar os resultados da reflexão teórica, verifiquemos um exemplo concreto onde se poderá perceber a importância desta operação. 11. UM EXEMPLO CONCRETO: O PROBLEMA DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA NOS CRIMES SEXUAIS EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA O art. 224, a), do Código Penal Brasileiro, é assim redigido: “Presume-se a violência, se a vítima: a) não é maior de 14 (catorze) anos;”. Trata-se do velho estupro presumido. Há que se indagar: diante do novo paradigma jurídico, a presunção de violência em sede penal, estabelecida pelo Poder Constituído, se conforma com a presunção de inocência estabelecida no art. 5o, LVIII, da Constituição Federal, pelo Poder Constituinte? Ou por outra, os princípios do moderno Direito Penal — direito penal da culpa — em seu repúdio à responsabilidade objetiva, aceita a presunção normativa de violência, seja ela qual for? Inicialmente, cumpre avisar o óbvio tantas vezes negligenciado: o vetor interpretativo deve se configurar no sentido vertical descendente, partindo das normas constitucionais, em especial as de natureza principiológica, em direção às normas infraconstitucionais. O inverso seria subversão à supremacia da Constituição, um rematado absurdo. Em segundo lugar, deve-se desconfiar da norma em apreço, na medida em que a mesma foi gerada em nada menos do que início dos anos 40, quando em plena efervescência o positivismo jurídico no Brasil. Tal doutrina, não é demais lembrar, apesar das inegáveis conquistas no campo da cientificidade do Direito e superação do jusnaturalismo, especialmente no que diz com a teoria pura kelseniana, abriu margem para a fundamentação de regimes nazi-facistas, na medida em que dissociava legalidade e racionalidade normativas, “legitimando” ordenamentos jurídicos tão só pela observância de regras formais, relegando ao campo da discricionariedade judicial qualquer análise do conteúdo normativo material. Por outro canto, também não se pode perder de vista que o referencial social daquela época era outro. Outros costumes, outra visão de mundo, outro jovem. Partindo destas premissas, analisemos a presunção (ou estado) constitucional de inocência e os seus consectários no processo penal. Convém não deslembrar que a presunção de inocência também se encontra no art. 8 o, n. 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), vigente no país por força do Decreto nº 678, de 06.11.92, com especial atenção em função do § 2º do mesmo art. 5º da Constituição de 1988. Um dos aspectos que tal presunção assume no processo penal é o de se desdobrar no campo probatório: quem acusa, deve provar. A distribuição do onus probandi é quase unilateral. Daí a assertiva de que a acusação deve buscar a remoção das dúvidas razoáveis, se não quiser ver absolvido o acusado o qual, a priori, nada deve provar, bastando negar os fatos como estratégia básica de defesa. Vale dizer, o órgão acusador deve provar integralmente os fatos constitutivos do jus puniendi. Note-se que a presunção legal (infraconstitucional) de violência, desobriga o acusador de provar um elemento fático do tipo, o que colide frontalmente com a presunção constitucional de inocência, entendida como regra probatória. Neste sentido, invoca-se a lição de Luiz Flávio Gomes, no direção de que parte do tipo penal é concretizada pelo acusado (até aqui ele responde pelo que fez). A outra parte é realizada pelo Legislador (agora o agente responde pelo que o legislador presumiu). O acusado, em suma, se levarmos o raciocínio ao extremo, acaba respondendo por algo que foi feito pelo legislador, e não por ele. Seria o caso de se falar, desde logo, em responsabilidade penal objetiva47. Ademais, não há crime sem conduta, sem fato. Como adverte o próprio Gomes, “pune-se o agente por ser o autor de um furto, não porque é ladrão (...) A culpabilidade no Direito Penal, em suma, é culpabilidade do fato isolado, não culpabilidade de caráter”48. Destarte, a presunção de violência, na medida em que não passa de uma ficção de fato, e não um fato concreto, viola o princípio nullum crimen sine actio. O ministro Vicente Cernichiaro, do Superior Tribunal de Justiça, em voto contido no acórdão no Recurso Especial 12.651, asseverou que Hoje, notadamente no quadrante do chamado Direito Penal da Culpa, banida a responsabilidade objetiva, o agente responde pelo que efetivamente fez (ou deixou de fazer). Jamais por aquilo que se possa presumir pudesse ter feito (ou deixado de fazer) [...] o Direito Penal da Culpa é incompatível com qualquer presunção de fato. Fato é fenômeno. Aconteceu ou não aconteceu. Não há meio termo49. Ali, tratou-se do crime de corrupção de menores. Mais recentemente, o ministro tornou a lidar com a matéria, desta feita em relação ao estupro, como se vê do julgamento do Recurso Especial 46.424, assim ementado: REsp - penal - estupro - presunção de violência - o direito penal moderno é direito penal da culpa. Não se prescinde do elemento subjetivo. Intoleráveis a responsabilidade objetiva e a responsabilidade pelo fato de outrem. A sanção, medida político-jurídica de resposta ao delinqüente, deve ajustar-se à conduta delituosa. Conduta é fenômeno ocorrente no plano da experiência. É fato. Fato não se presume. Existe, ou não existe. O direito penal da culpa é inconciliável com presunções de fato. Que se recrudesça a sanção quando a vítima é menor, ou deficiente mental, tudo bem. Corolário do imperativo da justiça. Não se pode, entretanto, punir alguém por crime não cometido. O princípio da legalidade fornece a forma, e o princípio da personalidade (sentido atual da doutrina) a substância, da conduta delituosa. Inconstitucionalidade de qualquer lei penal que despreze a responsabilidade subjetiva. Na hipótese dos autos, entretanto, o acórdão fundamentou a condenação na conduta do réu, que teria se valido de grave ameaça para conseguir o seu intento50. Para que não se pense, açodadamente, que a tese aqui esposada desampara vítimas de pedofilia, quando o agente não age com violência física, argumenta-se, de logo, que há de se distinguir a agressão sexual do abuso sexual. Quando há efetiva violência, como no estupro de mulher maior, capaz e consciente, sem nenhum enquadramento no rol do art. 224, estamos diante de uma agressão sexual. A liberdade sexual é cerceada através da violência ou da grave ameaça, que vencem a resistêcia da vítima. Já nos casos em que a vítima não tem condições resistir ou de validamente manifestar o seu consentimento (não consente ou o seu consentimento não é tido por juridicamente válido), quer por idade, quer por deficiência mental bastante, quer ainda por qualquer outro motivo (rol do art. 224), estamos diante de um abuso sexual. A liberdade sexual é cerceada através de um abuso. O sujeito se aproveita da vítima, que é incapaz concretamente de oferecer resistência, em razão justamente da sua incapacidade de consentir 51. E aqui surge outra questão, relevante para o caso em apreço: quando a vítima não pode consentir validamente? Ou, em termos quiçá mais apropriados à hipótese sub oculo, em que idade se considera que a vítima não pode consentir validamente? Qual o limite etário que baliza a validade do consentimento com o ato sexual? Não se trata aqui de reavivar a tese da presunção relativa de violência, amplamente majoritária na jurisprudência e que fora referendada pelo famoso voto do ministro Marco Aurélio, hoje presidindo o Supremo Tribunal Federal, no HC 73662-9-MG 52. É óbvio que, se acatarmos a impossibilidade de presunção de violência, não podemos sequer entendêla como de natureza relativa. O que se busca não é a relatividade ou não da presunção de violência, a partir da consciência ética da vítima em relação ao ato sexual. O objetivo é revelar qual a idade que foi eleita pelo legislador como norte relativo para aferir se o ofendido é ou não capaz de consentir validamente com o ato sexual. Mais uma vez, socorremo-nos da esclarecedora monografia de Luiz Flávio Gomes, antes citada. O autor, em análise sistemática do ordenamento nacional vigente, identifica no Estatuto da Criança e do Adolescente a resposta à crucial indagação. Parte ele da constatação de que o legislador enxerga no adolescente certa capacidade de compreensão de suas próprias ações, tanto que sujeito a medidas sócio-educativas, quando pratica conduta tipificada como crime, entendida no microssistema menoril como ato infracional (ECA, 112). Diferentemente ocorre com a criança, cuja resposta do sistema à conduta que se subsume em tipo penal são as medidas de proteção, de natureza substancialmente diversa (ECA, 105). É o próprio Estatuto quem difere adolescente de criança (art. 2o): até 12 anos de idade incompletos, criança; daí em diante e até os 18, adolescente. Assim, o adolescente em regra teria a chamada consciência ética de sua liberdade sexual e das conseqüências de seus atos nesta seara, o que leva à conclusão pela sua capacidade de consentir validamente com o ato sexual, salvo, evidentemente, circunstâncias que revelem o contrário, tomado o caso concreto. Já à criança, não lhe sendo reconhecida pelo legislador um mínimo de capacidade de discernimento, falta a dita consciência, o que redunda em incapacidade de validamente consentir, não se negando, entretanto, a possibilidade de raros casos de crianças mais próximas da idade limite (na pré-puberdade) que, por experiência, já se mostrem precocemente conhecedoras das coisas do sexo. Ou seja, tudo depende, no fundo, do caso concreto, servindo a idade apenas como ponto de partida, indicativo da existência ou não do grau de consciência exigido para a validade do consentimento. O referido autor, em passagem eloqüente, ilustra toda a angústia decorrente do entendimento tradicional: [...] na hipótese de um menor com treze anos praticar uma relação sexual com uma menor da mesma idade, não podemos conviver com a anomalia verdadeiramente aporética de o menor ser sancionado primeiro porque entende, conforme o ECA (embora de acordo com a sua idade), o caráter (ético) sexual do ato e segundo porque a “vítima”, da mesma idade, por força de uma presunção do CP de 1940, não possui tal capacidade de compreensão. O menor é punido porque tem capacidade de entender o ato sexual e, contraditoriamente, também é punido exatamente porque a menor, da mesma idade, com quem ele manteve a relação sexual, não tem essa capacidade de compreensão! O menor é punido porque sabe o que faz e, absurdamente, também porque a menor, da mesma idade, não sabe o que faz! No ordenamento jurídico, considerado como algo harmônico, não existe espaço para tanta contradição!53. De tal arte, a “saída fácil”, isto é, a assunção de que a presunção legal de violência está correta, porque emanada de processo legislativo formalmente regular, não resiste a um exame mais aprofundado. É evidente que uma série de fatores, entre eles a comodidade do raciocínio silogístico, o despreparo, o hermetismo e o desestímulo intelectual por vezes observados nos operadores do sistema judicial, além da falta de adequada estrutura, sobretudo humana, e do volume crescente de demanda por Justiça, contribuem decisivamente para a adoção das “saídas fáceis” da subsunção normativista, em detrimento da trabalhosa pesquisa e reflexão teórica com vistas a uma interpretação sistêmica, e por isto mesmo correta ou, pelo menos, mais consentânea com os atuais anseios sociais. Não se pode, assim, deixar de concluir que “Os valores estão, sem dúvida, fora do âmbito da lógica formal e, por conseqüência, adequação de vários valores entre si e a sua conexão interna não se deixam exprimir logicamente, mas antes, apenas, axiológica ou teologicamente”54 e que “Os pensamentos jurídicos verdadeiramente decisivos ocorrem fora do âmbito da lógica formal”55. 12. CONCLUSÕES Após as considerações desenvolvidas, é possível concluir que: 1. A antítese entre o jusnaturalismo e o juspositivismo operou uma ruptura com o modelo normativista, dando lugar a um novo “paradigma emergente”, que se convencionou chamar pós-positivismo. 2. Neste processo histórico, superada a crise de normatividade, os princípios saltam dos códigos para as constituições, amplificando a sua importância e exigindo melhor instrumental intelectual para sua correta aplicação. 3. Este novo paradigma exige maior reflexão teórica e crítica dos operadores do sistema, além da adequação do próprio sistema à captação das diferentes nuances interpretativas que emergem do contexto social, a fim de legitimar as decisões através da racionalidade procedimental argumentativa, com o fim último de levar em consideração as expectativas normativas do grupo. Há verdadeira necessidade de permeabilidade do sistema judiciário no sentido deste ser capaz de captar as expectativas normativas do grupo social e apreender os mutáveis significados dos princípios, inclusive e principalmente diante de casos concretos. 4. O procedimento racional de tomada de decisão assume dignidade como fator de legitimação, mas não se pode descuidar da humanização dos operadores do Direito, entendida como aprimoramento técnico permanente e adequado, aliado à inserção cultural. 5. A cultura positivista, a sobrecarga de processos, a demanda social por celeridade judicial e os excessos legiferantes contribuem, no Brasil, para a posição acrítica do sistema judicial diante de casos concretos, representando fatores de deslegitimação democrática do Judiciário. 6. Responsabilidade legislativa, atribuição de atuais funções judiciais mecanicistas, meramente ordenadoras e administrativas, para staff auxiliar, formado por técnicos judiciários, maior e permanente investimento no aprimoramento dos juízes, inclusive estimulando o processo decisional criativo, são passos que podem trazer melhor qualidade e maior agilidade ao sistema, a curto prazo. Findamos por alertar para a importância prática do que aqui fora discutido, se não bastar a exemplificação desenvolvida, valendo-nos da lição de Margarida Lacombe para quem Este tipo de discussão pode parecer a princípio, para um leitor preocupado com as prementes necessidades pragmáticas da vida profissional, um exercício excessivamente abstrato de reflexão teórica. No entanto, um olhar mais atento às transformações observadas nos dias de hoje em nosso ordenamento jurídico e ao modo pelo qual percebemos as regras necessárias à convivência democrática, impõe uma atenção toda especial à problemática relativa à argumentação nos tribunais56. REFERÊNCIAS ALEXY, Robert. Colisão e Ponderação como Problema Fundamental da Dogmática dos Direitos Fundamentais. Palestra proferida na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, em 10.12.98, cópia mimeo. BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais?. Coimbra: Livraria Almedina, 1994. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UnB, 1999. _____. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Obra coletiva da Editora Saraiva, com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 29. ed. atual. e ampl.. São Paulo: Saraiva, 2002 (coleção Saraiva de legislação). _____. Decreto nº 678, de 21 de outubro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 16 de novembro de 2002. _____. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 16 de novembro de 2002. _____. Lei nº 3.071, de 1o de janeiro de 1916. Código Civil. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva, com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto e Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt. 50. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. _____. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União de 17 de janeiro de 1973. _____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União de 16 de julho de 1990. _____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 46.424. Relator: Ministro Vicente Cernichiaro. Disponível em <http:// www.stj.gov.br>. Acesso em 14 de novembro de 2002. _____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 12.651. Relator: Ministro Vicente Cernichiaro. Disponível em <http:// www.stj.gov.br>. Acesso em 14 de novembro de 2002. _____. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 73.662-9MG. Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponível em <http:// gemini.stf.gov.br>. Acesso em 14 de novembro de 2002. CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Eficácia Constitucional: uma questão hermenêutica. Cópia mimeo. _____. Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do Direito. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2001. CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. GOMES, Luiz Flávio. Presunção de Violência nos Crimes Sexuais. São Paulo: RT, 2001. HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, s.d.. HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s.d.. HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, s.d.. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992. _____. Teoria Pura do Direito. 2. ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1987. LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1985. MELO, Celso Antonio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: RT, 1978. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, s.d.. PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 231. 2 PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 395 e 396. 3 Neste sentido, SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 87 e 88: “Em especial – e com razão – se tem destacado o papel da Escola Histórica do Direito na formação da metodologia positivista. Um dos maiores méritos da Escola Histórica, do ponto de vista da conformação do positivismo jurídico, parece ter sido o de minar as bases de sustentação do jusnaturalismo. Diferentemente do jusnaturalismo, a Escola Histórica enfatizava a particularidade e a ausência de racionalidade no fenômeno jurídico. Para ela, o direito não era produto da razão, mas antes produto da história; variava, portanto, de acordo com o tempo e o lugar”. 4 Neste sentido, BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ìcone, 1995, p. 51 a 53. 1 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ìcone, 1995, p. 26. 6 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 85. 7 Neste sentido: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2. ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 8 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2. ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 213. 9 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 2. 10 Idem, p. 3. 11 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2. ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 366 e 367. 12 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s.d., p. 148. 13 Atual e pertinente para a demonstração desta insuficiência é a observação de Cláudio Pereira de Souza Neto: “No tocante a esse ponto específico — dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado —, a aplicação formal-silogística da norma constitucional, inobstante sua aparente simplicidade, gera uma série de problemas práticos que se juntam à insuficiência teórica do próprio modelo. Dentre os problema práticos decorrentes da aplicação mecânica do princípio da hierarquia das normas jurídicas, ou que são em função dela agravados, podem ser destacados, a título de exemplo, a “inautenticidade metodológica” e a “inércia” (ou “excessiva cautela”) por parte dos tribunais constitucionais, no julgamento de algumas questões cujos efeitos sejam socialmente negativos ou ponham em risco a governabilidade. A noção de “inautenticidade metodológica” traduz a idéia de que, na ausência de procedimentos regulares para que as conseqüências sociais da decisão sejam levadas em conta no processo decisório, torna-se usual, na prática dos tribunais, que os métodos derivados do modelo juspositivo acabam servido apenas para justificar, de forma adaptada, decisões anteriormente tomadas com base em critérios extrajurídicos. A escolha da norma aplicável ao caso, juntamente com a referência à doutrina e à jurisprudência, acabam servindo apenas para dar colorações de cientificidade às conclusões obtidas subjetivas e extrajuridicamente. Todavia, essas soluções nem sempre são bem sucedidas, principalmente quando a solução obtida no caso concreto está em frontal contradição com o texto legal. Além 5 disso, essa “inautenticidade metodológica” é posta às claras com a comprovação de que, com argumentos do mesmo tipo, pode-se chegar a soluções até mesmo frontalmente antagônicas. Do mesmo modo, os problemas ligados à ingovernabilidade têm levado algumas cortes constitucionais a serem extremamente reticentes no julgamento de ações de inconstitucionalidade, principalmente em sede controle concentrado”. Cf. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 67 e 68. 14 Neste sentido: CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Eficácia Constitucional: uma questão hermenêutica. Cópia mimeo, p. 6, 7: “A lógica estritamente formal ignora o conteúdo das premissas. Considerando-se supostas afirmativas como verdadeiras, temos que: A=B e C=D, então é correto dizer que A=D. A modernidade, amparada no pensamento de Descartes, acaba por valorizar a lógica formal, desde que as premissas que servirão de base ou ponto de partida para o raciocínio apresentem-se como evidentes, pondo de lado, portanto, premissas sujeitas à dúvida. Dessa forma, a verdade é aquela que pode ser obtida como resultado de um processo lógico-dedutivo, de natureza eminentemente formal, em que se reconhecem como certas as conclusões logicamente extraídas de determinados axiomas, tomando-se como falso tudo aquilo que é provável. [...] Tal processo, de relativa simplicidade, não se sustenta diante da complexidade democrática, quando o pluralismo de idéias e de interesses deve ser respeitado. E nesse sentido, o método jurídico positivista, da matriz kelseniana, que parte da norma dada, e sistematicamente organizada, para daí deduzir uma solução logicamente correta, não é suficiente às expectativas da justiça e nem aos anseios da democracia. [...] Daí falarmos hoje em pós-modernidade e pós-positivismo, ao buscarmos as bases de um novo paradigma. “Pós”, no sentido de que ambos se concentram antes no reconhecimento das insuficiências do paradigma da modernidade, do que na sua completa imprestabilidade. Não se trata de um resgate puro e simples do paradigma da modernidade, nem tampouco sua mera substituição. A idéia é antes aproveitar o que tal referência conquistou de positivo e redimensionar seus fundamentos”. 15 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 138. 16 Idem, p. 140. 17 Do grego, plural de topos. 18 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, De- mocracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 144, 145 e 149. 19 Idem, p. 150. 20 Idem, p. 154 21 Idem, p. 157. 22 Cf. HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, s.d., e LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1985. 23 Cf. MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, s.d.. 24 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 164. 25 HÄRBELE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, s.d., p. 31 e 32. 26 Resquício desta concepção são os arts. 4o, da Lei de Introdução ao Código Civil, e 126 do Código de Processo Civil Brasileiro, embora possamos interpretar a referência a princípios gerais de direito como topoi diferentes dos princípios constitucionais, e assim mais próximos de máximas de experiência, regras costumeiras ou senso comum. 27 BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UnB, 1999, p. 158. 28 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 248. 29 “Casos difíceis”. 30 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 237 e 238. 31 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 271 e 272. 32 Cf. ALEXY, Robert. Colisão e Ponderação como Problema Fundamental da Dogmática dos Direitos Fundamentais. Palestra proferida na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, em 10.12.98, cópia mimeo, p. 11: “Segundo a definição básica da teoria dos princípios, princípios são normas que permitem que algo seja realizado, da maneira mais completa possível, tanto no que diz respeito à possibilidade jurídica quanto à possibilidade fática. Princípios são, nesses termos, mandatos de otimização (Optimierungsgebote). Assim, eles podem ser satisfeitos em diferentes graus. A medida adequada de satisfação depende não apenas de possibilidades fáticas, mas também de possibilidades jurídicas. Essas possibilidades são determinadas por regras e sobretudo por princípios”. 33 Idem, p. 14 e 15: “O processo para a solução de colisões de princípios é a ponderação. Princípios e ponderações são dois lados do mesmo fenômeno. O primeiro refere-se ao aspecto normativo; o outro, ao aspecto metodológico. Quem empreende ponderação no âmbito jurídico pressupõe que as normas entre as quais se faz uma ponderação são dotadas da estrutura de princípios e quem classifica as normas como princípios acaba chegando ao processo de ponderação. A controvérsia em torno da teoria dos princípios apresenta-se, fundamentalmente, como uma controvérsia em torno da ponderação. Outra é a dimensão do problema no plano das regras. Regras são normas que são aplicáveis ou nãoaplicáveis. Se uma regra está em vigor, é determinante que se faça exatamente o que ela exige: nem mais e nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no contexto do fático e juridicamente possível. São postulados definitivos (definitive Gebote). A forma de aplicação das regras não é a ponderação, mas a subsunção. [...] O postulado da ponderação corresponde ao terceiro subprincípio do postulado da proporcionalidade no direito constitucional alemão. O primeiro é o postulado da adequação do meio utilizado para a persecução do fim desejado. O segundo é o postulado da necessidade desse meio. O meio não é necessário se se dispõe de um mais suave ou menos restritivo. Constitui um fortíssimo argumento, tanto para a força teórica quanto prática da teoria do princípio que os três subprincípios do postulado da proporcionalidade decorram logicamente da estrutura principiológica das normas de direitos fundamentais e estas da própria idéia de proporcionalidade. Todavia, isto não poderá ser aprofundado aqui. Porém, pode-se examinar rapidamente o chamado postulado da proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que ele é um importante instrumento para a solução de colisões entre direitos. O postulado da proporcionalidade em sentido estrito pode ser formulado como uma lei de ponderação, cuja fórmula mais simples voltada para os direitos fundamentais diz: “quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção”. Segundo a lei de ponderação, esta há de se fazer em três planos. No primeiro plano, há de se definir a intensidade da intervenção. No segundo, trata-se de saber a importância dos funda- mentos justificadores da intervenção. No terceiro plano, então se realiza a ponderação em sentido específico e estrito”. 34 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 4. 35 Cf. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 259: “O núcleo da teoria da argumentação de Alexy é um sistema de regras procedimentais que garantam a racionalidade da argumentação e de seus resultados”. 36 Idem, p. 272. 37 Idem, p. 275. 38 Idem, p. 297. E ainda é preciso compreender que “O direito não é capaz de se auto-reproduzir por ele próprio, mas necessita estar aberto, para ser legítimo, aos impulsos de racionalização emanados do espaço público. Habermas destaca, em especial, a importância do surgimento de esferas públicas autônomas do aparato burocrático estatal. Essas esferas públicas autônomas são tendentes a possibilitar a formação democrática da vontade coletiva”. Idem, p. 299. 39 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 279, 280, 283 e 284. 40 Idem, p. 12 a 14. 41 Idem, p. 336 a 338. 42 Vide BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais?. (trad. de COSTA, José Manuel M. Cardoso da.). Coimbra: Livraria Almedina, 1994. 43 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 146. 44 Idem, p. 157. 45 MELO, Celso Antonio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: RT, 1978, p. 299 e 300. 46 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 265. 47 GOMES, Luiz Flávio. Presunção de Violência nos Crimes Sexuais. São Paulo: RT, 2001, p. 122. 48 Idem, p. 123. 49 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em <http:// www.stj.gov.br>. Acesso em 14 de novembro de 2002. 50 Idem. 51 Neste sentido: GOMES, Luiz Flávio. Presunção de Violência nos Crimes Sexuais. São Paulo: RT, 2001. 52 Assim ementado: “COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeascorpus impetrado contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior. ESTUPRO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes contra os costumes, o depoimento da vítima reveste-se de valia maior, considerado o fato de serem praticados sem a presença de terceiros. ESTUPRO - CONFIGURAÇÃO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA IDADE DA VÍTIMA - NATUREZA. O estupro pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça - artigo 213 do Código Penal. A presunção desta última, por ser a vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a aquiescência da mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física e mental, de tratar-se de pessoa com idade superior aos 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a ausência de configuração do tipo penal. Alcance dos artigos 213 e 224, alínea “a”, do Código Penal”. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em <http://www.stf.gov.br>. Acesso em 14 de novembro de 2002. 53 GOMES, Luiz Flávio. Presunção de Violência nos Crimes Sexuais. São Paulo: RT, 2001, p. 142. 54 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. p. 30. 55 Idem, p. 32. 56 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do Direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 299. O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 João Hora Neto, Juiz de Direito da Comarca de Aracaju, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, Professor de Direito Civil da Universidade Federal de Sergipe e da Escola Superior da Magistratura de Sergipe “Os juristas devem viver com sua época, se não querem que esta viva sem eles.” Louis Josserand SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. O Código Civil de 1916: ‘a constituição do direito privado’ – 3. A abertura do sistema jurídico civil: ‘A fragmentação civilística’ – 4. A cláusula geral: ‘uma técnica legislativa’ – 5. A cláusula geral da função social do contrato: ‘um corolário constitucional’ – 6. O princípio da função social do contrato: ‘um mandado de otimização’ – 7. O princípio da função social do contrato no novo Código Civil: ‘um ideal a trilhar’ – 8. Conclusão - Bibliografia 1. INTRODUÇÃO O Código Civil de 1916, produto do Estado Liberal, é conhecido como a ‘Constituição do Direito privado’, cujos postulados básicos(igualdade e liberdade formais, segurança jurídica, completude e neutralidade) colocaram à disposição do magistrado um prontuário completo a ser aplicado para cada caso, de maneira infalível. Na passagem do Estado Liberal para o Estado Social, todavia, deu-se a chamada ‘fragmentação civilística’, à vista da abertura do sistema civil, com o advento de diversas leis especiais, que passaram a regular, de maneira específica, institutos tipicamente civilísticos, surgindo assim os microsistemas jurídicos. No processo de modernização do Direito Civil, valeram-se a dou- trina e a jurisprudência da técnica legislativa conhecida como ‘cláusula geral’, de origem germânica, muito bem exemplificada pela conhecida função social da propriedade, que tem matriz constitucional expressa. Nesse sentido, se a livre iniciativa deve ser exercida em consonância com a função social da propriedade(art. 170 III da CF), o contrato, enquanto segmento dinâmico da mesma, também se acha afetado, ainda que implicitamente, por essa mesma cláusula geral. O princípio da função social do contrato, insculpido no artigo 421 do Novo Código Civil, é um ‘mandado de otimização’, sendo certo que a ‘função social’ é um fator limitativo da liberdade de contratar, inclusive no que se refere ao próprio conteúdo contratual. Na sociedade hodierna(massificada e globalizada), não é aceitável, sob qualquer ótica científica, que o contrato leve à ruína total do aderente, do contratante mais fraco, diante de um policitante ostensivo, economicamente voraz e no mais das vezes invisível, sob o aspecto fático. Alfim, no contexto da civilística constitucional, o estudo propugna alcançar o contrato que efetive a função social, ou seja, que sirva como instrumento de circulação da riqueza, mas também realize o ideal de Justiça Social, na medida em que tutele a dignidade da pessoa humana, por ser este o valor supremo da Constituição Federal. 2. O CÓDIGO CIVIL DE 1916: ‘A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO PRIVADO’ Doutrinariamente, diz-se que o Código Civil de 1916 está inserido em um sistema jurídico fechado, hermético e monolítico. É produto do Positivismo Jurídico, que tinha por escopo a criação de um sistema jurídico que possibilitasse maior previsibilidade e segurança. Não obstante em vigor a partir de 1º de janeiro de 1917, o Projeto do Código Civil foi elaborado por Clóvis Bevilácqua em 1889, tendo assim adotado os ideais da Escola da Exegese, cujo postulado central foi a reelaboração do princípio da completude, de antiga tradição romana medieval, levando ao ápice o mito do monópolio estatal da produção legislativa. O juiz era apenas um escravo, um servo da lei, ou, segundo as palavras de Montesquieu, o juiz deveria ser apenas a “boca da lei”. Era a época do ‘fetichismo da lei’, uma vez que o Código regulava toda a vida social, de maneira completa, genérica e neutra, de modo que não havia Direito fora do Código, na medida em que, segundo Eduardo Sens dos Santos1 , o “direito civil passa a ser unicamente a interpretação dos termos do Código Civil e a pertinência das normas passa a ser julgada a partir de critérios formais, somente, sem qualquer consideração quanto ao conteúdo”. Gestado no seio de uma sociedade agrária e pré-industrial, o Código de 1916 assim retrata um mundo de estabilidade e segurança, bem em sintonia com o individualismo oitocentista, onde reinava, por exemplo, os postulados da liberdade absoluta, da igualdade formal, da abstenção, retratando a ideologia dominante do Estado Burguês ou Liberal Trata-se da “era da segurança’, em que não se admitia lacunas na lei, e da qual o juiz era um mero artífice, um instrumento emblemático da segurança jurídica, um aplicador autômato do Direito posto, do Direito contido no Código, pois, no dizer de Norberto Bobbio, ‘apud’ Gustavo Tepedino2 , “o código é para o Juiz um prontuário que lhe deve servir infalivelmente e do qual não pode se afastar.” 3. A ABERTURA DO SISTEMA JURÍDICO CIVIL: ‘A FRAGMENTAÇÃO CIVILÍSTICA’ Precisamente, a abertura do sistema jurídico civil decorre da passagem do Estado Liberal para o Estado Social, este marcadamente intervencionista e comprometido com o ideal de Justiça Social. Na Europa, já a partir da segunda metade do século XIX e, no Brasil, com a eclosão da Primeira Grande Guerra, diversos acontecimentos históricos e movimentos sociais, de variados matizes, como, por exemplo, a explosão demográfica, a industrialização, a massificação das relações contratuais, a desordenação dos centros urbanos, as doutrinas socialistas, as encíclicas sociais da Igreja, o dirigismo contratual, entre outros, ocasionaram o declínio dos dogmas do Estado Liberal, e, por conseguinte, a derrocada dos alicerces da civilística clássica, essencialmente individualista, neutra e abstencionista. Inicia-se assim o fenômeno de superação do Código Civil de 1916, à vista do descompasso com nova realidade socioeconômica insurgente, a demandar direitos e garantias. Nesse cenário, inúmeros institutos civilístos, apesar de já previstos no Código de 1916, passaram a ser regulados por leis especiais, extravagantes ou emergenciais, dando lugar aos chamados micro-sistemas, para cuja existência já vaticinava o mestre Orlando Gomes 3 nos idos de 1983. Tal fenômeno, doutrinariamente conhecido como ‘descodificação ou fragmentação’ do Direito Civil, importou na perda, pelo Código Civil, do seu caráter de exclusividade, enquanto centro único e emanador do Direito privado(monossistema), pois, doravante, o Direito Civil também passou a ser produzido por leis especiais, denominadas de ‘microssistemas jurídicos’. A esse talante, e bem ilustrando tal fenômeno, eis o preciso magistério de Adalberto Pasqualotto4 : “A primeira grande migração foi a das leis trabalhistas, ainda na década de 40. O direito de família refletiu a mudança dos costumes. A concentração urbana ditou a necessidade de sucessivas leis especiais de inquilinato. Um sistema foi estruturado para proporcionar acesso à casa própria, com articulação de diversos negócios jurídicos, desde a incorporação imobiliária até o financiamento aquisitivo por meio de mútuo bancário, além dos seguros com função de garantia do mutante e de quitação em favor dos beneficiários do mutuário. Tudo isso levou a um desprestígio do Código Civil como lei básica reguladora da vida do cidadão, abalando a idéia de hegemonia legislativa, dominante no conceito de codificação.” Uma gama de leis especiais foram editadas a partir da década de 1930, todas de forte cunho social e protetivas da parte contraente mais fraca, valendo-se ressaltar, por exemplo, a Legislação Trabalhista(CLT), o Decreto-Lei nº 58/37, a Lei de Condomínios(Lei nº 4.591/64), a Lei do Parcelamento do Solo Urbano(Lei nº 6.766/79), o Estatuto da Mulher Casada, dentre outras, chegando-se ao apogeu da ‘fragmentação’ do Direito Civil com a promulgação da Constituição da República de 1988, que passou a insculpir, na sua principiologia, institutos civilísticos clássicos, de tal modo que, ao depois, surgiram diversas leis setoriais, disciplinadoras de universos legislativos específicos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei nº 8.069/90), o Código de Defesa do Consumidor(Lei nº 8.078/90) e a Lei do Inquilinato(Lei nº 8.245/91). Nesse contexto histórico, inserido no seio de uma sociedade cada vez mais massificada e conflituosa, vale ressaltar o importante papel exercido pela jurisprudência na vivificação do Direito Civil, pois, se por um lado o Código de 1916 se achava em completo descompasso com a realidade do Estado Social, por outro o Projeto do Novo Código Civil, não obstante remetido ao Congresso em 1975, não logrou progredir a contento, sendo inclusive antecedido pelo Código de Defesa do Consumidor, de 1990, para muitos considerada a lei rejuvenescedora do Direito Civil, em matéria de obrigações(contratos). Felizmente, e, finalmente, em 11 de janeiro de 2003 entrará em vigor no país o Novo Código Civil(Lei nº 10.406/02), que trará em seu bojo a cláusula geral da função social do contrato(art. 421), entendida pela novel doutrina como a mais importante inovação do Direito Contratual comum e, talvez, a de todo o Novo Código Civil. 4. A CLÁUSULA GERAL : ‘UMA TÉCNICA LEGISLATIVA’ Como já assentado, a partir do advento do Estado Social, percebese que o Direito está inserido em um sistema aberto, flexível, dinâmico, que permite maior discricionariedade do juiz em cada caso, inclusive podendo valer-se de conceitos extrajurídicos ou metajurídicos auferidos da Economia, Sociologia, Biologia, Engenharia, Ciência Política, enfim, por todas aquelas ciências que de alguma forma venha a colaborar para uma decisão mais justa do caso concreto. A cláusula geral é uma técnica legislativa, muito usada na vivificação do Direito, na passagem do sistema fechado para o sistema aberto. Inserida numa sociedade em diuturna mutação, cada dia mais massificada, plural, despersonalizada, produtora voraz de contratos em massa, inclusive de contratos eletrônicos(via Internet), da biogenética, da clonagem, dentre outros fenômenos da sociedade pós-moderna, a cláusula geral tem sido um instrumental hermenêutico poderoso, indispensável e imprescindível, à disposição do magistrado, na proteção do contratante vulnerável(aderente) e, por via reflexa, na consecução do ideal de Justiça Social. Historicamente, diz-se que a expressão cláusula geral é de origem germânica, ali conhecida como ‘general Klausel’, significando um dos dois métodos legislativos, ao lado do método casuístico. Enquanto este comporta uma configuração analítica dos fatos e casos comuns, fazendo-os incidir em uma hipótese legal(‘fattispecie’), a cláusula geral importa numa formulação legal de grande generalidade e que abrange largo espectro de casos. No Brasil, de início, o vocábulo ‘cláusula’ se referia apenas às disposições de um contrato, de um testamento e ou de um documento similar, não sendo usada para designar ‘uma norma jurídica’. Atualmente, diante mesmo da insistência dos estudiosos, a expressão cláusula para designar uma norma já se acha dicionarizada, conforme se avista no ‘Dicionário Aurélio eletrônico’ 5 , importando dizer que o termo ‘cláusula geral’ significa tanto a técnica legislativa quanto os preceitos que ela encerra. Por exem- plo, ao se referir sobre o artigo 422 do Novo Código Civil, a doutrina refere-se tanto à técnica de legislar por tipo vagos e abertos, quanto também se refere ao próprio princípio da boa-fé. Karl Engisch, ‘apud’ Eduardo Sens dos Santos6 , assim a define: “as cláusulas gerais exprimem a técnica de redação de preceitos legais por meio de formas vagas e multissignificativas, que abranjam variada gama de hipóteses, em contraposição ao método casuístico’. Ao discorrer sobre o conceito de cláusula geral, a insigne jurista gaúcha, Judith Martins-Costa7 , elucida “que as cláusulas gerais constituem o meio legislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico, de princípios valorativos, expressos ou ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas constitucionais e de diretivas econômicas, sociais e políticas, viabilizando a sua sistematização no ordenamento positivo”. Ademais, diga-se que a vagueza semântica da expressão ‘cláusula geral’, diante da imprecisão e indeterminação do seu conteúdo, é de crucial importância no processo de abertura do sistema jurídico, pois abre caminho à mutabilidade necessária ao Direito, inserido este num momento histórico de radical e grave mudança, numa escala de valores globalizada e mundializada. Em suma, com tal técnica legislativa, ao magistrado é conferida uma maior liberdade para solucionar a novel casuística, de maneira responsável e prudente, ficando a seu critério a utilização de conceitos metajurídicos e multissignificativos, de emprego geral e eficaz. 5. A CLÁUSULA GERAL DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: ‘UM COROLÁRIO CONSTITUCIONAL’ ‘Prima facie’, impende registrar que a doutrina hodierna rechaça a dicotomia Direito Público e Direito Privado, ou melhor, repudia a ‘summa divisio’ dos romanos, insculpida no Livro da ‘Utilitas’, na sentença do jurisconsulto Ulpiano, que viveu no século III d. C., quando assim dispunha: o Direito Público dizia respeito às coisas do Estado romano(ius publicum est quod ad statum rei romanae spectat), enquanto o Direito Privado dizia respeito ao interesse de cada um(privatum quod singulorum utilitatem). Nesse sentido, advogando a impertinência de tal dicotomia, eis o magistério do Professor Silvio Meira8 : “a divisão dicotômica entre direito público e direito privado, de remotas origens romanas, desfigura-se ante a trepidação do século, em que o interesse individual, o social e o estatal se entrelaçam de tal forma que nem sempre é fácil estabelecer suas fronteiras e as suas prioridades”. Indubitavelmente, na sociedade moderna ou, para alguns, pósmoderna, o Direito Civil se acha constitucionalizado, entendido o Direito Civil Constitucional como sendo “o direito civil materialmente contido na Constituição”, no dizer de Francisco Amaral9 . Assim, é notório que a função social do contrato, no Estado Liberal, consistia simplesmente em possibilitar o equilíbrio formal e a autonomia da vontade, pois o interesse individual era o valor supremo, apenas limitado pelo Princípio a Ordem Pública ou dos Bons Costumes, não cabendo ao Estado e ao Direito fazer considerações sobre o ideal de Justiça Social. Era o apogeu do Liberalismo, bem resumido pela expressão ‘Qui dit contractuelle, dit juste’, famosa expressão do jurista francês Fouillé, ou, em português, ‘que diz contratual, diz justo’. À evidência, tal função do contrato, nitidamente individual, não se mostra compatível com os ideais do Estado Social, posto que este propugna que o interesse social deve prevalecer sobre o interesse individual, uma vez que o Estado Social, segundo Elías Diaz, ‘apud’ José Afonso da Silva10 , “tem o propósito de compatibilizar, em um único sistema, dois elementos: o capitalismo, como forma de produção e a consecução do bem-estar social geral”. Nesse aspecto, por exemplo, vale lembrar que a própria Constituição Federal, no seu artigo 170, expressamente estabelece que a livre iniciativa está submetida à primazia da Justiça social, não bastando apenas a Justiça comutativa, esta típica do liberalismo jurídico. Em verdade, se certo é que Carta Magna/88, de forma explícita, condiciona que a livre iniciativa deve ser exercida em consonância com o princípio da função social da propriedade(art. 170 inciso III), e, uma vez entendida que a propriedade representa o segmento estático da atividade econômica, não é desarrazoado entender que o contrato, enquanto segmento dinâmico, implicitamente também está afetado pela cláusula da função social da propriedade, pois o contrato é um instrumento poderoso de circulação da riqueza, ou melhor, da própria propriedade. Em suma, pois, pode-se concluir, sem vexame, que muito embora a Constituição Federal não tenha se referido, explicitamente, acerca da função social do contrato, assim o fez de maneira oblíqua, tangencial ou implícita, quando em diversas ocasiões se referiu à função social da propriedade(arts. 5º, XXIII, 186, 182 § 2º e 170 III), o que faz atestar, em corolário, que a função social do contrato tem matriz constitucional, ainda que de maneira ínsita ou ingênita. 6. O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: ‘UM MANDADO DE OTIMIZAÇÃO’ A nossa Lei Maior é de natureza principiológica e, como tal, seus princípios têm importância não somente no corpo constitucional, mas também em todo o ordenamento infraconstitucional. À luz da doutrina constitucional, o ordenamento jurídico é integrado por princípios e normas, sendo certo que a expressão princípio exprime a noção de mandamento nuclear de um sistema, ou seja, o alicerce de um sistema. Na dicção de Robert Alexy e Letizia Gianformaggio, ‘apud’ Carlyle Popp11 , os princípios constitucionais são ‘mandados de otimização’, insculpidos no ápice da pirâmide constitucional e, por serem mais difusos do que as regras, não são incompatíveis entre si, mas apenas concorrentes. Já as regras são antinômicas. De forma pragmática, pois, milita entre os princípios uma aparente antinomia, posto que, a depender da casuística, um princípio prevalece em relação ao outro, por causa de sua maior importância ou pertinência, sem a necessária exclusão do outro, em virtude da relatividade do valor que alberga. Em relação às regras, contudo, persiste uma real antinomia e, por conseguinte, num conflito entre duas regras obrigatoriamente uma deve ser excluída, à vista do seu caráter absoluto, na medida em que incidem ou não sobre determinado fato. Em sede de direito contratual, por exemplo, há dois princípios constitucionais que fomentaram a radical mudança sofrida pela Teoria dos Contratos: o princípio da dignidade da pessoa humana(art. 1º inciso III) e o princípio da livre iniciativa(art. 170 caput). Quanto ao primeiro(dignidade da pessoa humana), por se tratar de um valor constitucional supremo, que se traduz no respeito ao ser humano, significa dizer ser o ponto central de todo o ordenamento jurídico e para onde converge todo o espectro de interesses constitucionais. Para tanto, a Constituição Federal repousa todo o seu manto principiológico na proteção da dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção de que a pessoa é o fundamento e o fim da sociedade e do Estado. Quanto ao segundo(livre iniciativa), não se cinge tão-somente à liberdade da empresa(comércio e indústria), mas também à liberdade de contrato, enquanto uma das facetas da livre iniciativa. Nesse aspecto, a livre iniciativa e, por conseguinte, o lucro, tem respaldo constitucional, desde que o lucro não seja abusivo ou extorsivo, pois deve estar atrelado aos ideais de Justiça Social externados nos objetivos fundamentais da República(art. 3º da CF/88). A simbiose desses dois princípios constitucionais devem fundar o contrato hodierno, o contrato constitucionalizado, o contrato que efetive o princípio da função social, por se tratar de um ‘mandado de otimização’, consoante previsto no Novo Código Civil. 7. O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NO NOVO CÓDIGO CIVIL: ‘UM IDEAL A TRILHAR’ O artigo 421 do novel Código Civil assim estabelece: Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Induvidosamente, o artigo em comento guarnece dois princípios antagônicos, quais sejam: enquanto a ‘liberdade de contratar’ deriva do princípio clássico da autonomia da vontade, típico do liberalismo individualista do século XIX, a expressão ‘função social’ decorre do ideal de Justiça Social, consectária do Estado Social. De que forma, pois, conciliá-los? Ora, se certo é, como já ficou assentado, que não há incompatibilidade entre os princípios, mas apenas concorrência, é perfeitamente possível a aplicação harmônica de ambos, desde quando se perceba que a ‘função social’ se traduz num limite positivo na moderna liberdade de contratar, inclusive limitando a liberdade contratual em si, ou seja, a própria possibilidade de fixar o conteúdo contratual. Nesse sentido, eis a lição do eminente civilista Paulo Luiz Netto Lôbo12 : “No novo Código Civil a função social surge relacionada à “liberdade de contratar”, como seu limite fundamental. A liberdade de contratar, ou autonomia privada, consistiu na expressão mais aguda do individualismo jurídico, entendida por muitos como o toque de especificidade do Direito privado. São dois princípios antagônicos que exigem aplicação harmônica. No Código a função social não é simples limite externo ou negativo, mas limite positivo, além de determinação do conteúdo da liberdade de contratar. Esse é o sentido que decorre dos termos “exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.(art. 421).” Na contemporaneidade, no contexto de uma sociedade massificada e plural ao extremo, não é mais aceitável, sob qualquer ótica a analisar, que o contrato seja um instrumento de ruína do contratante mais fraco, levando-o à miséria ou mesmo entregando sua liberdade em razão de eventual inadimplência contratual, sem qualquer direito de defesa. Vejase, por oportuno, diversos exemplos que infringem os direitos humanos privados, segundo o magistério do doutrinador Fernando Rodrigues Martins13 , a saber: a prisão civil em matéria de alienação fiduciária em garantia; a edição da Resolução 980/84 que, em sede de contrato de ‘leasing’, o desnaturou para compra e venda e, como tal, impossibilitou que os arrendatários pagassem somente o aluguel, elidindo o direito de escolha ao final do contrato(art. 6º II do CDC); o leilão extrajudicial do bem imóvel adquirido nos termos do Dec.-lei 70/66, sem a interferência do Poder Judiciário; a resolução do contrato de trato sucessivo, ainda que adimplido em larga escala, dentre outros. Portanto, tal perfil contratual deve ser repudiado. Hodiernamente, o que se busca é a realização de um contrato que detenha a função social, ou seja, de um contrato que além de desenvolver uma função translativa-circulatória das riquezas, também realize um papel social atinente à dignidade da pessoa humana e à redução das desigualdades culturais e materiais, segundo os valores e princípios constitucionais. Busca-se o contrato constitucionalizado, isto é, o contrato que concilie a livre iniciativa à Justiça social, posto que permeado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e o da livre iniciativa. Para tanto, impõe-se uma ‘mentalidade constitucionalística’... 8. CONCLUSÃO A abertura do sistema jurídico civil deu-se na passagem do Estado Liberal para o Estado Social. No Brasil, a partir da década de 1930, à vista da eclosão de fatores vários, dos mais variados matizes, inúmeras leis especiais começaram a tutelar ou regrar institutos civilístícos, de forma inédita ou mais amiudada, surgindo assim um Direito Civil especial(‘microsistemas jurídicos’), ao derredor do Direito Civil comum, este inserido no Código Civil de 1916. O descompasso entre a civilística clássica(Código Civil), típica do liberalismo jurídico, e a realidade insurgente no país, provocou o esgarçamento ou ‘fragmentação’ do Direito Civil, cujo apogeu deu-se com a promulgação da Carta Magna/88. Nesse contexto, o modelo clássico de contrato entrou em crise, mas apenas uma crise de rejuvenescimento, de vivificação, pois, mediante a utilização da técnica legislativa conhecida como ‘cláusula geral’, valores estranhos ao ordenamento jurídico vigente foram, paulatinamente, ingressando no próprio ordenamento, atualizando e remodelando vetustos institutos, pela via da sistematização, graças à ação corajosa e vanguardista de uma parcela da doutrina e da jurisprudência, bem como de alguns diplomas legais. Como visto, e na esteira da vivificação do contrato, a cláusula geral da função da propriedade, de matriz constitucional, atinge e afeta também o contrato, entendido este como uma faceta do princípio da livre iniciativa, o qual, como sabido, também deve obedecer aos ditames da Justiça social e da função social da propriedade(art. 170 III da CF). Malgrado a função social do contrato não tenha previsão constitucional explícita, efetivamente tem uma previsão implícita, pois o contrato, em sendo um desdobramento da livre iniciativa e, devendo esta respeitar à função social da propriedade, de maneira tangencial o contrato se acha afetado pela mesma cláusula da função social. Destarte, arrematou-se que o princípio da função social do contrato, estampado no art. 421 do Novo Código Civil, é um ‘mandado de otimização’, sendo que a função social ali prevista é um fator limitador positivo, não somente da liberdade de contratar, mas também da liberdade contratual, que diz respeito à fixação do conteúdo contratual. Por fim, o estudo propugna por um contrato que realize a função social, na medida em que busque conciliar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana(art. 1º inciso III) e o da livre iniciativa(art. 170 caput), servindo ao mesmo tempo como um instrumento de circulação de riquezas e um instrumento realizador do ideal de Justiça Social, basicamente tutelando a pessoa humana, que é o valor supremo da nossa Lei Maior. BIBLIOGRAFIA AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 3ª edição. Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2000. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. ‘Dicionário Aurélio eletrônico’. vol. 2.0, Verbete ‘cláusula’. GOMES, Orlando. A Caminho dos Microssistemas. In: Novos Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios Sociais dos Contratos no Código de Defesa do Consumidor e no Novo Código Civil. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril-junho, 2002, v. 42. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. MARTINS, Fernando Rodrigues. “Direitos Humanos do Devedor”. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro, 2001, v. 39. MEIRA, Silvio. “O Instituto dos Advogados Brasileiros e a Cultura Nacional”. In: O Direito Vivo. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 1984. PASQUALOTTO, Adalberto. “O Código de Defesa do Consumidor Em Face do Novo Código Civil”. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro, v. 43. POPP, Carlyle. “Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e a Liberdade Negocial” – A Proteção Contratual no Direito Brasileiro. In: Direito Civil Constitucional. Cardernos I. Renan Lotufo(Coordenador). São Paulo: Max Limonad, 1999. SANTOS, Eduardo Sens dos. “O Novo Código Civil e As Cláusulas Gerais: exame da função social do contrato”. In: Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril-junho, 2002, v. 10. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Civil Constitucional Positivo. 14ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997. TEPEDINO, Gustavo. “Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira”. In: Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Editora: Coimbra, 2000, v. 48. SANTOS, Eduardo Sens dos. “O Novo Código Civil E As Cláusulas Gerais: exame da função social do contrato”. In: Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril-junho, 2002, v. 10, p. 12. 2 TEPEDINO, Gustavo. “Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira”. In: Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Editora: Coimbra, v. 48, 2000, p. 325. 1 GOMES, Orlando. “A Caminho dos Microssistemas”. In: Novos Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p.40-50. 4 PASQUALOTTO, Adalberto. “O Código de Defesa do Consumidor Em Face do Novo Código Civil”. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro, 2002, v. 43, p. 96. 5 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. ‘Dicionário Aurélio eletrônico’. vol. 2.0. Verbete ‘cláusula’. 6 Op. cit., p. 16. 7 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.274. 8 MEIRA, Silvio. “O Instituto dos Advogados Brasileiros e a Cultura Jurídica Nacional”. In: O Direito Vivo. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 1984, p. 285. 9 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 3ª edição. Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2000, p. 151. 10 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 14ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 116. 11 POPP, Carlyle. “Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e a Liberdade Negocial – A Proteção Contratual no Direito Brasileiro”. In: Direito Civil Constitucional. Cadernos I. Renan Lotufo(Coordenador). São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 162. 12 LÔBO, Paulo Luiz Netto. “Princípios Sociais dos Contratos no Código de Defesa do Consumidor e no Novo Código Civil”. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril-junho, 2002, v. 42, p. 191. 13 MARTINS, Fernando Rodrigues. “Direitos Humanos do Devedor”. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho-setembro, 2001, v. 39, p. 151-152. 3 “COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE EM RAZÃO DA LEI DOS JUIZADOS FEDERAIS”. Evânio José de Moura Santos, Procurador do Estado/SE. Advogado. Pós-Graduado em Direito Público pela UFS. Professor de Direito Penal e Processo Penal da Escola Superior da Magistratura/SE e da Escola Superior da Advocacia/SE. Professor de Processo Penal da UNIT. I – NOVA DEFINIÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL DE PEQUENO POTENCIAL OFENSIVO Com a vigência da Lei 10.259/2001 diversas alterações de cunho processual foram produzidas. Inicialmente referido instrumento normativo ampliou o conceito de infração penal de ofensividade reduzida, estabelecendo como sendo da alçada dos Juizados Especiais Criminais todas as contravenções penais e os crimes punidos com sanção abstratamente cominada de até dois anos, independentemente do crime ter sua competência adstrita à Justiça Comum Estadual ou Federal.1 Além deste alargamento que teve por parâmetro o quantitativo das penas, referido instrumento normativo em seu art. 2º, parágrafo único não registra qualquer vedação no que pertine a figuras típicas apuráveis por rito próprio previsto no Código de Processo Penal ou em lei processual extravagante. Desse modo, conclui-se, também, que as infrações penais com pena máxima prevista de até dois anos, mesmo que possuindo uma ritualística estabelecida em Lei (v.g., crimes contra a honra, arts. 519/523), não mais serão regidas por tais procedimentos e sim pelo que dispõe a Lei 9.099/ 95 (arts. 69, 72, 76 e arts. 77/83)2. Resta cristalino que o legislador infraconstitucional objetivou com a presente medida acrescer a incidência da Justiça Penal Consensual, fulcrada na composição, no entendimento, na avenca (plea bargaining), buscando cada vez mais afastar o homem do contato nefasto com o cárcere e aplicando os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade processual (art. 2º, Lei 9.099/95), que representam a melhor forma de dar efetividade à prestação jurisdicional, tornando o Judiciário mais próximo do homem comum do povo e evitando a justiça tardia que se transmuda em ausência de justiça. Com efeito, os Juizados Especiais Criminais passam a incidir na apuração e eventual punição de todas as figuras típicas com as características acima delineadas. Entrementes, impõe-se um questionamento: Existe exceção à regra da competência dos Juizados Especiais para crimes com sanctio juris igual ou inferior a dois anos? Ou melhor: Todas as modalidades delituosas que prevêem rito próprio estão amalgamadas à abrangência dos Juizados? Em meu entender duas situações excepcionam a regra da competência do Juizado Especial Criminal, mesmo a pena in thesi cominada para o delito sendo igual ou inferior a dois anos: as causas que guardem complexidade de análise ou de conteúdo probatório, gerando grande indagação jurídica, cuja previsão legal de deslocamento de competência encontra-se contida no art. 77, § 2º da Lei 9.099/95 e o delito de abuso de autoridade, em qualquer uma de suas modalidades (Lei 4.898/65, arts. 3º e 4º). Em próximo trecho será melhor esmiuçado este entender no que tange ao abuso de autoridade, deplorável conduta típica praticada por agentes públicos que conspurcam direitos dos cidadãos com o arbítrio, o excesso, o uso indevido do poder. II – DA INAPLICABILIDADE DA LEI 10.259/01 NAS HIPÓTESES DESCRITAS COMO ABUSO DE AUTORIDADE Conforme afirmado alhures, posiciono-me no sentido de que os crimes que anteriormente contavam com rito próprio e delimitado em lei estão diretamente vinculados aos institutos e à ritualística prevista na Lei 9.099/95 por força do art. 2º, parágrafo único da Lei 10.259/01, com exceção de um tipo penal específico: abuso de autoridade. É que retromencionada figura penal, definida na Lei nº 4.898/65, corporificada em uma das diversas situações alojadas nos arts. 3º e 4º, possui a previsão de pena privativa de liberdade orçada de forma tacanha nos limites mínimo de 10 dias e, máximo de 06 meses de detenção e multa (art. 6º, § 3º, Lei 4.898/65) guardando em seu bojo um óbice intransponível para que se aplique o rito do Juizado Especial, qual seja: a probabilidade da perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até três anos, como sanção penal a ser aplicada para todo agente que extrapolar os limites de sua atuação pública, para aqueles que autoritariamente transbordarem suas atribuições funcionais. Eis a questão crucial a ser analisada. Ademais, custa-nos acreditar que um crime de extrema gravidade, que viola a um só tempo o bom andamento da administração pública (princípios da legalidade, eficiência, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros, encartados de forma explícita ou implícita no caput do art. 37 da Norma Normarum) achincalha e atenta contra o Estado Democrático de Direito, venha a se constituir em delito de bagatela. Como considerar de pequeno potencial ofensivo a conduta do pernicioso policial que prende outrem fora das situações legais, ou ainda, agride fisicamente um preso ou viola o domicílio alheio? Com efeito, não obstante ser a pena privativa de liberdade relativamente reduzida para o crime de abuso de autoridade (repise-se, 10 dias a 06 meses) a mais relevante sanção é a que prevê a perda do cargo público e a impossibilidade de novamente voltar a ser investido em cargo ou função pública durante um interstício de 03 anos e não a privativa de liberdade. É dizer: o agente público responsabilizado pelo abuso de autoridade tem a temer muito mais a perda do cargo, inserindo-se no contexto, inclusive, o componente econômico, do que a reprimenda a sua liberdade, passível de ser convertida em multa ou qualquer uma das penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º do Código de Iras). Imperioso ressaltar que no tocante à supressão do cargo ou inabilitação para o exercício de função pública, por prazo de até três anos, têm-se o seguinte entendimento: “tais penas, que no Código Penal de 1940 eram consideradas penas acessórias e que, com a reforma de 1984, passaram a constituir efeitos da condenação e penas restritivas de direito, em face da Lei 4.898, de 09.12.1965, são consideradas penas principais, admitida ainda a sua aplicação cumulativa com as penas privativas de liberdade e multa”.3 Como bem firmado pelos ilustres autores mencionados, em lapidar obra que comenta o Diploma Legal que encarta a reprimenda penal ao abuso de autoridade, tratam-se a perda do cargo e a inabilitação para volver ao serviço público por um triênio, da própria sanção e não dos efeitos da condenação. Cumpre-nos demonstrar, ainda que an passant, a diferença entre efeito da condenação e a própria sanção abstratamente prevista. Calha à fiveleta o posicionamento de professor de escol, que lecionando sobre a matéria afirma: “Os efeitos específicos da condenação (art. 92, do CP) não se confundem com as penas de interdição temporária de direitos, subespécies das restritivas de direitos (art. 47). A diferença substancial consiste em que estas são sanções penais, conseqüências diretas do crime, e substituem, a pena privativa de liberdade, pelo mesmo tempo de sua duração (art. 55); aqueles são conseqüências reflexas, de natureza extrapenal, e são permanentes”.4 Ademais, de acordo com o art. 92 do Código de Iras, os efeitos específicos da condenação, não automáticos, adstritos à motivação cabal no decreto condenatório, no que pertine a perda de cargo ou função pública por parte do servidor se apresenta, empós a Lei 9.268/96 de duas formas: quando o crime é praticado contra a administração pública e a condenação supera um ano e quando se trata de delito comum (não existindo correlação com a administração pública), cuja condenação ultrapasse os quatro anos. Portanto, bastante diversas as situações entre pena principal (restritiva de direitos) cumulada com privativa de liberdade e multa em cotejo com os efeitos da condenação. Servindo de arremate é importante destacar que a previsão de pena restritiva de direito adicionada com a privativa de liberdade e multa também ocorre nos casos de crimes de trânsito (arts. 302, 303, 306, 307 e 308 da Lei 9.503/97), não constituindo a situação da Lei de Abuso de Autoridade fato isolado ou ineditismo normativo. III - APLICAÇÃO DO RITO PRÓPRIO PREVISTO NA LEI 4.898/ 65 PARA AS FIGURAS TÍPICAS CONTIDAS NA DEFINIÇÃO DE ABUSO DE PODER Desse modo, como a perda do cargo ou inabilitação para o reingresso nos quadros do serviço público em qualquer nível (federal, estadual ou municipal, administração direta ou indireta) encontra-se no espírito da pena e não sendo um mero desdobramento da mesma, inviabilizada está a incidência do art. 2º, parágrafo único da Lei 10.259/01, eis que mesmo em tese existindo uma pena privativa de liberdade de pequena monta, o fato de se prever esta outra modalidade de sanção penal impossibilita a incidência dos institutos da Lei 9.099/95. Ademais, seria o caso de perguntar: como transacionar o cargo público (art. 76, Lei 9.099/96)? Por óbvio, não existe qualquer possibilidade de se propor um acordo para um agente público que desrespeita os limites de sua função, até porque, consoante acima demonstrado, referida conduta não é de pequeno potencial ofensivo, ao contrário, pode resultar em danos indeléveis e inolvidáveis. Por estas razões acredito que não seria razoável, escorreito e proporcional aplicar os preceitos da Lei 9.099/95 às situações onde reste cabalmente demonstrada a existência de abuso de autoridade, devendo os feitos que apuram tão nefando delito tramitarem pelo rito próprio previsto na Lei 4.898/65, ocorrendo a aplicação subsidiária dos preceitos e institutos guardados no Código de Processo Penal (art. 28, Lei 4.898/65). O servidor público que extrapola os limites funcionais e se torna nocivo para a administração pública não faz jus ao tratamento da Lei 9.099/95 (aplicar composição civil ou transação penal para um policial ou carcereiro que espanca detentos, aviltando o ser humano, prende e algema indevidamente, desrespeita garantias de jaez constitucional, é no mínimo por uma pá de cal no sistema normativo e no querer da Norma Ápice de 1988, além de incentivar o surgimento de novas práticas delituosas de teor idêntico). Trilhando a mesma senda avista-se entendimento com igual sentir 5. Por outro vértice deve ser sublinhado que existem posicionamentos doutrinários, emanados da pena de estudiosos de boa cepa, que afirmam ser possível a depender da situação concreta, a conceituação do delito de abuso de autoridade como sendo de pequeno potencial ofensivo e, por conseguinte, devendo-se aplicar os institutos da Lei 9.099/95 conjuminados com o art. 2º, parágrafo único da Lei 10.259/01, basicamente sustentando o argumento de que “Em fatos graves, gravíssimos, certamente o juiz refutará a transação penal (nos termos do art. 76, § 2º), por não ser ela suficiente para reprovar a culpabilidade do agente. Isso ocorrendo, instaura-se o processo criminal e no final o juiz imporá a ou as sanções cabíveis”6. Discordo desta forma de pensar. Não existe abuso mais grave e abuso menos grave. Todos os fatos relacionados com abuso de autoridade são intensos e de grandes proporções, gerando menoscabo ao Estado Democrático de Direito, razão pela qual não merece prosperar o argumento de que com base na subjetividade do julgador em interpretar a intensidade da culpabilidade aplicar-se-ia ou não a Lei dos Juizados Fede- rais. Melhor se apruma a situação caso se obste a aplicação da Lei dos Juizados Federais que desconsidera o rito próprio para as condutas permeadas por abuso de autoridade. V – CONCLUSÃO Não remanesce o menor laivo de dúvida de que a Lei 10.259/01 operou substancial modificação no ordenamento jurídico brasileiro, sobremaneira no que tange a definição de crime de menor potencial ofensivo, dilatando este conceito que agora passa ser aplicado para todos os delitos com pena de até dois anos, independentemente de existir ou não rito delimitado para apuração desta ou daquela conduta típica. Todavia, somente um delito de forma específica merece ficar afastado da aplicação dos dispositivos das Leis 9.099/95 e 10.259/01: o crime de abuso de autoridade, eis que sobredita conduta típica prevê como pena in abstracto a perda do cargo ou função pública, discrepando da hipótese dos efeitos da condenação, consistindo, à toda evidência, a própria condenação, restando impossibilitado o enquadramento de tal infração como sendo de reduzido potencial ofensivo. Efetivamente não o é. De mais a mais, deve-se reavivar que em se tratando de abuso de poder violam-se princípios constitucionais caros à organização do Estado e bom andamento da Administração Pública, além de se fazer tábua rasa da norma penal e de garantias basilares do cidadão, como a liberdade, integridade física e moral, intimidade e vida privada, dentre outras. Por essas razões é que não se pode lavrar termo circunstanciado ao invés de inquérito policial, deixar de prender em flagrante ou se caracterizar a impossibilidade de prisão processual, resta impraticável a composição civil e a transação penal para os delitos de abuso de autoridade agasalhados na Lei 4.898/65. É preciso mais rigor na apuração e eventual punição daqueles que extrapolam suas atribuições legais e funcionais, para, quiçá um dia, possamos estar livres dos agentes públicos, sempre em número reduzido, que nos coram de vergonha ante seus propósitos e condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana e a cidadania. É o que se pretende ver posto em prática em nossas plagas. V – BIBLIOGRAFIA BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2000. FREITAS, Gilberto Passos de., e FREITAS, Vladimir Passos de. Abuso de autoridade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 9ª edição, 2001. GOMES, Luiz Flávio. “Juizados criminais federais, seus reflexos nos juizados estaduais e outros estudos”. Série As Ciências Criminais no Século XXI – Vol. 08. São Paulo: RT, 2002. SANTOS, Evânio José de Moura. “O novo conceito de infração penal de pequeno potencial ofensivo e a ampliação da competência dos Juizados Criminais em razão da Lei dos Juizados Federais”. Revista da ESMESE, nº 02, 2002, pp. 242-256. SOUSA, Cláudio Calo. “A incidência da Lei nº 10.259/01 no Juizado Especial Criminal Estadual”. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, nº 13, abril/maio 2002. SANTOS, Evânio José de Moura. O novo conceito de infração penal de pequeno potencial ofensivo e a ampliação da competência dos Juizados Criminais em razão da Lei dos Juizados Federais. Revista da ESMESE, nº 02, 2002, pp. 242/256. 1 GOMES, Luiz Flávio. Juizados criminais federais, seus reflexos nos juizados estaduais e outros estudos. Série As Ciências Criminais no Século XXI – Vol. 08. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 19/22. 3 FREITAS, Gilberto Passos de., e FREITAS, Vladimir Passos de. Abuso de autoridade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 9ª edição, 2001, p. 104. 4 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2000, p. 630. 5 SOUSA, Cláudio Calo. A incidência da Lei nº 10.259/01 no Juizado Especial Criminal Estadual. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, nº 13, abril/maio 2002, pp. 153/159. 6 GOMES, Luiz Flávio. Ob. cit., p. 28. 2 ARMA DE BRINQUEDO: ARMA OU BRINQUEDO? Ana Leila Costa Garcez Sumário: 1. Introdução. 2. Art. 10, § 1º, inciso II da Lei nº 9.437/ 97. 3. Objetividade jurídica. 4. Potencialidade ofensiva da arma de brinquedo. 5. Princípio da legalidade X Analogia. 6. Uso da arma de brinquedo no delito de roubo: cancelamento da Súmula 174 do STJ. 7. Notas conclusivas. 1 – INTRODUÇÃO Há menos de uma década, a arma de brinquedo representava apenas uma atividade lúdica, dos entretenimentos de criança inspirados pelas mais diversas fontes. O cinema, principal destas fontes, em que mocinhos e bandidos disputavam algo precioso, como o amor de uma dama, um tesouro etc, servia para estimular os pequenos a reproduzirem tais batalhas em suas brincadeiras. Não se pode dizer que era das diversões a mais inocente, entretanto, não chegava a ser uma preocupação de que pudesse transformar-se em tendência à marginalidade. Hodiernamente, esse cenário sofreu uma grande transformação, conseqüência da violência que assola as grandes cidades do mundo, originada por variados fatores e que tem feito, paulatinamente, desaparecer do mundo infantil um objeto que servia de distração para as crianças. A criminalidade tem-se apresentado de inúmeras formas, utilizando-se da melhor tecnologia e de todos os recursos disponíveis. Dentre as manifestações mais freqüentes, encontram-se os tipos de armas com potencialidade ofensiva capazes até mesmo de vencer uma guerra, inclusive aquelas privativas do Exército. No que se refere à natureza da arma de brinquedo a doutrina diverge. Parte entende que é arma, visto que o seu uso demonstra uma maior periculosidade no agente, em comparação àquele que comete o crime à mão limpa. Parte defende que arma de brinquedo é apenas brinquedo em forma de arma. A arma finta aparece como um meio eficaz utilizado pelo ofensor para intimidar, ameaçar, coagir e constranger a vítima a ceder e facilitar a atividade delituosa. Sendo, por isso, o seu uso objeto de reflexão da sociedade, dos juristas e, principalmente, do legislador que tem a função de elaborar leis que possam coibir a prática de atos criminosos. 2 – ART. 10, § 1º, INCISO II DA LEI Nº 9.437/97 utilizar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes; O legislador, no afã de refrear o crescente número de crimes cometidos com o uso de arma de brinquedo, descurou-se no emprego das palavras utilizadas na redação do inciso ora em análise, impondo ao aplicador a necessidade de dar uma solução, interpretando-o de forma a adequar aos fins pretendidos, visto que se trata de incriminação de conduta. Uma interpretação gramatical apenas, já frustraria qualquer aplicação do dispositivo, pois utilizar significa tornar útil; empregar com utilidade; aproveitar; fazer uso de; valer-se de; empregar utilmente; ser útil ou proveitoso1, ou seja, implicaria na necessidade do cometimento de crimes outros, com o emprego de arma de brinquedo, para a consumação deste delito autonomamente. O que na verdade o legislador quis tipificar foi o porte de arma de brinquedo com o fim de cometer crimes, porque a utilização de arma finta já é punível de forma secundária pela prática do delito-fim que é geralmente mais grave. Levantam-se aí duas questões: a primeira, é que é inconciliável a utilização com o fim específico de cometer crimes, porque aquela (a utilização) somente é possível no momento em que se inicia a execução destes (crimes). A redação do artigo tenta harmonizar uma conduta presente (utilização), com uma finalidade futura (com o fim de cometer crimes) que, de fato, se efetivam (ambas as condutas) num único momento. A segunda questão, é que para o agente ser punido pelo crimemeio, utilização de arma de brinquedo, em concurso com o crime-fim, estar-se-ia violando frontalmente o princípio da consunção, segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução, ou como mero exaurimento2. Quando se pune o delito-fim, pune-se também o delitomeio, porque quem atinge o todo, atinge a parte. 3 – OBJETIVIDADE JURÍDICA A objetividade jurídica dos delitos previstos na Lei nº 9.437/97 é múltipla, pois há o objeto jurídico principal e imediato que é a incolumidade pública, a segurança coletiva, e há o objeto jurídico mediato e secundário que é a vida, a incolumidade física e a saúde da pessoa3. Não se está com isso sobrepondo a incolumidade pública a direitos fundamentais como a vida. É que se protegendo o interesse coletivo, automaticamente está sendo conferida tutela aos bens particulares4. O legislador apenas adianta-se e tipifica a conduta preparatória de outro delito como crime autônomo, na tentativa de reduzir o cometimento da infração mais grave. A arma de brinquedo, em circunstância alguma, ofende ou ameaça de lesão os bens jurídicos ali protegidos. O que o legislador fez foi equiparar a arma de brinquedo à arma de fogo, o que de fato é inconcebível5. Esta paridade provoca uma grave injustiça, qual seja: um agente que comete um delito portando uma arma verdadeira, responde por um crime apenas; já o sujeito que pratica infração utilizando-se de arma finta, será punido pela infração prevista no inciso II, do § 1º do art. 10 da Lei nº 9.437/97, em concurso com o delito cometido, caso seja aceita a interpretação supra. Pelo temor que impõe à vítima, a tipificação do porte de arma de brinquedo poderia, quando muito, ter como objetividade jurídica a paz pública, porque de fato esta é violada quando alguém porta um instrumento que provoca medo na população, causando intranqüilidade ao corpo social. Nenhuma outra lesão a bem jurídico penalmente protegido, poderia ser ocasionada pela simples conduta de carregar consigo uma arma finta. É bem verdade que, quando do efetivo cometimento de outros delitos com a utilização de arma de brinquedo, é possível também que haja lesão ao objeto jurídico liberdade individual. 4 – POTENCIALIDADE OFENSIVA DA ARMA DE BRINQUEDO Para uma análise coerente da potencialidade delitiva da arma finta, faz-se necessária uma conceituação do que seja arma. Para a língua portuguesa é instrumento ou engenho de ataque ou de defesa6. A doutrina, tendo em vista a conceituação restrita, procura ampliar tal significado. Consoante GALDINO SIQUEIRA infere-se por arma, em falta da definição legal, em geral, todo instrumento apto para ferir, matar, ameaçar, seja propriamente dita (faca, revólver, etc.), ou não, como uma pedra, uma pesada chave de porta, etc7. Diante do conceito, resta claro que a potencialidade ofensiva da arma é a possibilidade de praticar todas, ou ao menos, a maioria daquelas condutas com um único instrumento. Será que uma arma de brinquedo enquadra-se nas definições anteriores? Seria possível atacar ou defender-se com uma arma de brinquedo? Seria possível ferir ou matar com uma arma finta? Parece-me inverossímil. A única conduta prevista na conceituação doutrinária que pode ser atingida com a arma de brinquedo é a ameaça, mas isso não nos autoriza a qualificá-la como espécie (arma de brinquedo) daquele gênero (arma). Porque se assim fosse, todos os meios de execução do crime de ameaça, tais como a palavra, escritos, gestos, etc, seriam considerados armas. De fato, a potencialidade ofensiva da arma de brinquedo apenas pode atingir o bem jurídico liberdade individual, pois a mesma é meio eficaz de intimidar, ameaçar, coagir e constranger pessoas a exprimirem o que não é o seu querer, a agirem de forma que se estivessem sob sua total liberdade, seja psíquica, íntima, física, etc, não o fariam, ao menos da maneira como imposta. 5 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE8 X ANALOGIA não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É, dos princípios orientadores do Direito Penal, indubitavelmente, o mais importante. Garantia constitucional, torna-se imprescindível sua utilização na interpretação de toda e qualquer norma incriminadora. O princípio da legalidade é expresso na Constituição Federal, art. 5º, XXXIX e no Código Penal, art. 1º. Sendo assim, uma conduta somente é típica se prevista em lei elaborada nos termos da Carta Maior. Não há no ordenamento jurídico brasileiro, outra fonte para as normas incriminadoras. Aqui a reserva legal é absoluta. E não poderia ser diferente, visto que não se admitiria restrições a direito fundamental (liberdade de agir) por outro instrumento senão a lei em sua compreensão formal e estrita, originada do Poder Legislativo, autorizado pelo próprio princípio. O direito de punir do Estado, no exercício de sua soberania, está condicionado a limites impostos pelo princípio da reserva legal. Nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário podem, através de seus atos, criar normas que restrinjam os direitos individuais dos cidadãos no que se refere ao preceito penal. Não há incompatibilidade entre o princípio da reserva legal e a analogia no âmbito penal, apenas o primeiro veda a utilização da segunda na tipificação de condutas sem lei anterior que as definam. Entretanto, é possível se verificar a aplicação analógica entre as normas permissivas e as não incriminadoras. A analogia consiste em aplicar a uma hipótese, não regulada por lei, disposição relativa a um caso semelhante9, ou seja, não é fonte do Direito Penal, mas somente forma de auto-integração da lei. Diante dessa definição, como seria possível interpretar o inciso II, do § 1º, do art. 10 da Lei nº 9.437/97 no sentido de entender-se portar onde está escrito utilizar? Não se estaria aí fazendo uso da integração analógica para incriminar conduta que a lei não previu? E o princípio da legalidade não estaria violado, originando uma inconstitucionalidade na interpretação? Convém aqui citar FERNANDO CAPEZ que de forma sintética expõe a questão: o tipo não trata do porte de arma de brinquedo, nem pode incriminar a sua utilização no cometimento de crime. No primeiro caso, estar-se-ia empregando analogia para alcançar condutas atípicas, ofendendo-se, com isso, o princípio da reserva legal; no segundo, o agente estaria respondendo duas vezes pelo mesmo fato, violando-se novamente aquele princípio10. 6 – USO DE ARMA DE BRINQUEDO NO DELITO DE ROUBO: CANCELAMENTO DA SÚMULA 174 DO STJ As maiores discussões acerca do tema central deste estudo têm origem nos crimes de roubo, em que a incidência do uso de arma de brinquedo é mais freqüente. Por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 1996, num ato de infelicidade, editou a Súmula 174: no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. A divergência não foi pacificada, ao contrário, ganhou força, uma vez que aumentou a certeza dos que já defendiam que a arma de brinquedo era arma e, em contrapartida, exacerbou a indignação dos que sustentavam o oposto, reforçando a idéia de que a hipótese era tão absurda que se tornou necessário sumulá-la no intuito de impor um entendi- mento11. Em 2001, o Superior Tribunal de Justiça, reviu seu posicionamento acerca da questão e cancelou a polêmica Súmula 174. Já não foi sem tempo. Aliás, tal entendimento jurisprudencial jamais deveria ter sido sumulado, face ao absurdo jurídico que representa, consagrando flagrante caso de aplicação analógica à norma incriminadora, apesar da vedação imposta pelo princípio da legalidade. Conforme análise retro (item 5), não cabe ao operador do Direito criar novos tipos penais. Se o legislador não se referiu a arma de brinquedo no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal é porque não teve a intenção de qualificar o delito com o uso desse tipo de instrumento, sendo vedado ao aplicador fazê-lo. Entretanto, não se pode ainda comemorar o cancelamento da Súmula 174 do STJ, face à projeção que vem ganhando um entendimento que, da mesma forma, afronta todo o ordenamento jurídico brasileiro por todas as razões expendidas e que é exposto por FERNANDO CAPEZ, da seguinte forma: Atualmente, com a revogação da Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça, tende a ganhar força a corrente que sustenta que, na hipótese de roubo praticado com arma de brinquedo (também simulacro ou arma finta), o agente responderá por roubo simples, sem a majorante do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, já que a arma de brinquedo não mais constitui causa de aumento, por não se equiparar à de verdade, em concurso material com a figura do art. 10, § 1º, II, da Lei n. 9.437/9712. 7 – NOTAS CONCLUSIVAS Diante do nosso ordenamento jurídico, não é possível incriminar as condutas de portar e/ou utilizar arma de brinquedo com o fim de praticar crimes, ou durante o seu cometimento, por todas as diversas razões já expendidas. Não cabe ao operador da lei penal buscar meios para dar eficácia às normas incriminadoras elaboradas de forma defeituosa, qual seja, o inciso II, do § 1º, do art. 10 da Lei nº 9.437/97. Seu papel é aplicá-la ao caso concreto, dando-lhe a interpretação que os princípios constitucionais, que norteiam o sistema, autorizam. Quando o legislador comete um equívoco na tipificação de infrações penais é incumbência sua retificá-lo, pois o intérprete jamais poderá utilizar-se de qualquer meio que não seja a lei para enquadrar uma conduta ao tipo penal. Vale evocar a conclusão precisa de FERNANDO CAPEZ que não deixa nenhuma dúvida acerca de que só nos resta lamentar e considerar o tipo “natimorto”, ou seja, ineficaz desde a sua entrada em vigor. Contra nossa vontade, somos obrigados a reconhecer a existência de um tipo suicida, no qual as elementares se chocam de tal maneira que o tornam um nada jurídico. Forçoso reconhecer, portanto, que na lei podem existir, sim palavras inúteis13. Não sendo possível, diante de nosso ordenamento jurídico, incriminar as condutas de portar e/ou utilizar arma de brinquedo, esta continua tendo natureza de brinquedo, entretanto esta natureza vem sendo enfraquecida pela resistência dos pais, educadores, pedagogos, psicólogos etc, em permitir que pessoas em desenvolvimento, como crianças e adolescentes, façam uso de um brinquedo que possa despertar sentimentos que ainda não saibam como lidar. Mas, isso é outra discussão que merece um estudo aprofundado. E para encerrar, não poderia deixar de citar LENIO STRECK que fazendo referência ao tema, em Seminário, realizado em Gramado no ano de 2001, lançou a provocante advertência: Se a arma de brinquedo é arma, ursinho de pelúcia é urso14. HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque, Novo Dicionário da Língua Portuguesa (2ª edição), Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1745. 2 CAPEZ, Fernando, Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Edições Paloma, 2000, p. 49. 3 No mesmo sentido HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, Lições de Direito Penal: Parte Especial, São Paulo, v. 3, p. 767, n. 713 e LUÍS FLÁVIO GOMES e WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, Lei das Armas de Fogo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 49. 4 JESUS, Damásio E. de, Porte de Arma de Fogo e Assemelhados, São Paulo: Saraiva, 1999, p. 16. 5 Daí a brilhante observação de ALBERTO SILVA FRANCO de que constitui “absurdo sem paralelo na legislação penal brasileira”, in Arma de Brinquedo, São Paulo,: Revista Brasileira de Ciências Criminais – Revista dos Tribunais, 1997, p. 71. 6 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, cit., p. 164. 7 SIQUEIRA, Galdino, Tratado de Direito Penal, Tomo IV. 1 O princípio da legalidade aqui considerado como sinônimo do princípio da reserva legal, consoante entendimento dominante na doutrina. 9 CAPEZ, Fernando, Direito Penal: Parte Geral, cit, 24. 10 CAPEZ, Fernando, Arma de Fogo: Comentários à Lei n. 9437, de 202-1997, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49. 11 Este argumento nos faz refletir sobre os perigos da adoção da súmula vinculante. 12 CAPEZ, Fernando, Arma de Fogo, cit., p.51. 13 CAPEZ, Fernando, Arma de Fogo, cit., p. 50. 14 Citado por ILHA SILVA, Ângelo Roberto, “O Cancelamento da Súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça”, in Boletim IBCCRIM nº 109, 2001,p. 5. 8 A GESTÃO FISCAL E O CRIME DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Manoel Cabral Machado Neto, Assessor Técnico 1– CONSIDERAÇÕES GERAIS. A realidade vivida por este país, antes do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciava comportamentos e situações de profunda desorganização e falta de seriedade para com os recursos públicos. Era tradição entre os nossos administradores públicos a realização de gastos exacerbados, ultrapassando e exorbitando a programação dos orçamentos. Esta prática pode ser simbolicamente representada por uma “bola de neve”, que descia do pico da montanha de maneira incontrolável, despejando toda sua força, muito difícil de ser suportada, sobre os eventuais sucessores. Havia controles e meios que, concatenando os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, buscavam barrar os desmandos e buscar o ressarcimento do abalado erário. Entretanto, os tipos e modalidades de controles que existiam e que ainda persistem, tais como o Mandado de Segurança, a Ação Popular, o controle interno exercido por cada Poder Constitucional, o controle externo de legalidade, legitimidade, operacional, o financeiro e o orçamentário, todos feitos pelo Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, ou então, a fiscalização feita pelo Ministério Público, por meio de Ações de Improbidade Administrativa, exigiam um reforço frente à voraz irresponsabilidade dos administradores. A irresponsabilidade era tão crescente que até a opinião pública passou a clamar por uma maior responsabilização e eficiência no controle do orçamento público. Além disso, autores de escol como Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini afirmam que o Fundo Monetário Internacional, principal parceiro do Brasil nas relações econômicas a nível internacional, passou a exigir o incremento da fiscalização das finanças públicas, inclusi- ve como condição para empréstimos e ajudas futuras. Tudo com apoio do Banco Mundial e dos países que integram o G7. Neste contexto, no dia 4 de maio de 2002, foi sancionada a Lei Complementar nº 101/2000, a famosa e propalada Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece normas regulamentadoras das finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dando outras providências. Ela se apóia em quatro alicerces. São eles: planejamento, transparência, controle e responsabilização. Mais tarde, para enrijecer ainda mais este controle, foi sancionada a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, prevendo condutas criminosas relacionadas com as finanças públicas. Efetivamente, havíamos dado um importante passo na busca de uma maior responsabilidade no trato do Erário. E isto pôde ser constatado por meio de um fato concreto. A preocupação que surgiu com a novel lei foi tão intensa, que é notório o levante de grande número de Prefeitos Municipais, empossados em 1º de janeiro de 2001, rumo a Brasília, para principalmente reivindicar a alteração do prazo de vigência. Verifiquemos, então, o crime de contratação de operação de crédito previsto no artigo 359-A do Código Penal. 2 - ARTIGO 359-A. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.1 – Descrição O crime descrito no artigo 359-A possui o nomen iuris “contratação de operação de crédito”. Há críticas sobre esta denominação, uma vez que não há delito em se contratar operação de crédito, mas, isto sim, em fazê-lo sem a autorização legal ou extrapolando os termos de lei existente. Vejamos a sua redação: Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa: Pena – reclusão de um a dois anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo: I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Desde já, evidencia-se que se trata de uma norma penal em branco, ou seja, trata-se de uma norma que descreve uma conduta carente de completude. Com efeito, o comportamento delitivo é descrito incompletamente, exigindo-se um complemento legal. Conclui-se, também, que se trata de um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, uma vez que o tipo penal descreve várias modalidades de realização do crime. Caso o agente venha a cometer mais de uma conduta descrita no tipo, ele responderá por delito único, ante a aplicação do Princípio da Alternatividade. 2.2 – Objetividade Jurídica O objeto jurídico de um crime é o bem ou o interesse tutelado pela norma penal. O crime de contratação de operação de crédito possui duas objetividades jurídicas: a)O equilíbrio do Orçamento Público; b)O controle legislativo dos Gastos Públicos. 2.3 – Sujeitos do Delito O sujeito ativo do delito é o agente público que possui atribuição para ordenar, autorizar ou realizar a contratação de operação de crédito. Trata-se, portanto, de um crime próprio, ou seja, só pode ser cometido por uma categoria de pessoas, pois exige que o agente tenha uma condição ou qualidade pessoal. Aquele que não é agente público também poderá responder pelo delito. A qualidade de agente público é uma elementar subjetiva e, por força do artigo 30 do Código Penal, ela se comunica ao extraneus que age em co-autoria ou participação, desde quando este conheça a qualidade aludida em seu parceiro do crime. Os sujeitos passivos do delito são os entes que possuem orçamento, isto é, a União, Estados, Distrito Federal, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresa pública, etc. 2.4 – Tipo Objetivo Três são os núcleos do delito: a)Ordenar: mandar, determinar; b)Autorizar: conferir autorização; c)Realizar: efetuar, pôr em prática. O conceito de contratação de operação de crédito vem disposto no inciso III do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a seguinte redação: É o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. A contratação pode ser interna, ou seja, feita em nosso país, bem como externa, isto é, realizada com o exterior. Neste último caso, ela depende de autorização específica do Senado Federal (Lei Complementar nº 101/00, artigo 32, parágrafo 1º, inciso IV). Como se observa acima, para que se configure o delito é necessário que as condutas ocorram “sem prévia autorização legislativa”. Esta expressão é o elemento normativo do tipo, exigindo-se do intérprete um juízo de valoração. A doutrina costuma classificar os delitos que possuem em seu bojo elementos normativos como tipos anormais. O professor Fernando Capez, em seu Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, 2002, 4ª edição, Saraiva, pág. 173, leciona: “Os tipos que possuem elementos normativos são considerados anormais: alargam muito o campo de discricionariedade do julgador, perdendo um pouco de sua característica básica de delimitação”. 2.5 – Consumação e Tentativa A consumação ocorre, quando a conduta é ordenar ou autorizar, com a mera ordem ou autorização. Representam, portanto, crimes formais. Caso a contratação de operação de crédito ocorra, estaremos diante de um mero exaurimento do delito. Já quando se fala no comportamento de realizar, o crime resta consumado quando efetivamente a contratação de operação de crédito ocorre. Evidencia-se, portanto um crime material. A doutrina entende possível a tentativa destes delitos, porém manifesta que é difícil a sua verificação. 2.6 – Tipo Subjetivo As condutas acima descritas somente são puníveis a título de dolo, ou seja, o agente tem a vontade livre e consciente de ordenar, autorizar ou realizar a contratação de operação de crédito, ciente da inexistência de autorização legislativa. A modalidade culposa não é admitida. 2.7 – Figuras típicas equiparadas ao caput No parágrafo único, vislumbram-se condutas que são equiparadas ao comportamento ilícito constante no caput. Nas mesmas penas do caput, incorre aquele que ordena, realiza ou autoriza a contratação de operação de crédito, interno ou externo: a) com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal; b) quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Sobre o conceito de dívida consolidada, ou fundada, entende-se aquele previsto no artigo 29, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal: Dívida consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior de 12 meses. Assim, a diferença fundamental entre as condutas do caput e as previstas no parágrafo único é que as primeiras são cometidas quando não existe prévia autorização legislativa, enquanto as últimas se concretizam violando-se autorização legislativa em vigor. 3 - IMPORTANTES CONSIDERAÇÕES 3.1 - Os crimes descritos são todos apurados por meio de Ação Penal Pública Incondicionada. Havendo justa causa, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, o Ministério Público deverá instaurar a persecutio criminis in judicio, de forma oficial, oficiosa, obrigatória, indivisível e indisponível. 3.2 - A doutrina, liderada pelo sempre lembrado Prof. Damásio E. de Jesus (Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, Saraiva, 2001, pág. 611), evidencia a possibilidade de aplicação, em tese, de uma causa excludente de ilicitude, qual seja, o estado de necessidade. Situações como a seca ou inundações criam um alto número de pessoas flageladas, as quais necessitam, urgentemente, de atendimento e socorro por parte do Estado. Em tese, situações semelhantes a estas permitiriam que o administrador público se afastasse dos ditames legais de observância obrigatória para a contratação de operação de crédito, obtendo recursos para conferir o mínimo de dignidade para as pessoas que viessem a sofrer por conta de calamidades da natureza. Não se quer aqui dizer que o administrador poderá agir a seu belprazer. Mas que, diante do confronto entre o bem jurídico tutelado pela norma penal e as súplicas de grande número de administrados afetados em sua dignidade humana, é possível flexibilizar a norma jurídico-repressiva para que o administrador não reste “engessado” no seu munus, cuja finalidade é única, isto é, o bem-estar de seus administrados. 3.3 - Autores como Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes (Crimes de Responsabilidade Fiscal, 1ª edição, RT, 2001), que cultuam o Princípio da Ofensividade, manifestam o entendimento de que só há crime se a operação de crédito contratada for de valor expressivo. Do contrário, não haveria lesão ou perigo de lesão concreta ao orçamento público. 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS Na verdade, não é por meio de leis que o Brasil deixará aquela imagem que nos vem quando nos reportamos à administração do dinheiro público. O mais eficiente combate aos comportamentos acima mencionados, sem dúvida, é a consciência do gestor da coisa pública. Merecem ser transcritas as palavras do Desembargador Régis Fernandes de Oliveira, em seu livro Responsabilidade Fiscal, 1ª ed., RT, 2001, pág. 5: “O administrador público não só tem que parecer honesto, como tem o dever de assim se comportar. Independentemente de ser um princípio constitucional previsto no artigo 37 da Constituição da República, há o dever ético de ter conduta impecável. Não se trata do fato de confundir princípios morais com jurídicos. Cuida-se da incorporação de deveres éticos ao ordenamento normativo. As condutas humanas são captadas, como ímã, da realidade fática e trazidas ao mundo jurídico”. “Ser probo na gestão de cargo ou função pública deixa de ser seu pressuposto ou mera obrigação moral para constituir-se em dever jurídico”. BIBLIOGRAFIA: GOMES, Luiz Flávio... et allii. Crimes de responsabilidade fiscal. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002 Oliveira, Régis Fernandes de. Responsabilidade fiscal. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001 Capez, Fernando. Curso de direito penal – Parte Geral. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. Delmanto, Celso...et allii. Código penal comentado. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. UMA REFLEXÃO SOBRE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Marcelo Jatobá Lôbo “É insuficiente e injusto o sistema tributário que não reconheça êste instituto jurídico. Não reconhecê-lo e não explorá-lo importam no mesmo. Insuficiente porque desprezará preciosa forma de financiamento de obras públicas das quais tanta necessidade tem a sociedade moderna. Injusto porque onerará desigualmente os cidadãos e não respeitará as elementares exigências de justiça distributiva, abandonando sólidos indícios científicos de proporcionalidade, asseguradores de um sistema équo de repartição de encargos tributários.” (Geraldo Ataliba, Natureza jurídica da contribuição de melhoria) Sumário: 1. Introdução – 2. Sobre as normas de competência – 3. O conteúdo do princípio da igualdade – 4. A igualdade na lei e sentido positivo do princípio isonômico – 5. A mais-valia decorrente de obras públicas e o princípio da igualdade – 6. Os instrumentos previstos pelo sistema para corrigir a distorção – 6.1. A contribuição de melhoria – 6.2. A desapropriação por zona – 7. Breves considerações acerca do princípio da proporcionalidade - 8. O subprincípio da necessidade e a inconstitucionalidade da desapropriação por zona – 9. O exercício obrigatório da competência para instituir a contribuição de melhoria - 10. Inconstitucionalidade por omissão: a medida sancionatória imposta ao descumprimento do dever de legislar- 11. Conclusão. 1. INTRODUÇÃO Três constatações são encontradas, com certa freqüência, nas obras dos autores que se ocupam com o estudo da contribuição de melhoria, quais sejam: a) trata-se de tributo de grande importância socioeconômica; b) a despeito da sua relevância, não vem sendo implementado na prática; c) o não exercício da competência corresponde a um problema estritamente político, prevalecendo, nesse particular, a decantada característica da “facultatividade”. O desafio deste trabalho consiste em analisar a ausência de tributação por meio do gravame em perspectiva, sob um enfoque exclusivamente jurídico. O interesse perseguido é o de questionar a facultatividade do exercício da competência, em face da atual Carta Magna. Acredita-se seja oportuno rediscutir essa temática, conduzindo-se a análise em direção ao princípio da igualdade. Partiremos, nesta ordem de idéias, das seguintes indagações, a saber: seria possível optar pela não tributação da contribuição de melhoria, permitindo-se que a mais-valia imobiliária seja absorvida por uns poucos, em detrimento de toda a coletividade, que arca, ao fim e ao cabo, com os custos da edificação? A inércia do legislador encontraria respaldo no texto constitucional? São questionamentos que não mereceram um desenvolvimento mais aprofundado por parte da doutrina. Reconhece-se, de uma maneira geral, que a contribuição de melhoria atende ao primado da igualdade, mas não se perquire, mais detidamente, acerca da influência desse princípio na composição da regra de competência daquele tributo. Deplora-se a falta de efetividade, mas não se põe em questão a faculdade de desencadear o exercício da respectiva competência. Intentar-se-á demonstrar que a exação em tela é instrumento único e necessário à realização do princípio da igualdade, no que atina com a problemática da mais-valia imobiliária decorrente de obra pública, e que a inércia do legislador da União, dos Estados e dos Municípios, nesta vertente, não escapa da pecha de inconstitucionalidade por omissão. 2. SOBRE AS NORMAS DE COMPETÊNCIA As normas de competência 2 recebem outras denominações na literatura teórico-jurídica. São conhecidas, por exemplo, como normas sobre produção jurídica, normas de estrutura3 e regras que conferem poderes4. Riccardo Guastini, criticando o uso da expressão “normas que conferem poderes” para designar as normas sobre produção jurídica (como ele prefere chamar), anota que existem, pelo menos, cinco espécies de regras dessa natureza e que as outorgativas de poderes corresponderiam apenas a uma delas. Haveria, assim: 1) Normas que atribuem poderes, vale dizer, que “adscriben un poder normativo a un determinado sujeto o, más precisamente, el poder de crear un determinado tipo de fuente del derecho” [instrumento normativo] ...; 2) Normas procedimentais, que regulam o exercício do poder conferido, referindo-se aos “procedimientos para crear las fuentes del derecho en cuestión”; 3) Normas que determinam as matérias sobre as quais se pode versar, ou seja, que “circunscreben el âmbito del poder conferido”; 4) Normas que destinam determinadas matérias a instrumentos introdutores específicos, “de modo que: a) ninguna outra fuente está habilitada para regular esa materia; y b) la fuente a favor de la que se estabelece la reserva no está autorizada para delegar la regulación de la materia en cuestión”; 5) Normas que ordenam ou proibem o legislador de ditar leis sobre determinado conteúdo. “Por ejemplo: las normas constitucionales que prohiben al legislador el dictado de leyes retroactivas o de leyes discriminatorias ...” Portanto, na esteira da lição do jurista italiano, a competência não pode ser reduzida a uma norma apenas. É algo bem mais complexo, envolvendo um conjunto de regras jurídicas. Procuraremos demonstrar que a instituição da Contribuição de Melhoria é conteúdo de uma norma que determina o exercício da competência tributária, significando dizer que o comportamento do legislador da União, dos Estados e dos Municípios é qualificado pelo modal obrigatório5. Para fazê-lo, é necessário mergulhar no universo da interpretação sistemática, passando-se pelos princípios da igualdade e proporcionalidade, pelo instituto da desapropriação por zona e, finalmente, pela sanção que o sistema oferece para o descumprimento do dever constitucional de legislar. 3. O conteúdo do princípio da igualdade Quando, ao se fazer uma comparação, afirma-se a igualdade ou dissemelhança entre duas coisas, está-se externando um enunciado de cunho relacional, regido pela teoria dos predicados poliádicos6. A Igualdade não é, portanto, um atributo, uma propriedade inerente às coisas como objetos singulares, mas uma relação entre dois termos7. Por isso é que, como o assinala Garcia Maynez8, reportando-se às lições de Hans Neft, só há igualdade onde houver diferença, isto é, onde se apresentarem pelo menos duas pessoas, coisas ou situações distintas que se colocam em comparação. A isonomia só se caracteriza, com efeito, porque uma entidade não se reduz à outra (uma não é a outra). Não fosse assim, e já não se poderia cogitar de isonomia entre dois termos, mas de identidade. No que atina com os seres humanos, múltiplas são as diferenças que podem ser tomadas como base para a discriminação: idade, sexo, grau de escolaridade, etc9. Mas em que circunstâncias e sob quais condições se justifica e se impõe tratamento desigual entre as pessoas? A resposta a esse questionamento não é de fácil determinação. Isto porque a igualdade é um valor e os valores sempre rendem ensejo a divergências interpretativas, em função dos padrões axiológicos de quem os avalia. Talvez por essa razão, quase tudo o que já se disse sobre o princípio da isonomia, como observa José Artur Lima Gonçalves10, pode ser resumido na clássica lição de Ruy Barbosa que preconiza a equiparação de tratamento aos iguais e a desequiparação aos desiguais, na medida em que se desigualam. Alguns autores, todavia, trouxeram contribuições científicas importantes para compreensão desse primado fundamental. No Brasil, merece particular destaque o contributo de Celso Antônio Bandeira de Melo, em seu Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Nesse livro, que já se tornou um clássico da literatura jurídica nacional, aponta o referido autor quatro aspectos que devem ser observados para que a discriminação possa conviver com o princípio em foco. São eles: a) A desequiparação não pode ser tão específica, a ponto de alcançar, de forma atual e absoluta, um só indivíduo; b) O traço diferencial a ser eleito deve ser intrínseco às pessoas, coisas ou situações objeto do tratamento desigual. Não se pode, dessa forma, eleger um fator neutro, externo às pessoas, situações ou coisas discriminadas; c) Deve-se estabelecer, ainda que implicitamente, o nexo lógico entre o fator de discrímen e o tratamento diferenciado; d) Finalmente, o vínculo entre o fator de discriminação e a desigualdade de tratamento deve estar em consonância com os valores constitucionalmente consagrados11. A contribuição de melhoria mostra-se intimamente ligada ao princípio isonômico. Com efeito, a instituição daquela é imprescindível para a efetiva realização deste último. É necessário, entretanto, avançar mais nesse raciocínio, o que se fará nos próximos itens. 4. A IGUALDADE NA LEI E O SENTIDO POSITIVO DO PRINCÍPIO ISONÔMICO Tornou-se assente na doutrina o entendimento segundo o qual o destinatário, por excelência, do princípio da igualdade é o legislador, aqui entendido em sua acepção estrita, isto é, como órgão do Poder Legislativo. Fala-se, assim, não só em igualdade perante a lei, mas em isonomia na própria lei. Aliás, se o primado em questão não se dirigisse precipuamente ao legislador, careceria de um sentido útil, perdendo o seu status constitucional, na exata medida em que seria reduzido, como observa J.J Gomes Canotilho12, a uma mera refração do princípio da legalidade. Portanto, não só o aplicador do direito, mas, também – e principalmente-, o legislador deve observar o princípio isonômico. Fá-lo-á sempre que mantiver a igualdade como conteúdo necessário da lei, de modo que a obediência ao primado da legalidade implique, ipso facto, a submissão ao princípio da isonomia 13. O sentido mais comum da igualdade na lei é negativo, a saber: vedar a imposição de discriminações arbitrárias. Trata-se de um controle realizado em face de um diploma legal já existente. O legislador, que é livre para exercer sua competência, não o pode fazer em desconformidade com o princípio da isonomia. Se o fizer, estará incorrendo em inconstitucionalidade por ação. A igualdade possui, entretanto, um sentido positivo, que se não dirige diretamente ao controle da lei, mas a exige como meio, como instrumento para a sua realização. Reclama-se, desta feita, uma atuação positiva do legislador para assegurar a observância a esse primado fundamental14. Cuidar-se-á, no presente ensaio, de uma hipótese de aplicação do princípio da isonomia nesse sentido positivo. Com efeito, a atividade legislativa será vista aqui, não como algo a ser controlado, mas como um instrumento de realização daquele princípio e sobre cuja ausência recai a eiva de inconstitucionalidade por omissão15. 5. A mais-valia decorrente de obras públicas e o princípio da igualdade O Poder Público deve dispensar aos administrados um tratamento isonômico. Sua atividade, desenvolvida no interesse de todos, não deve ocasionar privilégios ou detrimentos a certos indivíduos ou a grupos determinados de pessoas. Em algumas oportunidades, todavia, a Administração, no desempenho de suas atribuições, gera, ainda que não o pretenda, benefícios ou prejuízos a terceiros. Para remediar situações tais, o sistema jurídico oferece os instrumentos adequados. Não é por outra razão que o fundamento da responsabilidade civil do Estado repousa no princípio isonômico. Di-lo, com a percuciência que lhe é peculiar, Celso Antônio Bandeira de Melo16: “No caso de comportamentos ilícitos, assim como na hipótese de danos ligados a situação criada pelo Poder Público - mesmo que não seja o Estado o próprio autor do ato danoso- entendemos que o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito”. Prossegue o autor17: “Se houve conduta estatal lesiva a bem jurídico garantido de terceiro, o princípio da igualdade –inerente ao Estado de Direito- é suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico lesado. Qualquer outra indagação será despicienda, por já haver configurado situação que reclama em favor do atingido o patrocínio do preceito da isonomia”. Se o desempenho das atribuições do Estado não pode gerar prejuízos, não deve, de igual modo, ocasionar privilégios. O fundamento é rigorosamente o mesmo: o princípio da isonomia. Trata-se do outro lado da mesma moeda. Não seria crível, com efeito, admitir que uma atividade, custeada por todos e desenvolvida em prol dessa coletividade, pudesse resultar em benefícios particulares a certos e determinados indivíduos. Examinemos o tema da mais-valia imobiliária. Quando a atuação do Estado consiste na execução de uma obra pública, duas conseqüências podem acontecer: a uma, incremento do valor dos imóveis circunvizinhos; a duas, desvalorização daqueles prédios. Esta última hipótese, menos comum, rende ensejo à reparação econômica; aquela primeira, mais freqüente, reclama a absorção da mais-valia pelo Poder Público. Se o Estado, por meio do instrumento adequado, não chamar para si a plus valia, estará desatendendo o princípio da igualdade. Com efeito, para que os beneficiados fizessem jus ao incremento imobiliário, teriam de ser diferentes dos demais membros da coletividade. Seria, então, de indagar-se: qual o traço diferencial, inerente aos proprietários favorecidos pelo sobrevalor, que os distinguiria das outras pessoas? Só há uma coisa que, na hipótese em questão, os diferenciaria: a circunstância de residirem nas proximidades da obra pública. Mas é este um fator neutro, externo aos beneficiados, que, por isso mesmo, não pode justificar o tratamento desigualitário. Mais uma vez, convoca-se o magistério seguro de Celso Antônio Bandeira de Melo18: “Em outras palavras: um fator neutro em relação às situações, coisas ou pessoas diferençadas é inidôneo para distingui-las. Então, não pode ser deferido aos magistrados ou aos advogados ou aos médicos que habitem determinada região do país – só por isto- um tratamento mais favorável ou mais desfavorável juridicamente. Em suma, discriminação alguma pode ser feita entre eles, simplesmente em razão da área espacial em que estejam sediados.” A desequiparação provocada pela atuação administrativa exige que, aos olhos do legislador, sejam os proprietários dos imóveis circunvizinhos considerados desiguais. Reconhece-o Priscilla da Cunha Rodriguez. Para a autora, o incremento do valor dos imóveis auferido pelos proprietários que se beneficiaram com a edificação seria fator de discrímen juridicamente relevante para exigir a diferença de tratamento19. Esse benefício especial torná-los-ia desiguais, submetendo-os, por isso mesmo, um tratamento diferenciado: o pagamento da contribuição de melhoria. Com efeito, se se quiser preservar o princípio da igualdade entre os administrados, não se pode aceitar a permanência do sobrevalor imobiliário com os proprietários dos imóveis adjacentes à obra pública. E para isso já advertia Geraldo Ataliba em 196420: “Que igualdade pode haver num sistema tributário em que uns poucos privilegiados recolhem para si, sem compensação, especiais benefícios decorrentes de obras públicas? É exigência do princípio da isonomia a recuperação da mais valia imobiliária oriunda de obra pública”. A mais-valia imobiliária deve ser, portanto, absorvida, total ou parcialmente, pelo Estado. Mas qual (is) o (s) meio (s) que o sistema ofereceria para tanto? É o que se verificará, a seguir. 6. OS INSTRUMENTOS PREVISTOS PELO SISTEMA PARA CORRIGIR A DISTORÇÃO 6.1 A contribuição de melhoria A contribuição de melhoria foi introduzida no Brasil pela Constituição de 1934. De lá para cá, todos os textos constitucionais, com exceção da Carta de 193721, previram-na, de forma explícita, em dispositivos específicos. A Constituição de 1988 consagrou-a, como um tributo comum a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, no artigo 145,III . Ei-lo: ART. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão22 instituir os seguintes tributos: (...) III- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Apesar da sintética redação desse dispositivo, a maioria da doutrina entende, não sem acerto, que a cobrança da c.m permanece condicionada à realização de obra pública que implique incremento no valor dos imóveis circunvizinhos. Trata-se de uma relação de causa (obra) e efeito (valorização imobiliária) necessária à exigência da exação. Para dizê-lo com outras palavras: consiste, como observa com acuidade Priscilla Figueiredo da Cunha Rodrigues23, numa relação de causalidade social, inserida no plano do ser. Como a linguagem que se põem a descrevê-la está submetida à lógica alética, que governa o plano ôntico, poder-se-á falar em verdade ou falsidade, de acordo com a verificação empírica24. Assim, se a feitura da obra pública engendrar a valorização imobiliária, a relação de causa e efeito estará perfeita (será verdadeira) e o tributo poderá ser cobrado. Se, ao contrário, o nexo causal deixar de se verificar, não será possível exercer a tributação. Na primeira hipótese, o relato em linguagem do acontecimento implica a constituição do respectivo vínculo obrigacional, por força de uma outra relação de causalidade, mas, desta feita, de natureza jurídica. Diferentemente do primeiro nexo, essa última relação causal não habita o plano do ser, é antes decretada pelo fenômeno da imputação normativa, pertencendo, portanto, aos domínios do dever ser25. Já que a feitura da obra, só por si, é condição necessária, mas não suficiente para a incidência da norma tributária, é lícito concluir, como fê-lo Geraldo Ataliba26, que a contribuição de melhoria consiste num tributo indiretamente vinculado a uma atuação estatal e mediatamente referido ao obrigado. Com efeito, entre a obra e o sujeito passivo da exação, intercala-se o incremento do valor do imóvel. Nisso distingui-se da taxa, para cuja cobrança exige-se uma atuação direta do Estado e imediatamente referida ao obrigado. Um estudo mais completo do tributo em perspectiva pediria a consideração de cada um dos critérios componentes de sua regra matriz de incidência, além de outros aspectos. A análise poderia ser desenvolvida a partir, por exemplo, das seguintes indagações: a) Seria a c.m uma subespécie de taxa ou um tributo autônomo? b) Estaria a cobrança do gravame em perspectiva sujeita ao limite global (o custo da obra) e/ou ao individual (o sobrevalor alcançado pelo patrimônio)? c) O princípio da capacidade contributiva aplicar-se-ia à c.m? d) O Código Tributário, na parte relativa a essa exação, e o Decre- to nº 195/67 poderiam traçar, na qualidade de veículos introdutores de normas gerais, a disciplina da contribuição de melhoria, fixando limites e impondo requisitos? São questionamentos que, ao lado de outros tantos, poderiam ser enfrentados num estudo que tenha o tributo em questão por temático. Não os apreciaremos, todavia, nem cuidaremos dos aspectos da regramatriz de incidência, em atenção à finalidade e, sobretudo, aos limites desse trabalho. Fundamental para os nossos propósitos é o registro de que a contribuição de melhoria destina-se à transferência aos cofres estatais do sobrevalor alcançado pelos imóveis que margeiam a obra pública. É, portanto, um tributo que incide sobre a mais-valia imobiliária 27. 6.2 A desapropriação por zona A desapropriação por zona, prevista no artigo 4ª do Decreto-lei n.3365/41, consiste na expropriação de uma área maior do que aquela que fora declarada de utilidade pública. Com outras palavras: alcança-se, com ela, a zona contígua ao espaço destinado à realização da obra ou do serviço28. O instituto destina-se ao implemento de dois objetivos distintos: um, reservar a área para posterior ampliação da obra; dois, revender o espaço valorizado com a edificação. A segunda hipótese seria sucedânea da contribuição de melhoria. Teria rigorosamente a mesma finalidade: transferir para os cofres estatais o sobrevalor patrimonial alcançado em virtude da obra pública. Essa modalidade de desapropriação por zona não resiste, todavia, ao cotejo com o princípio da proporcionalidade. É o que será demonstrado no próximo tópico. 7. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE O princípio da proporcionalidade integra, ainda que implicitamente, o sistema jurídico brasileiro. Para alguns, seria uma decorrência do primado fundamental do Estado de direito; para outros, um princípio sustentado na cláusula do devido processo legal, compreendida numa acepção substantiva. Seja como for, é largamente reconhecido pela doutrina e adotado, com freqüência, pelos juízes e tribunais, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. O referido princípio desdobra-se em três elementos parciais ou subprincípios: a) adequação, b) necessidade e c) proporcionalidade em sentido estrito. Luiz Roberto Barroso29 explica, de forma sintética, o sentido de cada uma dessas três vertentes: “A doutrina- tanto lusitana quanto brasileira- que se abebera no conhecimento jurídico produzido na Alemanha reproduz e endossa essa tríplice caracterização da proporcionalidade, como é mais comumente referido pelos autores alemães. Assim é que dele se extraem os requisitos (a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou exigibilidade, que impões a verificação da inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos .” Para a compreensão do tema que faz nossos cuidados, interessa a análise, ainda que sucinta, do princípio da necessidade ou da menor ingerência possível. 8. O SUBPRINCÍPIO DA NECESSIDADE E A INCONSTITUCIONALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO POR ZONA O subprincípio da necessidade é, por vezes, tratado autonomamente e, não raro, identificado com a proporcionalidade propriamente dita30. Trata-se de um limite objetivo que exige a obtenção do resultado pretendido através do meio menos oneroso. Em palavras de J.J. Gomes Canotilho31: “Esse requisito, também conhecido como ‘ princípio da necessidade’ ou da ‘menor ingerência possível’ coloca a tônica na idéia de que o cidadão tem direito a menor desvantagem possível. Assim exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção de determinados fins, não era possível adaptar outro meio menos oneroso para o cidadão.” Pois bem, a desapropriação por zona não se compadece com o princípio em foco, mercê da disponibilidade de um meio menos gravoso para alcançar idêntico resultado: a contribuição de melhoria. Não faz sentido impor ao cidadão a perda de sua propriedade, sendo possível alcançar o mesmo objetivo com o pagamento de um valor pecuniário, que, sobre ser um instrumento menos oneroso, é a forma que a própria Constituição Federal concebeu para absorver a mais-valia imobiliária decorrente de obra pública. Essa constatação não escapou à argúcia de Celso Antônio Bandeira de Melo32: “Contudo, reputamo-la inconstitucional quando destinada à revenda das áreas que se valorizarem extraordinariamente em conseqüência da obra. Pelo menos duas razões assomam para levar a tal entendimento. Uma é a de que a própria Constituição prevê, em seu art. 145, III, a contribuição de melhoria, concebida para captar a valorização obtida à custa de obra pública. É este, então, o instituto idôneo a absorvê-la. Outra, a de que, se o Poder Público tem um meio para atingir o objetivo em causa, não pode se valer de outro que impõe ao administrado gravames maiores (a perda da propriedade) que os necessários para alcançar o fim que lhe serve de justificativa (recolher a valorização extraordinária).” A cobrança da contribuição de melhoria é, portanto, o instituto idôneo a promover a transferência da mais-valia imobiliária aos cofres públicos, consistindo, por via de conseqüência, no único33 instrumento de realização do princípio da igualdade nesse particular. 9. O EXERCÍCIO OBRIGATÓRIO DA COMPETÊNCIA PARA A INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Operamos com a premissa de que as regras jurídicas não estão nos textos. São, antes sim, construídas pelo intérprete a partir da leitura dos enunciados veiculados pelos diferentes instrumentos normativos (Constituição, leis, decretos, etc.). Se as normas não estão nos textos do Direito Positivo, só se pode chegar à regra de competência para a instituição da c.m percorrendo o trajeto de geração de sentido, numa palavra, interpretando34. Mas qual seria o itinerário mais seguro, o viés conducente a melhores resultados? Reputa-se chegado o ensejo de perscrutar as exigências do conjunto normativo. É a oportunidade de ver o texto como um “todo de sentido”. O momento de respeitar a importância capital do princípio e valorizar a unidade sistemática. Vimos de ver que a contribuição de melhoria é o meio que o sistema põe à disposição do Estado para transferir aos seus cofres o incremento imobiliário resultante de obra pública. É, pois, um instrumento de realização do princípio da igualdade, na exata medida em que evita que uns poucos privilegiados se locupletem às custas de toda a coletividade. Portanto, construir a norma de competência para a instituição da c.m desconsiderando o valor igualdade é tergiversar o itinerário conducente à interpretação sistemática. É distrair-se da trajetória que contempla o sistema como um todo unitário, não se contentando com a análise de enunciados isolados. O primado da isonomia está a exigir, por tudo o que foi dito, o modal obrigatório para qualificar a conduta de legislar sobre o tributo em causa. Se estivéssemos diante de uma simples faculdade, o não exercício da competência importaria a inobservância permanente a esse princípio fundamental, legitimando o privilégio de alguns em detrimento do todo. Não parece ser essa a melhor exegese. Poder-se-ia objetar que o artigo 145, III, da CF optara pela facultatividade, referindo-se ao verbo poder (... poderão instituir...). A presença desse verbo denunciaria, sem a necessidade de maiores reflexões, um preceito permissivo. Essa objeção pode satisfazer aos mais afeitos a uma exegese estritamente literal, mas deve encontrar resistência entre aqueles que se não contentam com a análise de orações isoladas, preferindo o texto à frase, o sistema à particularidade35. É necessário ter presente que, para o direito, o termo “pode” assume, muita vez, como observar Carlos Maximiliano36, as proporções de “deve”. Seu sentido literal não raro contrasta com a orientação do próprio sistema. Portanto, não o cotejar com o contexto em que está inserido é equívoco que deve ser evitado. Passe-se a palavra a esse clássico da hemenêutica jurídica: “Se, ao invés do processo filológico de exegese, alguém recorre ao sistemático e ao teleológico, atinge, - às vezes, resultado diferente: desaparece a antinomia verbal, pode assume as proporções e o efeito de deve (2). Assim acontece quando um dispositivo, embora redigido de modo que traduz na aparência, o intuito de permitir, autorizar, possibilitar, envolve a defesa contra males irreparáveis, a prevenção relativa a violações de direitos adquiridos, ou a outorga de atribuições importantes para proteger o interesse público ou franquia individual (3). Pouco importa que a competência ou autoridade seja conferida, direta ou indiretamente; em forma positiva, ou negativa: o efeito é o mesmo (4); os valores jurídico-sociais conduzem a fazer o poder redundar em dever, sem embargo do elemento gramatical em contrário.” (Grifo nosso) O legislador exprime-se numa linguagem técnica, significa dizer, numa linguagem essencialmente natural, entremeada, todavia, de algumas expressões de cunho científico. “Os membros das Casas Legislativas, em países que se inclinam por um sistema democrático de governo, representam os vários segmentos da sociedade. Alguns são médicos, outros bancários37...”. Não se pode esperar dessa linguagem prescritiva a precisão terminológica reclamada pelo discurso científico. Cabe aos intérpretes desapegarem-se do sentido literal das palavras, para encontrar a disciplina que o sistema impõe para a situ- ação específica. Se essas assertivas forem procedentes, o que parece ser uma verdade irrefutável, acredita-se seja possível sustentar a obrigatoriedade do exercício da competência para a instituição da c.m. Mas para isso é necessário vencer a resistência em admitir que, no campo das competências legislativas, a Constituição pode, ainda que não seja a regra, impor deveres e não meras faculdades. 10. INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO: A MEDIDA SANCIONATÓRIA IMPOSTA AO DESCUMPRIMENTO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR A omissão constitucional caracteriza-se quando ocorre a inobservância, por inércia, de um dever de legislar. Para supri-la, a Constituição de 1988 consagrou dois instrumentos: um, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão; e dois, o mandado de injunção. À finalidade desse trabalho, interessa aquela primeira, já que este último consubstancia um mecanismo de realização de direitos subjetivos, não se destinando a suprir objetivamente o vício de omissão, mas a satisfazer interesses individuais38. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão está prevista no artigo 103, §2º da Carta Magna39. Lá está dito que o Supremo Tribunal Federal dará ciência da mora ao respectivo órgão legislativo para que este tome as providências necessárias. Tal dispositivo é alvo de críticas por parte da doutrina. Pondera-se, de uma maneira geral, que o legislador, uma vez cientificado, pode simplesmente deixar de cumprir o dever de legislar, não estando a sua inércia sujeita a qualquer retaliação. É bem verdade que o constituinte poderia ter avançado um pouco mais na disciplina do instituto em perspectiva, para assegurar um cumprimento efetivo dos ditames constitucionais, imprimindo mais força à resposta do sistema jurídico à violação de suas normas por inércia legislativa40. Semelhante constatação não impede, contudo, seja reconhecida a existência de regras constitucionais que obrigam o exercício da atividade legiferante, como o afirmam os mais diversos autores41 que se ocupam com o estudo dessa temática. Paulo Roberto Lyrio Pimenta é, neste sentido, categórico42: “A inércia do legislador importa em inconstitucionalidade quando resultar do descumprimento da obrigação de legislar. Logo, o pressuposto básico é a existência do dever constitucional de legislar.” (Destacado no original). Ainda que de forma tênue, o ordenamento jurídico prevê uma medida sancionatória para o descumprimento do dever constitucional de legislar. Por isso, é possível concluir pela obrigatoriedade do exercício da competência para a instituição da c.m, sem correr o risco de estar sustentando a existência de um dever cujo descumprimento não receberia do sistema uma resposta sob a forma de sanção. Não colhe, por outro lado, o argumento de que inexistiria um dever de legislar, mercê da falta de eficácia social da sanção imposta, já que o legislador poderia não exercer a atividade legislativa, a despeito da cientificação da mora pelo Supremo Tribunal Federal. Para que se possa cogitar de um comportamento obrigatório, é bastante a existência de uma norma sancionando a sua inobservância. Para efeitos jurídicos, não interessa a efetividade dessa última norma ou a força que exerce para desestimular a conduta ilícita. Essas são considerações metajurídicas que podem – e devem - caber num estudo de política ou sociologia, mas não têm lugar numa análise dogmática desse fenômeno complexo que é o Direito. 11.CONCLUSÃO Ao cabo desse estudo, pode-se esboçar a norma de competência para instituição da contribuição de melhoria: Hipótese - dada a existência do órgão legislativo federal, estadual, distrital ou municipal dever ser Tese: o vínculo jurídico em que comparece, no pólo ativo, toda a comunidade do respectivo titular da competência e, na condição de sujeito passivo, aquela pessoa política, de quem se exige a instituição do tributo em causa. Para construir essa norma, interpretaram-se vários enunciados – alguns implícitos outros explícitos. Com efeito, ingressou-se na temática da mais-valia imobiliária, da desapropriação por zona e dos princípios da igualdade e proporcionalidade. Tudo isso para chegar a uma só unidade de manifestação do deôntico. De acordo com o referencial teórico que adotamos, o texto, em si, não possui qualquer sentido, vale dizer, não é uma caixa que se possa abrir e retirar uma significação pronta e acabada43. Trata-se, apenas, de uma base empírica que veicula enunciados prescritivos, a partir dos quais se constrói o sentido44. Uma vez que os textos do direito posto não contêm as significações, tornam-se despropositadas as disputas por uma compreensão unívoca. Haverá tantas possibilidades de interpretação, quantos forem os intérpretes45. A leitura de um único enunciado pode gerar, pois, sentidos diversos, em função de quem o interprete. E se o sentido construído a partir de uma simples sentença dista de ser necessariamente uniforme, o que dizer de uma construção obtida através da leitura de vários enunciados? A dificuldade recrudesce quando se tem presente que, para se chegar à regra jurídica em perspectiva, foi necessário tomar posição diante de um valor: a isonomia. A conclusão não poderia ser outra: ao construir-se a norma de competência para a instituição da c.m, acredita-se haver chegado a uma – não a – interpretação possível. A homenagem ao princípio da igualdade e a opção pelo método sistemático são bons motivos para adotá-la. Além disso, razões metajurídicas a recomendam, ainda que não sejam determinantes46. BIBLIOGRAFIA ATALIBA, Geraldo. Natureza jurídica da contribuição de melhoria, São Paulo: Revista dos tribunais, 1964. ________. Hipótese de incidência tributária, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000. AULETE, Caudas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa, 2ª ed., Rio de janeiro: Delta,1968. BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo:Malheiros, 2000 ______. Conteúdo Jurídico do princípio da igualdade, 3ª ed, São Paulo: Malheiros, 1995. BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1998. BOBBIO, Norberto.Teoria do ordenamento jurídico, 10ª ed. Trad.Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: UNB,1999. BORGES, José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001. _________. “IPTU: Progressividade”. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, nº59: 73-94. CANOTILHO, J.J.GOMES. Direito Constitucional, 4ª ed., Coimbra: Almedina, 1989. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999. ________. Curso de direito tributário, 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000. _________.Enunciados, normas e valores jurídicos, Revista de direito tributário, São Paulo: Malheiros, nº 69: 43-56. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, 2ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais,2000. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999. DERZI, Misabel de Abreu Machado e COELHO, Sacha Calmon Navarro. Do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, São Paulo: Saraiva, 1982. FERRAGUTI, Maria Rita. Presunções no direito tributário, São Paulo: Dialética, 2001. GONÇALVES, J.A Lima. Isonomia na norma tributária. São Paulo: Malheiros, 1993. GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo : Estudios de teoría y metateoría del derecho. Trad. Jordir Ferrer i Beltrán, Barcelona: Editorial Gedisa,1999. HAGE, Jorge. Omissão inconstitucional e direito subjetivo. Brasília:Brasília Jurídica,1999. HART, Hebert L. A., O conceito de direito, 2ª ed. Trad. Armindo Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado, 1984. ________. Teoria geral do direito e do Estado.3º ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo:Martins Fontes,1998. KOCK, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 4ª ed., São Paulo: Contexto, 2000. MAYNEZ, Gabriel García. Filosofia del derecho.11ª ed, México: Porrúa, 1999. MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional. Tomo II, 3ª ed., Coimbra: Coimbra editora, 1991. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito.19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001. PIOVESAN, Flávia C. Proteção judicial contra omissões legislativas. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995. RODRIGUEZ, Priscilla Figueiredo da cunha. Contribuição de melhoria. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 1998. SANTI, Eurico Marcos Diniz. Classificação no sistema tributário brasileiro. In: Justiça Tributária: 1º Congresso Internacional de Direito Tributário – IBET, São Paulo: Max Limonad, p.130-146, 1998. VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito, 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,2000. O autor é procurador do Estado de Sergipe e mestrando em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/ SP). 2 Vamos relacionar a expressão “competência tributária” à atividade do Poder Legislativo. Esse esclarecimento é necessário, porquanto a competência tributária não é algo conferido, com foros de exclusividade, aos órgãos daquele Poder. Têm-na, como observa Paulo de Barros Carvalho, desde o Presidente da República, ao expedir um decreto sobre o IR, até o particular que é chamado a produzir a norma individual e concreta relativa à incidência tributária. (Cf. Curso de direito tributário, p.212). 3 Norberto Bobbio faz distinção entre normas de estrutura e normas de conduta. As primeiras regulam diretamente os comportamentos intersubjetivos. As segundas dirigem-se mediatamente às condutas das pessoas e imediatamente ao comportamento de produzir novas unidades do sistema, ou seja, prescrevem “as condições e os procedimentos através dos quais emanam normas de conduta válidas.” (Teoria do ordenamento jurídico, p. 33). 4 L.A Hart separa as normas jurídicas em duas classes: a) as que impõem deveres e b) as que não prescrevem diretamente as condutas dos indivíduos, mas se referem às normas que impõem deveres. Aquelas o jurista inglês designa por primárias; estas, por secundárias. Haveria três tipos de normas secundárias, na terminologia de Hart: regras de reconhecimento, de alteração e de julgamento. A primeira destina-se a identificar a norma primária, tornando possível aferir a sua pertinência ao sistema. Tal norma determinaria “algum aspecto ou aspectos cuja existência de uma dada regra é tomada com uma indicação afirmativa e concludente de que é uma regra do grupo que deve ser apoiada pela pressão social que ele exerce.” A “regra de alteração” disporia sobre a produção normativa, conferindo “poder a um indivíduo ou a um corpo de indivíduos para introduzir novas regras primárias... e para eliminar as regras antigas.” Permitem, pois, a dinamização do sistema, indi1 cando o modo de alteração das normas primárias. Finalmente, a terceira regra confere poderes a determinados indivíduos –os juízes- para ditar se há descumprimento, ou não, de uma norma primária. Estabelecem não só os poderes judiciais, mas procedimento conducente à sentença. Em palavras de Hart, seriam “regras secundárias que dão poder aos indivíduos para proferir determinações dotadas de autoridade respeitante à questão sobre se, numa ocasião concreta, foi violada uma regra primária. Ainda nas palavras do autor: Além de identificar os indivíduos que devem julgar, tais regras definirão também o processo a seguir.” (O conceito de direito, p.103-109) 5 Já se discutiu sobre se o dever-ser inserido no conseqüente das normas de produção normativa (dever-ser intraproposicional) modalizase, isto é, triparte-se nos modais proibido (V) permitido (P) ou obrigatório (O). Acredita-se que o equacionamento desse problema passa pela constatação de que a norma de competência regula um comportamento específico: o de produzir regras jurídicas, como o reconheceu Norberto Bobbio, observando que tais regras “ não regulam o comportamento, mas o modo de regular um comportamento, ou, mas exatamente, o comportamento que elas regulam é o de produzir regras [sublinhamos] (Teoria do Ordenamento Jurídico, p.45). Não poderia ser diferente. Uma norma de produção normativa não pode atuar sem dispor sobre a conduta que levará a efeito essa atuação. Não se introduz, altera, ou extingui uma norma, sem regular o comportamento que irá promover essa introdução, modificação ou extinção. Não fosse assim, e o direito movimentar-se-ia sozinho, sem o concurso do homem e já não seria um direito positivo, uma vez que a “positividade repousa no fato de ter sido criado e anulado por seres humanos...” (Hans Kelsen, Teoria geral do direito e do Estado, p.166.) Pois bem, se a regra de produção jurídica dispõe sobre um comportamento, não o faz para descrevê-lo, senão para qualificá-lo deonticamente, modalizando-o em um dos três modais interdefiníveis: proibido (V) permitido (P) e obrigatório (O). Sendo a linguagem do direito positivo prescritiva, sua referência às condutas inter-humanas só pode ter uma finalidade: a de prescrevê-las, predicando-lhes a permissão, a proibição ou a obrigatoriedade. Essa constatação reforça a uniformidade sintática das normas do sistema, que possuirão sempre a mesma arquitetura lógica, independentemente de serem elas de conduta ou de produção jurídica. É bem verdade que isso relativiza sobremodo a dicotomia normas conduta/normas de estrutura ou produção normativa, uma vez que, ao fim e ao cabo, estas últimas disporiam também sobre condutas. Souto Maior Borges chega mesmo a falar em normas de conduta lato sensu – que abrangeriam as de estrutura- e normas de conduta stricto sensu. (Teoria geral da isenção tributária, p.380). 6 Cf. Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p.134. 7 Eduardo García Maynez,Filosofia del derecho, p.447. 8 Ibidem, p. 445 e segs. 9 Celso Antônio Bandeira de Melo demonstra que não se deve afastar, aprioristicamente, o fator de discriminação. Qualquer traço diferencial pode ser eleito se guardar congruência lógica com o tratamento jurídico diferenciado e se o vínculo for, além disso, compatível com os valores que o sistema consagra. O autor cita vários exemplos em que fatores como o sexo, a cor etc. são adequadamente tomados como base para a discriminação. (Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, p.15 e segs.) . 10 Isonomia na norma tributária,p. 41. 11 Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, passim. 12 Constituição dirigente e vinculação do legislador, p.381. 13 Souto Maior Borges chega mesmo a afirmar que a linguagem da ciência pode unificar esses dois primados fundamentais, reduzindo-os a um só: o princípio da legalidade isônoma. (Cf. “IPTU: Progressividade”, Revista de direito tributário nº 59, p.83.) 14 A dimensão positiva do princípio isonômico não mereceu, contudo, maior atenção por parte da doutrina. Nem mesmo Celso Antônio Bandeira de Melo direcionou seus estudos para essa perspectiva, já que “não obstante o brilhantismo do tratamento que dispensou à matéria, também deu-lhe a seguinte abordagem: ‘é vedado ao legislador distinguir’.” (Mizabel Abreu Machado Derzi, Do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, em co-autoria com Sacha Calmon Navarro Coelho, p. 61-62). 15 Parece-nos mais adequada, para retratar esta última vertente, a expressão igualdade mediante lei. O termo “mediante”, como preposição, significa por “meio de”, “com auxílio de”, “com intervenção de” (Cf. Caudas Aulete, Dicionário contemporâneo da língua portuguesa, Vol. III, p.2553). Quer-nos parecer mais apropriado o manejo desse vocábulo, já que a lei atua, nessa dimensão, justamente como um meio para o implemento do princípio isonômico. Render-nos-emos, sem embargo, à consagrada ex- pressão “igualdade na lei”, empregada pela generalidade da doutrina para denotar, indistintamente, os lados negativo e positivo do princípio da igualdade. 16 Curso de direito administrativo,p. 789. 17 Ibidem, p.793 18 Conteúdo Jurídico do princípio da igualdade, p.30. 19 Contribuição de melhoria, p.88. Confira-se o pensamento da autora, em suas próprias palavras: “Isto porque se há desigualdade que justifique tratamento diferenciado, ele deve ser levado a efeito por meio de lei. Assim, se os proprietários de imóveis circunvizinhos à obra pública recebem, além do beneficio geral, um benefício especial consubstanciado na mais-valia imobiliária, é justo que contribuam para a reposição de, pelo menos, parte dos gastos implicados na execução da obra que foi custeado pela coletividade”. 20 Natureza jurídica da contribuição de melhoria, p.73 21 Para justificar a contribuição de melhoria em face da ordem jurídica instaurada por essa última Constituição, juristas de escol configuraram-na como uma espécie de taxa. Geraldo Ataliba noticia que os adeptos dessa corrente eram, em geral, entusiastas da exação em foco, que procuraram suprir, com tal entendimento, a omissão da Carta de 37. (Natureza jurídica da contribuição de melhoria, p. 60) 22 Mais adiante será analisada a utilização do verbo “poder” pelo aludido dispositivo. 23 São palavras da autora: “Como afirmado acima, o antecedente normativo contempla a atuação não como causa imediata da tributação mas como causa sociológica do fato que se ocorrido faz nascer o tributo: a valorização imobiliária. Entre a atuação estatal e a mais valia deve haver um nexo causal tal como ocorre nos casos de responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado por lesão, ao administrado, em decorrência de conduta comissiva ( lícita ou ilícita).” (Contribuição, cit., p. 122). 24 Cf. Lorival Vilanova, Causalidade relação no direito, p.52. 25 Cf. Paulo de Barros Carvalho Direito tributário, cit, p. 26 26 É de todos conhecida a classificação dos tributos de autoria do professor Geraldo Ataliba. O saudoso mestre, partindo de uma análise estritamente normativa, separou os tributos em duas classes: a dos vinculados e a dos não-vinculados a uma atuação estatal.Os primeiros prescindem de qualquer agir do Estado. No critério material da hipótese, confirmado pela base de cálculo, quem realiza a ação expressa pelo verbo é o contribuinte. Encartam-se entre os não-vinculados os diversos impostos. Os segundos, a seu turno, pressupõem uma atuosidade estatal. O verbo do critério material, mais uma vez confirmado pela base de cálculo, é praticado pela pessoa política. Os vinculados dividem-se em: a) tributos diretamente vinculados a uma atuação estatal e imediatamente referidos ao obrigado (taxas); e tributos indiretamente vinculados a uma atuação do Estado e mediatamente referidos ao obrigado (contribuição de melhoria). (Cf. Hipótese de inicidência tributária, p. 123 e segs. Cf ,também, Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p.34-44 e Eurico Marcos Diniz de Santi, As classificações no sistema tributário brasileiro. In: Justiça Tributária: 1º congresso internacional de direito tributário,, p.137-138.) 27 Não se pode aceitar, por conseguinte, a tese segundo a qual a Carta de 1988 teria inaugurado uma contribuição do tipo-custo, defendida, entre outros, por Sacha Calmon Navarrro Coelho. (Curso de direito tributário brasileiro, p.412.) 28 Celso Antônio Bandeira de Melo, Curso de direito administrativo, p.707. 29 Interpretação e aplicação da Constituição,p.209. 30 Cf. Celso Antônio Bandeira de Melo, Curso de direito administrativo, p. 81. Cf., também, Maria Rita Ferragut, Presunções no direito tributário, p.9798. 31 Direito constitucional, p. 316. 32 Curso de direito administrativo, p.708. 33 É bem verdade que existe, como lembra Geraldo Ataliba, uma outra forma de transferência da mais-valia que corresponde à “Compensação na indenização por expropriação parcial (só de parte do imóvel), da valorização causada no remanescente do imóvel, pela obra que justificou a desapropriação. Quer dizer: pela desapropriação parcial, o estado fica devedor de indenização ao proprietário. Pela valorização da parte remanescente, o proprietário fica devedor ao Estado da c.m. Prevê a lei , aí, a compensação desses débitos recíprocos” (hipótese de incidência tributária, p.178). Não parece haver, à primeira vista, inconstitucionalidade neste encontro de contas. Trata-se, todavia, de um situação pontual, que só tem lugar quando ocorre a desapropriação parcial do imóvel cuja parte remanescente experimenta valorização em virtude obra. No restante dos casos, o Poder Público só dispõe da contribuição de melhoria para transferir aos seus cofres o sobrevalor imobiliário. 34 De acordo com modelo teórico por nós adotado, não se interpretam normas. As regras jurídicas não possuem existência material. Possuem-na os textos. Esses consistem no ponto de partida do processo de geração de sentido. Aquelas constituem justamente o termo, o resultado daquele processo, que se não deve concluir sem uma passagem pelos princípios fundamentais do sistema. Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, passim. 35 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, p.220. 36 Ibidem, p. 221. 37 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p.4. 38 Jorge Hage resume bem as características do mandado de injunção que o distinguem da ação direta de inconstitucionalidade por omissão: “Conforme se percebe com facilidade, as diferenças são patentes. O Mandado de Injunção não visa à defesa objetiva do ordenamento jurídico, não tem por objeto o vício omissivo em si, não constitui forma de controle concentrado de constitucionalidade, nem busca reprimir a omissão do Legislativo, nem muito menos, a omissão de medidas materiais a cargo do Executivo. Seu objetivo é tão somente a viabilização, pelo órgão judiciário, por meio da sentença, do exercício de um direito obstado pela ausência de uma norma regulamentadora.” ( Omissão constitucional e direito subjetivo, p.118). 39 A redação do dispositivo é a seguinte: “ Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.” 40 Visando a equacionar esse problema, Flávia Piovesam apresenta uma interessante proposta de conciliação entre o princípio político da autonomia do legislador e a exigência de cumprimento das normas constitucionais. Fá-lo nos seguintes termos: “A título de proposição, sustenta-se que mais conveniente e eficaz seria se o Supremo Tribunal Federal declarasse inconstitucional a omissão e fixasse prazo para que o legislador omisso suprisse a omissão inconstitucional, no sentido de conferir efetividade à norma constitucional. O prazo poderia corresponder ao prazo da apreciação em “regime de urgência”que, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º do texto, é de quarenta e cinco dias. Pois bem, finalizado o prazo, sem qualquer providência adotada, poderia o próprio Supremo, a depender do caso, dispor normativamente da matéria, a título provisório, até que o legislador viesse a elaborar a norma faltante. Esta decisão normativa do Supremo Tribunal Federal, de caráter temporário, viabilizaria, desde logo, a concretização do preceito constitucional.”( Proteção judicial contra omissões legislativas, 108-109.) 41 Cf., a título de exemplo, Jorge Miranda, Manual de direito constitucional,tomoII,p.507; Clèmerson Merlin Cléve, Fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro,p.324; e Flávia C. Piovesan, Proteção judicial contra omissões legislativas, p.78. Eficácia e aplicabilidade das normas consitucionais programáticas, p.189. Cf. Paulo de Barros Caravalho,Enunciados, normas e valores jurídicos, Revista de direito tributário,nº 69, p.47. 44 Essa constatação, a que a grande maioria da doutrina nacional ainda resiste, assume foros de premissa fundamental, de postulado básico entre os teóricos da linguagem que se ocupam com o estudo do texto. É, neste sentido, enfático o escólio de Ingedore Villaça Koch:“Portanto, à concepção de texto aqui representada subjaz o postulado básico de que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, no curso de uma interação” [Destacado no original] (O texto e a construção dos sentidos, p. 25.) 45 É interessante notar que, também neste ponto, evidencia-se o pioneirismo de Hans Kelsen. Com efeito, a inexistência de um sentido unívoco para os textos do direito positivo não escapou à argúcia do mestre de Viena. São suas as palavras: “A teoria usual da interpretação quer fazer crer que a lei, aplicada ao caso concreto, poderia fornecer, em todas as hipóteses, apenas uma única solução correcta ( ajustada) e a “justeza” ( correção) jurídicopositiva dessa decisão é fundada na própria lei. Configura o processo desta interpretação como se se tratasse tão-somente de um acto intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador do Direito apenas tivesse que pôr em acção o seu entendimento ( ração), mas não a sua vontade, e como se, através de uma pura actividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se apresentam, uma escolha que correspondesse ao direito positivo, uma escolha correcta (justa) no sentido Direito positivo.” [Os destaques são do próprio autor] (Teoria pura do direito, p.467). 46 Basta ver que os recursos obtidos com pagamento do tributo em questão poderiam ser utilizados como uma interessante forma de financiar as obras públicas, como registrou Geraldo Ataliba, na passagem que corresponde à epígrafe deste trabalho. 42 43 SOLO CRIADO: UM INSTITUTO CONTROVERSO Gabriela Maia Rebouças, Mestra em Direito pela UFC/UFS, Professora deDireito da UNIT,Coordenadora de Monografia e Extensão de Direito da UNIT, Ex-professora substituta da UFS. SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Histórico. 3. Conceito e caracterização. 4. Solo Criado e repercussões no planejamento e funcionamento urbanos. 5. Solo Criado e repercussões no mundo imobiliário. 6. Aspectos jurídicos controversos. 7. Crítica ao instituto. 8. Bibliografia. 1. INTRODUÇÃO A preocupação com o Direito Novo e o Novo Direito requer dos atores jurídicos uma visita a instituto que, embora historicamente não sejam novos, social e juridicamente ainda não tiveram sua aplicação adequada. Porque o Direito não pode deixar de se preocupar com os aspectos concretos de sua aplicação, no Direito Urbanístico, impõe-se a discussão acerca da qualidade de vida e organização da cidade. A cidade de Aracaju tem vivenciado na última década um fenômeno perverso comum a quase todas as capitais e cidades grandes: uma explosão de grandes arranha-céus, sobretudo nas margens leste e sul da cidade, o que corresponde à formação de um grande paredão, barrando a ventilação advinda do litoral. Com isso, toda a cidade, com exceção destas construções, claro, torna-se ainda mais quente, o que diminui a qualidade de vida da população em geral, sobretudo se aliado este fator às demais condições climáticas da região. Um outro fenômeno típico das cidades grandes e em desenvolvimento é a construção de conjuntos, aglomerados ou bairros inteiros apenas com prédios de andar. Em Aracaju, cita-se como exemplo o Bairro Jardins, construído em torno de um shopping-center e formado exclusivamente por novos prédios de mais de 10 andares, salvo as poucas casas que já existiam na região e foram anexadas pelo novo bairro. Estes dois exemplos partem da constatação de que o homem, não satisfeito com a extensão da superfície terrestre, resolve criar solo, edificando, em planos empilhados que invadem o espaço atmosférico e o subsolo, novos espaços de moradia, transação e circulação. Há, no entanto, conseqüências urbanas e ambientais decorrentes de tal invenção. Embora existente no Brasil desde a década de 70 do século passado, o estudo do Solo Criado passou por um processo de revigoramento com a imposição constitucional de Plano Diretor para as cidades com mais de 20.000 habitantes. Não só este instituto, mas tudo que diz respeito ao planejamento urbano da cidade, concepções, mitos, experiências, possibilidades. O Solo Criado tem recebido tratamento diferenciado nas legislações municipais1 que o adotam, chegando a descaracterizá-lo. A adoção do Solo Criado dissociado do coeficiente único tem sido amplamente rejeitado pelos profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável das cidades. A urbanista Raquel Rolnik 2 aponta grande utilidade do Solo Criado, juntamente com o coeficiente único, no processo de desenvolvimento e planejamento da cidade, democratizando os espaços, e permitindo um melhor aproveitamento dos espaços já estruturados, conjugando com a utilização de incentivos tendo em vista a busca da igualdade social. A citada autora aponta como pontos imprescindíveis no processo de urbanização a luta contra a exclusão e a miséria, assim como pela construção de um espaço verdadeiramente público, que não se confunde com o Estado, mas com o coletivo, com a cidadania. É a partir desta concepção, que trabalha com o delineamento do instituto sem perder de vista a discussão acerca de sua utilidade, que se pretende desenvolver esta exposição. 2. HISTÓRICO O Brasil conhece na década de 70 do séc. XX um surto de discussão sobre o Solo Criado. É, sobretudo, com o Seminário sobre este tema, que grandes nomes do direito pátrio vão discutir, em São Paulo, tal instituto, analisando as experiências estrangeiras e adaptações necessárias. São tiradas diretrizes que formarão “A Carta de Embu”, documento que estabelece os contornos básicos do Solo Criado, seguindo-se substancial produção literária a destrinchar as discussões que envolveram os dias de debate. No direito alienígena, destacam-se como países que contribuem para a experiência do Solo Criado os EUA, denominado Space Adrift, decorrente do chamado Plano de Chicago; a França, com a Plafond Légal. Nos Estados Unidos, o “espaço flutuante” é utilizado nos casos em que há limitação do direito de construir do imóvel, sobretudo decorrente de preservação histórica, quando, então, é permitido ao proprietário alienar o seu direito de construir para que este potencial possa ser utilizado em outro terreno, face à limitação daquele declarado pelo Poder Público como patrimônio histórico. A França, por sua vez, conheceu, na década de 70, o Solo Criado nos seguintes termos: limite legal de densidade 1 e 1,5 para Paris, além do que o proprietário teria que adquirir, quando possível, da Municipalidade, o direito de construir. A flexibilização do instituto, chegando a perder grande parte de sua significação decorreu dos efeitos perversos que a alta densidade causou. A Itália também possui experiência interessante em termos de regulação, sobretudo do direito de construir, separado do direito de propriedade e pertencendo à Municipalidade o poder de vender aos interessados, o direito de criar solo3. 3. CONCEITO E CARACTERIZAÇÕES O conceito de Solo Criado foi desenvolvido na própria Carta de Embu: “toda edificação acima do coeficiente único, quer envolva ocupação do espaço aéreo, quer a de subsolo”4. É possível então distinguir o Solo Criado do solo natural, este último quando a edificação estiver dentro do coeficiente de aproveitamento do terreno. José Afonso da Silva5 enumera quatro mecanismos básicos do conceito de Solo Criado: 1 - coeficiente de aproveitamento único; 2 - vinculação a um sistema de zoneamento rigoroso; 3 - transferência do direito de construir; e 4 - proporcionalidade entre solos públicos e privados. A imposição de um coeficiente único equivaleria dizer que cada proprietário tem o direito subjetivo de construir uma vez a área do terreno, para o qual necessitaria apenas da licença da Prefeitura. A sua relevância está em igualar patrimonialmente a valorização dos vários terrenos. Atualmente, este coeficiente de aproveitamento tem sido estabelecido pelas normas de uso e ocupação do solo, que permite tratamento diferenciado e respectiva valorização para as zonas com um coeficiente maior. Contribuiria, aqui, para um maior equilíbrio imobiliário. Quem, onde quer que esteja a sua propriedade, almejasse construir mais que o coeficiente único necessitaria comprar para isso este direito, até porque, o seu empreendimento exigiria mais dos aparelhos urbanos. Aqui, no entanto, reside a questão mais controversa deste instituto: a quem pertence o direito de construir além do limite? E mais, podendo pagar, é ilimitável a aquisição de Solo Criado? As posições têm então se dividido. Um primeiro grupo entendendo que o Solo Criado é adquirível do Poder Público, da Municipalidade, a exemplo do direito italiano, responsável, em contrapartida, pelo incremento nos aparelhos urbanos. Um segundo grupo a defender que o Solo Criado é negociável em bolsa e pertencente ao dono da propriedade, privada ou pública. Os primeiros vendo no Solo Criado um instituto de arrecadação de rendas para o Poder Público. Os segundos, combatendo esta visão argumentando que constitui um bis inidem, já que pagar-se-ia mais imposto decorrente da valorização do imóvel pela construção agregada. Quanto ao limite, não há lógica a sua não existência, porque se planejamento urbano é interesse coletivo, um adensamento infinito com a extrema verticalização da cidade, pode significar um caos em termos de possibilidades saudáveis de vida. Além do que, quem tivesse poder aquisitivo, condicionaria, pela escolha das áreas, o rumo do crescimento da cidade. E a tarefa do Direito Urbanístico é exatamente controlar este desenvolvimento, equilibrando-o em prol da coletividade. A limitação reclama então um zoneamento rigoroso, indicando em cada área, o coeficiente máximo de aproveitamento (2,3,4) além do que é impossível a edificação. Para o equilíbrio do crescimento da cidade, é preciso também considerar que uma criação artificial de solo privado reclama a proporcional criação de espaços públicos na área. Aumento populacional exige aumento de áreas de lazer, escolas, creches, hospitais. Neste sentido, a aquisição de direito de construir superior ao coeficiente único implicaria na doação ao Poder Público de uma área, na região, para garantir a proporcionalidade. Embora a própria Carta de Embu fale em “equivalente em dinheiro” caso não seja possível a doação de área, fica a indagação se esta abertura guarda coerência com o desenvolvimento em geral, restando sempre a dúvida de se estar privilegiando que possui maior poder aquisitivo, em detrimento do coletivo6. É preciso registrar ainda que a edificação em pavimentos não significa a priori a criação de solo, ainda mais quando se conjugam ao coeficiente de edificação, outras limitações administrativas como os recuos e índice de impermeabilização. No entanto, é exatamente a formatação da utilidade deste instituto que vai abrigar seus maiores problemas. É possível ordená-los da seguinte forma: a) A instituição de Solo Criado prescinde da separação do direito de construir da propriedade? b) Pertence ao proprietário ou ao Poder Público o direito sobre o Solo Criado? c) De que forma se dá a aquisição do Solo Criado? 4. SOLO CRIADO E REPERCUSSÕES NO PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO URBANOS Fica fácil imaginar como este instituto pode repercutir no planejamento e funcionamento urbanos, tanto em seu benefício, como contra a cidade. Se bem utilizado, o instituto permite uma melhor utilização dos espaços, diminuição das distâncias (porque se a exagerada verticalização é prejudicial, do mesmo modo uma grande dispersão alargando demais a cidade, requerendo maior suporte viário, transportes, infra-estrutura, etc.). Permite também um crescimento equilibrado da cidade, já que o Solo Criado não é simplesmente construir em pavimentos, mas incrementar os equipamentos urbanos, garantir o equilíbrio entre solo privado/público, enfim, desenvolver a cidade de acordo com suas necessidades. O Solo Criado não se presta, no entanto, para simples arrecadação de receitas pelo Poder Público ou particular. Não se presta para corrigir distorções urbanas, transferindo dinheiro arrecadado com a venda de solo de uma área para outra. Para isso, paga-se tributos. 5. SOLO CRIADO E REPERCUSSÕES NO MUNDO IMOBILIÁRIO Um problema grande é lidar com a especulação imobiliária quando se trata de definir espaços e índices urbanísticos. A propriedade imóvel ainda é um grande investimento patrimonial. É a base para os demais empreendimentos, quer comerciais, quer residenciais. A instituição de um coeficiente único de aproveitamento não haverá de ser implementado sem resistências. A necessidade de adquirir acima deste coeficiente, para erguer os grandes prédios, é sem dúvida um ponto largamente combatido pelos proprietários e especuladores, posto que onera ainda mais o empreendimento. No entanto, também a instituição do Solo Criado poderá contribuir para o incremento do mercado imobiliário. Tome-se como partida uma zona cujo coeficiente máximo de edificação, são duas vezes acima do coeficiente único. Até o coeficiente único, o direito de construir é subjetivo do proprietário. Acima disto, poderá adquirir até duas vezes o seu coeficiente (limite permitido pelo zoneamento). Se for o Poder Público o detentor deste direito, comprar-se com a Municipalidade. Se do particular, é possível de ser negociável em bolsa, ou diretamente: procura-se quem queira vender o seu direito de construir naquela zona (ainda não utilizado, é claro!). O importante é que a zona nunca tenha um nível de adensamento superior ao planejado. Quem vender o direito de construir, uma vez querendo, enfim, edificar, haverá de comprar também de outrem na mesma zona. Uma outra repercussão no mundo imobiliário diz respeito à necessidade, caso seja regulamentado em lei federal o Solo criado, de registro imobiliário em cartório, já que as transferências terão caráter constitutivo de direito sob o imóvel, exigindo título documental contendo: coeficiente de aproveitamento, construções já realizadas e transferências7. 6. ASPECTOS JURÍDICOS CONTROVERSOS São aspectos jurídicos controversos, enfrentados ao longo deste trabalho: a titularidade do direito de construir e, portanto, quem poderá alienar Solo Criado, se o particular ou se o Poder Público; a necessidade de separação do direito de construir da propriedade e enfim, de quem é a competência para estabelecer normas desta natureza, questões que estão, de certo, interligadas. José Afonso da Silva8 posiciona-se pela não separação do direito de construir da propriedade, afirmando que o coeficiente único está plenamente afinado com o art.572 do Código Civil, segundo o qual o proprietário poderá levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo os direitos de vizinhança e os regulamentos administrativos. Neste sentido, o estabelecimento de coeficientes de edificação corresponde a «regulamento administrativo» e, portanto, de competência municipal. Acrescenta ainda o autor que tanto não é preciso separar o direito de construir da propriedade, e o coeficiente único representa direito pleno e subjetivo a ela ligado, que se um regulamento administrativo estabelecer coeficiente de aproveitamento inferior ao único para determinada área, há que garantir indenização, compensação pela restrição imposta, francamente desigual aos demais proprietários. A questão não é simples. Se o direito de construir for de titularidade do particular, se a aquisição deste direito não pode ser entendida como um contrato administrativo, então se está no campo das relações civis e comerciais, de competência privativa da União. Portanto, somente lei federal poderá estabelecer o instituto do Solo Criado e o coeficiente único. Neste sentido, Toshio Mukai é enfático: “a separação do direito de construir do direito de propriedade é ponto central do conceito de solo criado, se é que se pretende falar nele. E, neste sentido, o impulso inicial da instituição desta figura jurídica, entre nós, depende primariamente de lei federal”9. A Profª. Magnólia Lima Guerra, analisando o instituto, comenta as posições existentes: a primeira, em que o direito ao solo criado pertence à Municipalidade e, a segunda, onde pertenceria ao proprietário (inerente à propriedade). Esta última, a depender do posicionamento, pode-se chegar a soluções diferentes: “a primeira delas, nada satisfatória aos interesses da cidade (...) reconhece ao proprietário do solo o direito de criar a quantidade de solo que lhe aprouver, caso não conflite com as limitações administrativas estabelecidas pela Prefeitura. Já uma outra solução reconhece o direito de construir como pertencente ao proprietário do terreno, mas somente dentro de um coeficiente de aproveitamento estabelecido previamente”10. Assim, para Magnólia Guerra, juridicamente o solo criado pertencendo ao Município é medida altamente questionável, já que o direito de criar solo precisará ser desvinculado do direito de propriedade. Como o Código Civil disciplinou o direito de construir vinculado à propriedade, necessita de uma lei de igual hierarquia para modificá-lo. Separando as competências, firma-se: 1) Cabe à lei federal estabelecer o instituto do Solo Criado, o coeficiente único geral e sua forma de negociação; 2) Cabe à lei federal também dispor sobre separação do direito de construir do direito de propriedade; 3) Cabe à lei municipal estabelecer através do zoneamento, o coeficiente máximo de edificação de cada zona, além das demais limitações administrativas. 7. CRÍTICA AO INSTITUTO Em fase conclusiva, é preciso ressaltar que o Solo Criado não é um instituto simples de ser constituído. Se não estiver bem amarrado, tecnicamente adequado, certamente servirá para distorções no crescimento da urbe. Criticável por parte do Poder Público a perspectiva simples e pura de arrecadação financeira, sem que esta verba esteja vinculada ao investimento na área em termos de equipamentos públicos. Igualmente, se for utilizada com a finalidade de corrigir distorções de crescimento, como vender solo numa área valorizada e investir na periferia. Embora a princípio o argumento seja social, esta postura contribuirá para criar graves problemas em outras áreas, muito adensadas e sem infra-estrutura compatível, importando um ônus talvez maior para os cofres públicos. Não é o Solo Criado um instituto adequado para esta finalidade, ainda que seja correta a preocupação e o investimento público em área mais carente. “A Carta de Embu” ainda é um documento que fornece um parâmetro básico para a configuração do Solo Criado: instituição do coeficiente único, vinculação ao zoneamento que estipulará coeficiente de edificação máxima, além de outras limitações administrativas, a proporcionalidade entre terrenos públicos e privados a ser garantida pelo particular que queira edificar além do coeficiente único (criticável neste ponto a possibilidade de substituição pelo equivalente econômico11). Recentemente discutido o Plano Diretor de Curitiba12, foram apresentadas algumas considerações a respeito do Solo Criado, sendo apontado como um instrumento que tem dois objetivos: a) Custear as desapropriações e melhorias nas áreas de reurbanização, onde os benefícios pagam aos que forem prejudicados; b) Evitar a especulação imobiliária, especificamente evitando que os proprietários que não contribuem na valorização da área, feita com recursos públicos, sejam os verdadeiros beneficiados. Acrescente-se a advertência de que no Brasil, a prática de desviar recursos advindos de uma área para outra e a modificação constante nas leis e no zoneamento, no mínimo, tendem a descaracterizar o conceito original do “Solo Criado” e descambar para a ineficiência, o desvio e finalmente oferecendo a oportunidade para a prática da corrupção. Esta realidade denunciada traz como principais desacertos do tra- tamento equivocado conferido ao instituto do Solo Criado uma visão funcionalista da lei de zoneamento e uso do solo, que promoveu a concentração urbana, e que vai exigir agora investimentos pesados para dar eficiência ao sistema de circulação. As obras necessárias para sustentar o volume de tráfego no futuro próximo transformarão a cidade no “paraíso das empreiteiras”. Também a adoção equivocada da política de Solo Criado, que ajudou a agravar a concentração urbana, possibilitando o adensamento de regiões já saturadas em termos de ocupação. O Solo Criado deveria ter sido adotado tendo como princípio o coeficiente único, acompanhado de uma planta genérica com valores em consonância com as diretrizes do Plano Diretor e o Plano de Desenvolvimento Integrado. 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÀFICAS CORRÊA, Antônio Celso de Munno. “Planejamento Urbano: competência para legislar dos Estados e Municípios”. Revista de Direito Público, nº 98, Ano 24, São Paulo: RT, abril/junho de 1991. p 257-262 DALLARI, Adílson., FAGUNDES, Seabra. Et all. Conferências e debates . Revista de Direito Público, nº 98, Ano 24, São Paulo: RT, abril/ junho de 1991. p 173-189 GUERRA, Maria Magnólia Lima. Direito de Propriedade, nota de aula proferida em Mestrado da UFC, Fortaleza: impresso, s/d. GREGO, Marco Aurélio. “O solo criado e a questão fundiária”. In: PESSOA, Álvaro (org.) Direito do Urbanismo: uma visão socio jurídica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora: IBAM, 1981. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 7 ed., São Paulo: Malheiros, 1999. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Introdução ao Direito Ecológico e ao Direito Urbanístico: instrumentos jurídicos para um futuro melhor. 2 ed., Rio de janeiro: Forense, 1977. MUKAI, Toshio. Direito e Legislação Urbanística no Brasil. São Paulo: Saraiva,1988. SAMEK. Home Page. <http://www.samek.com.br> (15.09.1999) SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 2 ed., São Paulo: Malheiros, 1995. Não há ainda legislação federal a tratar do assunto, face, inclusive, ao fato de não estar claro nos meios doutrinários, de quem é a competência neste assunto, o que depende, por conseguinte, de um consenso na caracterização deste instituto, até então, inexistente. 2 Cf. site www.samek.com.br onde é possível encontrar uma entrevista com a citada autora do Livro “A cidade é a Lei”. 3 GUERRA, Magnólia Lima. Direito de Propriedade, nota de aula proferida no Mestrado da UFC, p.25 4 Cf. Carta de Embu, item 1.2., em O solo Criado/Carta de Embu, p.169. Apud. José A. da Silva, ob. cit., p236. 5 Ob. cit., p 233. 6 Seabra Fagundes posicionou-se contra este ponto da Carta de Embu, embora tenha também sido seu signatário. No seu entender, não caberia abrir a possibilidade para compensar com o equivalente em dinheiro. Cf. artigo Aspectos Jurídicos do Solo Criado, RDA, 129;9. 7 Cf. Guerra, Magnólia Lima. Direito de Propriedade, p.26. 8 Ob. cit, p. 236 9 Toshio Mukai, Direito e Legislação Urbanística no Brasil, 1988. p 266. 10 Guerra, Direito de Propriedade, ob. cit., p. 25 11 Cf. nota 24 12 informações no site www.samek.com.br 1 TEORIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA DESVINCULADOS DO SERVIÇO PÚBLICO Marcos Roberto Gentil Monteiro, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, professor da Universidade Tiradentes, oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Estes escritos possuem o escopo de interpretar o provimento em comissão à luz do sistema constitucional pátrio, que, conforme PAULO BONAVIDES, engloba a dimensão formal, integrada pelas normas que se encontram positivadas no ápice do ordenamento jurídico nacional, aliada à dimensão material, formada pelos valores suprapositivos que fundamentam a ordem jurídica constitucional brasileira. Provimento em comissão, consoante o art. 37, II, da CF, é o ato de designação de alguém para titularizar cargo público, não dependente de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/ 06/98: ”Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/ 06/98: ”II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” A hipótese que norteou a elaboração deste trabalho foi a de que, o provimento em comissão, destina-se, após o advento da Emenda Consti- tucional n. 19, de 4-6-1998, que alterou a redação do inciso V, dentre outros, do art. 37, da Carta Magna, nas suas duas modalidades, funções de confiança e cargos em comissão, a servidores ocupantes de cargo efetivo e servidores de carreira, respectivamente, relacionados, às funções de chefia, assessoramento e direção, à exceção dos cargos ocupados por agentes políticos, em homenagem ao princípio democrático. (*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/ 06/98: ”V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;” Quanto à ocupação de funções de confiança, a possibilidade daquele cujo provimento não se efetuou em razão de aprovação em concurso público é afastada, diante da interpretação simplesmente literal do dispositivo retromencionado, que exige do ocupante, expressamente, a condição de servidor ocupante de cargo efetivo. Já uma interpretação sistêmica da Constituição, que exige uma interpretação não apenas formal de seus dispositivos, mas sobretudo, a integração dos valores que a fundamentam, tais como, Justiça e legitimidade, realizados pelos princípios normativos da Justiça social, democrático e os que disciplinam a atividade administrativa, qualifica como inconstitucional a designação de alguém para ocupar cargo em comissão, que não integre carreira administrativa. O provimento em comissão no Brasil tem seu primeiro registro histórico na Carta do escrivão da frota de Cabral, desenvolve-se no período colonial, com a finalidade, inclusive, de povoamento do território, caiu nas graças da nobreza imperial, constitucionalizou-se na República, e, quando utilizado para escapar ao concurso público, envergonha a pátria, cotidianamente. Não há mesmo como entender qualquer instituto jurídico, como leciona MICHEL MIAILLE, senão informado pela sua origem e evolução histórica. A relação que se instaura entre autoridade nomeante e comissionado pouco evoluiu, e possui matriz histórica na relação entre metrópole e colônia dos tempos de antanho. Com vistas à concretização do princípio da unidade da Constitui- ção, dotando-a de coerência e sentido, imperativo é que as nomeações para a ocupação de cargos em comissão recaiam sobre aqueles que já titularizam cargo na Administração Pública, ressalvadas as exceções constitucionais relativas aos agentes políticos, não administrativos, portanto. Desta forma, atender-se-ia um plexo de dispositivos insertos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tais como o artigo XXI. 2. “Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país.”, que pela norma de integração constante no § 2º, do art. 5º, da CF, encontrase compondo a Carta Política, bem como cumprir-se-ia, efetivamente, um texto constitucional que se autoproclama “Democrático de Direito”. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A nomeação para ocupação de cargo em comissão, daquele não aprovado em concurso público, colide frontalmente com os princípios constitucionais que devem presidir a Administração Pública de qualquer dos poderes de qualquer ente federativo, incertos no caput do art. 37 do texto constitucional. Com efeito, é preciso levar em conta a carga axiológica que fundamenta a vigente Constituição. Como preleciona GIORGIO DEL VECCHIO, Direito é a coordenação objetiva das várias condutas possíveis entre vários sujeitos, segundo um princípio ético que as determina. Vê-se, portanto, que a nomeação discriminatória daquele que escapou ao concurso público apresenta-se oposta ao princípio da moralidade. De igual forma, o princípio da impessoalidade é desobedecido quando se instaura entre autoridade nomeante e demissível ad nutum vínculo de natureza subjetiva, pessoal. O princípio da eficiência também é desrespeitado, diante de tais nomeações, visto que se encontram colidindo com seus objetivos de racionalização e profissionalização do serviço público, máxime nesta conjuntura de escassez de recursos financeiros que assola o Estado brasileiro. No caso particular dos cargos portadores de fé pública, os que têm por função certificar situações dos administrados perante a Administra- ção Pública, a inconstitucionalidade é ainda mais danosa ao corpo social, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, bem como do direito individual de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, consoante o art. 5º, XXXIV, b). § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; A nomeação de parentes e apadrinhados políticos para o exercício de cargos em comissão, unicamente pelo critério da confiança da autoridade nomeante, colide frontalmente com vários dispositivos constitucionais pátrios, fundamentados no princípio da igualdade: preâmbulo, art. 3º, IV, art. 5º, caput, art. 19, III. PREÂMBULO Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - CRIAR DISTINÇÕES ENTRE BRASILEIROS OU PREFE- RÊNCIAS ENTRE SI. De fato, a única razão de ser da instituição estatal, conforme ARISTÓTELES, é a promoção social dos mais carentes, é a redução das desigualdades sociais através das políticas públicas de educação, saúde, emprego, habitação. A nomeação para ocupação de cargos em comissão daqueles que escapam ao concurso público age de modo inverso, acentua as desigualdades sociais, agravando o desastroso quadro relativo à injustiça social no Brasil. A previsão constitucional de provimento em comissão, à exceção dos agentes políticos, resulta da não realização das “condições ideais de comunicação” habermasianas, de que resulta, sinteticamente, o direito de participação no processo de elaboração das normas jurídicas por todos aqueles que serão afetados pelas disposições normativas. Com efeito, somente assim se pode qualificar uma norma jurídica de legítima. Ora, numa pátria onde a quantidade de analfabetos e semialfabetizados, acrescidos aqueles desprovidos de qualquer consciência política, dificulta enormemente a construção de uma cidadania participativa, historicamente, o princípio democrático é sobremaneira prejudicado. Nas Constituições das nações cujo estágio da ciência constitucional afasta-se do formalismo esvaziador, aproximando-se da efetiva concretização da dignidade da pessoa humana, tais como a portuguesa e a alemã, obedece-se rigidamente o acesso igualitário ao serviço público, excetuadas as discriminações que resultem do princípio democrático. A verdadeira “reforma administrativa”, rumo à racionalização do serviço público, seria a despoluição da Administração Pública desse mar de nepotismo, corrupção e ineficiência, o que poderia resultar, sem dúvida, em melhor remuneração para os servidores ocupantes de cargo efetivo, que receberiam gratificação por ocupar funções de “chefia, assessoramento ou direção”. Será que, realmente, não é possível aos agentes políticos encontrarem, dentre os servidores de carreira, quem seja de sua confiança para prover os cargos em comissão, ou são de outra natureza os interesses inconfessáveis? Urge o momento em que o Brasil necessita deixar de ser “o país do futuro”, assumindo a tarefa de transformar-se, posto que as gerações futuras apenas poderão desfrutar melhores dias a depender das modificações introduzidas no presente. É preciso, de há muito, concretizar as garantias incertas na Constituição, migrando esse país, definitivamente, do ideal para o real. Esses escritos objetivam a reflexão por parte de autoridades nomeantes, ocupantes de cargo em comissão que não ocupam cargo efetivo, em uma ponta, e desempregados, que possuem a porta constitucional do concurso público fechada, de certa forma, em virtude de um sem número de nomeações de servidores que dificultam o acesso igualitário ao serviço público da maioria, bem como por parte dos órgãos responsáveis pela defesa da ordem jurídica e das instituições democráticas, da sociedade como um todo, enfim. Se tal reflexão puder encontrar algum fundamento nesse trabalho, tal já restará completamente recompensado. Sob o ponto de vista pedagógico há um outro ângulo de observação. As novas gerações de discentes devem pautar-se pelo árduo caminho do conhecimento, a fim de galgar posições no cada vez mais competitivo mercado de trabalho, através da aprovação nos cada vez mais concorridos concursos públicos, ou devem os que não possuem parentesco com autoridades das esferas de governo, aproximar-se desses, com vistas a uma futura nomeação para o exercício de um cargo em comissão? As conseqüências dessa escolha poderão determinar o futuro da Administração Pública no Brasil, e bem poderão contribuir para a realização dos objetivos da República de diminuição das desigualdades sociais, bem como da promoção do bem de todos, vedadas discriminações de qualquer natureza, que não as previstas no texto constitucional. BIBLIOGRAFIA ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco em “Os Pensadores”. V. 4. 1. ed. São Paulo: Abril, 1973. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. Constituição da República Federativa do Brasil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia entre facticidade e validade. vol. 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao Direito. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. A “VERTICALIZAÇÃO” DAS COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2002 Maurício Gentil Monteiro é professor de Direito Constitucional da Universidade Tiradentes, Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e advogado. Introdução; 1. A fundamentação jurídica da resolução nº 21.002/ 2002 do TSE; 2. A regra do art. 16 da Constituição Federal; 3. Do caráter nacional dos partidos políticos; 4. Do princípio federativo e da sua necessária extensão à organização partidária e ao processo eleitoral; Conclusões. INTRODUÇÃO Em 26 de fevereiro de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral apreciou consulta formulada pelos Deputados Federais Miro Teixeira, José Roberto Batochio, Fernando Coruja e Pompeo de Mattos, todos integrantes do PDT – Partido Democrático Trabalhista (Consulta nº 715 - Classe 5ª - Distrito Federal), para respondê-la negativamente, emitindo a Resolução nº 21.002, que dispôs: “Consulta. Coligações. Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de presidente da República não poderão formar coligações para eleição de governador de Estado ou do Distrito Federal, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital com outros partidos políticos que tenham, isoladamente ou em aliança diversa, lançado candidato à eleição presidencial”. Essa decisão causou enorme celeuma no mundo político nacional, sendo motivo das mais fortes polêmicas e controvérsias, eis que a interpretação oficial dada pelo TSE à Lei 9.504/97 divergiu da sistemática de sua aplicação nas eleições gerais de 1998, e, a menos de 8 (oito) meses da data da eleição no primeiro turno, modificou o processo político de formação de alianças partidárias em todo o país. Diversas foram as críticas inicialmente levantadas contra esse entendimento do TSE, sendo também diversas as alternativas tentadas para impedir que essa interpretação prevalecesse no processo eleitoral em curso. Assim, já no dia 27 de fevereiro de 2002, um dia após a deliberação tomada pelo TSE e antes mesmo da sua publicação oficial (15/03/ 2002), 70 senadores subscreveram a proposta de emenda à Constituição nº 548/2002, que altera a redação do parágrafo primeiro do art. 17 da Constituição Federal, para deixar explícito que o partido político pode ajustar coligação na eleição estadual mesmo com partido político adversário na eleição presidencial, em nome da sua autonomia interna. No entanto, as indignadas reações contrárias, no meio político, à Resolução 21.002TSE, não se concretizaram, e a PEC 548/2002 não obteve no Parlamento a tramitação célere que era inicialmente esperada, de forma que somente em junho de 2002 foi aprovada em plenário e, no dia 12 de junho, encaminhada à Câmara dos Deputados, onde atualmente se encontra na Comissão de Constituição e Justiça para análise prévia. Outra alternativa tentada foi a interposição, por diversos partidos políticos, de Ação Direta de Inconstitucionalidade da mencionada resolução junto ao Supremo Tribunal Federal (ADIN 2628-3 – PFL; ADIN 2626-7 – PCdoB, PL, PT, PSB e PPS); porém, o STF, em sessão realizada no dia 18 de abril de 2002, julgou a ação, para sequer conhecê-la (não adentrou no mérito), contra o voto apenas dos Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence, Ilmar Galvão e Sidney Sanches. Assim, em setembro de 2002, momento em que esse trabalho é escrito, pode-se afirmar que prevaleceu, pelo menos no âmbito formal, a decisão do TSE, que ficou conhecida como “verticalização” das coligações partidárias, e o processo eleitoral em curso observou tal entendimento. Não se tem conhecimento de nenhum partido político ou coligação que tenha “arriscado” descumprir os seus termos e aguardar os pedidos de impugnação e decisão final da Justiça eleitoral.1 Analisar a Resolução nº 21.002 do Tribunal Superior Eleitoral, sob o ângulo predominantemente constitucional, é objetivo do presente artigo, que procura demonstrar – abstraindo eventuais acusações formuladas de que o TSE agiu de forma a beneficiar determinadas candidaturas e prejudicar outras – que não foram observados, no caso, diversos princípios fundamentais e regras jurídicas do ordenamento jurídico-constitucional, a exemplo da organização federativa do Estado brasileiro, da auto- nomia dos partidos políticos, da regra da anterioridade das mudanças na legislação eleitoral, dentre outros, como tratado adiante. 1. A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA RESOLUÇÃO Nº 21.002/2002 DO TSE A consulta no contexto da qual foi editada a Resolução nº 21.002/ 2002 do TSE foi formulada pelos parlamentares referidos nos seguintes termos: “Pode um determinado partido político (partido A) celebrar coligação, para eleição de Presidente da República, com alguns outros partidos (partido B, C e D) e, ao mesmo tempo, celebrar coligação com terceiros partidos (E, F e G, que também possuem candidato à Presidência da República) visando à eleição de Governador de Estado da Federação?”. Tratava-se de dúvida quanto à correta interpretação do art. 6º, caput, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (“É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário”), que regulamenta o processo eleitoral, e que já havia sido aplicada às eleições gerais de 1998, sem que, à época, tivesse havido qualquer questionamento nesse sentido. Naquele pleito eleitoral, também abrangente de eleições para Presidente e Vice-Presidente da República (eleições nacionais) e Governador de Estado, Senador da República e Deputados Federais, Estaduais e Distritais (eleições estaduais), prevaleceu o entendimento de que não havia qualquer impedimento a que partidos políticos fossem aliados formalmente nas eleições nacionais e adversários nas eleições estaduais. Surgida a dúvida, valeram-se os consulentes do processo de consulta, que foi apreciada pelo TSE de forma negativa aos termos dos questionamentos efetuados em tese. Os principais fundamentos para essa decisão foram os seguintes: a) o caráter nacional dos partidos políticos, conforme exigência do art. 17, inciso I da Constituição Federal; b) a consistência política das coligações partidárias, exigida pela legislação, porque a coligação nacional é paradigma da coligação estadual, já que, segundo a teoria dos conjuntos, a União inclui os Estados e o Distrito Federal, e os Estados incluem os Municípios de seu território. 2. A REGRA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Apesar de os argumentos acima mencionados também serem passíveis de fortes observações críticas, como adiante se fará, é importante de logo registrar aquilo que diversos juristas, políticos dos mais diversos partidos e amplos setores da imprensa já apontaram: a mencionada decisão do TSE violou flagrantemente a regra do artigo 16 da Constituição Federal, que dispõe claramente que “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência”. Trata-se de norma que possui o claro objetivo de garantir segurança jurídica ao processo político-eleitoral, evitando a ocorrência de casuísmos eleitorais, realizáveis conjunturalmente por maiorias eventuais em proveito próprio. Assim, as regras das eleições deverão estar definidas e serem do conhecimento de todos os envolvidos no processo com antecedência mínima de um ano, para que tenham tempo suficiente para as necessárias adaptações e preparações políticas, jurídicas, técnicas e operacionais. A norma do artigo 16 da Carta Magna é verdadeiro corolário do princípio da segurança jurídica, assegurado como direito fundamental (artigo 5º, caput), e que se coaduna com a defesa do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, caput) e da soberania popular (artigo 1º, parágrafo único), princípios fundamentais da organização política nacional. Não deve valer, aqui, o argumento utilizado em defesa da decisão do TSE no sentido de que o artigo 16 da Constituição se refere à lei em sentido formal – espécie jurídica emanada do Poder Legislativo, segundo o processo legislativo estabelecido na seção VIII do capítulo I do título IV do texto constitucional – e, portanto, não impede que o TSE exerça sua função de interpretar o texto legal existente. Mais ainda, que o TSE não modificou as regras do processo eleitoral, apenas interpretou a regra existente, e que se não o fez anteriormente foi tão apenas porque não havia sido provocado. E que, ainda, a decisão tomada pelo TSE foi em tempo oportuno, que não inviabilizou qualquer formação de coligações partidárias. Nessa linha o voto do Ministro Nelson Jobim: “Tem-se afirmado que não se deveria decidir sobre esta questão, porque o processo eleitoral estaria já em adiantado estágio – que o momento seria inoportuno. Lembro que as convenções partidárias para escolha de candidatos e deliberações sobre coligações deverão somente se realizar no período de 10 a 30 de junho (Lei nº 9.504/97, art. 8º). Por outro lado, o pedido de registro de coligações e de candidatos deverá ser encaminhado à Justiça Eleitoral até 05 de julho (Lei nº 9.504/ 97). O momento para apreciar a questão posta na consulta é exatamente o presente. Isso porque os partidos terão a sinalização para suas decisões, por ocasião das convenções de junho.”. Ora, no presente caso, a lugar nenhum levam as enormes controvérsias teóricas que envolvem a exata caracterização da norma jurídica, e se a decisão do TSE teria ou não cunho normativo, inovador da ordem jurídica ou se apenas teria cunho interpretativo e orientador de norma já existente. O dado concreto é que a decisão do TSE operou significativa mudança nas regras do jogo, tal como compreendidas pelos atores envolvidos no processo, e tal como aplicada nas eleições gerais de 1998. A lei eleitoral não mudou, continuou a mesma. Logo, o TSE, ao emitir a resolução objeto de exame – seja ato normativo ou meramente interpretativo - alterou as regras que até então eram vigentes, a menos de ano das eleições de 2002, ofendendo a teleologia da norma do artigo 16 da Constituição Federal. Esse aspecto não passou despercebido no julgamento da questão, tendo o Ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto, afirmado que “Por fim, uma consideração final de prudência. A L. 9.504 é de 1997 e já regeu, portanto, as eleições gerais de 1998. Nessas, o art. 6º foi interpretado e aplicado no sentido de desvinculação entre as coligações federais e as estaduais. Recordo, a título de exemplo, que o PSDB e o PT, aos quais filiados os dois candidatos mais votados para Presidente da República, não obstante, formaram a coligação que elegeu o Governador do Estado do Acre. A lei não sofreu alterações. E a que hoje acaso viesse a ser editada não mais incidiria, no processo eleitoral do corrente ano, por força do art. 16 da Constituição, inovação salutar inspirada na preocupação da qualificada estabilidade e lealdade do devido processo eleitoral: nele a preocupação é especialmente de evitar que se mudem as regras do jogo que já começou, como era freqüente, com os sucessivos “casuísmos”, no regime autoritário. A norma constitucional – malgrado dirigida ao legislador – contém princípio que deve levar a Justiça Eleitoral a moderar eventuais impulsos de viradas jurisprudenciais súbitas, no ano eleitoral, acerca de regras legais de densas implicações na estratégia para o pleito das forças partidárias.”. Nesse sentido também o voto do Ministro Sálvio de Figueiredo: “Com efeito, se é certo que se fazem presentes os pressupostos da consulta hábil e da inegável competência jurisdicional da Corte, tenho por não menos certo: Primeiro – que o processo eleitoral de 2002, a sete meses das eleições, já está efetivamente em curso, com candidaturas visualizadas nos Estados e no País, presentes diuturnamente na mídia, nos institutos de pesquisa, no Congresso e na sociedade, com composições bem adiantadas, algumas delas celebradas e divulgadas,sendo manifesto que o prejuízo, o tumulto e a surpresa que o referido art. 16 da Constituição busca evitar, se farão presentes com essa mudança de rumos já no curso da competição, alterando-lhe as regras,sabido mais que a consulta de que se trata há meses se encontrava protocolada, somente agora vindo à apreciação e decisão. Segundo – que o comando do art. 16 da Constituição, muito mais que uma regra, reflete e expressa um princípio que, na hierarquia dos valores normativos, segundo a melhor doutrina, é superior à própria lei, do qual normalmente essa decorre, nasce e frutifica, o que ganha destaque quando promana da própria Constituição, a lei fundamental de uma Nação.”. Ao responder negativamente à consulta formulada e editar a Resolução 21.002, alterando o regramento do processo eleitoral a se realizar em menos de um ano, o TSE fez aquilo que a Constituição, em seu artigo 16, vedou até mesmo à lei, em ato que ofendeu o regime democrático e a própria segurança jurídica desejada pela Carta Política. 3. DO CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS Um dos principais fundamentos para o julgamento do TSE foi a norma do artigo 17, inciso I da Constituição, que prevê o “caráter nacional” dos partidos políticos como preceito de observância obrigatória para a organização partidária nacional. Por conta desse princípio, as coligações eleitorais entre partidos políticos, admitida pela legislação infraconstitucional, deveria observar a necessária congruência, de forma a evitar que partidos políticos adversários na eleição nacional pudessem ser aliados formalmente (coligados) na eleição estadual. Assim o voto do Relator, o Ministro Garcia Vieira: “Não podemos nos esquecer de que, como o legislador constitucional exige (art. 17, I), tenham os partidos políticos caráter nacional, e não estaduais ou municipais e isso ocorreria se permitíssemos que um partido (A), após celebrar coligação para eleição de presidente da República com outros partidos (B, C e D) e, ao mesmo tempo, celebrasse coligação com terceiros partidos (E, F e G) que também possuem candidatos a presidente da República. É claro que os candidatos a presidente podem ser diversos e, então, ocorreria o absurdo de termos uma coligação com diversos candidatos a presidente da República.”. Também assim o voto do Ministro Nelson Jobim: “Admitir coligações estaduais assimétricas com a decisão nacional é se opor ao “CARÁTER NACIONAL” e à “AÇÃO DE CARÁTER NACIONAL”, que a Constituição e a lei impõem aos partidos. A condição do “CARÁTER NACIONAL”, tanto da Constituição como da lei, é incompatível com coligações híbridas, que não respeitem o paradigma nacional. Esse é o caminho para o fortalecimento dos partidos, como instrumentos nacionais da democracia brasileira. É essa a opção do sistema legal brasileiro, que luta contra os vícios regionalistas que vêm do início da República. A celebração de coligações assimétricas estaduais vai nessa linha de regionalização das decisões políticas, que é contrária à exigência constitucional. Devemos nos curvar ao modelo constitucional.”. Não é simples perceber a essência da opinião da maioria dos Ministros do TSE que sufragaram esse entendimento. O fato de a Constituição Federal prever, em seu artigo 17, inciso I, o caráter nacional dos partidos políticos, não aponta necessariamente para a obrigatória reprodução das coligações nacionais nas eleições estaduais, ou para a vedação de partidos políticos serem adversários nas eleições nacionais e coligados nas eleições estaduais. É que o caráter nacional dos partidos políticos indica apenas princípio de organização, de estruturação, de molde a impedir a existência de partidos de caráter tão somente estadual, como em outras épocas da história republicana, em que existiam partidos organizados apenas no Estado de São Paulo e outros organizados apenas no Estado de Minas Gerais, sem ramificações em outros Estados-membros da Federação brasileira. A norma do artigo 17, inciso I, determina apenas que “a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos” deve observar, dentre outros preceitos, o necessário “caráter nacional”; ou seja, não pode um partido político ser criado com delimitação regional, de forma a existir em apenas um único Estado-membro; não podem dois ou mais partidos políticos se fundirem, criando outro partido político organizado em apenas um Estado-membro; não pode haver incorporação de partido político por outro de âmbito tão-somente estadual. Ou seja: o artigo 17, inciso I da Carta Magna apenas determina que os partidos políticos tenham cunho nacional, e, ao se organizarem, observem o modelo federativo estatuído para o próprio Estado brasileiro, e possuam diretório nacional, diretórios estaduais e diretórios municipais, abrangendo a um só tempo toda a Nação, não podendo determinado partido político funcionar em âmbito apenas estadual ou municipal. Isso se deve, inclusive, ao princípio federativo estabelecido pela Constituição de 1988, que representa o princípio mais gravemente afetado e vilipendiado pela decisão do TSE, como se verá no item 4. Vale registrar que o próprio TSE caiu em contradição, quando da apreciação de outra consulta, agora formulada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (Consulta nº 766), em que se decidiu que “1. O partido político que não esteja disputando a eleição presidencial poderá participar de diferentes coligações formadas para as eleições estaduais em cada Estado e no Distrito Federal. 2. Os partidos políticos que não disputarem a eleição presidencial podem celebrar coligações para disputar eleições estaduais com partidos que tenham candidato à eleição presidencial ou não. 3. Os partidos que não estejam disputando a eleição presidencial poderão celebrar coligações nos Estados e no Distrito Federal com partidos que tenham, isoladamente ou em coligação, lançado candidato à eleição presidencial. ...”.2 Ao entender que partidos políticos que não participem formalmente do processo eleitoral na esfera federal – ou seja, que não tenham lançado candidato a Presidente da República e que não estejam participando de nenhuma coligação federal que tenha lançado candidatura a Presidente da República - possam livremente estabelecer coligações parti- dárias nas eleições estaduais, porém diversas de Estado a Estado, o TSE liquidou a sua própria concepção de “caráter nacional” dos partidos políticos, que foi utilizada como fundamentação para a Resolução nº 21.002, e que, nos termos do voto do Ministro Nelson Jobim, transcrito acima, estaria a impedir “coligações assimétricas estaduais” e “coligações híbridas” e a exigir “o fortalecimento dos partidos, como instrumentos nacionais da democracia brasileira”. É que, dessa forma, o partido político que não participe formalmente da eleição na esfera federal estará livre para, Estado por Estado, estabelecer as coligações as mais diversas, fazendo ruir a defesa da “coerência partidária” que permeou o polêmico julgamento da consulta formulada pelos deputados federais do Partido Democrático Trabalhista.3 4. DO PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA SUA NECESSÁRIA EXTENSÃO À ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA E AO PROCESSO ELEITORAL A decisão do TSE representa uma grave ofensa ao princípio federativo estatuído na Carta Magna como um princípio fundamental (artigo 1º), valor que norteia e orienta a interpretação e aplicação das regras constitucionais, e que fornece coerência e unidade ao ordenamento jurídico-constitucional, no tocante à organização do Estado brasileiro. O regime federativo, enquanto forma de organização estrutural de Estado, caracteriza-se por representar a união indissolúvel de coletividades regionais dotadas de autonomia, que se manifesta em diversos aspectos, dentre os quais o poder de autoconstituição e auto-organização, a autonomia política e capacidade legislativa própria, nos termos da Constituição, com autogoverno e auto-administração e eleição própria dos seus representantes políticos. Todas as características mencionadas encontramse acolhidas pelo texto constitucional (artigos 1º, 18, 25, 29, 32). Numa Federação, vislumbra-se a diversidade regional que caracteriza a união nacional. Num Estado Federal, ao contrário do Estado Unitário, diversas populações com diferenças sociais, econômicas, culturais, encontram o seu elo em comum originador da nação, mas preservam as suas diferenças e as suas peculiaridades regionais. Numa Federação, o cidadão é ao mesmo tempo membro da união federativa e da sua região. No caso da federação brasileira, o cidadão é ao mesmo tempo membro da união federativa, da região (Estado-mem- bro) e da cidade (município), e, em cada uma dessas esferas, insere-se de acordo com as peculiaridades que caracterizam esses âmbitos de convivência coletiva. O regime federativo – criação dos constituintes de Filadélfia e grande contribuição para o constitucionalismo em seu desiderato de limitação do poder político – é o mais adequado para a organização de um Estado de dimensões territoriais continentais, como o Brasil, e que recebeu, em seu processo histórico de formação, as contribuições das mais diferentes culturas e dos mais diferentes povos, porque se apresenta como o mais eficaz meio de proporcionar o desenvolvimento nacional sem olvidar as diferenças regionais. Assim, os “vícios regionalistas que vêm do início da República”, nas palavras do Ministro Nelson Jobim, citadas anteriormente, não constituem propriamente vícios, mas virtudes, que estão presentes na história nacional antes mesmo da adoção do regime federativo pela Constituição da República de 1891. Esses regionalismos estão devidamente recepcionados pelo texto constitucional em vigor, inclusive projetando-se sobre a organização dos partidos políticos. Assim, a Constituição Federal de 1988 é a primeira a incluir o Município como ente federativo – o que é apontado por Paulo Bonavides como inovação mundial (2001:314, a) – alargando o seu campo de atribuições e competências, sua autonomia e sua esfera de intangibilidade, reconhecendo a força da organização política municipal, a par da estadual e federal. Assim é que os processos político-eleitorais que envolvem os entes federativos são diferenciados e autônomos entre si. O princípio federativo, no que se relaciona à autonomia política dos seus entes, autonomia que se manifesta também na capacidade de escolha própria dos seus representantes legislativos e executivos, projeta-se sobre o processo eleitoral e, por conseguinte, nas estruturas partidárias e nas coligações entre partidos políticos. Para as eleições nacionais, os partidos políticos possuem os seus diretórios nacionais, para as eleições estaduais os diretórios estaduais e para as eleições municipais os diretórios municipais. São pleitos eleitorais diferenciados, pautados por diversidades regionais, e que não se confundem necessariamente – o que induz à inexistência de vinculação jurídica entre eles – embora possam ter zonas de contato. Essa realidade não é desconhecida de membros do Parlamento Brasileiro. Em discurso proferido no Senado Federal, no dia 28 de feve- reiro de 2002, o Senador José Eduardo Dutra (PT-SE) afirmou: “Seria ideal, sim, que tivéssemos alianças nacionais e iguais em todos os Estados, em todo o País. Aliás, isso seria justificável se tivéssemos eleições para presidente da República, deputado federal e senador num ano - portanto eleições nacionais; e aí se poderia estabelecer a necessidade de uma mesma aliança, já que estaríamos elegendo presidente e a sua bancada, a bancada de aceitação ou não no Congresso Nacional –, e em outro ano eleições estaduais. Vivemos em uma Federação, e as relações de poder nos Estados muitas vezes são diferenciadas em relação à União até porque se existem na própria estrutura de partidos diretórios nacional e estaduais é porque se reconhece que há especificidades em cada Estado que devem ser levadas em consideração pelos diversos diretórios.”. Em aparte, nessa mesma sessão, o Senador Roberto Freire (PPSPE) endossou essa concepção: “A liberdade dos partidos, a liberdade das forças políticas, a liberdade da sociedade civil fica manietada por uma decisão de sete juízes que interpretam a lei equivocadamente porque não há Senador em circunscrição nacional; os Deputados Federais também são de circunscrição estadual, não há Deputado Federal nacional. As definições se dão na circunscrição eleitoral que são os Estados. E é isto que a lei determina: a vinculação, na majoritária, deverá ter coerência com a proporcional. Não há uma eleição nacional nem para Deputado, nem para Senador, mas há a dos Estados. Trata-se de uma extrapolação. É evidente que o Tribunal invadiu uma seara que não era sua. Competência de regular uma eleição ele tem, mas de criar uma nova norma, uma nova lei, é claro que não tem. Estamos com dificuldades. O autoritarismo está tão presente que é fácil encontrar na sociedade aqueles que dizem: “Vamos dar coerência aos partidos” ... O Brasil não é homogêneo. Não se pode pensar que um Estado industrial, urbano como São Paulo tem a mesma realidade política de um Estado agrícola do Norte do País. Forças políticas que lá estão juntas muitas vezes estão separadas num Estado industrial mais avançado. É normal que isso ocorra. Deve haver tolerância democrática pelo pluralismo e pela realidade, que é muito mais complexa do que alguém imaginar que, num esquema, impor de cima para baixo o que o Brasil tem que pensar é o que está correto. Não! Não seria importante termos a rebeldia de dizer que não podemos engessar este País, que é muito mais complexo do que pensa a vã filosofia de sete juízes de um Tribunal qualquer de Brasília?”. Tais considerações voltaram a ser formuladas pelo Senador José Eduardo Dutra, em discurso proferido no Senado Federal, em sessão realizada no dia 12 de março de 2002: “Essa resolução fere o princípio federativo. Não se pode dizer que as eleições para a escolha de Presidente da República, Governadores, Deputados Federais e Senadores se processam em circunscrição nacional. No nosso entendimento, é um absurdo. Deputados e Senadores não são eleitos em circunscrição nacional. A única eleição em que o voto é nacional é o pleito para Presidente da República. Em todos os outros casos - para Governadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Senadores - o voto obedece a uma circunscrição regional, até porque os Senadores são candidatos em seus respectivos Estados e são eleitos em seus respectivos Estados. O mesmo vale para os Deputados Federais”. Têm razão os mencionados parlamentares, e suas opiniões encontram respaldo no texto constitucional e em interpretações doutrinárias. Paulo Bonavides aponta que a compreensão comum de que a Câmara dos Deputados representa o povo, e o Senado Federal, os Estados-membros, é incompleta, porque a Câmara dos Deputados também representa os Estados-membros, e nela também se encontram os traços do princípio federativo (1996:237, b): “Com respeito ao Brasil, afigura-se-nos que a Câmara dos Deputados em todas as Constituições, nunca foi exclusivamente a Câmara do povo; foi também, em parte, como demonstrou Cláudio Pacheco, a Câmara dos Estados. Jamais perdeu, portanto, um certo traço federativo, gravado em conteúdos essenciais e intangíveis, como vem a ser o próprio limite mínimo da deputação estadual àquela Casa. Limite estabelecido pelo Constituinte originário e que nenhum poder constituinte de segundo grau, a nosso ver, terá legitimidade bastante para remover ou reduzir. É rodeado de uma garantia federativa qualificada (art. 60, §4º, da Constituição). ... São esses os elementos principais referidos por Cláudio Pacheco: a) a composição da Câmara é tão circunscricional como a do Senado, tanto que não se elegem os seus membros por votação geral; b) as eleições para a Câmara não se apuram por quocientes nacionais; c) essas eleições só se processam no âmbito das votações estaduais; d) um vínculo de ordem espiritual faz os eleitos se sentirem representantes dos Estados particulares (atente-se, aqui – e este é o nosso comentário -, sobretudo, para as chamadas bancadas estaduais, sem estatuto formal, bem como para o peso da influência que sobre elas exercem os governadores; bancadas não raro identificadas e caracterizadas menos por laço partidário do que pelos interesses estaduais e regionais; é o caso da chamada bancada da SUDENE, germe político de uma nova consciência federativa onde avulta em primeiro lugar o interesse da Região); e) e, finalmente, para manter as bases do equilíbrio federativo, a atribuição de um número mínimo de deputados por Estado: a “representação indiminuível”, assim qualificada por Pontes de Miranda.”. Disso se conclui que o processo eleitoral no âmbito da federação brasileira é também autônomo no interior de cada ente federativo, significando que as eleições nacionais diferem das eleições estaduais e também das municipais. E que a única eleição que se processa em âmbito nacional, no Brasil, é a eleição para os cargos de Presidente e de VicePresidente da República. As eleições para Governador de Estado e Distrito Federal, Senador, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Deputados Distritais se processam todas elas em âmbito estadual. Assim, por expressa determinação constitucional, que recepciona também no processo eleitoral o princípio federativo, são diferentes as circunscrições eleitorais nacional, estadual e municipal. A essa mesma conclusão chegou o Ministro Sepúlveda Pertence – embora com fundamentação um pouco diversa: “A cláusula “dentro da mesma circunscrição” traçou o limite intransponível do âmbito material de regência de tudo quanto no preceito se dispõe. O conceito de circunscrição eleitoral é inequívoco no Código: “Art. 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país, nas eleições federais e estaduais, o Estado; e nas municipais, o respectivo Município.” “Circunscrição”, aí, não é uma entidade geográfica: é jurídica. A cada esfera de eleição – e só para o efeito dela – corresponde uma circunscrição. A circunstância de a eleição presidencial – que tem por circunscrição todo o País – realizar-se na mesma data das eleições federais e estaduais na circunscrição de cada Estado (L. 9.504, art. 1º, parágrafo único) – é acidental e não afeta a recíproca independência jurídica das respectivas circunscrições, nem dá margem ao raciocínio, de sabor geográfico, de que o território do País compreende os territórios das unidades federadas. ... Ora, no sistema brasileiro, só há uma eleição de âmbito nacional – aquela para Presidente da República, que implica a do candidato a Vice-Presidente, registrado com o vencedor; do que resulta que, com relação a ela, o art. 6º da L. 9.504/97 só contém uma regra, a da liberdade de formação de coligações para disputá-la, da composição das quais não advém restrição alguma a que os partidos respectivos venham a disputar em outra circunscrição – vale dizer, normalmente, na de cada um dos Estados e do Distrito Federal – as eleições locais, isoladamente ou coligados a partidos diversos dos seus aliados nacionais.”. Assim, interpretando a questão levando-se em conta também a legislação infraconstitucional específica – o Código Eleitoral, no que atine à definição do conceito de “circunscrição eleitoral”, para a exata compreensão do art. 6º, caput da Lei nº 9.504/97 – chega-se à mesma conclusão: as eleições, como instrumento do regime democrático e do sistema representativo da soberania popular, processam-se diferenciadamente entre os entes federativos; é a projeção do princípio federativo sobre o processo de escolha dos governantes e dos parlamentares, garantida a independência e autonomia jurídica entre as diversas esferas. Vale ainda reportar-se a um trecho do voto do Ministro Sepúlveda Pertence, transcrito acima, no sentido de que o fato de as eleições nacionais e estaduais realizarem-se na mesma data trata-se de uma “circunstância”, ou seja, de uma mera coincidência temporal, e não de uma obrigatoriedade jurídica. Aliás, das emanações do poder constituinte “originário” observa-se tratar-se apenas de coincidência temporal mesmo, pois a Assembléia Nacional Constituinte de 1987-1988 preservou os mandatos dos governadores, senadores, deputados federais e estaduais eleitos em 1986 e a duração dos seus mandatos em quatro anos – salvo os senadores eleitos em 1986, com mandatos de oito anos. Assim, em 1990 deveriam ser – e foram – realizadas novas eleições para governadores, senadores (das vagas preenchidas em 1982), deputados federais e distritais, mas não se realizaram eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, porque já tinham ocorrido em 1989 (conforme determinação do art. 4º, § 1º do ADCT), e a eles se atribuiu originalmente o mandato de 5 (cinco) anos (art. 82, em sua redação original). Logo, haveria apenas coincidência das eleições nacionais e estaduais em 1994, mas já em 1998 haveria eleições estaduais e só em 1999 haveria eleições nacionais, segundo determinação da Assembléia Nacional Constituinte. O fato de ter havido eleições gerais em 1994, 1998 e 2002 decorre de aprovação, pelo Congresso Nacional, da Emenda Constitucional de revisão nº 5, de 07 de junho de 1994, que alterou o mandato presidencial previsto no artigo 82 de cinco para quatro anos. Portanto, só se realizam eleições nacionais na mesma data das estaduais por uma circunstância, uma coincidência temporal, não se podendo então falar em necessária vinculação jurídica entre elas, até porque não concebidas dessa forma pelo Poder Constituinte originário. Concluindo esse tópico, verifica-se então que a Resolução nº 21.002/02, do Tribunal Superior Eleitoral, representa uma flagrante inconstitucionalidade material, ao violar o princípio federativo de organização do Estado Brasileiro, que é um princípio fundamental, o que torna ainda mais grave a violação a que se procedeu, acarretando, em conseqüência, ofensas ao Estado Democrático de Direito e à soberania popular, por frustrar o direito fundamental do povo ao livre processo de escolha dos seus representantes, de acordo com as especificidades dos entes federativos. CONCLUSÕES O processo de construção da democracia no Brasil avança nos últimos anos, mas encontrou na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, objeto de exame no presente artigo, um considerável obstáculo. A modificação das regras jurídicas norteadoras do processo eleitoral, em prazo inferior a um ano da realização do pleito de outubro de 2002 (eleições gerais), abalou a segurança jurídica preconizada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, enquanto direito fundamental inviolável dos brasileiros e estrangeiros residentes no país e no artigo 16, aproximando-se dos casuísmos próprios do regime militar já superado e violando o exercício da soberania popular no processo de escolha de seus representantes parlamentares e executivos (artigo 1º, parágrafo único e artigo 14 – o voto como manifestação da soberania popular). Pior, a determinação da proibição de partidos políticos que sejam adversários nas eleições presidenciais serem aliados nas eleições estaduais viola profundamente o princípio federativo estatuído como fundamental para a organização política da sociedade brasileira - que leva em conta as diversidades socioeconômicas e culturais das diversas regiões do país, conferindo autonomia aos diversos entes federativos – e que se projeta sobre a organização político-partidária, evidenciando que as eleições federais e estaduais são diversas juridicamente, e, portanto, não se lhe devem estabelecer vínculos jurídicos que ofendam a capacidade autônoma de cada ente produzir as coligações partidárias de acordo com as realidades locais. Mais ainda: a determinação de uma “verticalização” das coligações partidárias – que não se fez por completo, pois o TSE permitiu em outra decisão, igualmente polêmica, que os partidos políticos que não possuam candidatos à eleição presidencial ficam livres para estabelecer quaisquer tipos de coligações nos Estados, inclusive as mais diversas – não produziu, ao contrário do que pregava o TSE, uma maior “coerência” ideológica às coligações partidárias, sendo do conhecimento da nação a formação de diversas coligações “brancas” entre partidos políticos nas eleições estaduais que são adversários nas eleições nacionais. Assim, se alguém há de exigir coerência ideológica nas coligações político-partidárias que se formam para as eleições gerais, mesmo considerando as diversidades políticas e jurídicas das esferas dessas coligações, esse alguém é o povo, a quem compete, no exercício de sua soberania, através do voto, derrotar aquilo que considere nefasto aos interesses nacionais. Não se pode querer, porém, que essa “coerência” seja imposta por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim que seja construída pelo povo no cotidiano das atividades políticas, respeitadas as diferenças regionais que caracterizam o regime federativo. BIBLIOGRAFIA BONAVIDES, Paulo. A - Curso de Direito Constitucional, 11ª edição, São Paulo: Malheiros, 2001. B - A Constituição Aberta, 2ª edição, São Paulo: Malheiros, 1996. MORAES, Alexandre. Direito Constitucional, 11ª edição, São Paulo: Atlas, 2002. RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, 2ª edição, São Paulo: Companhia das Letras, 1995. ROCHA, Carmem Lucia Antunes. República e Federação no Brasil: traços constitucionais da organização política brasileira, Belo Horizonte: Del Rey, 1997. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 16ª edição, São Paulo: Malheiros, 1999. TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, 17ª edição, São Paulo: Malheiros, 2001. www.camara.gov.br www.senado.gov.br www.stf.gov.br www.tse.gov.br É que a resposta dada pela Justiça Eleitoral em sede de consulta não a vincula quando do julgamento de um caso concreto, de modo que 1 poderiam os partidos políticos efetuar coligações em desacordo com a resolução mencionada, e aguardar o julgamento dos possíveis pedidos de impugnação. 2 Resolução nº 21.049, de 26 de março de 2002. 3 Importante considerar que o Ministro Relator da Consulta formulada pelo Diretório Nacional do PT, Fernando Naves, deixou claro o seu próprio desconforto diante da situação gerada pela nova decisão: “Confesso, Sr. Presidente, que a possibilidade de um determinado partido celebrar coligação em um Estado com um partido que esteja disputando a eleição presidencial e em outro Estado com outro partido que também esteja disputando a eleição presidencial pode e deve causar grande espanto no espírito do eleitor. Como será possível que uma agremiação partidária apóie um programa em um Estado e outro, antagônico, em outro Estado? Isso não contribui para o fortalecimento dos partidos, nem da democracia”. É também importante assinalar que o Ministro Sepúlveda Pertence, no novo julgamento, abdicando de sua posição pessoal contrária à “verticalização” das coligações partidárias, em face da decisão do colegiado, entendeu que, para ser coerente com a decisão anterior, o TSE deveria responder à consulta de modo a determinar a necessária reprodução das coligações para as eleições federais nos Estados, vedando-se a possibilidade de partido político que não participe da eleição federal ficar livre para coligar-se nos Estados. POSITIVISMO JURÍDICO: O CÍRCULO DE VIENA E A CIÊNCIA DO DIREITO EM KELSEN. Sidney Amaral Cardoso I. Considerações iniciais. II. O positivismo jurídico. 2.1. A origem do positivo. 2.2. Três acepções do positivismo jurídico. III. O Círculo de Viena e o positivismo jurídico na perspectiva kelseniana. 3.1. O Círculo de Viena. 3.2. Positivismo jurídico e condição de verdade. IV. Considerações finais. V. Referências. I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A concepção da ciência do Direito como uma ciência normativa é fruto da evolução da doutrina do positivismo jurídico. A credibilidade que tal doutrina ganhou e sua disseminação nos meios acadêmicos ocidentais certamente permite a afirmação de ser esta uma das mais influentes teorias explicativas do fenômeno jurídico. Este estudo visa, nas breves linhas que se seguem, a determinar quais as bases teóricas do positivismo jurídico e suas principais limitações. Neste sentido, dividiu-se o trabalho em duas partes. Na primeira, ocupa-se a pesquisa do positivismo jurídico em sua vertente primeira. Serão trabalhadas as idéias de direito positivo e natural além das premissas que identificam o positivismo na acepção já amadurecida da famosa escola francesa da exegese. Ainda na primeira parte do trabalho, serão apresentadas três concepções do positivismo jurídico clássico, quais sejam: positivismo enquanto método, teoria e ideologia. Na segunda parte, tratar-se-á do positivismo lógico e da influência que o Círculo de Viena teve na teoria de Hans Kelsen. Além da exposição das principais categorias construídas pelo positivismo lógico, este estudo abordará a influência que estas categorias tiveram na concepção de ciência normativa construída por Kelsen em sua teoria pura do Direito. II. POSITIVISMO JURÍDICO 2.1. A origem do termo positivo Positivismo jurídico consiste na doutrina segundo a qual não existe direito que não seja positivo, ou seja, posto pelo poder soberano estatal através de normas gerais e abstratas. A ascensão desta corrente do pensamento começa com o impulso para a legislação, um movimento histórico diretamente ligado à própria formação e desenvolvimento do Estado moderno. Esta identificação entre direito e lei, ou mais precisamente, a identificação da lei como a fonte de irradiação jurídica por excelência, não só põe fim ao pluralismo do direito primitivo e medieval, mas também fornece ao Estado um eficaz instrumento para intervenção na ordem social (Bobbio, 1995:119-129). Apesar de o positivismo jurídico se identificar em muitos aspectos com o positivismo sociológico ambos têm origens distintas e não surgem simultaneamente. Positivismo em sentido jurídico tem suas raízes na expressão direito positivo largamente usada e conhecida pela sua contraposição à expressão direito natural. Segundo Bobbio (1995:239), foi Hugo de São Vitor que primeiramente usou o termo iustitia positiva, o que ocorreu na obra Didascalion escrita por volta do ano 1130. A expressão também é prematuramente encontrada em Abelardo que, ainda no século XII, usou o termo ius positivum. A distinção entre direito positivo e direito natural é, por isso, bastante antiga. Ela é encontrada em textos gregos e latinos, amplamente usada por todos os escritores medievais (teólogos, filósofos e canonistas) –, e, portanto, antecede o positivismo sociológico que somente se iniciará no século XIX, a partir dos estudos de Augusto Comte (Bobbio, 1995:15). A contraposição entre direito natural e positivo servia então para indicar momentos normativos simultâneos embora com fontes distintas. O direito natural era entendido como um direito posto por Deus e apreendido pela razão humana. A lei dos homens, positiva, era entendida como uma decorrência da lei natural; enquanto esta era imutável no tempo e revelada pelo Criador, aquela podia ser mudada seja pelo costume seja por outra lei posterior. É importante notar, entretanto, que a concepção do positivismo jurídico, como corrente que identifica o direito à lei, estará estruturada e será posta em prática alguns séculos mais tarde, o que se dá a partir do aparelhamento orgânico e ideológico do Estado para o desempenho do mister legislativo. Como informa Ferraz Jr (2001:72), “um dado importante da experiência jurídica entre os séculos XVI e XVIII é o fato de o direito ter se tornado cada vez mais escrito, o que ocorreu pelo quer pelo rápido crescimento da quantidade de leis emanadas do poder constituído, quer pela redação oficial e decretação da maioria das regras costumeiras”. O aperfeiçoamento das doutrinas positivistas cumpriram, assim, o papel de gradativamente furtar do jus naturalismo sua credibilidade e aceitação enquanto teoria explicativa do fenômeno jurídico. O impulso para a legislação se espalhou pela Europa o que termina por redundar, em na maioria dos países, na compilação das leis em códigos que deviam ser rigorosamente aplicados. Foi a Escola da Exegese, na França, que apurou aquela concepção de positivismo. Como informa Bobbio (1995:83), a escola da exegese deve seu nome à técnica defendida e adotada pelos seus doutrinadores no sentido de assumir um tratamento teórico do Direito de acordo com o mesmo sistema de distribuição da matéria seguida pelo legislador, reduzindo tal tratamento a um comentário artigo por artigo do código. São características essenciais do positivismo construído pela escola da exegese (Bobbio, 1995:84-89): (i) inversão das relações entre Direito natural e Direito positivo Os estudiosos ainda não negavam a existência de um direito natural, mas minimizavam sua importância para o jurista. Construiu-se a idéia segundo a qual, embora existisse o direito natural, distinto do positivo, ele era irrelevante para o jurista enquanto não incorporado à lei. O que ocorre, pois, é uma inversão no critério de validade porque o Direito natural passa a ser mensurado segundo sua conformidade ao Direito positivo. (ii) concepção do direito como sendo rigidamente estatal Daí a expressão dura lex, sed lex significando a exaltação máxima das escolhas normativas feitas pelo legislador onipotente. (iii) a interpretação da lei fundada na intenção do legislador Como o Direito se identifica com a lei emanada do Estado, a interpretação desta lei deve se dar em consonância com a vontade ou o propósito do legislador. Paulatinamente a interpretação que busca a vontade do sujeito legislador (concepção subjetiva) é substituída pela vontade da lei enquanto conteúdo normativo dotado de sentido em si mesmo (concepção objetiva). (iv) o culto ao texto da lei A função do intérprete é a de rigorosamente repetir as disposições do código vigente. (v) o respeito ao princípio da autoridade A verdade de uma proposição, não era demonstrada mediante critérios objetivos, ao contrário, recorria-se à palavra de uma pessoa (os argumentos de autoridade) cujo sentido e alcance não podia ser colocado em discussão. Quadro 1 – características do positivismo jurídico na escola da exegese 2.2. Três acepções do positivismo jurídico É importante verificar, porém, que a recusa do positivismo jurídico de reconhecer qualquer fenômeno jurídico não estatal, esta concepção da ciência a partir da delimitação exata de um objeto de conhecimento, afina-se com o rigor metodológico concebido pelo positivismo sociológico. O positivismo, doutrina que forte influência exerceu para a delimitação do objeto das ciências humanas, tem seu início no século XIX, com Augusto Comte, transformando-se em uma das correntes mais influentes das ciências humanas em todo o século XX. Como ensina Chauí (1999:272), “Comte enfatiza a idéia do homem como um ser social e propõe o estudo científico da sociedade: assim como há uma física da natureza, deve haver uma física do social, a sociologia, que deve estudar os fatos humanos usando procedimentos, métodos e técnicas empregados pelas ciências da Natureza”. Da mesma forma que o positivismo transforma o fato social em uma coisa (objeto) cientificamente observável, através de rigorosos passos metodológicos, o positivismo jurídico vai transformar a norma jurídica em seu objeto de observação. Assim, a norma jurídica está para o positivismo jurídico como o fato social está para o positivismo sociológico. Bobbio (1995:234) ressalta três aspectos do positivismo jurídico (Quadro 2): (i) como método para o estudo do Direito; (ii) como teoria do Direito; (iii) como ideologia do direito. Como informa o autor, a importância da distinção repousa no fato de que a assunção do método juspositivista não implica na adoção da teoria juspositivista, da mesma forma que a adoção da teoria e do método também não significam necessariamente a adesão à ideologia do positivismo jurídico. Isto não se dá, porém, no caminho inverso, já que a adoção da ideologia jus positivista implica na adoção tanto da teoria quanto do método do positivismo jurídico: (i) Positivismo jurídico como método Como a ciência se faz a partir de proposições sobre um objeto (que podem ser verdadeiras ou falsas), o método positivista coincide com o método científico. Consiste no modo de agir do sujeito em relação ao objeto cognoscente. Neste caso, o positivismo jurídico como método, coincide com o positivismo sociológico estudado acima. (ii) Positivismo jurídico como teoria Neste sentido, baseia-se o positivismo em seis concepções fundamentais: (a) teoria coativa do Direito; (b) teoria legislativa do Direito; (c) teoria imperativa do Direito; (d) teoria da coerência do ordenamento jurídico; (e) teoria da completude do ordenamento jurídico; (f) teoria da interpretação lógica ou mecanicista do Direito. (iii) Positivismo jurídico como ideologia Somente alguns juspositivistas alemães da segunda metade do século XIX levaram ao extremo a defesa do dever de obediência absoluta às leis (positivismo ético extremista), o que conduzia à estatolatria e ao autoritarismo. A visão mais moderada do positivismo, ao considerar como valores do Direito a ordem, a igualdade formal e a certeza, aproximou-se muito mais do Estado liberal que do Estado autoritário. Quadro 2 – acepções do positivismo jurídico São características essenciais do positivismo jurídico (Vilanova, 1997:320): (i) racionalismo filosófico transposto para a ordem da razão prática jurídica; (ii) sistematização e unificação do Direito; (iii) redução do pluralismo das fontes materiais ou não-formais à fonte formal como centro único de irradiação normativa (fonte estatal de produção ou outra fonte pelo Estado convalidada); (iv) primado da lei como expressão da vontade geral (primado político do legislativo); (v) função judicial concebida como mera aplicação da regra geral ao caso concreto, tradução de um silogismo normativo; (vi) interpretação do Direito concebida ou como a busca do sentido histórico da linguagem posta na norma pelo legislador (teoria subjetiva) ou do sentido efetivamente posto nos textos (teoria objetiva). A doutrina do positivismo jurídico reserva para ciência do Direito uma tarefa pouco ambiciosa e nada criativa. O rigor na observância do objeto deixa para ele, o cientista, pouca ou nenhuma margem de observação crítica. O cientista é um servo, sem vontade própria, um observador cego. Serve a uma lei que julga neutra. O culto ao Direito positivo, pois, está indissociavelmente ligado ao culto ao Estado e à idéia de que ele representa e se constitui na vontade da maioria. Esta estatolatria esconde (ou não enxerga) todas as ideologias que as normas jurídicas podem trazer. O positivista não só é indiferente a tais ideologias mas também serve a um objeto efêmero. O esforço da descrição da norma sempre sucumbe perante o surgimento de outra, mais recente e que revoga a anterior. III. O CÍRCULO DE VIENA E O POSITIVISMO JURÍDICO NA PERSPECTIVA KELSENIANA 3.1. O Círculo de Viena O Círculo de Viena surgiu nos anos de 1920 e teve como seus membros mais destacados Schlick e Carnap. O movimento recebeu diversas designações, dentre as quais, destacam-se positivismo lógico, empirismo contemporâneo e empirismo lógico (Warat, 1984:37). No Direito, como se verá, o positivismo lógico encontrou em Hans Kelsen sua máxima expressão. Segundo Chauí (1999:143), o positivismo lógico nasce a partir da distinção entre linguagem natural e linguagem lógica, entendida a segunda como uma linguagem purificada, formal, inspirada tanto na matemática quanto na física, que deveria obedecer a princípios e regras lógicas precisas. Como informa Stegmüller (1977:276), a atitude do Círculo de Viena foi, em princípio, fortemente polêmica. Tal atitude, muitas vezes agressiva, contribuiu para que se viesse a identificar a preocupação com questões teórico-científicas com a defesa de uma postura filosófica radicalmente positivista. Os positivistas lógicos sustentavam a idéia de que o conhecimento poderia ser obscurecido por certas falhas de natureza exclusivamente lingüísticas. A busca de uma linguagem pura, significava, pois, erigir o rigor discursivo como novo paradigma da ciência. A ciência, destarte, não somente se fazia com linguagem, mas era, em última instância, ela mesma linguagem (Warat, 1984:37-38). São categorias essenciais para o entendimento do positivismo lógico (Warat, 1984:38-40): Signo É a unidade de qualquer sistema lingüístico. Compõe-se de dois elementos que se relacionam: · indicador: plano da expressão (som, grafia, gesto). ·indicado: situação significativa (fenômeno, fato). O signo tem três tipos de vinculação: ·com outros signos (sintaxe). com os objetos que designa (semântica) ·com os homens que os usam (pragmática) Estes três elementos formam a semiótica, ou seja, a teoria geral dos signos e dos sistemas de comunicação (semiótica ou metalinguagem). Linguagem São todos os sistemas de hábitos produzidos com o intuito de servir de comunicação entre as pessoas, ou seja, influenciar seus atos, decisões e pensamentos. Quadro 3 – categorias essenciais do positivismo lógico É a análise semântica, que vincula as afirmações do discurso com o campo objetivo a que se refere, que se mostra mais relevante para o Direito. O problema central da semântica é o da verdade. Para o positivismo lógico a verdade opera como uma condição de sentido. Um enunciado é semanticamente verificável se for empiricamente verificável, ou seja, a condição semântica de sentido expressa as condições pelas quais um enunciado tem correspondência com os fatos e, por tal motivo, pode adquirir o estatuto de científico (Warat, 1984:40-41). Assim, só têm sentido os enunciados que possuem referência empírica, ou seja, contêm conceitos que se referem a fatos e podem, por isso, ser classificados como verdadeiros ou falsos. Destarte, a seqüência de signos “o mar é azul” é um predicado verdadeiro porque se refere a um fato cuja existência é admissível. A condição de verdade, através da qual a um enunciado são adjudicados os valores verdadeiro ou falso, influenciou significativamente a teoria pura de Kelsen. Como explica Warat, o critério de determinação das normas – a teoria da validade – descansa em uma teoria análoga à teoria da verdade (Warat, 1984: 45). 3.2. Positivismo jurídico e condição de verdade Enquanto corrente de explicação do fenômeno jurídico, o positivismo encontra em Hans Kelsen seu maior expoente. Como informa Marques Neto (2001:163), Kelsen não só incorporou radicalmente o normativismo da Escola da Exegese, mas também renovou os procedimentos hermenêuticos por ela construídos conferindo à norma o papel de ser a realidade jurídica por excelência. Kelsen, assim, não só identifica o jurídico a uma norma juridicamente válida (Direito é norma) mas delineia uma ciência em função da norma, construindo, portanto, uma ciência normativa do Direito. Por isso, segundo o autor, “na firmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está contida a afirmação – menos evidente – de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou conseqüência” (Kelsen, 1998: 79). Não se trata de uma ciência prescritiva, que estabeleça normas da conduta humana, mas, tão-somente, uma ciência que descreve tais normas e as relações entre os homens através delas criadas. A pureza almejada pela teoria kelseniana não só delimitou o universo jurídico, mas ao fazê-lo almejou livrar a ciência de todos os elementos estranhos a tal universo. O princípio metodológico fundamental, como o próprio Kelsen (1998:1) expõe, consiste em direcionar os esforços de conhecimento científico apenas ao Direito, excluindo deste conhecimento tudo o quanto não pertença ao seu objeto. A grande preocupação de Kelsen era, pois, a de construir uma ciência livre de qualquer contaminação ideológica, política, social ou econômica (Marques Neto, 2001:163). Daí caber a distinção entre as funções da ciência e da autoridade jurídica: enquanto esta prescreve condutas (no sentido de permitir, conferir poder ou competência) a ciência apenas descreve o Direito (Kelsen, 1998:82). A proposição científica não é um imperativo; é apenas um juízo, a afirmação sobre um objeto de conhecimento que é a norma. Uma proposição jurídica diferencia-se de uma norma jurídica também pelo aspecto de que a primeira, enquanto juízo hipotético que descreve uma realidade, será verídica ou inverídica na medida em que a descrição esteja conforme a ordem jurídica descrita. A norma, ao contrário, não consiste num enunciado sobre um fato, não é a descrição de um objeto, não podendo, por tal motivo, ser classificada como verídica ou inverídica. Normas jurídicas são, assim, válidas ou inválidas conquanto estejam, respectivamente, conforme ou desconforme determinada ordem jurídica (Kelsen, 1998:83). Ao classificar as normas como válidas ou inválidas e os juízos sobre as normas como verídicos ou inverídicos, Kelsen adota uma condição de verdade exatamente como defendido no positivismo lógico. A proposição jurídica, como afirma Kelsen, permanece descrição objetiva, a descrição de um objeto alheia a valores metajurídicos e sem qualquer aprovação ou desaprovação emocional (Kelsen, 1998:89). Kelsen considera, portanto, a possibilidade de estipulação da verdade de uma proposição jurídica quando o conteúdo desta proposição corresponder ao conteúdo da norma. Como explica Warat (1984:44), os enunciados da ciência do Direito teriam um sentido semântico – sujeitos às condições de verdade – na medida em que afirmem ou neguem a validade de uma norma. Existe, pois, um critério compulsório relativo àquilo que é sustentável ou que deva ser abandonado. A teoria pura, ou seja, a ciência jurídica na ótica kelseniana, recusase valorar o Direito positivo. Como ciência, explica Kelsen (1998:118), “ela não se considera obrigada senão a conceber o Direito positivo de acordo com sua própria essência e a compreendê-lo através da sua estrutura. Recusa-se, particularmente, a servir a quaisquer interesses políticos, fornecendo-lhes as ‘ideologias’ por intermédio das quais a ordem social vigente é legitimada ou desqualificada”. São idéias subjacentes à concepção da ciência normativa do Direito: (i) a crença na determinação da ciência a partir da delimitação de um objeto; (ii) distinção entre sujeito e objeto, o que permite, estabelecer a idéia de objetividade; (iii) a importância conferida ao método como um conjunto de regras, normas e procedimentos gerais que existem com objetivo de definir e construir um objeto e de determinar um autocontrole do pensamento durante a investigação e, destarte, confirmar ou falsificar os resultados; (v) a crença na ciência como uma instituição neutra e desinteressada. IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS A ciência normativa de Kelsen representa a maturidade e o rigor que o escritor alemão empregou em seus estudos. A busca da pureza da teoria denuncia a forte influência de Kelsen teve do Círculo de Viena e do positivismo lógico. Ele constrói um modelo de ciência jurídica a partir de postulados empiricamente verificáveis, verídicos ou inverídicos, de juízos hipotéticos que nada prescrevem. A modelo de Kelsen é descritivo e, por isso, como nos postulados do empirismo lógico, a estipulação da verdade de uma proposição jurídica dar-se-á quando o conteúdo desta proposição corresponder ao conteúdo da norma. Ao sentido semântico das proposições científicas, assim, podem-se adjudicar os valores verdade ou falsidade na medida em que, afirmando ou negando a validade de uma norma, tal afirmação seja empiricamente verificável. E os enunciados empiricamente verificáveis ganham o esperado atributo de conhecimento científico. O salto do positivismo jurídico clássico para o positivismo lógico kelseniano reside, principalmente, no método. Enquanto no primeiro, a cientificidade se dá por uma função secundária do cientista (quase um copista da lei) ou pelo seu argumento de autoridade, no segundo, dá-se por uma relação lógica de atribuição de sentido de verdade. Kelsen apura o positivismo clássico levando seus postulados ao mais alto grau de rigor científico. Entretanto, não são necessários grandes esforços teóricos para demonstrar que esta concepção normativista transforma o Direito em um dogma e situa a ciência dentro de uma perspectiva acrítica. A delimitação do universo jurídico à norma juridicamente válida, e da ciência à simples descrição lógica desta norma, termina revestindo a teoria de marcante caráter ideológico. Destarte, apesar de um objeto delimitado e de um método específico, o positivismo é incapaz de explicar o jogo de forças na base do ordenamento jurídico, o caráter essencialmente político deste ordenamento. Trata-se de um cômodo corte epistemológico: a ciência só deve observar normas juridicamente válidas. Neste sentido, tanto o positivismo jurídico clássico quanto o lógico são iguais: servem para observar qualquer coisa que ganhe o status de Direito. V. REFERÊNCIAS BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1999. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. KELSEN, Hans. A teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito: conceito, objeto, método. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. São Paulo: Pedagógica e Universitária, 1977. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max Limonad, 1997. WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1984. POR UMA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 557 DO CPC Pedro Dias de Araújo Júnior, Procurador do Estado de Sergipe, Pós- graduado em Direito Constitucional e Processual Civil pela UFS. 1 – UMA RÁPIDA INTRODUÇÃO Dentre os tópicos das últimas reformas legislativas, um nos merece maior atenção: trata-se da reforma do artigo 557, do CPC, que dá maiores poderes ao relator do recurso para solucioná-lo, desde que obedecidas as normas insculpidas pela reforma. Pelo imperativo de lógica jurídica, um ponto deverá necessariamente ser mais debatido pelos tribunais: qual o elastério que o artigo 557, e seus §§ 1º-A e §1º do CPC impõem à jurisprudência erigida como paradigma - quais sejam as jurisprudências dominantes do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para o provimento ou improvimento do recurso interposto em decisão monocrática pelos seus respectivos relatores. Sem objetivo de esgotar o tema, o presente trabalho se propõe a trazer uma nova reflexão ao assunto ora exposto. 2 – DA REDAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC Assim giza o artigo consolidado, verbis: “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. § 1º - A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. § 1º Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto: provido o agravo, o recurso terá seguimento. § 2° Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” O tema em questão, por ser relativamente novo no Direito Processual, merece uma análise mais acurada por parte dos aplicadores do Direito. Verifica-se que o objetivo da reforma de 1998 foi o de abreviar a duração dos processos através da aproximação de entendimentos dos tribunais locais com os tribunais superiores. A reforma trouxe à tona alguns termos e situações novas, que adiante serão destrinchadas. 2.1 – Da nomenclatura utilizada no artigo reformado O artigo 557, caput, erige como paradigmas válidos para fundamentar a negativa de seguimento de recurso a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Em primeiro lugar, urge investigar qual o alcance da expressão negativa de seguimento de recurso. Pela análise do dispositivo, verifica-se que: a) haverá negativa de seguimento, com ênfase na negativa de conhecimento do recurso quando este for manifestamente inadmissível ou prejudicado; b) por outro lado, a negativa de seguimento terá contornos de conhecimento com improvimento do recurso quando este for manifestamente improcedente ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do próprio tribunal, do STF ou de outro tribunal superior. Esta divisão pode parecer meramente acadêmica, mas terá contornos mais sérios nos efeitos substitutivos da decisão do Relator. Haverá efeito substitutivo e, portanto, ter-se-á uma nova decisão, se houver a negativa de seguimento com contornos de improvimento. Por outro lado, não haverá a possibilidade de efeito substitutivo quando o relator negar seguimento ao recurso com base nos moldes de negativa de conhecimento. Já a hipótese prevista no § 1°-A é de que o relator poderá dar provimento a recurso naquelas situações específicas. Esta previsão corresponde a conhecer e prover o recurso, o que traz, por conseqüência, o efeito substitutivo na decisão monocrática. Em eventual ação rescisória, a indicação da correta decisão judicial será imprescindível para o julgamento válido sob a ótica do jus rescindens, e aí reside a importância do correto entendimento do poder que o relator possui face ao processo. 2.2– Da hipótese de negativa de seguimento de recurso por estar a decisão a quo em conformidade com a jurisprudência do respectivo tribunal Este artigo tem como um de seus primeiros fundamentos a pertinência temática da decisão a quo guerreada com a jurisprudência dominante do tribunal ad quem (primeira hipótese legal de jurisprudência paradigmática do 557, caput). 2.2.1 – Análise interna da jurisprudência paradigmática – sentido quantitativo e qualitativo Para se ter uma idéia da validade da jurisprudência paradigmática, é necessário fazermos uma avaliação apriorística sobre o seu conteúdo. Por pertinência temática entende-se a identidade de tese jurídica apreciada em juízo. Por razões praxeológicas, esta identidade de tese pode ser considerada em sentido qualitativo e quantitativo. Tem-se identidade de tese jurídica no sentido qualitativo quando ocorre a vinculação de fundamentações jurídicas no mesmo sentido. Tome-se como exemplo uma ação de anulação de cláusula contratual. A sentença de primeiro grau declararia a nulidade da cláusula com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Para que a decisão paradigmática do tribunal ad quem pudesse ser considerada para fins do artigo 557 do CPC, seria necessário que a fundamentação fosse qualitativamente idêntica, ou seja, que também declarasse a nulidade de acordo com as prescrições do CDC. A identidade de tese no sentido quantitativo ocorreria sempre que a decisão do respectivo tribunal chegasse à mesma conclusão, ainda que por razões diferentes. Assim, no mesmo exemplo, teríamos o juiz de primeiro grau declarando a nulidade da cláusula contratual de acordo com as prescrições do CDC, mas a jurisprudência dominante do TJ, de modo diverso, entende que tal cláusula é nula, só que se fundamentando no Código Civil. E aí vem a pergunta: pode o desembargador parametrizar-se com decisões de tribunais que aplicam uma norma quando o mesmo desembargador deseja aplicar outra, julgando pelo 557? Ao meu ver, a questão deverá guardar atinência com o respectivo julgamento. Explique-se melhor: se o desembargador relator, ao receber um recurso de apelação donde se discute que a cláusula contratual é nula de acordo com o Código Civil, e se tem vários julgados do próprio tribunal ou de tribunal superior indicando que tal cláusula é nula, só que pelo CDC, poderá o relator julgar a apelação monocraticamente, se entender de acordo estrito com as decisões paradigmáticas. No entanto, se os julgados infirmam o entendimento de que tais cláusulas contratuais são nulas de acordo com o CDC e o relator entende que as mesmas seriam nulas com fundamento no CC, não pode buscar tais decisões como sendo paradigmáticas para julgar monocraticamente de acordo com seu entendimento pessoal, porque o 557 dá poderes ao relator para julgar sozinho mas de acordo com as decisões do STF ou de Tribunal Superior. Se o relator entende que a causa deverá ser julgada com fundamentação diferenciada das decisões paradigmáticas, então é porque as decisões deixam de guardar identidade de situação jurídica. 2.2.2 – Análise externa da jurisprudência paradigmática – limites objetivos A possibilidade de pertinência da matéria tratada no decisium a quo com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal de 2º grau é universal (ou seja, caberia em qualquer matéria apreciada no processo civil, como a cível, a administrativa, a constitucional etc.), haja vista que o efeito devolutivo do recurso de apelação devolve toda a lide, nos limites das prescrições dos artigos 515 e 516 do CPC. Abrangeria todas as matérias de direito e de fato. No que se refere a recurso endereçado a Tribunal Superior, o raciocínio anterior também é válido, observando-se, contudo, o efeito devolutivo peculiar de cada recurso. Em suma: de acordo com a exegese do supracitado artigo, um desembargador relator não poderia invocar como jurisprudência paradigmática para decidir monocraticamente as decisões de outra corte estadual, por ter o caput do artigo referido erigido as decisões de sua própria corte. 2.3 – Os escólios dos tribunais superiores para fins de julgamento monocrático – a necessidade de um paradigma válido A relação da jurisprudência dominante do STF e dos Tribunais Superiores – que o legislador optou por estar presente tanto no caso de acolhimento como de negativa de seguimento de recurso – teria que acolher um elemento necessário, de acordo com o espírito de celeridade processual encampado pela reforma de 1998 e por uma questão de lógica jurídica. Não só a pertinência da matéria de direito tratada (o que seria o óbvio) seria importante para uma aplicação válida do artigo 557 do CPC, mas também a pertinência com acórdãos validamente paradigmáticos. Explique-se melhor os fundamentos da pertinência recursal. Suponha-se que um grupo de servidores públicos decidiu ingressar com ação requerendo horas extras da Administração. O juiz de primeiro grau, analisando os dispositivos constitucionais da matéria, julgou procedente o pleito. Após o recurso de Apelação por parte da Administração, o julgado é revertido, mas a decisão do tribunal buscou fundamento em decisões do Tribunal Superior do Trabalho (que não possui competência para dirimir qualquer recurso emanado dos Tribunais de Justiça), que possui linha de raciocínio distinta (e passível de revisão) daquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o último tribunal superior em matéria constitucional (o que, no caso, trataria do direito à percepção das horas extras). Os apelados-vencidos ingressam, então, com recurso de agravo, esgotando o tribunal local, para depois interporem recurso extraordinário para o STF (haja vista que o TST teria incompetência recursal para analisar a quaestio), e lá obtêm guarida para sua pretensão. Perdeu-se tempo desnecessário no desate da questão, posto que o tribunal erigido como paradigma não era da cadeia recursal das decisões do Tribunal de Justiça e suas decisões não tinham guarida no seio do Supremo Tribunal Federal. Logo, não era um paradigma válido para fins de julgamento monocrático. Verifica-se, dessa forma, que o espírito da reforma processual de 1998 estaria indubitavelmente ferido, pois um de seus objetivos é demonstrar à parte que teve uma decisão monocrática (ditada pelo binômio celeridade e segurança), desfavorável do tribunal local, que o tribunal imediatamente superior – a que ela iria ou irá recorrer – está com jurisprudência dominante contrária à sua pretensão. O objetivo da reforma de 1998 é, pois, duplo: de um lado, impera a celeridade processual; do outro, demonstra à parte vencida que seu pleito não terá qualquer possibilidade de êxito no tribunal ao qual irá recorrer. Assim, procura-se convencer a parte vencida de que seu recurso não tem a mínima possibilidade de êxito. Outro bom exemplo é o de um desembargador estadual decidir matéria constitucional, na forma monocrática do 557, § 1-A, exclusivamente com jurisprudência do STJ. Ora, o STJ não tem competência para, neste caso, apreciar a matéria constitucional suscitada em grau de recurso, posto que a competência recursal para esta matéria é do STF, através do recurso extraordinário (salvo quanto às ações de competência originária do Tribunal local e quando denegatória a decisão – artigo 105, II, “a” e “b”, onde o recurso cabível será o ordinário para o STJ, mesmo se envolver questão constitucional). Saliente-se o fato de que o STF, em matéria constitucional, tem pertinência recursal universal nos processos civis em que se discute a aplicabilidade das normas contidas na Carta Magna. Esta tese de pertinência recursal temática foi defendida no REsp. 286.767-SE, onde idêntico caso ocorrera em julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. No tribunal local, fora julgada apelação cível em matéria constitucional com espeque no 557 do CPC, erigindo-se como paradigmas decisões do STJ em matéria constitucional. A Colenda Corte Federal assim decidiu, verbis: “O § 1º do art. 557 do CPC encerra uma alternativa, no sentido de que o relator, para dar provimento a um recurso, pode escolher entre a jurisprudência do STF e a de qualquer um dos Tribunais Superiores que tenha decidido a matéria. Não há, pois, se falar em ‘pertinência temática’, ou seja, inexiste obrigação de que, tratando-se de matéria constitucional, somente os julgados da Suprema Corte poderiam dar supedâneo àquela decisão monocrática”1 Por outro lado, em outro julgamento o STJ asseverou, verbis: “O relator pode negar seguimento a recurso que contrarie jurisprudência pacífica do respectivo Tribunal; a reforma dessa decisão depende ou da prova de que a jurisprudência do Tribunal não é aquela afirmada pelo relator ou da demonstração de que essa jurisprudência contraria a orientação, no particular, de Tribunais Superiores”2 Realizando a síntese das duas decisões do STJ, temos o seguinte quadro sobre a interpretação do 557: a) pode o tribunal local erigir a decisão de qualquer tribunal superior como paradigmática para fins de julgamento monocrático, nos termos do § 1-A; b) a decisão paradigmática do tribunal local, para fins do caput do 557, tem que refletir o entendimento dos tribunais superiores, sob pena de se considerar paradigma inválido. Ora, se a decisão do tribunal local para servir de paradigma tem que refletir o entendimento dos tribunais superiores, as decisões das cortes superiores, por sua vez, precisam refletir também a de hierarquia mais alta, sob pena de se recair, novamente, no problema do paradigma inválido. Assim sendo, pode uma decisão do Superior Tribunal de Justiça servir de paradigma em matéria constitucional no julgamento de uma apelação pelo tribunal local; entretanto, para que este paradigma seja válido, é necessário que reflita, de forma indiscrepante, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o próprio STJ, analisando o artigo 557, aduziu que “A expressão ‘jurisprudência dominante do respectivo tribunal’, contida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil, somente poderá servir de base para negar seguimento a recurso, quando o entendimento adotado estiver de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sob pena de negar às partes o direito constitucional de acesso às vias recursais extraordinárias.”3 Não se está, todavia, negando-se a possibilidade da jurisprudência do STJ em matéria constitucional ou de qualquer outro Tribunal Superior servir de fundamento para as decisões de tribunal local. Inexistindo pertinência recursal, as decisões do Tribunal Superior poderão, sim, servir de paradigma e fundamentarem o julgamento do respectivo órgão colegiado, mas não da decisão monocrática do relator. 2.4 – O alcance do dispositivo no julgamento dos recursos e do reexame necessário Assim que adveio a reforma, uma discussão foi criada na doutrina e na jurisprudência: pode o julgamento monocrático atingir o reexame necessário? Embora se saiba que o reexame necessário não seja considerado um recurso, ele possui vários aspectos de semelhança. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a tese, declarou seu entendimento na Súmula 253, que assim giza: “O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”. Assim, cabe a aplicação do artigo 557: a) no julgamento da apelação cível e no reexame necessário; b) no recurso especial e extraordinário; c) nos embargos de declaração4. No caso dos embargos infringentes, como há uma necessidade intrínseca de julgamento por novo órgão colegiado, resta incompatível com este recurso a aplicação do 557. Ou seja, não podem os embargos infringentes serem julgados monocraticamente. No caso do agravo de instrumento, com a reforma advinda da Lei 10.352, verifica-se que o inciso I do art. 527 traz a prescrição de que pode o relator negar seguimento liminarmente, ou seja, na forma monocrática. E fica a pergunta: poderia o relator dar provimento ao agravo pelo 557? Ao meu ver, a reforma do art. 527 trouxe algumas inovações, mas a mais importante foi o encadeamento lógico do julgamento do agravo. Percebese claramente que os incisos são sucessivos. O inciso I trata do indeferimento liminar, se for o caso; o II traz a conversão do instrumento em retido; se passar pelos incisos anteriores, o III autoriza a concessão do efeito suspensivo; o IV, por sua vez, autoriza a requisição de informações ao juiz da causa; o V determina a intimação do agravado para apresentar contra-razões; o VI manda ouvir o MP, se for o caso. Com a ultimação destas providências, o agravo estará pronto para ser julgado. Combinando-se o artigo 527, I, com o artigo 528 (“... o relator pedirá dia para julgamento”), entende-se que no caso do agravo de instrumento não é possível o julgamento monocrático para conhecimento e provimento do recurso. Seu provimento dependerá, sempre, do órgão colegiado. STJ-6ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 17.04.01, não conheceram, v.u., DJU 4.6.01, p. 270. 2 STJ-2ª Turma, Ag. 222.951-AgRg., rel. Min. Ari Pargandler, j. 6.4.99, negaram provimento, v.u., DJU 31.5.99. 3 RESP 396308/PR, 2ª Turma, relator Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ 30/09/2002, pg. 243. 4 STJ-1ª Turma, REsp. 325.672-AL, rel. Min. Garcia Vieira, j. 14.08.01, negaram provimento, v.u., DJU 24.09.01, p. 248. 1 A FAMÍLIA NO NOVO CÓDIGO CIVIL Luciana Martins de Faro SUMÁRIO : 1- Introdução; 2- Tutela Constitucional; 3-Casamento; 4- Impedimentos; 5- União de homossexuais; 6 – Conclusão. 1 - INTRODUÇÃO O Código Civil de 1916, editado numa época com estreita visão da entidade família, limitando-a ao grupo originário do casamento, impedindo sua dissolução, distinguindo seus membros e apondo qualificações desabonadoras às pessoas unidas sem casamento e aos filhos havidos dessa relação, já deu a sua contribuição, era preciso inovar o ordenamento. Assim, reuniu-se grupo de jurista a fim de “ preservar, sempre que possível”1, a lei do início do século, modificando-a para atender aos novos tempos. A obra de Clóvis Beviláqua foi, é importante observar, alterada pelo legislador, nos seus mais de 80 anos de vigência, atendendo as exigências do tempo, por leis que deram significativa melhora para a figura e posição da mulher casada ( Lei 4.121/62), instituiu o divórcio (Emenda nº 09/77 e Lei 6.515/77), culminando a Constituição da República do Brasil, promulgada em 1988 que trouxe inovações com relação à conceituação e à proteção jurídica da família, imprimindo mudanças nas relações íntimas, com a evolução dos costumes mas, ainda assim, era preciso incluir num só diploma todas as matérias pertinentes a vida privada. Apesar das alterações já implantadas, foi preciso uma renovação mais substancial das relações familiares e acelerou-se o Projeto do Novo Código Civil de 1975, que teve como principais modificações, a fim de adaptar a ordem jurídica civil ao conteúdo da Constituição de 1988, a igualdade entre os cônjuges e filhos, o reconhecimento da união estável como entidade familiar, incluindo no bojo do Código temas constantes de legislação especial, tais como o registro do casamento religioso, a união estável, o divórcio, a separação, reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, entre outros. No entanto, não trouxe o novo Código normatização suficiente para resolver todas as questões relativas às novas formas de filiação “que exigem uma análise da bioética no campo do Direito”2, assim tratou da fertilização homóloga e da hetoróloga, deixando de apreciar a fertilização in vitro e tema em crescente desenvolvimento como o da clonagem humana, noticiada pelos cientistas italianos como certa para o ano 20033. 2 – TUTELA CONSTITUCIONAL DO CASAMENTO Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ao não incluir no caput art. 226 da CF a locução “constituída pelo casamento”, inovou o constituinte de 88, dando tutela constitucional a família de qualquer tipo, entendendo uma parte da doutrina que como a cláusula de exclusão desapareceu não há de subsistir tipos determinados, encontrados nos parágrafos do referido dispositivo constitucional e outra parte da doutrina sendo pela superação da tese do numerus clausus, eis que os parágrafos do art. 226 não encerram todas as possibilidades de constituição de relações familiares. Fica ainda mais claro que a melhor interpretação é a da segunda tese da doutrina, quando se vê no § 4º do art. 226 da CF o termo – também -. Assim, na lição de Paulo Luiz Netto Lôbo, esse parágrafo contém cláusula geral de inclusão, significando o “também” a inclusão daquele tipo de família, sem exclusão de outros4. Desta forma, no entender do insigne professor, “ os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art. 226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito indeterminado depende de concretização dos tipos, na experiência da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e adaptabilidade.”5 A proteção constitucional da família não deve ser entendida como simplesmente à família, mas ao local onde as relações baseadas no valor da afetividade se desenvolvem, criando ambiente indispensável para a realização da pessoa humana, sobrelevando o princípio também constitucionalmente garantido o da dignidade da pessoa humana 3 – CASAMENTO: NOVO CONCEITO. FAMÍLIA. IDADE NÚBIL. DEVERES. O tema casamento no novo Código Civil sofreu inovações, acompanhando a evolução dos costumes de uma sociedade que teve ao longo dos anos de vigência do Código de 1916 mudado sua feição, com o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a conseqüente participação desta nas decisões do casal e com a quebra do mito da indissolubilidade do matrimônio, entre outros. O casamento hoje não tem o mesmo conceito patriarcal, reconhece-se hodiernamente a igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, igualdade material, já reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência de há muito, quando dizia que o sistema que rege as relações entre os cônjuges é o de co-gestão, ou seja, é de responsabilidade de ambos a tomada de decisões, devendo o juiz solucionar as divergências. Os dispositivos do novo diploma civil, apreendendo as lições vivenciadas durante a vigência do código de 16 tratam o casamento de forma mais democrática, quando dispõem: Art. 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Art. 1565. Pelo casamento homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família § 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Art.1567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Ao lado do modelo tradicional de família, “como condição indispensável para gerar filhos”6, o da união oficial e legitimada pelo casamento, protege e normatiza a nova Lei Civil a união estável entre homem e mulher, já reconhecida pela jurisprudência e depois pelo legislador com a previsão na Carta de 1988 e a edição das Leis nº 8.971 de 29 de dezembro de 1994 e 9.278 de 10 de maio de 1996 estabelecendo, inclusive, aquela lei, o juízo da Vara de Família como competente para dirimir os conflitos. Deixa de incluir, no entanto, a família monoparental, constituída por qualquer dos descendentes e seus filhos. A idade núbil foi unificada em 16 anos para ambos os sexos, o que mais uma vez revela a igualdade entres os cônjuges como norte do constituinte de 88 e direção sempre a perseguir do intérprete do Direito. 4 – IMPEDIMENTOS Veiculou-se na imprensa que o novo Código Civil retirava do ordenamento jurídico o adultério, o que não é verdade, e nem seria possível, matéria afeta ao Direito Penal fosse tratada num diploma cível, restando esta interpretação apenas para os leigos em ciências jurídicas. O que na realidade ocorreu foi a sua não inclusão como impedimento dirimente público, que faz parte do rol do art. 183, inciso VII do Código de 16. Assim, com a entrada em vigor da nova lei o cônjuge adúltero e, por tal condenado, aquele que violar o dever de fidelidade do casamento, poderá se casar com o seu co-réu. No que se refere aos impedimentos impedientes o novo Código Civil passou a chamá-los de causas suspensivas da celebração do casamento e os dirimentes privados passaram a ser causa de anulabilidade. Ao lado das já existentes causas de anulabilidade do casamento foi acrescida a revogação do mandato, sem conhecimento do mandatário ou do outro contraente, não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Rompe-se a cultura machista já execrada pela jurisprudência e socialmente ridicularizada, em admitir a possibilidade de anular o casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, por defloramento da mulher com desconhecimento do cônjuge enganado. Foi acrescido aos três deveres dos cônjuges, já discriminados no Código de 16, o de respeito e consideração mútuos. 5 - União de Homossexuais. Entidade familiar à luz da CF? É certo que a união homossexual não poderá convolar em casamento, em virtude do conceito legal de união entre homem e mulher. No entanto, é justo que se afaste o caráter de relação familiar das sociedades afetivas formadas por pessoas do mesmo sexo? É tese ainda pouco aceita entre os tribunais a união homossexual como família, apesar dos doutrinadores se dividirem sobre a possibilidade de novos tipos de família, número bem menos significativo entende que a união entre pessoas do mesmo sexo não dá ensejo a formação de entidade familiar. Essa minoria fundamenta seu entendimento uma porque é impossível dessa união gerar filhos e duas porque se o casamento só existe entre pessoas de sexos diversos como seria possível que essa união não oficializada viesse a ter proteção do Estado, enquanto família, quando o próprio Estado tutela a conversão em casamento ? São argumentos falhos eis que não é pela impossibilidade de gerar filhos que não se protege a família, pois para o Direito, além da procriação não ser a única finalidade da família sendo, inclusive, institucionalizada a adoção, independentemente do estado civil, ainda são protegidas as famílias formadas por homens e/ou mulheres que não possam, por razões diversas, gerar filhos. E, também, não é porque o casamento oficial só pode se dar entre indivíduos de sexos diferentes que não se vai reconhecer uma realidade, qual seja, a formação de união homossexual, construída com base nos requisitos da afetividade, estabilidade e ostentabilidade7. É inegável o valor “afetividade” da convivência em qualquer tipo de união entre pessoas, construída com o amor entre seus participantes, com vínculos tão fortes quanto os de uma relação entre indivíduos de sexos diversos. Ademais, excluir da proteção constitucional a união homossexual é discriminatório, pois a opção sexual diferente da maioria não implica em excluir as garantias constitucionais. 6 – CONCLUSÃO Restou em parte atendida a incumbência dos autores do novo Código Civil. É certo que avanços existem, principalmente no âmbito das relações entre os cônjuges. Inobstante, falta muito para a lei civil realmente proteger todas as formas de relações familiares. Viola os princípios da dignidade da pessoa humana e o da igualdade e não discriminação qualquer interpretação que restrinja o conceito de família. A Constituição protege a família e não um tipo específico. Não há de ser excluída da tutela qualquer forma de relação familiar, eis que o texto da Constituição-Cidadã em nenhum momento assim fez. O que deve prevalecer como único requisito para constituição da família é o laço de afetividade entre seus membros, não importando quaisquer outras circunstâncias, sendo essa tão somente a interpretação que se deve dar aos princípios e normas estabelecidos na Constituição de 1988 Exposição de Motivos do Novo Código Civil OLIVEIRA, Euclides de, HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito de Família e o Novo Código Civil, Editora Delrey, Belo Horizonte, 2001. 3 Notícia divulgada no Jornal Nacional do dia 26/11/02. 4 BARROS, Sérgio Resende. Ideologia da Família e Vacatio Legis, Revista Brasileira de Direito de Família nº 11, Editora Síntese, 2001. 5 LÔBO, Paulo Luiz Netto. “Entidades Familiares Constitucionalizadas : Para Além do Numerus Clausus”, Revista Brasileira de Direito de Família nº 12, 2002. 6 BARROS, Sérgio Resende Barros. “Ideologia da Família e Vacatio Legis”. Revista Brasileira de Direito de Família, nº 11, Editora Síntese. p. 9. 7 As legislações infraconstitucionais estrangeiras que têm regulado as uniões homossexuais referem a “ relação duradoura de afeição mútua”, como enuncia a Lei de União do Estado de Vermont, Estados Unidos, de abril de 2000. Cf. Walter Wadlinton e Raymond C. O’brien (org.), Family Law Satutes, Internacional Conventionsand Uniformlaw, New York, Foundation Press, 2000. 1 2 DIREITO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA (OU FAMÍLIAS SOCIOLÓGICAS ‘VERSUS’ FAMÍLIAS RECONHECIDAS PELO DIREITO: UM BOSQUEJO P ARA UMA APROXIMAÇÃO CONCEITUAL À LUZ DA LEGALIDADE CONSTITUCIONAL) Cristiano Chaves de Farias. Promotor de Justiça – BAHIA, Mestrando em Ciências da Família pela UCSal – , Universidade Católica do Salvador. Professor do curso de Direito da UNIFACS – Universidade Salvador , (graduação e pós-graduação em Direito Civil); da Faculdade de Direito da UCSal. – Universidade Católica do Salvador; do curso de Direito das Faculdades Jorge Amado (graduação e pós-graduação); do JusPODIVM – Centro Preparatório para as carreiras jurídicas; e da FESMIP – Fundação Escola Superior do MP/BA. Professor convidado da ESMESE – Escola Superior da Magistratura de Sergipe e da FADISP – Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Membro do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família e do IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual. Sumário: 1. Prolegômenos: uma visão contemporânea do fenômeno familiar. 2. Transformações sociais no novo milênio: reflexos na vida familiar 3. A família na visão jurídica: o tratamento dispensado pela Constituição da República. 4. Miradas sobre os novos paradigmas da família. 5. Notas conclusivas. Bibliografia. “O que gostaria de conservar na família no terceiro milênio são seus aspectos mais positivos: a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de afeto e o amor. Belo sonho”. (Michelle Perrot) 1. PROLEGÔMENOS: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA DO FENÔMENO FAMILIAR É certo e incontroverso que o ser humano nasce inserto no seio familiar – estrutura básica social – de onde se inicia a moldagem de suas potencialidades com o propósito da convivência em sociedade e da busca de sua realização pessoal. Não existe, efetivamente, outra instituição tão próxima da natureza do homem como a família. Sociedade simples ou complexa, assente do modo mais imediato em instintos primordiais, a família nasce espontaneamente pelo simples desenvolvimento da vida humana1. O impulso natural do instinto sexual, do amor materno, a tendência do homem para que outros o continuem, dão, sem dúvida, vazão à família de modo imediato. Não se olvide, nessa esteira, que na família se sucederão os fatos elementares da vida do ser humano, desde o nascimento até a morte. No entanto, além de atividades de cunho natural, biológico, também é a família o terreno fecundo para fenômenos culturais, tais como as escolhas profissionais e afetivas, além da vivência dos problemas e sucessos. Notase, assim, que é nesta ambientação primária que o homem se distingue dos demais animais, pela susceptibilidade de escolha de seus caminhos e orientações, formando grupos onde desenvolverá sua personalidade, na busca da felicidade2 – aliás, não só pela fisiologia, como, igualmente, pela psicologia, pode-se afirmar que o homem nasce para ser feliz. Extrapola-se, nesse passo, a tradicional concepção biológica de família para visualizar-se uma concepção mais ampla. Neste sentido, “a família deixa de ser um fenômeno natural, assumindo antes um caráter de fenômeno cultural”, na lição precisa do mestre CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA3. Disso não discrepa RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, para quem “somente após a passagem do homem da natureza para a cultura que se torna possível estruturar a família. Esta, como já se demonstrou, é uma estrutura psíquica e que possibilita ao ser humano estabelecer-se como sujeito e desenvolver relações na polis”4. Ora, sem dúvida, a família traz consigo uma dimensão biológica, espiritual e social, afigurando-se mister, por conseguinte, sua compreensão a partir de uma feição ampla, considerando suas idiossincrasias e peculiaridades, o que exige a participação de diferentes ramos do conhe- cimento, tais como a sociologia, a antropologia, a filosofia, a teologia, a biologia (e, por igual, da biotecnologia e a bioética) e, ainda, da ciência do direito. Tentar compreendê-la de forma sectária, isolando a compreensão em alguma das ciências, é enxergá-la de forma míope, deturpada de sua verdadeira feição. Nesse caminho, sobreleva apontar dois motivos essenciais para a formação do núcleo familiar na sociedade, dos quais um é, antes, o fim imediato visado pelo outro: o desenvolvimento da personalidade humana e a concretização do projeto de felicidade. A família, pois, não se localiza dentro de um conjunto de muros ou num campo, mas em atitudes mentais, no terreno fecundo da cultura. 2. TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS NO NOVO MILÊNIO: REFLEXOS NA VIDA FAMILIAR Entre as incontáveis mudanças que se dão no mundo contemporâneo, nenhuma é mais importante, nem sentida de forma tão intensa, quanto aquelas que se desenvolvem nas vidas pessoais dos seres humanos (na sexualidade, no casamento, nas formas de expressão de afetividade, etc.)5. Com o mesmo pensar, a psicóloga e terapeuta familiar CRISTINA DE OLIVEIRA ZAMBERLAM dispara que “nunca antes as coisas haviam mudado tão rapidamente para uma parte tão grande da humanidade. Tudo é afetado: arte, ciência, religião, moralidade, educação, política, economia, vida familiar, até mesmo os aspectos mais íntimos da vida – nada escapa”6. A pluralidade, dinâmica e complexidade dos movimentos sociais (multifacetários) contemporâneos trazem consigo, por óbvio, a necessidade de renovação dos modelos familiares até então existentes. Os casamentos, divórcios, recasamentos, adoções, inseminações artificiais, fertilização in vitro, clonagem, etc., impõem especulações sobre o surgimento de novos status familiares, novos papéis, novas relações sociais, jurídicas e afetivas. Haveria um processo de normatização social dessas novas relações familiares? A resposta, forte na Profa. ELISABETE DÓRIA BILAC, é no sentido de que é “necessário revisitar os papéis sociais e o parentesco, incorporando, porém, nesta revisitação, a perspectiva das relações de gênero... É preciso um reexame dos papéis sexuais na família que incorpore, também, sentimentos, vivências e percepções masculinas”7. Fácil perceber, destarte, que das múltiplas modificações sociais perpetradas pelas descobertas científicas, pelo avanço tecnológico, pela biotecnologia, etc., decorrem, naturalmente, alterações nas concepções jurídico-sociais vigentes no sistema, deixando uma passagem aberta para outra dimensão, na qual a família deve ser um elemento de garantia do homem na força de sua propulsão ao futuro. Nesse passo, antevisto esse avanço tecnológico, científico e cultural, dele decorre, inexoravelmente, a eliminação de fronteiras arquitetadas pelo sistema jurídico-social clássico, abrindo espaço para uma família contemporânea, susceptível às influências da nova sociedade, que traz consigo necessidades universais, independentemente de línguas ou territórios. Impõe-se, pois, necessariamente traçar novo eixo fundamental para a família, não apenas consentâneo com a pós-modernidade, mas, igualmente, afinado com os ideais de coerência filosófica da vida humana. A transição da família como unidade econômica para uma compreensão igualitária, tendente a promover o desenvolvimento da personalidade de seus membros, reafirma uma nova feição, agora fundada no afeto e no amor. Seu novo balizamento evidencia um espaço privilegiado para que os seres humanos se complementem e se completem. 3. A família na visão jurídica: o tratamento dispensado pela Constituição da República. O Código Civil de 1916, considerados os valores predominantes naquela época, afirmava a família como unidade de produção, pela qual se buscava a soma de patrimônio e sua posterior transmissão à prole. Naquele ambiente familiar – hierarquizado, patriarcal, matrimonializado, impessoal e, necessariamente, heterossexual – os interesses individuais cediam espaço à manutenção do vínculo conjugal, pois a desestruturação familiar significava, em última análise, a desestruturação da própria sociedade. Sacrificava-se a felicidade pessoal em nome da manutenção da “família estatal”, ainda que com prejuízo à formação das crianças e adolescentes e da violação da dignidade dos cônjuges. O outono daquela estruturação clássica da família era evidente. Com as mudanças sociais e todo avanço da contemporaneidade, a família passou a ser encarada com nova feição. Sem dúvida, hoje a família é núcleo descentralizado, igualitário, democrático e, não necessariamente heterossexual. Trata-se de entidade de afeto e entre-ajuda, fundada em relações de índole pessoal, voltadas para o desenvolvimento da pessoa humana, que tem como diploma legal regulamentador a Constituição da República de 1988. Invocando as sempre esclarecedoras lições do genial GUSTAVO TEPEDINO, “verifica-se, do exame dos arts. 226 a 230 da Constituição Federal, que o centro da tutela constitucional se desloca do casamento para as relações familiares dele (mas não unicamente dele) decorrentes; e que a milenar proteção da família como instituição, unidade de produção e reprodução de valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à tutela essencialmente funcionalizada, à dignidade de seus membros”8. Ora, elegendo como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, de forma revolucionária, a Lex Fundamentallis alargou o conceito de família, passando a proteger de forma igualitária todos os seus membros e descendentes, sejam estes fruto de casamento ou não. Deste modo, a entidade familiar deve, efetivamente, promover a dignidade e a realização da personalidade de seus membros, integrando sentimentos, esperanças e valores, servindo como alicerce fundamental para o alcance da felicidade. De fato, o legislador constituinte apenas normatizou o que já representava a realidade de milhares de famílias brasileiras, reconhecendo que a família é um fato natural e o casamento uma solenidade, uma convenção social, adaptando, assim, o Direito aos anseios e necessidades da sociedade. Assim, passou a receber proteção estatal, como reza o art. 226, da Constituição Federal, a família originada através do casamento, bem como a decorrente de união estável e, ainda, a família monoparental, isto é, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O ponto nodal da questão sobre entidades familiares está na enumeração do artigo 226. Seria ela exemplicativa (numerus apertus) ou se trata de rol taxativo (numerus clausus)? Antes de penetrar efetivamente na seara da questão proposta, é mister, de antemão, esclarecer a importância do preâmbulo no texto constitucional. É ele um compromisso antecipado e solene, que junto com os princípios fundamentais, formam as cláusulas pétreas da Constituição. A Magna Charta estabelece em seu preâmbulo que instituído o Estado Democrático, este destina-se a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fica claro, portanto, que a interpretação de todo o texto constitucional deve ser fincada nos princípios da liberdade e igualdade, e despida de qualquer preconceito, porque tem como “pano de fundo” o macroprincípio da dignidade da pessoa humana, assegurado logo pelo art. 1º, III, como princípio fundamental da República. Sem dúvida, então, a única conclusão que atende aos reclamos constitucionais é no sentido de que o rol não – e não pode ser nunca! – taxativo, por deixar sem proteção inúmeros agrupamentos familiares não previstos no Texto Constitucional, até mesmo por absoluta impossibilidade. Não fosse só isso, ao se observar a realidade social premente, verificando-se a enorme variedade de arranjos familiares existentes, apresentaria-se outro questionamento: seria justo que os modelos familiares não previstos na lei não tenham proteção legal? Ora, como sinaliza TEPEDINO, “é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas de Direito positivo, em particular aquelas que disciplinam o Direito de Família, regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo no social”9. Vale dizer, a exclusão das outras formas de entidades familiares não está na Constituição, mas na interpretação10, porque realizada recoberta de absoluto preconceito. É o que se infere da simples – e ainda que perfunctória – leitura do Texto Constitucional. Senão vejamos: Art.226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. [...] §8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. (grifos nossos). Se comparado o texto atual que traz, claramente, uma tipicidade aberta, ao das Constituições brasileiras anteriores, nota-se uma transformação radical, pois durante muito tempo, a família legitimamente protegida somente poderia ser constituída através da instituição do casamento. O conceito trazido no caput do artigo 226 é amplo e indeterminado, é cláusula geral de inclusão, o que é confirmado pelo §4º, no qual a expressão “também” reforça essa idéia. É o dia-a-dia que se encarrega da concretização dos tipos, mere- cendo todas as entidades familiares, igualmente, proteção legal. Esta é a principal conseqüência do §8º deste artigo, porque entrevê o importantíssimo papel na promoção da dignidade humana. Como percebe PAULO LUIZ NETTO LÔBO, “não é a família per se que é constitucionalmente protegida, mas o locus indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa humana. Sob o ponto de vista do melhor interesse da pessoa, não podem ser protegidas algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois a exclusão refletiria nas pessoas que as integram por opção ou por circunstâncias da vida, comprometendo a realização do princípio da dignidade humana”11. Ademais, deve-se levar em consideração que uma norma constitucional deve ser interpretada de forma a ter a maior eficácia possível, ou seja, se da leitura do artigo multicitado podem ser extraídos dois sentidos, exclusão ou inclusão, é o último que deve prevalecer, uma vez que é este quem confere maior eficácia ao princípio da dignidade “de cada um dos que a integram” (§8º, do art. 226, CR). Está confirmado, portanto, que o entendimento equivocado que conclui pela exclusão de outras formas de entidades familiares não expressamente previstas é fruto de um problema de hermenêutica, pois da interpretação sistemática e teleológica dos preceitos constitucionais, decorre, indubitavelmente, a idéia de inclusão. O não reconhecimento de qualquer comunidade afetiva como entidade familiar, porque não explicitamente prevista no art. 226 da CR/ 88, viola o macroprincípio da dignidade da pessoa humana, não cabendo discriminação de qualquer espécie, porque se a Constituição não discriminou expressamente, não cabe ao intérprete fazê-lo. 4. Miradas sobre os novos paradigmas da família São diversas as inquietantes questões que se apresentam no ambiente familiar moderno, gerando perplexidades. A sociedade contemporânea aberta, plural, dinâmica, multifacetária e globalizada não permite mais a afirmação de um modelo fechado de estruturação familiar. Não é crível, nem admissível, que, em meio às múltiplas mudanças axiológicas, ainda se tente afirmar que existiria um “modelo oficial” para as organizações familiares, uma espécie de “família estatal”, forjada no interesse público, em detrimento, muita vez, do desenvolvimento da personalidade de seus membros e violando suas dignidades. Como dispara, com proficiência, o mestre paranaense LUIZ EDSON FACHIN, “numa sociedade de identidades múltiplas, da fragmenta- ção do corpo no limite entre o sujeito e o objeto, o reconhecimento da complexidade se abre para a idéia de reforma como processo incessante de construção e reconstrução. O presente plural, exemplificado na ausência de modelo jurídico único para as relações familiares, se coaduna com o respeito à diversidade, e não se fecha em torno da visão monolítica da unidade”12. Vê-se, portanto, a inadmissibilidade de um sistema familiar fechado, eis que, a um só tempo, atenta contra a dignidade humana (assegurada constitucionalmente), a realidade social viva e presente da vida (tornando obsoleta e inócua a norma legal, uma verdadeira letra morta) e os avanços da contemporaneidade (que ficariam tolhidos, emoldurados numa ambientação previamente delimitada). A entidade familiar deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, essencialmente, em laços de afetividade, pois a outra conclusão não se pode chegar à luz do texto constitucional, especialmente do art.1º, III, que preconiza a dignidade da pessoa humana como princípio vetor da República Federativa do Brasil. “Mais que fotos nas paredes, quadros de sentido, possibilidades de convivência”, como desfecha com sensibilidade aguçada FACHIN. 13 Nesta linha de intelecção, fácil detectar que a família da pósmodernidade é forjada em laços de afetividade, sendo estes sua causa originária e final, com o propósito de servir de motor de impulsão para a afirmação da dignidade das pessoas de seus componentes. Prestigia-se a família como instrumento, como “meio para a realização pessoal de seus membros. Um ideal ainda em construção”, como assinala ROSANA FACHIN14. E a radiografia do presente é o descortino do porvir: as mudanças que se operam – e continuarão a se operar – no âmbito da família evidenciam que só se justifica a estruturação da sociedade em núcleos familiares se, e somente se, for encarada como refúgio para a realização da pessoa humana, como centro para a implementação de projetos de felicidade pessoal e para a concretização do amor. 5. Notas conclusivas Assim, composta por seres humanos, decorre, por conseguinte, uma mutabilidade inexorável, apresentando-se sob tantas e diversas formas, quantas forem as possibilidades de se relacionar, ou melhor, de expressar o amor. Desde que a família deixou de ser o núcleo econômico e de repro- dução para ser espaço de afeto e de amor, surgiram novas representações sociais. Enxergar essa nova e grandiosa realidade foi e continua sendo, o grande mérito de nosso texto constitucional. Formada por pessoas dotadas de anseios, necessidades e ideais que se alteram, significativamente, no transcorrer dos tempos, mas com um sentimento comum, a família enquanto “ninho” deve ser compreendida, como assinala TEPEDINO, “como ponto de referência central do indivíduo na sociedade; uma espécie de aspiração à solidariedade e à segurança que dificilmente pode ser substituída por qualquer outra forma de convivência social.15” A entidade familiar deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, essencialmente, por laços de afetividade, pois à outra conclusão não se pode chegar à luz do texto constitucional. A CF/88 igualou todos os filhos, independentemente, de sua origem, sejam eles biológicos ou adotivos, privilegiando, indubitavelmente, o afeto. E o mais importante, o casamento deixou de ser o modelo oficial de família, havendo clara opção pelo amor, prestigiando a afetividade. Veja-se, inclusive, que é a porta aberta para o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, protegidas pela Constituição da República. Aliás, não apenas as uniões homoafetivas, como todo e qualquer modelo de família forjado pelos indivíduos no cotidiano plural. Não se pode perder de vista que o nosso país se constitui em Estado Democrático de Direito, sendo proibida toda e qualquer discriminação em razão de raça, credo religioso, convicções políticas e sexo. Isso sem contar, com a afirmação necessária do princípio da dignidade de pessoa humana, que restaria afrontado com uma interpretação restritiva. Com razão, pois, MARCOS COLARES ao disparar: “creio que há algo de novo no Direito de Família: a vontade de vencer os limites ridículos da acomodação intelectual. Porém, tudo será em vão sem a assunção pela sociedade – enquanto Estado, comunidade acadêmica, organizações não governamentais – de uma postura responsável em relação à família – lato sensu. Transformando o texto da Constituição Federal em letra viva.16” Violam o princípio da dignidade da pessoa humana e os demais preceitos constitucionais qualquer interpretação que exclua da proteção legal qualquer entidade familiar, seja fundada no casamento, na união estável, em modelos monoparentais, em uniões homoafetivas e no que mais o homem escolha para se organizar em núcleos elementares. Nesta linha de raciocínio, impõe-se reconhecer todas as formas de entidade familiar como protegidas, tuteladas, pelo Direito, sob pena de grave violência constitucional. Referências bibliográficas BILAC, Elisabete Dória. “Família: algumas inquietações”, In CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org.). A família contemporânea em debate, São Paulo: Cortez, 2000. BRAVO, Maria Celina e SOUZA, Mário Jorge Uchoa. As entidades familiares na Constituição. Disponível em: <http://www.jus.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2002. COLARES, Marcos. “O que há de novo em Direito de Família?”, Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre: Síntese, n. 4, jan./ mar.2000. FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos de Direito de Família, Rio de Janeiro: Renovar, 1999. __________________. Teoria crítica do Direito Civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2000. FACHIN, Rosana Amara Girardi. Em busca da família do novo milênio, Rio de Janeiro: Renovar, 2001. GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole – o que a globalização está fazendo de nós, Rio de Janeiro: Record, 2000. GOBBO, Edenilza. A tutela constitucional das entidades familiares não fundadas no matrimônio. Disponível em:< http://www.jus.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2002. HIRONAKA, Giselda Maria Fernades Novaes. Direito Civil: estudos, Belo Horizonte: Del Rey, 2000. LECLERCQ, Jacques. A família, tradução de Emérico da Gama, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1968. LÔBO, Paulo Luiz Netto. “Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus”, Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre: Síntese, n.12, jan./mar.2002. OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do Direito de Família, São Paulo: RT, 2002. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil – Alguns aspectos de sua evolução, Rio de Janeiro: Forense, 2001. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica, Belo Horizonte: Del Rey, 1997. PERROT, Michelle. “O nó e o ninho”, Veja 25: reflexões para o futuro, São Paulo: Abril, 1993. SARTI, Cynthia A. “Família e individualidade: um problema moderno”, In CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org.). A família contemporânea em debate, São Paulo: Cortez, 2000. SILVA, Marcos Alves da. Do pátrio poder à autoridade parental – Repensando fundamentos jurídicos da relação entre pais e filhos, Rio de Janeiro: Renovar, 2002. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, Rio de Janeiro: Renovar, 1999. Nesse sentido, LECLERCQ, Jacques, cf. A família, cit., p.9. É, portanto, a inserção definitiva da família no terreno da cultura, desprendendo de velhos conceitos biológicos. A respeito do tema, CLAUDE LEVY-STRAUSS, com rara sensibilidade, já percebia o fenômeno de desnaturalização da família, retirando-a do campo biológico, para encartá-la na seara cultural, a partir da compreensão do parentesco a partir de um laço social, desatrelado do fato biológico, cf. Les structures élémentaires de la parenté, Paris: Mouton, 1967. 3 Cf. Direito Civil – Alguns aspectos de sua evolução, cit., p.172. 4 Cf. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica, cit., p.35. 5 Com idêntico raciocínio, ANTHONY GIDDENS, cf. Mundo em descontrole – o que a globalização está fazendo de nós, cit., p.61. 6 Cf. Os novos paradigmas da família contemporânea, cit., p.11. 7 Cf. “Família: algumas inquietações”, cit., p.36. 8 Cf. Temas de Direito Civil, cit., p.349. 9 Cf. Temas de Direito Civil, cit., p.328. 10 Nesse sentido, PAULO LUIZ NETTO LÔBO percebe que não há no Texto Constitucional qualquer distinção limitadora, mas sim na interpretação que lhe é dada, cf. “Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus”, cit., p.44. 11 Cf. “Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus”, cit., p.46. 12 Apud FACHIN, Rosana Amara Girardi, cf. Em busca da família do novo milênio, cit., p.147. 13 Cf. Elementos críticos de Direito de Família, cit., p.14. 14 Cf. Em busca da família do novo milênio, cit., p.141. 15 Cf. Temas de Direito Civil, cit., p.326. 16 Cf. “O que há de novo em Direito de Família?”, cit., p.46. 1 2 O DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL – ENFOQUE CRÍTICO QUANT O À IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE FORMAL NO ESTADO DE SERGIPE Fernando Clemente da Rocha. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital Exercendo a judicatura em área exclusivamente cível da comarca da capital (comum), tenho constatado o aforamento de demandas por pessoas que postulam o benefício da gratuidade processual. Vindica(m) o(s) postulante(s), naturalmente, direito estabelecido em lei, precisamente a Lei nº 1.060/50, o que implica afirmar enquadramento na condição de hipossuficiente econômico. Assim, antes de ingressar no exame da questão segundo a perspectiva deste despretensioso artigo, convém de logo consignar preceito legal organizacional local, o qual vaticina: “Aos Juízes de Direito das Varas Privativas de Assistência Judiciária compete, privativamente, processar e julgar os feitos cíveis em que tenha sido concedido ao autor o benefício da Assistência Judiciária” (art. 75 da Lei nº 2.246/79 – Código de Organização Judiciária de Sergipe). Pois bem. Dir-se-á que o preceito não seria excludente, ou melhor, não seria afirmativo da exclusividade da propositura de ações cíveis nas referidas unidades judiciárias, posto que, segundo princípio maior projetado da CF, vale dizer, a igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput e inciso I), legitimaria o aforamento em qualquer juízo cível comum. A esse respeito, tem-se que algumas decisões judiciais foram proferidas debaixo de tal argumento, a meu juízo, datissima venia, equivocadas. Com efeito, percebo nesta discussão incidir, não raro, raciocínios formulados com expressa confusão entre os conceitos constitucionais de igualdade formal e igualdade material. Ambos são de formulação constitucional, mas jamais se confundem, ao revés, devem se harmonizar. O primeiro deles (igualdade formal) resulta do princípio da igualdade perante a lei, enquanto que o segundo (igualdade material), projeta-se do princípio da redução das desigualdades. Sendo assim, temos que a Lei Maior traça um e outro em preceitos expressos, a exemplo dos arts. 3º, IV, 5º, I e 266, par. 5º (igualdade formal) e arts. 3º, III, 5º, XLI, XLII e LXXIV, bem como 170, VII (igualdade material), dentre outros. O destaque anterior foi para o inciso que importa ora reproduzir como eixo desta reflexão: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (transitória ou permanente). Aqui, vale lembrar, segundo a melhor doutrina, o conceito de “assistência jurídica integral” vai muito além do simples conceito de assistência judiciária. Se bem que quanto ao âmbito reduzido desta última, noticia o mestre Cândido R. Dinamarco que ela “...o ideário do Armenrecht,que em sentido global é um sistema destinado a minimizar as dificuldades dos pobres perante o direito e para o exercício de seus direitos...” (in Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros Editores, SP, 2002, vol. II, 2ª edição, pág. 674). Dentro deste panorama, conclui-se facilmente que a CF tratou dos dois princípios (igualdade formal/igualdade material) no mesmo plano de hierarquia. E como tal, o primeiro jamais exclui o segundo, ao contrário, como acima já advertido, deve haver uma conciliação. Mais ainda, mesmo que se tenha como programáticas tais normas, é certo que no ordenamento jurídico brasileiro e até no plano das ações administrativas, diversas providências foram implementadas para a concretude de tais direitos. É dizer, não ficamos aqui, ao menos em nosso modesto Estado de Sergipe e particularmente no setor da assistência judiciária integral (frise-se) na indignada angústia de Bobbio, verbis: “O campo dos direitos do homem - ou mais precisamente, das normas que declaram, reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem – aparece, certamente, como aquele onde é maior a defasagem entre a posição da norma e sua efetiva aplicação. E essa defasagem é ainda mais intensa precisamente no campo dos direitos sociais. Tanto assim que, na Constituição italiana, as normas que se referem a direitos sociais forma chamadas pudicamente de ‘programáticas’. Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas que não ordenam, proíbem ou permitem hic et nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de carência delimitado? E sobretudo, já nos perguntamos alguma vez que gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção adiadas sine die, além de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamada de ‘direito’?” (in A Era dos Direitos – “Direitos do Homem e da Sociedade”, p. 77/78). Em outras palavras, cuidamos aqui de implementar (inclusive em franca aderência ao movimento conhecido como affirmative action, iniciado na década de 60 nos EUA) uma política de concreta efetivação da igualdade material, até para que de fato a igualdade formal também se afirmasse, diga-se, se fizesse “nos termos desta Constituição” (parte final do inciso I do art. 5º da CF). E fizemos exatamente com a iniciativa pioneira (do então presidente do TJ/SE, o preclaro e atual ministro do STJ Luiz Carlos Fontes de Alencar) de criação e instalação das Varas de Assistência Judiciária, distribuídas em pontos estratégicos da capital, bairros densamente ocupados por pessoas de baixa renda. Veja-se que somente na capital já são 4 unidades em pleno e satisfatório funcionamento, sem contar outras operando em municípios vizinhos componentes da grande Aracaju. Portanto, somente ao mais desavisado passa pela cabeça enxergar discriminação em tais iniciativas. Refiro-me ao que consta do termo “discriminação” levado no sentido ordinário de negação de direitos, constituindo erro crasso de interpretação constitucional. Assim, quando muito temos a incidir a chamada “discriminação positiva”, vale dizer, o abandono da equivocada noção da igualdade formal como absoluta e com isso afirmar a sentença do mestre Rui Barbosa: tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Ou como Manoel Gonçalves Ferreira Filho, referindo-se ao plano de implementação pela via legislativa com a edição de leis especiais, que protejam determinadas categorias (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, SP, vol. I, págs. 26/27). Em uma palavra, “ações afirmativas” em muitos casos são concretizadas por meio da reconhecida e legítima “discriminação positiva”. Não custa repetir, é a própria Constituição Federal quem assim estabelece (“nos termos desta constituição” – inciso I, p. final/art. 5º), e no plano da assistência jurídica integral não se pode negar o pleno funcionamento do mecanismo estatal criado para este especial fim (varas privati- vas para aqueles a quem se defere o benefício da assistência judiciária – art. 75 do COJ/SE). Ou seja, o que se tem como direito impostergável é poder requerer o benefício nos termos da legislação incidente (Lei nº 1.060/50), seja a afirmada hipossuficiência econômica permanente seja transitória, contentando-se o legislador com a singela declaração do postulante. E cabe ao juiz ou tribunal, frise-se, qualquer deles (independentemente de vara, comarca, juizado, órgão fracionário, Pleno etc) deferir nos termos da lei. Portanto, qualquer um magistrado de vara cível comum desta capital tem por obrigação legal deferir o benefício. Mas, ao fazê-lo, cumpre-lhe sem sombra de dúvida atender ao contido no art. 75 do COJ/SE (após o deferimento, imediata remessa dos autos a uma das varas de assistência), pois somente assim estaria cumprindo a CF. As únicas exceções incidem quando parte o pleito do demandado, ou em sede penal, a hipótese do art. 32 do CPP (c/c art. 806), assim mesmo nas chamadas APO’s, pois se a queixa-crime tiver de tramitar na instância inferior, o órgão competente seria o JECrim. Seria despiciendo advertir para o primeiro e mais importante dos deveres no exercício da magistratura, vale dizer, tornar efetivos os princípios (e também sub-princípios e preceitos) da Lei Maior, aqui no particular da implementação da igualdade material, o que, segundo a mais avisada doutrina, consiste exatamente na redução das desigualdades. Nem se diga poder o postulante ao benefício, eventualmente, exercer o que seria uma ilusória opção de aforar sua demanda em qualquer juízo cível da capital. Absolutamente não. E isto não apenas pelo argumento simplório de que estando com advogado constituído, demonstraria em princípio capacidade financeira, não valendo a argüição, considerando a lotação atual de defensores públicos nos diversos juízos. O problema é de ordem institucional, portanto prevalecendo os superiores interesses públicos que são a fonte das diversas normas constitucionais asseguradoras da igualdade material pela redução de outras desigualdades e com isso também se concretizar a igualdade formal. Ninguém duvida que mulher alguma neste país possa se opor à norma constitucional que estabelece sua aposentadoria com idade inferior aos dos homens (art. 202, III). Ou que os deficientes físicos devem receber tratamento diferenciado em vários setores, constituindo uma legítima proteção de minorias. Advirta-se que com isso não se concebe que qualquer minoria deva ser destinatária de ações afirmativas diferenciadas, posto que muitas delas, ao contrário, são ordinariamente privilegiadas. Certamente não, mas somente aquelas que reclamam ações em razão das carências materialmente identificadas, como o hipossuficiente econômico que não pode arcar com despesas processuais, honorários de profissionais, deslocamentos para fóruns centrais e outras dificuldades. Por outro lado, tais varas como dito em número de 4 somente na capital, sendo que apenas 10 cíveis comuns remanescem para os demais jurisdicionados, contam com serviços adicionais, a exemplo de assistência social, sem contar no expressivo contingente de defensores públicos lotados. Portanto, nada mais se busca com tais providências senão atingir o nível de assistência integral de que trata a CF (art. 5º, LXXIV). E nada disso é disponível nas demais, por desnecessário, posto que os que ali postulam, detendo capacidade financeira, foram regularmente contemplados com a igualdade formal. Se se admite a litigar no juízo comum o hipossuficiente econômico, dentro deste quadro comparativo traçado entre as disponibilidades materiais, aí sim estaria ele sendo vítima de uma manifesta condição desigual, o que é inadmissível e nem ele próprio teria a faculdade de se “autodispensar” da norma protetiva. Imagine-se a seguinte situação hipotética: Um indivíduo, ainda que se declarando dispor de condições financeiras para arcar com despesas processuais e de advogado, compareça perante uma das varas privativas de assistência judiciária e afirme expressamente esta condição. Mesmo assim, postula o direito de ali aforar sua demanda. O juiz, certamente, não irá deferir tal pretensão. Poderia este indivíduo invocar sua condição de igual a qualquer um perante a lei? Francamente, ninguém enxergaria na hipótese qualquer inconstitucionalidade. Ora, se assim é, o que dizer do outro, aquele declaradamente hipossuficiente econômico (transitório/ permanente), a se permitir o livre ajuizamento em qualquer sede, passando agora a ostentar uma condição de “privilegiado”. Neste caso, pode-se afirmar sem receio de erro, incide uma manifesta inconstitucionalidade. Portanto, que espécie de igualdade jurídica seria esta que estaríamos a afirmar, chancelando, aqui sim, o injusto quadro divisado por último neste plano hipotético? É dizer, não é jamais a tarefa institucional do Poder Judiciário. A propósito, tome-se a preciosa lição de Florisa Verucci sobre o tema: “A fórmula tradicional – todos são iguais perante a lei - significa como princípio que a lei, o Poder Legislativo constituído não pode editar leis discriminatórias, o que não afeta a liberdade das pessoas, grupos, instituições e comunidades de um modo geral para discriminar segundo seus interesses e seus sentimentos. Mesmo proibições expressas nos textos constitucionais, como, por exemplo, aquela referente à proibição de diferença salarial entre homens e mulheres exercendo uma mesma função laboral tem sido de duvidosa eficácia. A negação da discriminação por meios punitivos não é suficiente para assegurar formalmente a igualdade. O princípio da isonomia, na sua concepção formal, sem instrumentos de promoção da igualdade material, ou seja, da igualdade jurídica, tornou-se obsoleto pela ineficácia, embora tenha sido a plataforma a partir da qual a doutrina, apoiada em seu princípio de negação do preconceito e da discriminação, construiu um princípio maior, que visa à igualdade jurídica efetiva, promotora da igualação. Os desiguais, excluídos do Direito Aplicado, embora sujeitos do Direito Formal, passariam a contar com instrumentos próprios para promover sua inclusão no ‘privilégio’ da igualdade” ( Ensaios Jurídicos – O Direito em Revista, IBAJ, RJ, 1998, vol. 6, pág.369). Averbe-se: a igualdade formal não passa de ilusão sem que possa se traduzir em igualdade jurídica, exatamente alcançada com a redução das desigualdades. Em uma palavra, implementando a igualdade material. E quando o Poder Público procede neste objetivo (frise-se, constitucional – art. 3º, III, p. final da CF), ninguém a ele pode se opor (nem mesmo o destinatário específico/casual da norma ou ação), salvo se de alguma maneira, sob a falsa roupagem deste objetivo, haja violação de outros princípios superiores, agora norteadores da ação administrativa (art. 37 da CF). Neste particular, não consta qualquer inconstitucionalidade na criação e implantação das referidas varas de assistências, porquanto os instrumentos legais percorreram todo o caminho legislativo formal que lhes conferiu o selo da legitimidade. Fernão Borba Franco de igual sorte aborda com brilhantismo o tema, valendo-se, dentre outros do escólio do mestre José Afonso da Silva para quem a igualdade seria o “signo fundamental da democracia”. E o eminente constitucionalista bem esclarece compreender ela (a igualdade) não somente perante a lei, mas também na lei. E neste particular de igualdade “na lei”, ou seja, conquanto o primeiro seja conceito dirigido às pessoas, o segundo é dirigido ao legislador. O ilustre articulista aqui lembra o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo nos seguintes termos: “Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em um ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. A lei faz isso estabelecendo discrímens. A dificuldade está em verificar a conformação desse discrímen com o princípio da igualdade, ou seja, a legitimidade do discrímen” (apud. Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 2, nº 5, julho/dezembro-1998, págs. 35/36). Sem dúvida, entre nós, não há quem duvide da legitimidade e, sobretudo da eficácia das varas de assistência judiciária como instrumentos de afirmação da igualdade jurídica. Portanto, urge uma outra reflexão sobre a questão, especialmente calcada no chamado “efeito vinculante” da interpretação constitucional, única autorizada. Isto porque, somente assim tem-se que “o privilégio do hipossuficiente” a que se reporta o Provimento nº 10/2001 da CGJ (em seus considerando...) legitima-se se for entendido como o “privilégio da igualação”, segundo a oportuna advertência de Florisa Verucci. Do contrário, admitindo que seja a “opção” nos iguais termos do normativo correicional, o caso seria de superafetação de direitos, vulnerando todo o esforço estatal em suas ações de afirmação da igualdade material. Em uma palavra, a chancela ainda que involuntária de uma inconstitucionalidade, considerando os propósitos bem intencionados de política jurisdicional encampada em decisões da Corte Superior local. Concluindo, ainda a palavra abalizada do insigne Cândido Rangel Dinamarco, ao advertir que a assistência jurídica integral aos necessitados constitui uma das três ondas renovatórias do direito processual, seguindo a corrente da doutrina internacional. E como tal, componente indispensável a afirmar que “todas as garantias da tutela constitucional do processo convergem a essa promessa-síntese que é a garantia do acesso à justiça assim compreendido”(ob. cit, vol. I, págs. 112 e 115). Como dito, vale no mínimo a reflexão sobre o importante tema que não se pretende esgotado sob nenhuma de suas vertentes. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, ÔNUS DA PROVA E AUTOTUTELA : O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO ? José Sérgio Monte Alegre. Professor de Direito Administrativo na UNIT; Professor da ESMESE e ex-Professor da UFS. Procurador-Geral do Ministério Público Especial Junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O Estado, pelos seus órgãos administrativos e no tocante à imposição das leis administrativas, estaria na mesma posição perante os tribunais que os indivíduos no tocante à imposição das leis civis e das leis penais? Bastaria ao Estado-Administração argüir o comprometimento da estética urbana para, no exercício do Poder de Polícia, interditar construção particular e, em caso de resistência do proprietário, executar a sua decisão independentemente de intervenção prévia do Poder Judiciário, restando àquele buscar a invalidação do ato em juízo para, somente assim, livrar-se da interdição? Estabelecido em lei que a produção e venda de fogos de artifício somente pudessem ser realizadas mediante prévia manifestação aquiescente da autoridade administrativa, e constatado que determinado indivíduo leva adiante empreendimento de produção e venda desses fogos independentemente da aquiescência, estaria a autoridade administrativa habilitada a ordenar-lhe a interrupção da atividade, por ela qualificada de ilícita, e a seguir executar a correspondente sanção, sem o concurso do juiz? Acudiria em favor daquela a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo? O ônus de provar o contrário caberia aos administrados? O encargo de desmentir a Administração ficaria com o inconformado, tudo sem prejuízo da plena eficácia ou exeqüibilidade do ato? Ou para que a ocorrência do delito fosse averiguada e a sanção infligida, haveria necessidade de a autoridade administrativa socorrer-se da assistência do juiz? Sem dúvida, não careceria a autoridade de socorrer-se previamente da jurisdição, é o que diz a doutrina dos especialistas ( do contrário não haveria tal presunção nem o correspectivo dever de provar o reverso ). Leia-se: “ Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem o invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia “. ( Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, págs.141/142, 22º edição, sem o destaque em negrito ). Aqui, a unanimidade impressiona. E muito. Todavia, bem observadas as coisas, e aceita que seja a doutrina, um primeiro reparo haveria logo de ser feito: tecnicamente, não é de deslocamento da obrigação de prova, de inversão do encargo de provar, que se cuida, mas da transferência do ônus de acionar, isso sim. E até aqui nada de novo estaria acontecendo, a merecer registro em separado. Sim, porque a iniciativa da ação traz para o autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, salvo se é de fato notório que se cuida ou acobertado por presunção legal de existência ou de veracidade ( art. 333, inciso I, c/c o art. 334, inciso IV do CPC ). Essa é a regra prevalecente, não excepcionada sequer para a Administração Pública quando lhe ocorra a provocação judicial, como no caso da desapropriação. Porém, ainda não seria esta a vexata quaestio e sim aquela de saber exatamente se existe essa transferência da obrigação de acionar e que acaba aproveitando a Administração Pública diante do administrado, pois em sua decorrência é que este vem a ocupar na relação processual a desconfortável posição de autor. Deveras, ninguém ignora que onde esteja excluída, ao menos relativamente, a autodefesa, quando um indivíduo pretende fazer valer diante de outro o que considera ser o seu direito e nele encontra resistência, o que lhe cumpre, diante do conflito instaurado - alguém afirmando e alguém negando a existência de um direito -, é socorrer-se do Estado para ver reconhecida a legitimidade da sua pretensão e depois poder efetivá-la inclusive, se a recalcitrância persistir, com o uso da força física, quando for o caso. Não lhe é dado, salvo situações de vincada excepcionalidade, valer-se de seus próprios meios para tutelar a própria situação jurídica em que se encontra. E o Estado o acode pela via da jurisdição, exercida com privatividade pelos órgãos do Judiciário( art.5º, inciso XXXV, c/c com o art. 92, incisos I a VII, da CF ), de acordo com o delicado esquema de separação de Poderes, entre nós de prestígio constitucional ( art. 2º, idem ). Ou, na fórmula do Código de Processo Civil: “A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o território nacional, conforme as disposições que este Código estabelece.” ( art.1º ). Daí se segue que a obrigação de acionar é de quem pretende fazer valer a pretensão e não de quem a deva suportar, e a sua posição no processo que se instaure será a de autor, a quem corre o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, salvo as exceções legais ( art.333, I, c/c o art.334, IV, do CPC ). Resumindo: a imposição da lei civil e da lei penal faz-se mediante o concurso antecipado dos tribunais. Haveria o mesmo na imposição das leis administrativas? Aliás, vale a pena o registro, nada obstante o ostracismo atual do autor: “Quando a ordem jurídica determina os pressupostos sob os quais a coação, como força física, deve ser exercida, protege os indivíduos que lhe estão submetidos contra o emprego da força por parte dos outros indivíduos. Quando esta proteção alcança um determinado mínimo, falase de segurança coletiva. ...Mas também podemos conceber uma noção mais restrita de segurança coletiva, falando de segurança coletiva somente quando o monopólio da coerção por parte da comunidade jurídica atinja um mínimo de centralização, por forma a que a autodefesa seja, pelo menos em princípio, excluída. É o que acontece quando se subtrai aos indivíduos diretamente implicados no conflito pelo menos a decisão da questão de saber se, num caso concreto, houve uma ofensa do Direito e quem é por ela responsável, para a deferir a um órgão que funcione segundo o princípio da divisão de trabalho, a um tribunal independente. “ ( Hans Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito, Terceira Edição, Coimbra, 1974 ). Esta é a regra geral, dominante, até mesmo em respeitoso obséquio à monopolização da coação pelo Estado. Não foi por outra razão que o sempre lembrado Miguel Seabra Fagundes definiu julgar como aplicar a lei contenciosamente, por oposição a administrar que consistiria na aplicação da lei de ofício. A contenda, o embaraço na realização do Direito, a oposição de interesses, o litígio, seriam pressupostos necessários desta peculiar função do Estado, a jurisdição, marcada pela isenção, pela independência e pela força definitiva dos atos que a expressam, formalizados sob a forma de sentenças ou acórdãos. Confira-se: “ De passagem, já dissemos que os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos de interesses em cada caso concreto. Isto é o que se chama função jurisdicional, ou simplesmente jurisdição, que se realiza por meio de um processo judicial, dito, por isso mesmo, sistema de composição de conflitos de interesses ou sistema de composição de lides”. ( José Afonso da Silva, no seu Curso de Direito Constitucional Positivo, 8º edição revista, Malheiros, pág. 480 ). E mais à frente, na página seguinte: “A jurisdição é hoje monopólio do Poder Judiciário do Estado ( art.5º, XXXV ).” Contudo, é a regra geral para quem? Para todos os sujeitos jurídicos? Para os particulares entre si, apenas? Para a Administração Pública, também? Ou a orgânica administrativa receberia da ordem jurídica favor não deferido aos indivíduos enquanto tais? Enfim, qual a posição da Administração Pública frente ao Direito e à Justiça? Vejamo-la. Consagrado o princípio da separação dos Poderes como uma das traves-mestras do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil ( art.1º da CF ), uma questão desponta e reclama adequado equacionamento: qual a posição da Administração relativamente ao Direito e ao Judiciário ? Quanto ao Direito, nenhuma dúvida séria existe. Diferentemente da função legislativa que o produz sob a forma de lei, com o caráter de norma geral, abstrata e impessoal, originariamente inovadora da ordem jurídica, expressão do querer coletivo em que radica a soberania, a Administração, quer como organismo que atua, quer como específica atividade estatal, na qual dominam as notas do dever e da finalidade, lhe é inteiramente submetida. Mais ainda: é dependente de uma habilitação legal anterior como condição para a sua válida manifestação, assentado que para ela não existe uma situação básica de liberdade originária, a partir da qual a lei compareceria como limite externo de atuação, à semelhança do que acontece com os indivíduos. Daí se segue o princípio da legalidade enunciado em termos de que , para a orgânica administrativa, o que não está permitido está, só por isso, proibido, com o que seria tecnicamente supérfluo prescrever-lhe proibições. Realmente, são significativas, até pelas suas repetidas citações, as seguintes averbações: “Administrar é aplicar a lei de ofício “ ( M. Seabra Fagundes ). Ou então: “Administração legal é aquela posta em movimento pela lei e exercida nos limites das suas disposições”( Fritz Fleiner ). Mais: “Jaz, conseqüentemente, a Administração debaixo da legislação que deve enunciar a regra de Direito. “( Cirne Lima ). Ainda: “No Estado de Direito, a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinadas na ordenação normativa.”( Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito Administrativo, Décima Primeira Edição, pág. 631, a quem pertencem os excertos transcritos ). Enfim: “ O princípio da legalidade atrás referido será aqui entendido no sentido que actualmente dá a doutrina a tal princípio. Isto significa que a administração está vinculada à lei não apenas num sentido negativo ( a administração pode fazer não apenas aquilo que a lei expressamente autorize, mas tudo aquilo que a lei não proíbe ), mas num sentido positivo ( a administração só pode atuar com base na lei, não havendo qualquer espaço livre da lei onde a administração possa atuar como um poder jurídico livre)”, segundo lições recolhidas em J.J.Gomes Canotilho, no seu Direito Constitucional, Almedina, Novembro 1993, pág.909. Todavia, no tocante ao Judiciário, qual a posição reservada à Administração? Até agora, é de excepcional prestígio no Brasil a teoria de uma Administração com aspiração a alguma auto-suficiência, construída sobre o fundamento da autotutela, da auto-executoriedade e da presunção de legitimidade do ato administrativo, retiradas do modelo francês de dupla jurisdição e no qual a Administração Pública é tradicionalmente beneficiada com a proibição de o Judiciário turbar por qualquer forma o funcionamento dos corpos administrativos, do que nos ocuparemos mais adiante. Houve até quem doutrinasse no sentido de que a interpretação de todo o Direito Administrativo assentava neste último pressuposto presunção de legitimidade), acrescido da discricionariedade e da desigualdade jurídica da Administração perante os administrados. Por apego à fidelidade do texto, leia-se: “A nosso ver, a interpretação do Direito Administrativo, além da utilização analógica das regras do Direito Privado que lhe forem aplicáveis, há de considerar, necessariamente, esses três pressupostos: 1º) a desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados; 2º) a presunção de legitimidade dos atos da Administração; 3º) a necessidade de poderes discricionários para a Administração atender ao interesse público.” ( Hely Lopes Meirelles, em seu Direito Administrativo Brasileiro, 22º edição, pág. 38 ). Autotutela essa que se desgarra daquela dos sujeitos privados, posto que individualizada por traços que a singularizam. Vai-se mesmo ao ponto de sustentar que os interditos possessórios são meramente facultativos para a Administração, armada que se acha de meios coativos próprios para resguardar-se patrimonialmente. Em apertada síntese: a Adminis- tração estaria favorecida por predicado excepcional, qual seja o de ser sujeito capacitado para defender a si mesmo, desvencilhado de ingerência judicial prévia e que não se deteria diante de eventual impugnação de terceiros, pois a presunção de validade somente cede ao final, com o trânsito em julgado da decisão, e enquanto esta não sobrevém, segue-se executando a decisão administrativa. Noutras palavras: a insurgência do administrado não tolheria a atuação administrativa com a só interposição do pedido de impugnação perante o Judiciário. São expressivas a tal propósito as referências à autotutela como um princípio e à autoexecutoriedade e à presunção de validade como atributos do ato administrativo, com toda a carga de significado que isso implica. Com efeito, “Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre as diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servido de critério para a sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá o sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. “( Celso Antônio, ob, cit., págs. 629/630 ). Contudo, será assim mesmo? Haverá entre nós um princípio geral da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, no qual se possam justificar o regime da autotutela e a auto-executoriedade do ato administrativo? O que se pode extrair da Constituição a respeito? Sobremodo de uma Constituição que entrega ao Judiciário o controle não apenas das medidas administrativas individuais ou gerais, senão também da própria legislação, em caráter abstrato ou no caso concreto? Deveras, não se tem como descurar que, neste ponto, a Constituição brasileira deixouse educar na finíssima e bem inspirada tradição inglesa de que os direitos individuais só encontram bom resguardo no ramo judiciário do Estado. O sistema pátrio reúne as características inclusive do judicialismo perfeito, apontadas por Marcelo Caetano em sua obra princípios Fundamentais do Direito Administrativo : “Nesse sistema, os tribunais com poder de proferirem sentenças com força de coisa julgada estão todos integrados no Poder Judiciário, submetidos à jurisdição de um Supremo Tribunal Federal que é o órgão máximo desse Poder. O judicialismo perfeito apresenta duas características fundamentais. A primeira está em pertencer ao Poder Judiciário a competência para conhecer e julgar as questões administrativas contenciosas, muito embora o sistema seja compatível com a especializa- ção de tribunais administrativos, no mesmo plano em que admite tribunais cíveis, criminais, de família, do trabalho...Mas há uma segunda característica mais importante: no judicialismo perfeito, os órgãos administrativos ficam dependentes a todo momento da apreciação da juridicidade dos seus atos pelos tribunais que, a solicitação dos interessados e mediante processo sumário, podem emitir ordens ou mandados que os órgãos da Administração são forçados a acatar.” ( págs.483/484,Forense, 1977 ). Bem, logo a um primeiro momento, veja-se o exagero de reclamar para o Direito Administrativo, todo ele, como pressupostos de interpretação, critérios que somente favorecem a Administração, reforçando-a com cláusulas de exorbitâncias depressoras do indivíduo como centro subjetivado de direitos e obrigações. Com efeito, esse ramo do Direito, como disciplina peculiar da orgânica administrativa, não se define unicamente pelo ângulo da prerrogativa de autoridade, senão também, e até principalmente, pela perspectiva da garantia dos administrados, isso segundo depoimento insuspeito da História. Aliás, é o que consta da mensagem endereçada ao Governador do Estado de Sergipe pela comissão elaboradora do Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública ( lei pioneira no país, conforme bem anotado por Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu Curso de Direito Administrativo, décima segunda edição, pág. 417), verbis: “ Diga-se ainda da que, ao instituir o regime jurídico da orgânica administrativa e dispor sobre a sua atividade funcional, o Anteprojeto levou em conta não apenas a primeira inspiração histórica do Direito Administrativo, residente na necessidade de acautelar os indivíduos contra eventuais descomedimentos no exercício da função administrativa,...”.Daí decorre que não há apenas princípios que inauguram e robustecem os formidáveis privilégios administrativos. Há, pari passu, aqueles que resguardam, do mesmo modo e com idêntica intensidade, a esfera jurídica dos cidadãos. Da conjugação equilibrada de uns e outros pode-se falar da construção de uma verdadeira equação jurídica prerrogativas/garantias, em atenção sempre desperta a que a atuação administrativa coloca frente a frente dois adversários que se olham de soslaio e se atribuem as piores desconfianças: liberdade de um lado e autoridade de outro. Assim, e só para ilustrar, a) se reconhece à Administração o atributo da executoriedade do ato administrativo, porém, correlatamente, acode-se o indivíduo com a exigência do devido processo legal; b) admite-se a discrição administrativa e, contudo, controla-se o seu legítimo exercício com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou proibição de todo excesso; c) concede-se a desapropriação, mas exigese como condição de sua validade a indenização, regra geral, prévia e em dinheiro. Aliás, desse quadro comparativo fez José Roberto Dromi oportuníssima síntese ao escrever sobre Autoridade e Liberdade no Direito Administrativo, na Revista de Direito Público, vol. 59/60, págs. 171/ 177 ). Não é então insignificante o silêncio dessa doutrina sobre a contraface da submissão do indivíduo à Administração, como um dos termos da relação jurídica administrativa. Não é irrelevante a ausência de menção a princípio, um só que fosse, vocacionado para a tutela do indivíduo contra desvios ou abusos de uma estrutura e de uma função que somente encontram justificativa no propósito de servi-lo, e em seu regime de vida compartilhada. Evidencia-se aí uma velha e sugestiva tentação de encarar o Direito Administrativo pela perspectiva da autoridade, do mando, antes que da sujeição, e que tem contaminado inclusive muitas das melhores páginas de doutrina. Essa tendência impressiona tanto mais quanto se tem em conta a História Política desse Direito, sem cuja consideração tudo será absurdamente falso. A propósito, vale a pena lembrar: “... até que ponto teorias jurídicas equivocadas são raras vezes inócuas; todas conduzem a efeitos graves e injustos “. ( Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, in Curso de Direito Administrativo, Ed. Revista dos Tribunais, 1991, pág. 373 ) . Deveras, em tempos de exaltação do absolutismo, o que se tinha como boa, firme e valiosa, era uma concepção do Direito ajustada ao espírito do tempo, fosse no tocante à origem, à forma de expressão, fosse no relativo à sua finalidade. Originário do Monarca e expressado quer em normas gerais quer em atos de sua particularização, que não o obrigavam, o Direito servia ao propósito de glorificar o Estado personificado no Soberano, a quem se chegava a atribuir a singular posição de representante de Deus na Terra, o que explicava as contemporâneamente desusadas fórmulas da onisciência do governante, de quem se dizia não podia errar ou querer mal aos súditos. Sabe-se que desde os revolucionários franceses a concepção absolutista veio a ser substituída, e de tal modo, que a origem de todo o poder deslocou-se para o povo, cuja vontade geral era expressada em forma de lei, obrigatória assim para governados como para governantes e, enfim, que o fim almejado não estava senão na intransigente defesa da pessoa humana, elevada da sua condição de submissa para a de cidadã, que nascia e morria livre e igual em direitos. O princípio era não só diferente, senão contrário, o contraponto exato daquele do regime decaído, na medida certa. A liberdade adquiriu compostura de regra geral e só admitia os temperamentos confortados na lei como expressão do querer coletivo. Leia-se: “ I- Os homens nascem e ficam livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ser fundamentadas na utilidade comum. II-O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência do homem à opressão. III- O princípio de toda soberania reside essencialmente na Nação; nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não emane diretamente dela. IV- A liberdade consiste em fazer tudo quanto não incomode o próximo; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites senão nos que asseguram o gozo desses direitos aos demais. Esses limites não podem ser determinados senão pela lei. V- A lei só tem o direito de proibir as ações prejudiciais à sociedade. Tudo quanto não é proibido pela lei não pode ser impedido e ninguém pode ser obrigado a fazer o que ela não ordena. VI- A lei é expressão da vontade geral... “ (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão). Ora, essas formulações acantonam-se inclusive na Constituição brasileira atual, que lhes confere cerimônias apenas reservadas a hóspedes de excepcional linhagem. Quem as ignora? Todo o poder emana do povo que o exerce por seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos constitucionais. Ou então: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por derradeiro, a Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Neste inspirado esquema de relações, a exceção reside na autoridade, com a sua inevitável carga de limitações a uma situação de liberdade básica ostentada somente pelos indivíduos. Como tal, de compreensão e aplicabilidade estritas, na exata carência do bem comum. Como aceitar, na seqüência, que o acento tônico haja se deslocado da regra geral para a exceção, por forma a imprimir maior realce à função que a sua razão de ser - o indivíduo? Qual foi esse encadeamento de prodígios responsável por tão dramática transformação? Custa aceitar que essa profissão de fé na Administração Pública, organismo serviçal e subalterno, freqüente com desembaraço o gabinete de homens de leis e ocupe posição sobranceira diante do que lhe confere legitimidade e utilidade, que são os valores fundamentais albergados no constitucionalismo brasileiro e personificados nos indivíduos, sem os quais não há nem sociedade, nem Direito. Custa, porque historicamente inexata. No Brasil, bem ao contrário da França, o modelo que preside as relações entre a Administração e o Judiciário foi recortado sobre moldes emprestados pelo figurino anglo-saxão, de predomínio dos juízes sobre os administradores, tendo estes que se valerem daqueles para a imposição das leis administrativas. Na França, a teoria da separação dos Poderes foi interpretada de modo a proibir o Judiciário de interferir nos assuntos administrativos, com o que se revitalizava surpreendentemente o aforisma de raiz absolutista, segundo o qual julgar a Administração continuava sendo administrar. O que se desejava, no ideário revolucionário, era uma separação entre a Administração e o Judiciário, inspirada no propósito de fazê-la operar com autonomia, sem os condicionamentos de uma intervenção judicial prévia, os órgãos administrativos não tendo que recorrer aos tribunais para a imposição das leis administrativas. No antigo regime, a lógica era impecável, posto que assim a Administração como a Jurisdição eram emanações de uma mesma soberania, personificada no monarca, inexistindo razões, pois, para a subalternidade da primeira à segunda. Ambas desfrutavam da mesma autoridade, em vista da sua matriz comum. Todavia, com a Revolução, a concepção jurídica alterou-se radicalmente. E, no entanto, o que se teve foi um retorno ao antigo estado de coisas: uma Administração fora do alcance do Judiciário. No mundo anglosaxão, não aconteceu assim, apesar de paradoxalmente ter inspirado Montesquieu. Nestes domínios, a separação se fez para garantia da liberdade, que se acreditava unicamente resguardada nos juízes. O que se buscou foi livrar os juízes da influência do monarca, assegurando-se-lhes a necessária independência e autoridade, de modo que lhes fosse possível controlar a atividade dos agentes da Coroa. O que se afirmou foi, pois, a supremacia judicial, o sistema do judicial control. Dois modelos opostos, a formarem duas famílias jurídicas com fisionomias inconfundíveis. Um, o francês, conhecido como regime administrativo, ou do contencioso-administrativo, ou de dupla jurisdição, a administrativa e a judicial; e o outro, o anglo-saxão, chamado judicialista, ou judiciarista, ou de jurisdição única, com uma só ordem de tribunais para o conhecimento e a decisão de todos os conflitos, quer envolvendo particulares entre si, que particulares e a Administração Pública. Vem a calhar o seguinte excerto: “ ...no judicialismo perfeito, os órgãos administrativos ficam dependentes a todo o momento da apreciação da juridicidade dos seus atos pelos tribunais que, a solicitação dos interessados e mediante processo sumário, podem emitir ordens ou mandados que os órgãos da Administração são forçados a acatar. “ ( Marcelo Caetano, na obra Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, pág. 484 ). Portanto, a interpretação que aqui se deu à teoria da separação dos Poderes não teve a inspiração francesa. Nada houve entre nós que se assemelhasse à Lei de 22.12.1789, sob cujos termos as funções judiciais ficariam separadas das funções administrativas, não podendo os juízes, sob pena de prevaricação, perturbar de qualquer maneira as operações dos corpos administrativos. É oportuna, neste ponto, a seguinte transcrição: “Os constituintes tinham vivido essa experiência de um desviado governo dos juízes e quiseram resolutamente exclui-la adiante, tanto porque não respondia a um sistema viável nem objetivo de governo, quanto porque para eles se identifica de fato o estamentalismo nobiliário, como, enfim, porque naquele momento o poder era deles e não admitiam de bom grado que tivessem que facilitar o seu condicionamento ou limitar as possibilidades de conformação revolucionária que com o seu exercício abria-se para eles. No ditame da Assembléia de onde saiu a lei de separação que transcrevemos, declara-se: “A nação não tem esquecido o que se deve aos parlamentos; eles só têm resistido à tirania... A nossa magistratura estava justamente constituída para resistir ao despotismo; mas este já não existirá desde agora. Esta forma de magistratura não é, pois, necessária. “Como se vê, é explícita a intenção dos revolucionários de liberar o Poder Executivo, uma vez nas suas mãos, dos condicionamentos judiciais. “ ( Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, no seu Curso de Direito Administrativo, Ed. Revista dos Tribunais, 1991, págs.431/432 ). Nenhum artificialismo, então, na existência de um contencioso administrativo ao lado de um contencioso judicial, de um processo administrativo em paralelo com um processo judiciário, de uma jurisdição administrativa de par com uma jurisdição judicial, de uma tutela administrativa convivendo com uma tutela judiciária. O sistema é logicamente coerente e assentado em uma Administração encaminhada para “ uma atuação autônoma e juridicamente suficiente”, articulado sobre as bases de um recurso contencioso administrativo que assume ares de um pedido de impugnação de um ato ou regulamento já expedidos e cuja execução não suspende, o que acentua o caráter revisor dessa jurisdição que, ademais, não exerce sobre a Administração Pública os poderes da jurisdição comum sobre os demais sujeitos. O que revela a História Política, na França, é uma trajetória que vai da identidade subjetiva entre Administração e a Jurisdição até o princípio da separação dos Poderes, interpretado este, porém, de modo substancialmente contrário ao que ocorreu na cultura jurídica anglo-saxã. Parece certo que o sentido originário desse princípio foi inteiramente subvertido no país europeu, onde “ O Poder Judiciário, cuja missão natural é dirimir os litígios declarando o direito, saía enfraquecido e diminuído desta prova” ( Prosper Weil, no seu Direito Administrativo, Livraria Almedina, Coimbra, 1977, pág.12 ). A tal propósito, é particularmente interessante todo o Capítulo VIII, do livro de Eduardo García de Enterría e TomásRamón Fernández, Curso de Direito Administrativo, traduzido para o Brasil em 1991, Ed. Revista dos Tribunais, que inspirou algumas das idéias até aqui expendidas. Ora, essa experiência histórica em nada nos aproveita e, assim, é absolutamente inadequada para explicar as relações travadas entre a Administração e o Judiciário, no Brasil. Não deixa, então, de ter um certo ar de mistério, ainda hoje, que, havendo optado pelo modelo anglo-saxão de jurisdição única, de predomínio dos juízes sobre os administradores, de monopólio da jurisdição pelo Judiciário, que desconhece a presunção de validade e a autotutela, ao menos como regra geral, o Brasil seja, no mais, profundamente influenciado pela doutrina francesa de Direito Administrativo, que passa a ser o nosso modelo de Direito comparado, ao qual recorremos até com exagero, quando se sabe que são duas experiências radicalmente contrárias! Rigorosamente, só com redobradas e aturadíssimas cautelas se poderia recorrer ao sistema francês como método de interpretação, exatamente dada a dessemelhança dos modelos. Ou sequer se possa fazê-lo, a ter como razoável a opinião de Marcelo Caetano ( expendida tendo em conta especialmente a realidade portuguesa, mas que bem se aplicaria ao Brasil, pela semelhança), para quem a legitimidade do recurso à doutrina estrangeira está condicionada ao concurso das seguintes condições : a) identidade de sistemas administrativos; b) compatibilidade dos princípios estrangeiros com o sistema jurídico nacional; c) analogia entre as circunstâncias do caso omisso a resolver e as condições sociais em que se produziram os fatos a que se aplicam os princípios formulados pelos autores estrangeiros. Tudo, sem esquecer que esses recursos só se justifica após esgotadas as pesquisas na literatura nacional (Manual de Direito Administrativo, Forense, 1º edição brasileira, pág.122/123, sem o destaque do negrito). Ademais dessa explicação histórica, que ( já vimos ) não nos serve, haveria alguma outra que pudesse levar a concluir em favor da transferência do ônus de acionar, ou mais genericamente de um tratamento do Estado em termos absolutamente contrários, e mais favoráveis, ao que se dispensa ao indivíduo perante os tribunais? Uma explicação dogmática? Qual ? A teoria da separação dos Poderes? O princípio da eficiência da Administração Pública? O princípio da legalidade ? Aqui, as coisas não são mais claras porque a doutrina é surpreendentemente lacônica, mesmo considerando a importância capital do tema. Entretanto, parece evidente à razão que o princípio da separação dos Poderes depõe contra e não a favor da tese atualmente prestigiada, como agora se buscará demonstrar. Deveras. A Constituição brasileira de 1988, e isso não é segredo, inspirou-se sobremodo na Constituição portuguesa e na Constituição espanhola da atualidade, esta última especialmente clara e incisiva ao sonorizar que “O exercício do poder jurisdicional, em qualquer tipo de causa, julgando e fazendo executar as decisões, compete exclusivamente aos julgados e tribunais determinados pelas leis, segundo as normas de competência e de processo que lhes estabeleçam ( art.107, 3º ). Aí, não há inquietação razoável: o exercício da jurisdição, o que significa que a atuação do Direito objetivo preordenada à composição de litígios, com o caráter de definitividade, dizendo o que, nos casos questionados, pois, é de justiça, esta função lhes é exclusiva, dos juízes e tribunais. Reforça-o o art.24,1, segundo o qual “ Todas as pessoas têm o direito de obter a tutela efetiva dos seus direitos e interesses legítimos pelos juízes e tribunais, não podendo em nenhum caso ser denegada justiça. Não custaria que a Carta republicana nacional contivesse algo assim, da máxima explicitude. Infelizmente, não contém, o que surpreende, porquanto ao tratar da função legislativa, diz expressamente que esta cabe ao Congresso Nacional ( 44 ) e, da executiva, que cumpre ao Presidente da República ( art.76 ). Contudo, deslizes do tipo são freqüentes na Constituição atual*, comprometendo a qualidade do texto e muitas vezes enevoando-lhe a acertada apreensão ( * Desenvolvidamente, no meu ar- tigo “ Ação Civil Pública, Constituição Federal e Legitimidade Para Agir, na RTDP n. 14/67 a 77 ). Daí não se conclua, entretanto, que há lacuna, omissão, silêncio embaraçoso, o que seria precipitado e grave. Realmente, em primeiro lugar, a Constituição faz profissão de fé no credo da separação dos Poderes ( art.2º) , o que já é significativo, nada obstante não tenha repetido a Constituição de 1824 que, em tom solene, proclamava que “A divisão e a harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece ( art.9 ); em segundo, estatui sem meias palavras que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ( art. 5º, XXXV ). A combinação dos dois dispositivos é suficiente para definir a lógica interna do regime, imprimindo-lhe racionalidade. Não se tem como separar Poderes sem que se separem ( ou distribuam ) funções, funcionando a Constituição como “ um instrumento eminentíssimo de partilha de atribuições “, muito embora sem caráter de exclusivismo, de tal modo que a cada Poder correspondesse uma função da qual os demais estivessem radicalmente excluídos. Por via de consequência, e em reverente obséquio à razão, a regra constitucional que assegura o acesso ao Judiciário e a submissão ao seu controle ( art. 5º, XXXV ) é a mesma que atribui a jurisdição a seus órgãos, os juízes e tribunais ( art. 109, incisos I a VII ). E a exemplo do que aconteceu com o Mandado de Segurança, cujo âmbito de cabimento veio a ser delineado por exclusão daquele do Habeas Corpus e do Habeas Data ( art. 5º, LXIX ), a Constituição serviu-se da mesma técnica para conectar jurisdição a Judiciário. Aliás, também na distribuição de competências entre a União e os Estados fez uso de igual critério de atribuir por exclusão: “São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição “( art.25, §1). Por último, atente-se a que “ ...a competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais e, também, como meio de garantia para o indivíduo que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer agente do Estado. “ ( Miguel Seabra Fagundes, sem o negrito no original ). O esquema é portanto de simplicidade franciscana. Identificados os dois momentos da atividade jurídica do Estado - o da formação do Direito e o da sua realização -, reservou-se ao Judiciário a atividade básica de julgar, entendida na conhecida fórmula de “aplicar a lei contenciosamente “. Não se está dizendo com isso que à função adminis- trativa seja estranha, totalmente estranha, a participação no processo de realização do Direito. Em absoluto. O que se está dizendo é que a jurisdição é exclusiva do Judiciário desde que é neste individualizada com as características do momento de exercício ( contenda ) do modo com que se exercita ( interpretação definitiva da lei ) e, por derradeiro, do fim visado ( o trancamento de uma situação jurídica litigiosa, restaurando-se a normalidade jurídica ), conforme doutrina recolhida em Miguel Seabra Fagundes e que entre nós fez fortuna ( O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, Forense, 5º edição, págs. 14/15 ). Sem dúvida, a Administração decide, incidindo sobre situações jurídicas de terceiros, mas nunca com as características da jurisdição, ou se preferirem, da jurisdição judicial. Nem os seus poderes, quaisquer deles, lhe são configurados para esse fim, pois que não lhe cumpre restaurar a paz jurídica, a prevalência do direito objetivo, que isso é atribuição do Judiciário; o que lhe toca é “servir com objetividade os interesses gerais “ ( fórmula usada pela Constituição espanhola ). Leia-se: “Quando qualquer um, na coletividade, se opõe ao cumprimento da regra jurídica, obstinando-se em lhe recusar obediência, cria, com isso, um embaraço ao regular funcionamento do organismo estatal. O Estado vence essa anormalidade restaurando a ordem legal através da coação, que exerce sobre a vontade insubmissa, impondo-lhe obediência ao cânone legislativo, cuja inteligência fixa definitivamente. Tais situações podem originar-se seja de atitude do indivíduo recusando obedecer à lei, impugnando-a por injusta, por irregular, ou por entender não abrangido por suas disposições, seja de procedimento dos próprios órgãos estatais ( Legislativo e Executivo ), violando os limites prefixados no Direito Positivo à sua atividade. Num caso como no outro, se resolvem pelo exercício da função jurisdicional, que restaura a legalidade, clima normal na vida do Estado. O seu exercício pressupõe, assim, um conflito, uma controvérsia, ou um obstáculo em torno da realização do Direito e visa removê-lo pela definitiva e obrigatória interpretação da lei.” ( Miguel Seabra Fagundes, ob. cit. págs. 9,10 e 11 ). Segue-se daí, e mais não é necessário, o erro de querer-se, à guisa de princípio geral, conformar o ato administrativo à imagem e à semelhança da sentença, predicando-lhe atributos estranhos à função que especifica. Nem se argumente, como a gosto de alguma doutrina, com implicitudes ou inerências, ressuscitando um esoterismo só acessível a iniciados, para dizer ora que está implícito no ordenamento jurídico o sistema de autotutela fundado na presunção de validade, ora que é inerente à Administração, uma qualidade que lhe é conatural. Em primeiro lugar, porque não se há de admitir implicitudes e inerências onde há preceito expresso em contrário ( art.5º, XXV ) que não distingue entre os sujeitos que ameaçam ou lesam efetivamente direitos, para incluir uns e excluir outros, sobremais quando topograficamente localizado em capítulo assecuratório de direitos subjetivos públicos, oponíveis ao Estado, no seu sentido mais amplo. Em segundo, porque princípios implícitos à Constituição só tolera quando decorrentes da índole do regime ou de outros princípios que consagra, como se extrai da leitura do seu §2º do art.2º. Ao depois, o princípio da separação dos Poderes vem sendo invocado exatamente para uma submissão cada vez mais estrita da Administração aos juízes e tribunais, no qual se acha comportado o controle prévio e não só a impugnação deduzida ex post facto. Enfim, em um Estado Democrático de Direito, fundado na soberania popular e no esquema de separação de Poderes, a Administração não tem poderes inerentes, consubstanciais, conaturais, resultantes da sua própria autoridade, mas tão somente os que a lei, como expressão do querer coletivo, lhe outorga. Nada mais. A separação de Poderes, portanto, testemunha em detrimento e não em proveito da doutrina tradicional. Melhor resultado seria obtido com a invocação do princípio da eficiência? Nada sugere que sim. Em primeiro lugar, porque a eficiência não se pode sobrepor à separação de Poderes na ordem de importância dos princípios. Salta à vista que este último é princípio estruturante do Estado brasileiro, cláusula de eternidade exatamente porque insuscetível de supressão por emenda constitucional, atributos ausentes naquele. Em segundo, porque conectar a eficiência à autotutela seria o mesmo que reconhecer ineficiência ou ineficácia a administrações do tipo anglo-saxão, o que desborda e muito da razoabilidade. Deveras, o Direito tem meios de assegurar a prevalência ordinária do interesse público sobre o privado sem que necessariamente isso envolva no geral tratamento mais benigno à Administração. Processos sumários ou sumaríssimos resolveriam a maioria dos casos, sem que se afastasse a assistência prévia do juiz. Sentença de 9 de dezembro de 1955, do ilustre juiz Dínio de Santis Garcia, confirmada, embora com menor amplitude, por unanimidade de votos do Tribunal de Justiça de São Paulo, destacou em apurada síntese , já àquela época, que ao Município, e de resto às outras pessoas de direito público nenhuma lei conferia o poder de promover, ex autoritate propria, a execução forçada dos atos administrativos dele emanados, especialmente a demolição de prédio particular. E ainda quando houvesse, teria sido editada ultra vires e, pois, sem nenhum valor, isso porque o monopólio da jurisdição no Brasil é do Poder Judiciário e o único processo legal para a demolição de prédios que contravenham à lei é o previsto no Código de Processo Civil para a ação cominatória. Nem mesmo socorreria o Município o devido processo administrativo, pois “...não pode ser legal um processo que começa por usurpar funções exclusivas, privativas do Poder Judiciário. Pois é princípio básico do moderno Direito Constitucional o da unidade de jurisdição... As exceções devem vir consignadas na lei constitucional “. ( sem o negrito, no original, na Revista de Direito Administrativo, 48/306 ). O princípio da legalidade também não socorreria o que se vem combatendo. Se mais não fora, pela simples razão de que atualmente significa que a Administração pode fazer apenas o que lhe é legalmente permitido, excluída assim a antiga idéia de raiz absolutista da vinculação negativa pela vinculação positiva à lei. E já foi demonstrado que lei alguma lhe dispensa ordinariamente regime jurídico mais favorecido, até porque a tanto se opõe a Constituição Federal. Considere-se mais em desfavor da tese ora dominante. Considerese que entre os valores assumidos como dignos de proteção jurídica pelo ordenamento, a partir da Constituição Federal, está a segurança. É de valor reforçado que se cuida, de valor supremo, acima do qual não existe qualquer outro. Este perfil lhe resulta do preâmbulo constitucional, ao qual não se há de negar virtude normativa, ou privar de conteúdo juridicamente estimável, reduzindo-se-lhe a dignidade ao de um rosário de promessas sem nenhum préstimo aos olhos do Direito. Entretanto, ainda quando não fosse assim, o art.5º, caput, garante a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos que enuncia ( e aí a segurança reaparece, desta feita como direito fundamental da pessoa humana, imune mesmo à emenda constitucional ), abstraída a nacionalidade, alcançando inclusive o apátrida. Direito da pessoa humana por declaração ainda mais explícita do art. 4, II, e do art. 34, VII, alínea b. Parece evidente que segurança, nos versículos constitucionais é sobremodo ausência do emprego descentralizado da força física na composição dos eventuais conflitos de interesses, entregues à responsabilidade de órgãos estatais que para tanto receberam especial habilitação da ordem jurídica. Segurança, portanto, que é mais do que aquela assegurada ao preso, como direito à integridade física e moral ( art.5º, XLIX ). Esses órgãos são os do Poder Judiciário, enumerados exaustivamente no art. 92, incisos I a VII. Isso significa que, no Brasil, é assegurado a todos, sem exceção de nenhum, que a função de dizer se em dada situação houve ou não ofensa ao direito é retirada dos envolvidos diretamente no conflito e entregue ao Estado, atuando por esses qualificados círculos abstratos de competência, os órgãos judiciais. Atividade de jurisdição, pois, que não se confunde com qualquer das formas de Administração: ativa, consultiva, verificadora, de controle ou contenciosa. E, como ficou dito linhas atrás, a Constituição não distingue entre conflitos de interesses públicos e privados. Todos caem na vala comum do art. 5º, XXXV. Se é a Administração que se sente lesada ou ameaçada em seu direito de atuar em proveito do interesse público, diante de resistência que lhe opõe o particular, com ou sem razão, o que lhe toca, para remover a objeção, é trilhar os caminhos que levam ao Judiciário e não interferir impositivamente na esfera jurídica alheia, constrangendo o administrado a mudar de posição no processo e agravando-o com a transferência do ônus de acionar. Nada, rigorosamente nada a autoriza, de modo geral, a resolver unilateralmente sobre a legitimidade do seu título e a fazê-lo cumprir por seus próprios meios, diante do conflito instaurado, pois esse é papel reservado ao Judiciário. Não é escusável, neste ponto, recordar que sobre o esquema da separação de Poderes a Constituição deixou clara a possibilidade de o Judiciário exercer legislação, função de editar normas gerais, quer quando pronuncia a inconstitucionalidade das leis em abstrato, quer quando, em ação direta de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, decide com força obrigatória para todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, sem excluir a competência para a elaboração de regimentos internos. Vejase que, compondo hipóteses de exceção à atividade típica do Legislativo, receberam menção explícita da Constituição, o que em momento nenhum ocorreu com o reconhecimento da transferência do ônus de acionar, evocativo de uma autotutela administrativa ao lado de uma tutela judicial. Nenhum tratamento mais benigno foi dispensado ao Estado, quando no exercício da função administrativa, pelo que, ao deparar-se com resistência do administrado acerca de uma sua pretensão, cumprir-lhe-á de ordinário afastá-la pelos meios normais e, pois, com recurso ao Poder Judiciário, ao qual caberá aferir a legitimidade do título que a fundamenta. Conquanto óbvio, lembre-se que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E não há lei, nem pode haver, excepcionando a tutela judicial prévia, heterotutela, em proveito da autotutela administrativa, como suposto princípio geral, fundado em presunção de validade do ato administrativo. Agregue-se que a Constituição Federal elege a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, qualificando-a como princípio fundamental, incompatível com uma presunção que o deprime ao invés de exaltá-lo perante o Poder Público. Mais ainda: o princípio da dignidade da pessoa humana tem a compostura de superlativo dos princípios, abstração feita obviamente ao da inviolabilidade do direito à vida. E como se acha indissoluvelmente ligado à forma de Estado ( nele declaradamente esforçado ) e aos direitos e garantias individuais, posto que seria aberrante conceder dignidade a quem vida não possuísse, ou então vida indigna, está a salvo inclusive de emendas constitucionais ( art.60, §4º, I e IV ). É também de valor supremo que se cuida, conforme resulta do Preâmbulo do qual já se disse possuir valor normativo. A respeito, na França, a musa inspiradora de acreditados administrativistas nacionais, nada obstante a excepcionalidade da decisão do Conselho Constitucional, chegou-se a declarar, por iniciativa do presidente do Senado, “não conformes à Constituição, por serem contrárias aos princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República e solenemente reafirmados pelo Preâmbulo da Constituição, determinadas disposições de uma lei relativa à liberdade de associação ( decisão de 16 de julho de 1971 ) “, consoante notícia trazida por Prosper Weil, no seu Direito Administrativo, Livraria Almedina, Coimbra, 1977, págs. 20/21, sem o destaque do negrito, no original. Mais ainda: “Dentre as fontes de legalidade, algumas estão fora da Administração e impõem-se a todas as autoridades administrativas, sem que nenhuma delas tenha o poder de as revogar, modificar ou derrogar. É o caso de a) ...; b) A Constituição e o seu Preâmbulo “ ( mesmo autor, ob. Cit., págs. 117/ 118 ). Resulta daí que a proibição de tratamento desumano ou degradante ( art.5º, III ); da prática do racismo ( art.5º, inciso XLII); da imposição de penas cruéis ( art.5º, inciso XLVII, alínea e ); e a imposição de respeito à integridade física e moral do preso ( art.5º, inciso XLIX ), nada mais são além de emanações pontuais, avulsas, desse princípio de linhagem nobre, de capa e espada. É o que acontece também com a presunção de inocência ou de não-culpabilidade, na conhecida fórmula de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória “( art. 5º, LVII ). Mesmo o acusado de crime hediondo, insuscetível de fiança, graça ou anistia, mesmo esse, não está excluído da presunção, que somente cede mediante sentença penal condenatória transitada em julgado. E nem se descuide de observar que os direitos e garantias fundamentais são assegurados a brasileiros e estrangeiros residentes no país, e não à Administração Pública. Vale a pena a seguinte transcrição: “Ora, se a lei estadual determinou sua aplicação a servidores públicos desde o momento anterior ao de sua entrada em vigor, não pode a Administração Pública pretender não aplicá-la sob a alegação de ofensa a direito adquirido seu ( art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal ), porquanto, integrando ela o Estado, não tem ela direito a uma garantia fundamental que é oponível ao Estado e não, - como ocorre em geral com as garantias dessa natureza, a ponto de em face dado direito alemão, SCHLAICH (... ) dizer que as pessoas jurídicas de direito público não são capazes de ter direitos fundamentais - a ele outorgada. “ ( Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, unânime, em 24. 03.98, Diário de Justiça da União de 8/5/98, Rel. Min. Moreira Alves, sem o negrito ). Sendo assim, como inverter os termos do formulário constitucional para reconhecer à Administração a formidável prerrogativa da transferência do encargo de acionar, que a deixa em situação de vantagem perante o indivíduo ? Especialmente quando se constata que em nenhuma cláusula constitucional vem explícita tal deferência em proveito dela? Tem cheiro e sabor de contra-senso dos mais acintosos dispensar-se ao acusado de crime, qualquer crime, o deslocamento para ao Estado do ônus de provar-lhe a materialidade e a autoria e, de revés, gravar-se o indivíduo, sobre quem não pesa o estigma de semelhante e desonrosa increpação, a incômoda e difícil incumbência da prova contra a Administração. Coisa estranha, essa: nas relações jurídico-administrativas, quem é presumidamente inocente é o Estado e os seus desmembramentos. Inocente da mentira, inocente do erro, inocente da ilegalidade, cumprindo ao indivíduo fazer prova contrária. E prova robusta, acima e além de toda dúvida razoável. Doutrina bizarra na sua inspiração e gravosa nas suas conseqüências, posto que degrada o cidadão de conduta irrepreensível, ao passo que dispensa tratamento de maior benignidade ao indigitado de crime, inclusive o hediondo...Ora, é evidente que se o acusado de crime goza da presunção de inocência por respeitosa reverência ao princípio da dignidade humana, com maior carga de razões há de reconhecê-la também a quem de crime nunca foi acusado. O contrário seria ir a conseqüências nunca desejadas, mercê de uma compreensão distorcida do fenô- meno jurídico, decorrente de séria negligência ao aconselhamento de Demolombe, citado por Carlos Maximiliano: “A interpretação das leis é obra de raciocínio e lógica, mas também de discernimento e bom senso, de sabedoria e de experiência. “ ( Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, nona edição, pág.100 ). Realmente, e bem refletidas as coisas, sem compromissos com idéias de raízes absolutistas ainda fincadas no solo da Europa Continental, não é aceitável que se mantenha o privilégio administrativo, se a dignidade não é direito oponível ao indivíduo e sim, bem ao contrário, ao Estado, inclusive quando no desempenho da função administrativa. Na tradicionalíssima doutrina, que ora se questiona, há vestígios claros da sobrevivência de esquemas autoritários de um regime decaído, inspirados na máxima “em favor do ato régio milita presunção de validade “, desconhecida do Direito anglo-saxão ao menos como princípio geral. Aqui, vem à lembrança o gênio de Ruy Barbosa: “Essa presunção de terem ( os Poderes Públicos ), de ordinário razão contra o resto do mundo, nenhuma lei a reconhece à Fazenda, ao Governo, ao Estado ( Oração aos Moços,pág.76 ). E também a cortante afirmação do Ministro Vítor Nunes Leal: “Parece que estamos necessitando, nessa matéria, de uma construção doutrinária que não institucionalize o arbítrio”, feita ao propósito do elementar direito de defesa perante a Administração Pública, inclusive no desfazimento unilateral de concessões ( Revista de Direito Público /281 ). Sobremais desse vestígio autoritário, acrescente-se outro: o injustificado esquecimento de que se têm como excepcionais, quer inseridas no Direito Comum, quer no Direito Especial, as disposições hospedeiras de normas limitativas da liberdade bem como da vida, da segurança e da propriedade, que são os bens jurídicos tutelados no art.5º, caput, da Constituição Federal ), das quais não se excluem nem aquelas inspiradas na higiene, no bem geral ou local ( Carlos Maximiliano, ob. cit. págs. 229 e 231 ). E quem ignora que toda disposição excepcional se interpreta estritamente? Resulta na seqüência que, quando se pudesse falar de regime mais favorecido à Administração Pública, a mais valia teria que ser interpretada sem ampliações ou generosidades, e, pois, sem o caráter de princípio geral ou de atributo do ato administrativo. Sob nova perspectiva, considere-se a liberdade assegurada ao indivíduo como direito subjetivo público oponível ao Estado. Sabe-se que a regra geral é a tutela da liberdade, de tal modo que, na dúvida, é em seu favor que se decide. Com efeito, prevaleça a doutrina do direito natural, perante a qual os homens nascem livres e iguais em direitos, prevaleça o positivismo jurídico, que a recusa, haverá sempre uma esfera livre de toda a ingerência, uma ausência de prescrições que obriguem a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, configurando-se com isso o mínimo de liberdade a que aludia Kelsen, na sua Teoria Pura do Direito . É conhecido o seguinte trecho: “ ... Na medida em que a conduta de um indivíduo é permitida no sentido negativo - pela ordem jurídica, porque esta a não proíbe, o indivíduo é juridicamente livre” ( Armênio Amado, Editor, Sucessor Coimbra, 3º edição, pág.72). Em essência, esse é o princípio enunciado no art.5º, inciso II da Constituição Federal. No caso, bem se admite que esse direito de liberdade signifique que o indivíduo está livre do uso da coação por outra pessoa, qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que não o Estado. Ou seja: nenhuma norma válida impõe ao indivíduo o dever de suportar que a Administração Pública incida unilateralmente sobre a sua esfera jurídica, constrangendo-o com o deslocamento do ônus de acionar. De sorte que a sua segurança, em que se exprime tal liberdade, apenas admite exceções fundadas em menção explícita de alguma situação cujo resguardo seja incompatível com o recurso prévio às vias judiciais, desde que cumpridamente demonstrado, como no caso do uso administrativo de bens da propriedade privada para atender a iminente perigo público ( art.5º, XXV ). Em casos desse jaez, a iminência do perigo afastaria irremissivelmente a assistência judicial antecipada. Pelo que a ordem jurídica tolera situações em que cada um possa defender pelos seus próprios meios a sua esfera de interesses, desde evidentemente que o faça com moderação, com o que consente a autotutela , ou autodefesa. Nada porém que signifique uma presunção de validade dos atos administrativos, determinante da transferência do ônus de acionar. Aqui, não se defere mais à Administração do que ao indivíduo. Na verdade, nenhum mal haveria em dizer que a ordem jurídica busca dispensar tratamento igual a situações idênticas. Do contrário, o que restaria seria a discriminação injustificada, desarrazoada e censurável. Se o bem ou o valor está em situação de risco que não pode ser evitado ou impedido de propagar-se salvo por uma atuação imediata e autônoma do seu titular ou de quem o administre, então, não teria o menor cabimento liberar-se o indivíduo e tolher-se o Estado-Administração. O fundamento é, portanto, outro que não a presunção de validade. Algo assim como uma atuação necessitada, ou em estado de necessidade, ou em legítima defesa ou no exercício regular de um direito, a única capaz de evitar a irrupção ou a propagação de danos à coletividade. Insisto: a ordem jurídica compõe um esquema de proteção e defesa de direitos, subjetivos privados ou públicos, não importa. Desse esquema fazem parte, ordinariamente, a invocação de proteção ao Estado, que a deve prestar por órgãos próprios e meios específicos, e, extraordinariamente, a defesa pessoal ou autodefesa. Esta, por ser excepcional, por configurar situações de exceção ao regime normal, tem expressa previsão legal e suas manifestações mais conhecidas são a legítima defesa, o estado de necessidade (este cai como luva encomendada, porque implicando em fazer prevalecer um interesse de maior valor sobre um de menor, na impossibilidade da sua coexistência, garante a supremacia do interesse público sobre o meramente individual ) e o exercício regular de um direito, com o que retira-se o caráter antijurídico da atuação que, sob diversas circunstâncias, seria ilícita. Assim, por exemplo, o desforço imediato, atribuído por lei ao possuidor turbado ou esbulhado. Contudo, vale a repetição, a proteção dos direitos se dá comumente por via de um processo instaurado mediante a propositura de ação adequada, um pedido de tutela judicial ao Estado para obrigar outro a um comportamento conforme ao Direito. É de direito de ação que se trata, pois. E esta ação é apresentada a órgãos do Poder Judiciário aos quais a Constituição reserva competência para a solução dos litígios ( art. 5º, inciso XXXV ). Quem a deve propor é o titular do direito resistido e não aquele que resiste a pretensão. A partir daí, onde se encaixa o regime da autodefesa, com a transferência do ônus de acionar para o administrado, que se pretende atribuído como regra geral à Administração? Que dispositivo agasalha um regime diferenciado à Administração? Afinal, não é certo que ( embora a propósito da iniciativa reservada do processo legislativo ) o Supremo Tribunal Federal já assentou que matéria constitucional de direito estrito “não se presume, nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que...deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” ( sem o destaque em negrito, ADIN 724-6, no DJU de 27/4/20011 )? Sob diversa ótica, criam, observam e aplicam a ordem jurídica assim a Administração como os administrados. Em havendo uma presunção de validade para a Administração, isso significaria que para os indivíduos a presunção seria contrária? Sim, porque não é de privilégio ou prerrogativa que se trata? Estes estariam presumidamente praticando atos inválidos? Teria cabimento tal presunção diante de Constituição que tem como primeiro artigo de fé a dignidade da pessoa humana? Agora, resumindo: a) a Constituição Federal enfatiza a separação de Poderes como elemento característico do Estado Democrático de Direito; b) atribui ao Poder Judiciário o exercício da jurisdição em cujo âmbito se acha comportado, simultaneamente, o controle da legislação e da Administração; c) o exercício da jurisdição pelos órgãos judiciários demarca para os indivíduos uma zona de liberdade, expressiva de segurança, que os torna de ordinário livres de qualquer outra tutela diversa da judiciária; d) ao garantir o indivíduo com o exercício da jurisdição, a Constituição Federal o resguarda contra qualquer tentativa de a Administração fazer valer pelos seus próprios meios as suas razões, cuidando de defender-se por si mesma quando naquele encontre resistência; e) entretanto, como nunca é possível excluir totalmente a autodefesa, a Administração pode tutelar os seus próprios interesses sempre que seja este o único modo de satisfazer adequadamente os valores albergados na ordem jurídica como dignos de acatamento e resguardo; f ) enfim, essa autotutela deverá estar expressa em lei, a exemplo do que sucede no Direito Civil e no Direito Penal com os indivíduos, tolerando-se que à falta de norma expressa se faça uso da analogia, como processo de integração do Direito. Portanto, longe de ensejar aceitação pacífica, a presunção de validade ( ou mais rigorosamente o deslocamento do encargo de acionar ), e os seus consectários, inclusive o ônus da prova e a autotutela, hão de ser revistos e desqualificados como princípios gerais do Direito Administrativo brasileiro, ou atributo do ato administrativo, sobretudo quanto se tratar de impor sanções aos administrados. O mais que se pode condescender é com a sua aplicação em caráter excepcional e, ainda assim, quando previstas em lei e diante de situações comprovadamente incompatíveis com a natural demora dos trâmites judiciais, assim como ocorre com a requisição de bens de propriedade privada, diante de perigo público iminente, que é o caso do art. 5º , inciso XXV, da Constituição Federal. JURISPRUDÊNCIA Escola Superior da Magistratura de Sergipe ESTADO DE SERGIPE 9ª VARA CRIMINAL Processo nº 982090256-1 Autora: Justiça Pública Réu: Cristiano Alves Santos Vítimas: Jackson Paixão Santos Gildo Tavares de Souza Incursão: art. 157, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA NA SUA MODALIDADE TENTADA - Art. 157, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA - Art. 10, “caput”, da Lei 9.437/97 - Conflito aparente de normas apontadas pela doutrina Aplicabilidade do Princípio da Subsidiariedade - Ne bis in idem - Lex primaria derrogat legi subsidiariae - Impossibilidade de se conjugar simultaneamente o art. 10, “caput”, da Lei 9.437/97 com aqueloutro previsto no § 2º, inciso I do art. 157 do Código Penal - Ação física presente que consiste na tentativa de subtração de coisa móvel por meio de violência ou grave ameaça - Sumário sob rígido contraditório, que elegeu somente a prática de crime de roubo qualificado - Existência nos autos de elementos convincentes da culpabilidade do denunciado por via de prova completa, plena e induvidosa - Denúncia a que se dá procedência em parte, para fins de condenação. Vistos e bem examinados. O Ministério Público do Estado de Sergipe, por intermédio de sua representante com exercício e titularidade nesta Vara Criminal, instaurou a presente Ação Penal Pública Incondicionada, com escopo nos argumentos fáticos e jurídicos delineados no procedimento administrativo inquisitorial, em face de CRISTIANO ALVES SANTOS, já identificado na peça exordial, pela prática de fato típico definido no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, e art. 10, caput, da Lei nº 9.437/97, combinados com o art. 69 do Codex Repressivo. Irroga-lhe a persecutio criminis de fls 02 ut 04 dos autos, a prática dos delitos sob os nomem juris de roubo qualificado e porte ilegal de arma, tendo como sujeitos passivos, com relação ao primeiro delito, as vítimas Jackson Paixão Santos e Gildo Tavares de Souza, e quanto ao segundo delito, a coletividade. Aduz a proemial que na madrugada do dia 29-11-1998, nas cercanias da Rua Serafim Bonfim, Bairro Santos Dumont, nesta Capital, o denunciado Cristiano Alves Santos “tentando assaltar o motorista e o cobrador da Empresa Graça, apontou um revólver para Jackson Paixão Santos, dizendo-lhe que era um assalto e tomando-lhe a bolsa, quando, aproveitando que o denunciado desviara os olhos para a vítima Gildo Tavares de Souza, a primeira vítima entrou em luta corporal com o assaltante, tomando-lhe a arma, momento em que vários populares acudiram, segurando o denunciado, sendo o mesmo preso em flagrante delito, não conseguindo, destarte, consumar seu intento”(sic). Afirma ainda a denúncia que o denunciado era fugitivo da Penitenciária de Aracaju - PEA, fuga ocorrida em julho do ano transato, uma vez que já se encontrava processado pela Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE, chegando o mesmo a confessar que no ato do assalto encontrava-se drogado. Alega mais que a arma que ilegalmente portava o denunciado era um revólver cal. 32, adquirido pelo mesmo na feira das trocas da Praça da Cruz Vermelha, nesta Capital. A proemial foi recebida em 02-03-1999, oportunidade em que foi designada audiência de qualificação e interrogatório do denunciado Cristiano Alves Santos para o dia 10-03-1999, às 13:30 horas. Em sede de qualificação e interrogatório, o denunciado negou a autoria do delito, alegando que tudo não passou de uma discussão travada entre o mesmo e a vítima. No tríduo legal que se seguiu, foram apresentadas as alegações preliminares subscritas pelo ilustre Defensor Público com assento nesta Vara Criminal, na pessoa do Dr. Raimundo José Oliveira Veiga, oportunidade em que protestou pela ouvida das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia. Na instrução criminal, em uma única assentada foi auscultada apenas uma testemunha requerida por ambas as partes, bem como tomadas por termo as declarações das duas vítimas. No prazo diligencial enunciado no art. 499 do Código de Processo Penal, Ministério Público e Defesa Técnica nada requereram, dando-se por satisfeitos com a dilação probatória já colhida. Em alegações finais, a ilustre representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, por entender que os autos trazem provas suficientes à condenação do réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, c/c art. 14, II, do mesmo diploma, em concurso com o art. 10 da Lei 9.437/97. A defesa, por seu turno, em detalhado arrazoado, pugnou pela absolvição do denunciado. Os autos volveram-me conclusos para sentença. Em apertada síntese é o relatório. DECIDO Visam os presentes autos de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual se procura apurar a responsabilidade penal do indigitado CRISTIANO ALVES SANTOS, pela prática delitiva de roubo qualificado pelo emprego de arma em concurso material com o porte ilegal de arma, por ter infringido o que dispõe o art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal e art. 10, “caput” da Lei 9.437/97, c/c o art. 69, do Código Penal. FUNDAMENTOS REITO DO ROUBO DE FATO E DE D I- Sobre o tema, com muita percuciência e em luminosa interpretação, elucidativa é a lição do Professor Weber Martins Batista: “Roubo é a subtração de coisa móvel alheia, mediante violência, grave ameaça, ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima”. É um delito complexo, em que o Código Penal protege a posse, propriedade, integridade física, vida, saúde, liberdade individual e o patrimônio, e para a sua configuração exige-se o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo específico, consumando-se somente quando a res furtiva sai da esfera de vigilância da vítima. Ressalte-se que para caracterizar o delito de roubo, o sujeito deve executar o fato mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A violência que caracteriza o roubo pode ser própria, quando há o emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato, ou imprópria, quando há o emprego de qualquer outro meio descrito na norma incriminadora, abstraída a grave ameaça. O roubo qualificado, previsto no § 2º, inciso I do preceptivo 157, do Código Penal, ou seja, o emprego de arma, denota não só a maior periculosidade do agente, como uma ameaça maior a incolumidade física da vítima. Arma, no sentido jurídico, é todo o instrumento que serve para o ataque ou defesa, hábil a vulnerar a integridade física de alguém. DO PORTE ILEGAL DE ARMA Com o advento da Lei Federal nº. 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, que dentre outras coisas instituiu o Sistema Nacional de Armas e estabeleceu condições para o registro e para o porte de arma de fogo, erigiu a antiga contravenção penal do porte de arma para a categoria propriamente de crime, com penas balizadas, para a figura mais simples, de 01 (um) a 02 (dois) anos de detenção, além da previsão da pena de multa. O tipo penal de porte ilegal de arma contém dezoito figuras diferentes, consistentes em possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob a guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É, na verdade, um tipo misto alternativo, no qual a realização de mais de um comportamento pelo mesmo agente implicará sempre um único delito, por aplicação, como é obvio, do princípio da alternatividade. O objeto jurídico tutelado pelo Estado, no criem em tela, é, em termos mais abrangentes, a incolumidade pública, expressão que traz em seu bojo a garantia e preservação do estado de segurança, a integridade corporal, vida, saúde e patrimônio da coletividade em geral contra os possíveis atos que a exponha a perigo. Trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, comum, formal, de perigo coletivo (comum) e abstrato (perigo presumido). É formal, e não de mera conduta, porque na prática é possível que ocorra o perigo concreto, ou seja, pode ser que em uma dada situação fática a conduta do agente venha a efetivamente colocar em real perigo a vida, a integridade corporal ou o patrimônio de outrem. Ao contrário, no crime de mera conduta, não se admite em hipótese alguma um resultado naturalístico. É de perigo abstrato porque a própria lei faz uma presunção de forma absoluta quanto à existência do perigo, sem admitir prova em contrário (presunção juris et de jure). No perigo concreto, ao reverso, exigise a sua demonstração efetiva no mundo dos fatos, ou seja, é preciso que o comportamento do agente gere uma possibilidade concreta de destrui- ção do bem jurídico tutelado. É crime comum porquanto pode ser praticado por qualquer pessoa, e tem como sujeito passivo a coletividade, ou melhor, os cidadãos indeterminadamente. Tem por elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e espontânea de possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob a guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem licença da autoridade. Por fim, o crime de porte ilegal de arma tem por objeto material a arma de fogo de uso permitido, conceituada, nas palavras do Prof. Fernando Capez, como “aquele engenho mecânico que cumpre a função de lançar à distância com grande velocidade corpos pesados, chamados projéteis, utilizando a energia explosiva da pólvora (carga de lançamento ou projeção)”. Do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma - Do crime de porte ilegal de arma - Conflito aparente de normas BREVE RELATO SUBSIDIARIEDADE: DO PRINCÍPIO DA Nas bem lançadas palavras do insigne Professor Damásio Evangelista de Jesus, “Há relação de primariedade e subsidiariedade entre normas quando descrevem graus de violação do mesmo bem jurídico, de forma que a infração definida pela subsidiária, de menor gravidade que a da principal, é absorvida por esta: Lex primaria derogat legi subsidiariae.” Assim, a figura típica subsidiária esta contida na principal, como acontece, in exemplis, com o tipo penal do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, que está incluída, como se vê, na figura típica do crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo antecedente. Dividem os autores em dois tipos de subsidiariedade: a explícita e a implícita. A primeira, também denominada expressa, ocorre quando a própria norma, explicitamente, subordina a sua aplicação à não-aplicação de outra, punida com maior severidade. Podemos citar como primeiro exemplo, encontrado na própria Lei 9.437/97, o crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 10, § 1º, inciso III, anteriormente definido como contravenção penal na LCP. A parte final desse dispositivo ressalva expressamente que a configuração dessa infração depende de o fato não constituir outro crime mais grave. “III - disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o fato não constitua crime mais grave.” (grifo nosso) Assim sendo, com a transformação da contravenção penal do disparo de arma em crime, punido com detenção de 01 (um) a 02 (dois) anos e multa, este passou a ter maior gravidade do que as lesões corporais de natureza leve e a periclitação à vida ou à saúde de outrem, previstos respectivamente nos arts. 129 e 132 do Código Penal, passando a constituir norma primária em relação às lesões e à periclitação, normas subsidiárias, e por conseguinte absorvendo-as. Outros exemplos poderiam aqui serem enumerados, a exemplo do que ocorre com os artigos 21, 29 e 46 da Lei das Contravenções Penais, e artigos 238, 239, 240 e 307, todos do Código Penal. A subsidiariedade implícita, e aqui importa ao caso sub judice, também denominada tácita, por seu turno, ocorre quando uma figura típica funciona como elementar ou circunstância legal específica de outra, de maior gravidade punitiva, de forma que esta exclui a simultânea punição da primeira: ubi major minor cessat. Como preleciona Damásio E. de Jesus, na subsidiariedade implícita, as elementares de um tipo penal estão contidas em outro, como essentialia ou circunstâncias qualificadoras. Denomina-se implícita porque a norma dita subsidiária não determina, expressamente, a sua aplicação à não ocorrência da infração principal. O crime de dano, por exemplo, é norma subsidiária em relação ao delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, uma vez que os elementos típicos do dano funcionam como circunstância qualificadora do furto. O mesmo acontece com o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cujos elementos típicos funcionam como elementares do crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do mesmo Codex. Essa mesma relação de primariedade e subsidiariedade acontece com o crime de roubo agravado pela circunstância do uso de arma de fogo e o delito do porte ilegal de arma. Este último ilícito funciona, na verdade, como uma circunstância legal específica do primeiro, de forma que, segundo o princípio invocado, o crime de menor gravidade é absor- vido pelo de maior gravidade. Os bens jurídicos tutelados pelo nosso direito são os mesmos para os crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma e porte ilegal de arma, quais sejam: a integridade física, vida, saúde, liberdade individual, patrimônio, posse, etc., havendo por conseguinte um conflito aparente de normas, somente solucionado através da aplicação dos princípios da especialidade, subsidiariedade e consunção. Por estas razões é que não se pode reconhecer a configuração do crime de roubo qualificado pelo uso de arma em concurso material com o porte ilegal de arma, porque este já faz parte daquele como circunstância legal específica. Outrossim, não é dado atacarmos um só fato com a aplicação de duas normas penais incriminadoras, pois se assim procedêssemos estaríamos a contrariar frontalmente o princípio maior do “ne bis in idem”. No mérito, da análise aprofundada dos autos infere-se que não sobejam dúvidas a cerca da participação do denunciado Cristiano Alves Santos no delito de roubo perpetrado mediante o emprego de arma de fogo em face das vítimas Jackson Paixão Santos e Gildo Tavares de Souza. É o que se extrai do próprio auto de prisão em flagrante delito, no qual o denunciado confessa a prática delitógena, bem como das declarações das vítimas às fls. 109 usque ad 115. Anotem-se as declarações do réu Cristiano Alves Santos quando inquirido na cercania policial, às fls. 05, disse: “... que, comprou a arma nas troca da Praça Cruz Vermelha, para se defender, so que no dia de ontem pela primeira vez praticou o assalto contra o cobrador e o motorista, ao chegar próximo as vitima disse que se tratava de um assalto, dizendo ainda que se as vitima não quisesse entregar o que foi pedido, ia embora sem praticar o delito, satisfeito se tivesse acontecido o delito ou não.(...) PERGUNTADO: Se escolhia as suas vítimas para praticar o assalto. RESPONDEU: Diz que não, pois viu as vitimas trafegando, e foi ao encontro da mesma para aborda-las e roubar...” Apesar de confessado a autoria do delito quando autuado em flagrante delito, o acusado Cristiano Alves Santos, em sede de qualificação e interrogatório realizado neste Juízo, negou a participação no delito, fato aliás que se tem observado como regra no processo penal, onde o acusado confessa o crime perante a Autoridade Policial e nega quando do interrogatório judicial. Não obstante a retratação feita, em nenhum momento relatou o denunciado acerca de eventual coação sofrida na fase administrativa, o que de logo e por conseqüência afasta a hipótese de aceitabilidade da retratação. Neste sentido já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, como adiante se vê: “ Apelo da Justiça Pública. Furto. Confissão espontânea na polícia. Retratação em juízo. Prova. Reforma da decisão. A confissão espontânea na fase inquisitorial só não deve ser aceita quando retratada em Juízo se restar demonstrado que tal confissão se deu por coação. Em Juízo, apesar da retratação, afirmaram os réus que não sofreram nenhuma espécie de coação na polícia. Sendo as provas constantes dos autos suficientes, o decreto condenatório se impõe. Apelo provido. Denúncia procedente em parte. Decisão unânime.” (TJSE, Ac. unan. nº. 0794/93, Rel. Des. Fernando Ribeiro Franco) Igual entendimento é acolhido pelo Pretório Excelso, senão vejamos: “De acordo com a orientação do STF, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas ao contrário, perfeitamente ajustável aos fatos apurados” (R.Crim. 1261 - FJU 2-4-76 pág.225) Anotem-se, por constituírem verdadeira prova no processo penal, as declarações da vítima Jackson Paixão Santos, às fls. 109, disse: “...Disse que no dia do fato por volta da meio noite, após prestar contas como cobrador da viação Graça, saiu do escritório na companhia de se colega motorista de nome Gildo em direção a um ponto de ônibus próximo. Disse que no percurso presenciou o denunciado passar em sentido contrário lhe olhando para em seguida olhar para atras e mais uma vez presenciar o denunciado retornar na sua direção passando normalmente pelo declarante para em seguida ele chegar na esquina parar e após olhar para os lados com o intuito de ver se vinha alguma pessoa e em seguida vir em sua direção quando pressentindo a iminência de um assalto disse ao seu colega Gildo “Gildo vamos ser assaltado agora” para em seguida o denunciado de revolver em punho anunciar o assalto pedindo ao declarante a sua bolsa. Disse que entregou normalmente esperando o denunciado lhe pedir outros objetos mas não pediu e como Gildo fez algum movimento o denunciado ao olhar para Gildo foi surpreendido pelo declarante que travou luta corporal com o denunciado inclusive ajudado por Gildo conseguindo tomar o revólver bem como a sua bolsa de volta para em seguida o denunciado sair caminhando. Neste momento com a presença de policiais civis e após informar ocorrido o policiais saíram em perseguição culminando com a prisão do denunciado. Disse que reconhecer o denunciado presente como sendo o autor do assalto. Disse que não houve nenhum prejuízo patrimonial e que o fato não se consumou porque reagiu ao assalto (...) Disse que a arma apreendida na mão do denunciado era um revólver calibre 32...” A vítima Gildo Tavares de Souza, às fls. 111, disse: “...Disse que no dia do fato por volta da meia noite ao saírem do escritório da Viação Graça em direção a um ponto de ônibus próximo, foram surpreendidos pelo denunciado que passava nas imediações em uma bicicleta quando o denunciado sacou de um revolver anunciando que se tratava de um assalto pedindo ao seu colega cobrador Jackson a bolsa do mesmo. Disse que no momento em que o denunciado pagava a bolsa, olhou para trás tentando localizar o declarante para neste momento Jackson se agarrar com mesmo travando-lhe luta corporal enquanto o declarante interviu ajudando Jackson conseguindo desarmar o denunciado para em seguida o mesmo evadir-se do local deixando a bicicleta quando o denunciado fugiu do local para logo em seguida ser preso por policiais civis. Disse que a arma utilizada pelo denunciado era um revolver calibre 32. Disse que reconhece o denunciado presente como sendo o assaltante...” Não restam mais dúvidas a cerca do valor probante das palavras do ofendido. Constituem elas prova como quaisquer daquelas outras capituladas no Título VII do Código de Processo Penal, não havendo também que se falar em hierarquia, devendo serem valoradas como são as demais. Com mais razão, tem firmado a jurisprudência pátria que nos crimes de roubo as palavras do ofendido constitui prova extremamente valiosa, como bem diz o seguinte aresto: “No campo probatório a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT 484/320) Por fim, em análise à prova dos autos, anote-se o depoimento da testemunha Robson Feitosa Andrade, às fls. 113: “Disse que no dia do fato encontrava-se de plantão quando foi acionado pelo Copom através do ramal 190 para comparecer nas imediações da rua Serafim Bonfim no bairro Santos Dumont sob a alegação de que ali teria ocorrido uma tentativa de assalto e que o assaltante já se encontrava detido no local por populares. Disse que ao chegar no local encontrou o denunciado detido para em seguida conduzir-lhe ate a Delegacia de Plantão onde ali foi lavrado auto de prisão em flagrante. Disse que a confecção do flagrante de iniciou por volta da 1 hora da manhã e só terminou por volta do meio dia tendo em vista o denunciado dificultar a sua identificação(...) Disse que a arma foi entregue ao delegado plantonista...” Como é cediço, no crime de roubo próprio a consumação se dá tão somente quando a res furtiva é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranqüilo, ainda que passageiro, do agressor, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto quando iniciada a execução do crime as vítimas, aproveitando-se de uma pequena distração do denunciado, insurgiram-se contra o mesmo e tomaram-lhe de volta o bem violentamente apoderado. Inobstante não ter-se consumado o delito, no caso sub oculum, extraindo-se a interpretação dos elementos contidos nos autos, e submetidos à acurado exame, confrontando fatos e contrastando circunstâncias, daí converge a convicção de que o denunciado agiu com animus dolandi, que no entender de Ada Pelegrini Grinover “... é a vontade livre e consciente de se praticar um ato que se sabe contrário a lei”. Não constitui ser tarefa gravosa afirmar que na instrução criminal a acusação intentada contra o denunciado ficou clara, dando suporte satisfatório à prova coligida nos autos. O conjunto probatório é uniforme em apontar como sendo o denunciado o responsável pela prática delitiva de roubo qualificado pelo emprego de arma na sua modalidade tentada, vez que a prova colhida na instrução criminal é escorreita e indene de dúvidas. É cediço que para uma condenação é indispensável que as provas se mostrem, nos autos, com nitidez e firmeza sem qualquer tergiversação, como faz espelhar o caso dos autos. Ademais, registre-se, in oportuno tempore, os péssimos antecedentes do denunciado Cristiano Alves Santos, ora processado perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, já pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, indivíduo dotado de um alto grau de periculosidade, revelado, dentre outros tantos motivos, pela frieza e normalidade com que pratica atos “anti-sociais” geradores quase sempre de imensa repercussão e clamor público, abalando os alicerces da segurança e tranqüilidade da nossa comunidade. Frise-se ainda que o acusado possui uma má índole, com personalidade predisposta e voltada para o crime, cujos limites para por cobro às suas condutas criminosas somente podem ser encontrados nas grandes edificações dos cárceres. C O N C L U S à O Ao lume do expositado, e por tudo mais do que dos autos consta, sou por JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, a Pretensão Punitiva Estatal para CONDENAR o denunciado CRISTIANO ALVES SANTOS, devidamente qualificado na peça de intróito, ao teor do que estabelece o contemplado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, e em consonância com o art. 387 do Código de Ritos, à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que reduzo de 06 (seis) meses face a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I do Código Penal, ou seja, ser o denunciado menor de vinte e um anos na data do fato, perfazendo um total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; considerando ainda ter o imputado confessado espontaneamente a autoria delitiva perante a autoridade policial, reconheço a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, reduzo de 06 (seis) meses, perfazendo um total de 06 (seis) anos de reclusão, que reduzo de 1/3 (um terço) em virtude da causa geral de diminuição da pena previsto no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, perfazendo um total de 04 (quatro) anos de reclusão, que acresço de um terço (1/3) face a circunstância especial de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do Codex Repressivo, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno-a em definitiva por não existirem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, e 15 (quinze) dias multa, que fixo o valor unitário em um trigésimo (1/30) do salário mínimo devidamente atualizado, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto, tudo em atenção ao contemplado no art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, sopesadas as apreciações dos artigos 49, 59 e 68, todos do mesmo Codex. Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade ora aplicada em restritivas de direito por encontrar óbice no que dispõe o art. 44, incisos I e III do Código Penal. Deixo ainda de expedir Mandado de Prisão contra o réu Cristiano Alves Santos, tendo em vista o mesmo encontrar-se em estado de flagrância delitiva desde 29-11-1998, ora recolhido à Casa de Detenção de Aracaju. Proceda-se a detração da pena, em cumprimento ao disposto no art. 42 do Código Penal. Isento-o das custas processuais, por o réu encontrar-se sob o pallio da lei. Adscreva com trânsito em julgado o seu nome no Livro de Rol dos Culpados, observando-se as cautelas do art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal. Expeçam-se informações estatísticas, e quando oportuno encaminhem-se os autos ao Juízo das Execuções Criminais, para o que dispõe a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984. P.R.I.C. Aracaju, 06 de outubro de 2001. RUY PINHEIRO DA SILVA , Juiz de Direito * Sentença mantida em grau de recurso. ESTADO DE SERGIPE 9ª VARA CRIMINAL Processo nº 047/99 Autora: Justiça Pública Vítima: Andreza Silva dos Santos Réu: Marcelino Augusto da Silva Incursão: Art. 213, caput, c/c os arts. 224, alínea “a” e 71, caput, todos do Código Penal, com a redação da Lei 8.072/90 Estupro Fícto - Inadmissibilidade de innocentia consilii - Presunção juris tantum - Flexibilidade na interpretação de norma legal - Ficção jurídica conflitante com os padrões sociais e morais da atualidade - Interpretação casuística do art. 224, alínea “a”, do Código Penal - Inocorrência de culpabilidade - Absolvição que se impõe -Aplicabilidade do perceptivo 386, inciso IV do Código de Ritos. Vistos etc. O Ministério Público, através de seu representante com exercício e titularidade nesta Vara Criminal, instaurou a presente Ação Penal Pública Incondicionada, com escopo nos argumentos fáticos e jurídicos delineados no procedimento administrativo de caráter inquisitório, contra MARCELINO AUGUSTO DA SILVA, devidamente qualificado no in fóllio, pela prática de fato típico definido no artigo 213, caput, do Código Penal. Irroga-lhe a persecutio criminis de fls. 02 ut 03 dos autos, a prática do delito sob nomem juris de estupro, praticado contra a vítima Andreza Silva dos Santos, ocorrido em abril de 1992. Narra a peça denunciatória, que denunciado e vítima namoravam na porta desta última com o consentimento da sua mãe, quando foram flagrados dentro do veículo do denunciado, em posição suspeita, com as vestes baixas. A proemial foi recebida em 24.11.92, sendo designado o dia 03.12.92, para se proceder a audiência de qualificação e interrogatório. Vieram aos autos no tríduo que se seguiu, as alegações preliminares subscritas pelo Bel. Everaldo Lopes Júnior, conforme se infere documento de fls. 70 ut 71 dos autos. Na instrução criminal, em 05 (cinco) assentadas, foram ausculta- das 07 (sete) testemunhas e 04 (quatro) declarantes, sendo 03 (três) requeridas pelo elenco ministerial e 04 (quatro) requeridas pela defesa. O prazo diligencial, enunciado no art. 499 do Código de Ritos, transcorreu in albis. Em alegações finais, entendeu o Dr. Promotor de Justiça, não ficarem comprovadas a tipicidade e via de conseqüência prejudicadas a materialidade e autoria, concluindo pela absolvição do denunciado, face a prova carreada aos autos não fornecer suporte satisfatório para uma condenação. A ilustrada defesa, comungando com o pensamento do Dr. Promotor de Justiça, requer a absolvição do denunciado. Os autos volveram-me conclusos para sentença. Eis no essencial o relatório. D E C I D O Visam os presentes autos de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual procura-se apurar a prática delitiva de estupro, praticado por Marcelino Augusto da Silva, por ter infringido o que dispõe o art. 213, caput, combinado com os arts. 224, alínea “a” e 71, caput, todos do Código Penal, e com redação da Lei 8.072/90. F U N D A M E N T O S D E F A T O E DE D I R E ITO No caso sub ocullum, extraindo-se da interpretação dos elementos contidos nos autos, e submetidos à acurado exame, confrontando fatos, contrastando circunstâncias, daí converge a convicção de que o denunciado não agiu com animus dolandi. No contraditório penal, ficou demonstrado ser a vítima, jovem portadora de uma vida sexual ativa e experiente, afeita a lazer inadequado para pessoa da sua idade. No obstante, nada além destes fatos noticiam os autos, prova cabal, indispensável, para se presumir verdadeiras as informações trazidas no bojo dos autos. Na verdade ao término da instrução criminal, a acusação intentada contra o denunciado, ficou nebulosa, embaçada e sem suporte satisfatório para uma condenação. É cediço que para uma condenação é indispensável que a acusa- ção se mostre nos autos com nitidez e firmeza, sem qualquer tergiversação. Por indícios, presunções ou suspeitas, ninguém pode ser condenado em nosso sistema jurídico penal. Perlustremos os elementos probatórios: prova direta, indícios e circunstâncias. Anote-se as declarações de Nelma Maria da Silva Santos, às fls. 91 dos autos, disse: “... que conheceu a vítima e que esta estava acompanhada de sua mãe, quando foi conversar com a mãe do denunciado, e que estavam presentes a esta conversa um irmão do denunciado e uma empregada doméstica de nome Gilza, quando a mãe da vítima foi dar ciência dos fatos a mãe do denunciado...que a mãe do denunciado perguntou a vítima Andreza, se antes de namorar seu filho já teria sido desvirginada por outro namorado e que na época este era noivo de outra moça...quando a vítima Andreza confirmou para a mãe do denunciado dizendo que na verdade teria sido desvirginada por outro namorado de nome Ricardo...que a mãe da vítima ficou surpresa, retirando-se da casa do denunciado e batendo na sua filha, que entraram no fusca, continuando a mãe da vítima a agredi-la...disse ainda que as últimas palavras do companheiro da mãe da vítima foram: “Vamos embora, que aqui não temos mais nada para acertar...”. Gilza Pereira Santos, disse às fls. 99 dos autos: “...era faxineira na casa da mãe do denunciado, quando certa feita, a vítima acompanhada de sua mãe, e o companheiro desta, compareceram àquela residência para informar a dona Marili que o seu filho Marcelino teria tirado a sua filha Andreza...disse que dona Marili interrogou a vítima , para que Andreza dissesse a verdade e esta respondeu dizendo que na verdade não foi Marcelino quem a desvirginou e sim teria sido Ricardo quem a desvirginou...disse ainda que o companheiro da mãe da vítima pediu desculpas a Marcelino e aos presentes, chamando a sua companheira, mãe da vítima, e esta, pare irem embora, quando a mãe da vítima retrucando disse para Andreza - “Vamos embora vagabunda, puta safada.”...disse que o fato ocorreu na sala da casa do denunciado...disse que neste momento a vítima se fazia acompanhar de sua mãe e o companheiro desta...disse que Marcelino nunca propôs casamento para a vítima...”. Karina Muhler Drummond Pinto, às fls. 104 dos autos, disse: “...conhece denunciado e vítima, e sabe que Marcelino namorava com Andreza e que depois de um certo tempo soube pela própria vítima, que teriam terminado o namoro...que por várias vezes Andreza ia a casa da depoente, que fica próxima ao super mercado, onde trabalha o denunciado, para marcar encontro com o mesmo, e que depois de determinado tempo o denunciado já não demonstrava mais interesse em se encontrar com Andreza, mas por insistência dela ainda se encontravam...alega que Andreza se queixou de que Marcelino não mais lhe procurava e que a depoente lhe disse que isto estava acontecendo pelo seu comportamento vulgar...disse ainda que Andreza lhe confessou que antes de namorar Marcelino já teria sido desvirginada por um rapaz de nome Ricardo, que era quem organizava uma quadrilha de São João, e que Ricardo depois veio a ser proprietário de um colégio de nome Bom Pastor, situado no Bairro 18 do Forte...disse que Andreza apesar da idade era uma moça experiente e quando manteve relação sexual com Marcelino foi por sua própria vontade e nunca iludida...que o comportamento de Marcelino como homem, em relação às moças era normal e que a fama de Andreza no Bairro era de namoradeira...que Andreza, quando estava namorando com Marcelino, certa feita, próximo a Lavanderia Chineza, no Bairro onde moram, flagrou Andreza se beijando com um rapaz em uma bicicleta, e que no dia seguinte perguntou a Andreza porque ela namorando com Marcelino estava fazendo aquilo quando ela respondeu que estava fazendo aquilo com aquele rapaz para esquecer Marcelino...disse que este fato ocorreu por volta das 20:00 horas e que o local é calmo e pouco iluminado...que Andreza se encontrava com Ricardo quando ia buscar o seu irmão no colégio...disse que certa feita, por questão de ciúme e em uma festa, Marcelino foi embora querendo levar Andreza para casa, e esta não quis ir e com a ausência de Marcelino a mãe de Andreza lhe orientou para que procurasse esquecer Marcelino e conhecesse outros namorados e que nesta noite, Andreza se fez acompanhar de outro homem na festa e que dançaram a noite toda para muitas vezes Andreza e este homem se ausentarem e voltarem para a festa...” CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS Preleciona o mestre Heleno Cláudio Fragoso, que: “estupro é a posse por força ou grave ameaça, supondo dissenso sincero e positivo da vítima, não bastando recusa meramente verbal ou oposição passiva e inerte. É o constrangimento à cópula normal. Para que se configure o crime de estupro há de manifestar-se o dissenso, que é a oposição da vítima e deve ser sincera e positiva, manifestando-se por inequívoca resistência. Não basta a oposição meramente simbólica, por simples gritos ou passiva e inerte. A grave ameaça deve referir-se a determinado dano material ou moral, considerável, capaz de inibir a vontade da vítima. A ameaça e a violência precisam ser reais e graves não apenas presumidas”. Se a vítima alega, sem qualquer lesão, ter sido estuprada por um só homem, que se utilizou apenas de força física, suas declarações devem ser recebidas com reserva. No caso de violência ficta, tanto a doutrina como na jurisprudência, a tentativa é emprestar valor relativo e não absoluto à presunção. Assim a presunção pode ceder, por exemplo, se a vítima já era corrompida, aparentava idade superior pelo seu desenvolvimento. Portanto a presunção legal, contida no art. 224 do Código Penal não é absoluta, mas relativa. Segundo o magistério de Carnelutti, “o Magistrado não é obrigado em todo e qualquer caso aplicar as conseqüências jurídicas do fato presumido, pela simples verificação do fato indiciante, e estabelecer assim uma equivalência processual entre a prova do fato, sobre a qual a presunção se baseia, e o fato presumido, mas pode admitir, no caso particular, o uso de todo o meio de prova, para verificar a ausência de vinculação entre os dois fatos. Assim, a validade de presunção está condicionada à falta de prova contrária”. Num mundo de contínuas, profundas e radicais transformações, não se poderia, realmente, esperar que o Direito Penal, em matéria sexual, permanecesse numa postura de total indiferença e que continuasse a adotar conceitos (ou preconceitos?) já esgotados de significado. Teve, como é obvio, de adotar novas posições, de passar por um processo de recomposição e de reavaliação. Nos dias hodiernos, o Juiz, tem a obrigação de atentar e observar o que acontece em termos de mudanças e transformações da realidade social, e a partir daí, conjugar fatos e lei. No campo da liberdade sexual, é de evidência solar, que muita coisa mudou, pois o mundo e a sociedade mudaram. Entre os anos de 1940 (Publicação do Código Penal) e 1991 (primeira década final do século), muita coisa mudou. Vários acontecimentos transformaram o mundo. Guerras e conflitos localizados, mísseis, satélites, computadores de alta definição, etc. No campo das ciências humanas, a medicina avançou rapidamente, até a fecundação in vitro. A mulher, a duras penas, conseguiu crescer na sociedade, dimensionando o seu espaço. Ante tantas mudanças, o tema sexo, evidentemente não poderia continuar sendo tratado da mesma forma: um assunto proibido. Sexo, que para alguns, ainda continua um assunto proibido, é hoje uma realidade presente na sociedade, presente na vida das pessoas assunto que de um tempo para cá, passou a ser tratado com a maior e mais ampla liberdade, porque, é claro, se tudo muda, a visão das pessoas sobre tal tema também mudou. De tabu, tornou-se matéria curricular em algumas escolas. A família refere-se ao assunto sem tanto receio. Na mídia é objeto de amplas discussões. Verifica-se que é neste mundo transformado que se aplica ainda o mesmo Direito Penal de 50 (cinqüenta) anos atrás, sob o pretexto de proteger a liberdade sexual das pessoas. Determinar o conceito do que seja liberdade sexual das pessoas, não constitui tarefa gravosa. A dificuldade apresenta-se, em verdade, no momento de fixar à época do fato em que a auto-determinação sexual pode ser exercitada livremente. A conquista da liberdade sexual é um processo dinâmico, que pode sem dúvida, perfazer-se bem antes do limitar etário estabelecido pelo legislador. As leis brasileiras filiaram-se à corrente que relaciona a capacidade de auto-determinação sexual à verificação de um determinado marco etário. Superado o limite da idade, a pessoa tem a possibilidade de, livremente, exercer a sua sexualidade. Antes de tal faixa, mesmo tendo conhecimento a respeito de sua sexualidade, a vítima, não tem disponibilidade alguma sobre o próprio corpo, nem condições pessoais para repelir propostas ou agressões que lhe são endereçadas nesta esfera. Neste caso, seu crescimento para a prática sexual, é inválido, e se presume, por lei, que o agente atuou com violência. O Código Penal de 1890, em seu art. 772, presumiu em relação ao crime de natureza sexual, o cometimento com violência, “sempre que a pessoa ofendida for menor de 16 anos”. Cinqüenta anos depois, o Código Penal de 1940, reduziu este limite etário, estatuindo a presunção de violência só teria cabimento nos crimes sexuais, se a vítima tivesse idade inferior a 14 anos (art. 224, alínea “a” do Código Penal). É de se indagar sobre o que teria considerado o legislador de 1940, para efetivar a redução do limite etário da ofendida, passando a fixá-lo em 14 anos de idade, para a partir daí considerar que ela poderia dispor livremente de seu corpo para exercer a sua capacidade sexual? A resposta para estes limites ou redução, vamos encontrar na Exposição de Motivos ao Projeto de 1940, no seu item 70, de forma explícita: “com a redução do limite de idade, o projeto atende à evidência de um fato social contemporâneo, ou seja, a precocidade no conhecimento dos fatos sociais. O fundamento da ficção legal da violência no caso dos adolescentes é a innocentia consilii do sujeito passivo, ou seja, a sua completa insciência em relação aos fatos sexuais de modo que não se pode dar valor algum ao seu conhecimento”. Por estas razões o estupro por via de violência presumida, não tem caráter absoluto, ou seja, juris et de jure, admite portanto prova em contrário, ou seja, juris tantum, contudo cabe ao denunciado o ônus de provar que a menor vítima tinha discernimento e vida pregressa corrompida o bastante para elidi-la. C O N C L U S à O A vítima dizendo-se apaixonada pelo denunciado, alegou ter mantido relações sexuais com o mesmo, de livre e espontânea vontade, mas informa que quem a teria desvirginado não teria sido o denunciado Marcelino e sim Ricardo, fato este ocorrido muito antes de conhecer Marcelino. O que a lei penal tutela é a inocência, a ingenuidade, a inexperiência da menor, que não lhe permite conhecer a importância do ato para a qual é solicitada. Sem este conhecimento, não é lícito admitir um consentimento válido que estes pressupostos de qualidade não são encontrados como norma de conduta na pessoa da vítima. Andreza não é ingênua, é como todas as jovens da sua idade, sabem sobre sexo, vida conjugal elegendo os valores com os quais convivem, é fora de dúvida a ânsia de libertar-se da autoridade dos pais, as sujeição às normas comportamentais ditadas em casa, o desejo de autoafirmação, a busca de experiências, aventuras, tudo isso fruto de um crescimento acelerado que se nota nos adolescentes de hoje. “ O casamento tradicional já não fascina, e o meio social tolera e aceita as uniões de fato. Assim ocorre com os artistas das novelas, hoje com um amanhã com outro. Caem tabus, desaparecem fronteiras, é proibido proibir, o desafio, o risco, a aventura, tudo em escala vertiginosa.” in verbis: Ac da 3ª C Cr do TJRS - Acr 692.138.258 - Rel: Des. Moacir Danilo Rodrigues - j em 16.03.93. Em decorrência destes fatos, constatou-se que partiu da vítima a iniciativa ou a provocação do ato sexual, e que ela aderiu prontamente ao convite de caráter sexual; constitui um verdadeiro contra-senso entender que sofreu uma violência. Considera-se, portanto, a presunção de violência mais uma vez relativa e não lesiona o texto legal e permite colocar o Juiz em sintonia com a realidade em que está inserido. O Direito Penal é uma ciência dinâmica que evolui no tempo e no espaço e não opera por via de conjecturas. Ispo facto, sou por JULGAR IMPROCEDENTE a Pretensão Punitiva Estatal, e ABSOLVER o denunciado Marcelino Augusto da Silva, alhures qualificado nos autos, com escopo no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Dê-se baixa na distribuição. P.R.I.C. Aracaju, 15 de setembro de 2001. RUY PINHEIRO DA SILVA , Juiz de Direito * Sentença mantida em grau de recurso. ESTADO DE SERGIPE 9ª VARA CRIMINAL PROCESSO Nº 200220900144 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO REPRESENTADOS: ANDRÉ DE MELO BARROS COSME DOS SANTOS ANDRADE EDVÂNIO DOS SANTOS ANDRADE REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA Vistos e bem examinados. O Ministério Público, através do Promotor de Justiça do Patrimônio Público, instaurou Ação Penal Pública Incondicionada, com escopo nos argumentos fáticos e jurídicos delineados no Inquérito Civil e Ação Civil Pública, em face dos denunciados André de Melo Barros, José Balbino dos Santos Neto, Nailton dos Santos Andrade, Cosme dos Santos Andrade, Edvânio dos Santos Andrade, Sérgio de Paula Amaral, Neilton Costa da Silva e Hugo Amaral Freitas, todos devidamente qualificados na peça de intróito, pela prática de fatos típicos definidos na legislação penal e constantes da denúncia, requerendo as Custódias Provisórias somente dos denunciados André de Melo Barros, Cosme dos Santos Andrade e Edvânio dos Santos Andrade, sob a alegação de que os representados encontramse envolvidos em atos de improbidade administrativa junto à SECOM Secretária da Comunicação Social - em benefício de empresas privadas constituídas de forma fraudulenta pelo representado André de Melo Barros, tendo como sujeito passivo o Estado de Sergipe. Fundamenta ainda a pretensão requerida para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que os representados estão fora da Comarca de Aracaju, em local incerto e não sabido. Colaciona à denúncia os documentos avistáveis às fls. 18 ad usque 466. Da Prisão Preventiva Para a concessão de pedido de Prisão Preventiva, mister se faz a ocorrência dos pressupostos e fundamentos necessários à aplicação desta Medida Cautelar, quais sejam, fumus boni juris e o periculum in mora. Quanto ao primeiro verifica-se a sua ocorrência quando há prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Com relação ao segundo há de se verificar a garantia da ordem pública, da ordem econômi- ca, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que, existindo apenas um deles, opera-se a existência do periculum in mora. A prisão preventiva, strictu sensu, é a medida cautelar, constituída da privação de liberdade do acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou instrução criminal diante da existência dos pressupostos legais, a fim de assegurar os interesses sociais de segurança. É considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. A prisão cautelar é uma exceção ao Princípio do Estado da Inocência e só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por estas razões, o ordenamento processual penal deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária, segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais. A prisão preventiva tem características rebus sic stantibus e poderá ser decretada em qualquer fase da persecuto criminis, desde que encontrem-se presentes os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Ritos. Do Princípio do Estado da Inocência A Carta Magna em vigor e promulgada em 05 de outubro de 1988, traz em seu Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, entre outros, os direitos e deveres individuais e coletivos elencados no art. 5º, incisos I a LXXVII e os parágrafos 1º e 2º, mais precisamente no inciso LVII, onde assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que repousa como direito-garantia fundamental o Princípio do Estado da Inocência. A ordem constitucional ao privilegiar o Estado da Inocência, busca proteger um dos bens tutelados mais caros: a liberdade, em especial a física, que é alcançada pela tutela penal como necessidade justificada somente por via de sentença penal condenatória. Da garantia da aplicação da lei penal No caso sob exame, extraindo-se da análise dos elementos contidos nos autos e submetidos a acurado exame, o ilustre Representante do Parquet, fundamenta a representação das Custódias Provisórias dos denunciados André de Melo Barros, Cosme dos Santos Andrade e Edvânio dos Santos Andrade, no tocante apenas a garantia da aplicação lei penal, sob a alegação de que os representados estão fora da Comarca de Aracaju, em local incerto e não sabido. In oportuno tempore, não é o que reflete os autos, e que quando da instauração do Inquérito Civil Público, o representante do Ministério Público expediu Notificação tombada sob o nº 83/2001, com a finalidade de convocar o representado André de Melo Barros, para prestar esclarecimentos, designando a audiência para o dia 28.11.2001, tendo o mesmo comparecido e prestado as declarações insertas às fls. 461 ut 464, declinando, inclusive, o seu endereço residencial. Ademais, verifica-se que o ora representado, através de advogado, informou em Juízo o seu atual endereço conforme o contido na petição de fls. 468, subscrita pelo Dr. Evaldo Fernandes Campos. De referência a Notificação tombada sob o nº 040/2002, notificando o representado Cosme dos Santos Andrade, com a finalidade suso mencionada, constata-se na certidão aposta, que o irmão do ora representado informa por telefone que o mesmo atualmente está residindo no Estado da Bahia, sem, contudo informar o endereço do mesmo. Por último, quanto a notificação tombada sob o nº 040-A/2002, notificando o representado Edvânio dos Santos Andrade, prima facie, verifica-se que pela ausência de certidão de quem competente, a mesma não foi regularmente processada, vez que não informa se o representado foi ou não notificado para atender o chamamento do Órgão Promotorial. Por estas razões e não outras, e à luz dos elementos contidos na representação increpada na denúncia, observa-se que quanto aos motivos que permeiam a Custódia Provisória não se subsumem as condições previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, haja vista que o representado André de Melo Barros possui endereço conhecido, e nunca se furtou ao distrito da culpa, inclusive, atendendo a Notificação n.º 83/ 2001 expedida pelo Órgão Promotorial, na fase do Inquérito Civil Público, e na presente Ação Civil Pública, encontra-se regularmente representado por advogado legalmente constituído, declinando o seu novo endereço. Quanto aos demais representados, as notificações, por si só, não autorizam o decreto das Custódias Provisórias dos representados Cosme dos Santos Andrade e Edvânio dos Santos Andrade, vez que as devidas notificações não foram regularmente processadas, face a ausência de diligências e certidões. Ao lume do expositado, e em atenção ao comando do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que incorporou o princípio do Devido Processo Legal - due process of law - o qual configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa, consagrando o direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de prova de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável e à revelia criminal. O devido processo legal tem como corolários os princípios da Ampla Defesa e o do Contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial, bem como aos acusados em geral, conforme texto constitucional esculpido na inteligência do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Quanto a ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo - par conditio - pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito pela defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente. Preleciona Nelson Nery Júnior, que o princípio do Contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em manifestação ao princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do Contraditório. Ipso facto, indefiro o pedido das Custódias Provisórias requeridas, face a ausência de substrato legal no tocante a garantia da aplicação da lei penal. Recebo a denúncia por preencher os requisitos técnicos legais e via de conseqüência defiro as diligências requeridas constantes na exordial. Intime-se. Cumpra-se. Aracaju, 05 de junho de 2002. RUY PINHEIRO DA SILVA , Juiz de Direito
Download