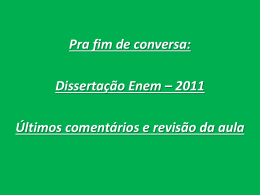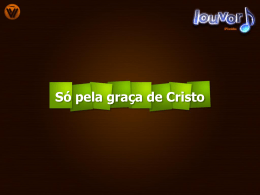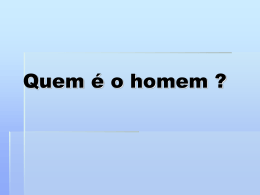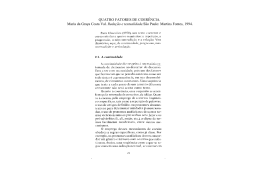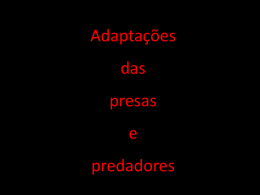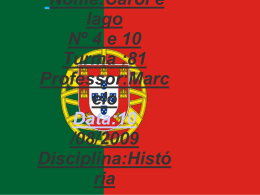Carta de Graça Aranha a Afonso Celso Acervo do Arquivo da ABL – Cadeira 38 Uma explicação da conferência de Graça Aranha J o su é M o nt e l l o Q uando Graça Aranha, a 19 de junho de 1924, proferiu a sua conferência polêmica sobre o Espírito Moderno, propondo na Academia Brasileira de Letras a morte da própria Academia, se esta não se colocasse ao lado dos moços que se batiam pela renovação total de nossa literatura, várias foram, ao tempo, as interpretações suscitadas por seu gesto rebelde. Como entender-lhe a rebelião? Como explicar-lhe a atitude intempestiva, querendo pôr a pique o barco de que era também tripulante? Diplomata, homem de sociedade, discípulo de Joaquim Nabuco, o mestre de Canaã era o homem polido por excelência, sem deixar sentir na sua elegância de maneiras o homem de lutas que se revelaria de repente na tribuna da Academia. Dois anos antes, em fevereiro de 1922, na conferência com que inaugurou a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Membro da ABL (Cadeira 29) desde 1954. Além de romancista e ensaísta, é autor de várias obras de história literária e sobre a Academia, entre as quais O presidente Machado de Assis, e organizador do volume O modernismo na Academia, reunião de textos básicos e artigos sobre o movimento modernista. 9 Josué Mo ntello Paulo, havia ele ensaiado a sua oposição à Academia. Mas, entre essa conferência e a outra, o acadêmico parecia reconciliado com a instituição, tanto assim que, assíduo às suas sessões, delas participou sem dar mostras de que iria brevemente romper com ela. O gesto de rebeldia, contrastando com a mansidão da figura polida, tinha de se constituir numa indagação. Por que o diplomata de ontem, tão fino, tão educado, se colocara à frente da insurreição dos moços, atirando pedradas na própria Casa? Houve quem dissesse, para responder a essa pergunta, que Graça Aranha, de regresso ao Brasil como diplomata aposentado, tentava, com aquela atitude, refazer à sua volta o ambiente de prestígio que os muitos anos de ausência tinham desvanecido. Afirmou-se ainda que, escritor de poucos livros, tendendo a levar mais a sério a vida literária que a literatura, nada mais havia feito do que transformar o Modernismo em excelente pretexto para ocupar a cena como figura de primeiro plano, arvorando-se em chefe do movimento com a autoridade do seu grande nome. Na verdade, teimava no escritor, por ocasião de seu regresso ao Brasil, não obstante o decreto de aposentadoria que o mandava descansar, um saldo de juventude, confirmado por seu pendor a entusiasmar-se com as idéias novas. Esse saldo de juventude identificava-o com os moços. E era ainda um traço de união com o seu passado, visto que Graça Aranha, ao tempo de sua juventude, vivera sob o fascínio de Tobias Barreto, que elegera como seu patrono na Academia e em cujo exemplo recolhera a lição do escritor em perene rebeldia contra todas as formas de apego excessivo aos valores consagrados. A lição de Tobias Barreto, recolhida assim na mocidade, ia servir de modelo a Graça Aranha no declínio da maturidade, quando ele se encontrou com os moços da Semana de Arte Moderna. No famoso terror cósmico, a que reiteradamente aludiu na sua nebulosa filosofia literária da estética da vida, militava, em última análise, como princípio e substância, o terror da velhice. Graça Aranha tinha medo de envelhecer. E 10 Um a expli c aç ão da c o nferênc ia de G r a ç a A r a n h a como um dos meios de conjurar ilusoriamente a velhice é tomar o partido dos jovens, o mestre de Canaã dele se socorreu, fazendo causa comum com a mocidade que reclamava, no ano do centenário da Independência, uma afirmação brasileira de nossa arte e de nossa literatura. Entre as muitas interpretações que a sua atitude suscitou, para justificar-lhe as palavras de combate à Academia, a mais absurda, e que foi logo posta de lado, não deixava de ter, entretanto, a sua lógica. Refiro-me à que acusava Graça Aranha de estar a serviço da Santa Casa de Misericórdia... Quem se saiu com essa hipótese extravagante foi o poeta Luís Murat, já então afamado pela freqüência com que, através de processos espiritualistas, dialogava em sua própria casa com estes amigos: Dante, Homero, Goethe, Victor Hugo, Shakespeare. No entanto, a sua argumentação, ao acusar Graça Aranha, não deixava de ser clara, objetiva – e apoiada em documento. Se Graça Aranha conseguisse acabar com a Academia, quem lucraria com isso? E o poeta respondia, muito sério, com um papel na mão: – A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro! E para provar que não delirava, exibia, logo a seguir, o testamento do livreiro Francisco Alves, no trecho onde se lê: “Deixo tudo o que possuo à Academia Brasileira de Letras, enquanto ela existir, e, se deixar de existir, à Santa Casa de Misericórdia, desta Capital.” A propósito de cartas de amor Restritas a uma edição de 125 exemplares, fora do mercado, as Cartas de amor de Graça Aranha, que D. Nazaré Prado publicou em 1935, ainda no clima de consternação da morte do escritor, nunca foram aludidas, ao que suponho, nas apreciações da personalidade do romancista de Canaã. A razão do silêncio estará na raridade da obra, e raridade que se teria agravado com a destruição de boa parte da edição. 11 Josué Mo ntello A verdade é que, não obstante o seu conteúdo extremamente íntimo e pessoal, essas cartas constituem subsídio de alta importância na ordem biográfica e literária. Direi mesmo que, sem a correspondência amorosa de Graça Aranha, não teríamos a chave de seu temperamento, e com a qual talvez possamos entender algumas de suas atitudes, na fragilidade da condição humana. Num dos capítulos de O presidente Machado de Assis, tive oportunidade de assinalar, estudando o diálogo epistolar do mestre de Dom Casmurro com o seu amigo Graça Aranha, que este viveu sob a fascinação de dois modelos: um, da juventude, Tobias Barreto; outro, da maturidade, Joaquim Nabuco. A conferência sobre o Espírito Moderno, com a qual Graça Aranha assumiu a liderança do movimento modernista no salão da Academia Brasileira, marcaria o instante em que o modelo da juventude voltou a dar a linha normativa ao temperamento do memorialista do O meu próprio romance. Sua palestra polêmica, aplaudida pelos moços, corresponderia à reprodução do impacto de Tobias Barreto no Recife, por ocasião do mais turbulento concurso da Faculdade de Direito, e a que assistiu o futuro romancista, ainda menino-e-moço, recém-chegado do Maranhão. O reencontro do diplomata aposentado com o paradigma da juventude não ocorreu de improviso. Aos poucos a vida o preparou para ele. E aqui se evidencia a importância das Cartas de Amor que D. Nazaré Prado reuniu em volume. Dizia Machado de Assis que o pior pecado, depois do pecado, é a publicação do pecado. Graça Aranha fez de sua paixão o argumento de A viagem maravilhosa. Ele é, ali, Felipe, Nazaré Prado, Teresa. Por uma dedicatória na primeira edição de Canaã, reproduzida ao fim das Cartas de amor, o romancista confessava, em 1902, a “grande amizade” que já dedicava a Nazaré Prado. Mas a paixão veemente, de que a correspondência amorosa seria o espelho, somente se iniciou por volta de 1911, e iria até fevereiro de 1927, quando os correspondentes se uniram, sem dissimulações ou mistérios. 12 Um a expli c aç ão da c o nferênc ia de G r a ç a A r a n h a Autor de obra exígua, Graça Aranha soube ser epistológrafo copioso. Perto de três mil cartas escreveu ele a Nazaré Prado. Lamentavelmente, diz-nos a nota introdutória das Cartas de amor, “as cartas escritas nos últimos anos, devido aos acontecimentos revolucionários do Brasil, dos quais Graça Aranha foi um doutrinador e colaborador, e por outras razões mais íntimas, foram destruídas na sua quase totalidade, pela natureza reservada dos assuntos nelas tratados e pela dificuldade de serem conservadas”. Se bem me lembro, foi em Madame Sablière que li que o amor nada mais é do que um egoísmo de duas pessoas. Daí certamente o tom monótono que nos entedia nas correspondências do amor alheio. O assunto é o mesmo, os mesmos os correspondentes. Até Graça Aranha, com o fascínio de sua inteligência, não escapa à regra geral – repetindo-se. Salvam-se de suas cartas, entretanto, os lances característicos de seu temperamento exaltado, sempre aberto às novas idéias. A paixão da maturidade levou-o certamente à nostalgia da juventude, e daí ter ele volvido, na conferência da Academia, ao modelo de Tobias Barreto. Os jovens a quem Graça Aranha distinguiu com o privilégio de seu convívio, na fase em que os cabelos grisalhos lhe realçavam a beleza viril, dele guardaram a imagem nítida, não de um mestre, mas sim de um companheiro. Dir-se-ia que o dom da juventude perene, que o gênio de Goethe converteu numa transação com o demônio no símbolo do Fausto, o romancista de Canaã o alcançou por intermédio de sua inteligência comunicativa, ágil e cordial. O certo é que, já transpostos os sessenta anos, ninguém soube ser mais jovem que ele, na renovação das idéias, na irradiação de seus entusiasmos e no poder de deslumbrar-se diante da vida, numa atmosfera de alegria criadora. E dele se poderia dizer, num resumo de suas virtualidades, que viveu para ilustrar com o seu exemplo este pensamento de Picasso: “Leva-se muito tempo para ser jovem.” 13 Josué Mo ntello Daí ter sido Graça Aranha um elo entre duas gerações, conforme observou Alceu Amoroso Lima. A lição que ele deu aos jovens – diz-nos o mesmo crítico – foi mostrar a sua alegria de espírito, a sua confiança na vida e o seu desassombro de atitudes, ensinando os moços a serem moços. Mas a verdade é que, se Graça Aranha fosse apenas o autor de Canaã ou de A viagem maravilhosa, os livros que lhe deram a glória em duas épocas da vida, seria hoje um autor esquecido, como a maior parte dos escritores de sua geração. Porque não é por esses dois romances que ele sobrevive e sim pelo fascínio de sua personalidade irradiante, que lhe permitiu chefiar de cabelos grisalhos a mais importante rebelião de nossa história literária. Na origem de toda vocação, afirmou Reger Martin du Gard, explicando o seu próprio destino, há sempre um exemplo. A vida de Graça Aranha, aparentemente contraditória em muitas de suas atitudes, tem a unidade dos belos destinos coerentes, se a analisamos em face dos dois exemplos que sensivelmente a moldaram: o exemplo de Tobias Barreto, no plano da vida mental, e o exemplo de Joaquim Nabuco, no plano da vida social e política. Era ele um adolescente, recém-chegado do Maranhão, quando se encontrou com Tobias, no salão da velha Faculdade, à hora em que este, nos embates de seu concurso polêmico, alvoroçava a Província com as muitas idéias de sua cabeça despenteada. Quando o concurso terminou, recebeu Tobias uma estrondosa ovação dos estudantes, a que se associou Graça Aranha, saltando a grade que o separava do mestre e atirando-se aos seus braços. – Vá a minha casa esta noite – convidou o mestre, ao saber que o moço maranhense já era acadêmico. Meio século depois desse episódio, é assim que Graça Aranha termina a sua evocação: “Que deslumbramento! Não voltei aos meus colegas. Fiquei por ali mesmo, metido em algum canto da Congregação, e saí acompanhando, como uma sombra pequenina, o mestre. À noite, eu estava na sua casa em Afogados. Nunca mais me separei intelectualmente de Tobias Barreto.” 14 Variações sobre a humildade M ig u e l R e a l e A humildade, dentre as virtudes que ornam a conduta humana, é uma das mais ricas de significado. Nossos dicionaristas que melhor a interpretam são Caldas Aulete e Antônio Houaiss. O primeiro apresenta-a como “a virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza ou do nosso pouco ou nenhum mérito”, enquanto que o segundo a considera a “virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações”, ou “um sentimento de fraqueza, de inferioridade, com relação a alguém ou algo”. Trata-se, pois, de modéstia no trato social, caracterizando-se por ser infensa ao orgulho e à ostentação. Por outro lado, lembram os mestres da língua que ela assinala também o respeito a alguém ou algo tido como superior, sendo, assim, uma forma de submissão. Nessa ordem de idéias, costuma-se afirmar que o sábio, de maneira geral, é humilde, reconhecendo a finitude ou até mesmo a precariedade de seus conhecimentos. Nem sempre, porém, a sabedoria implica modéstia, havendo casos em que a posse da verdade, nas múlti- Artigo publicado n’O Estado de S. Paulo, 7 de junho de 2003. Miguel Reale é jurista, professor, ensaísta. Sua bibliografia fundamental abrange obras de Filosofia, Teoria Geral do Direito, Teoria Geral do Estado e estudos de Direito Público e Privado. É o fundador da Revista Brasileira de Filosofia (1951) e presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia. 15 M ig uel Reale plas áreas de sua aplicação, culmina em atitudes de orgulho e de vaidade. Tudo depende, no fundo, da espécie de homem ou de mulher que se é, podendo a humildade ser tanto uma tendência natural como um estado de espírito adquirido ao fim de uma longa experiência, como bom senso do valor relativo de nossas conquistas. Cabe, outrossim, observar que se pode ser humilde com plena consciência de seu próprio valor, de sua significação em confronto com as pessoas apontadas como representativas da coletividade, preferindo fruir de seu saber como um patrimônio tanto mais precioso quanto mais recatado. Há, por conseguinte, uma infinita multiplicidade de experiências existenciais, a cada uma delas correspondendo uma ou nenhuma forma de humildade. Esta é, como se vê, uma das mais intrigantes variáveis do comportamento humano. Nem deixam de existir formas postiças de humildade, sendo a modéstia taticamente assumida apenas para se granjear fama de criaturas excepcionais, verdadeiros modelos merecedores do respeito social... Não devem ser esquecidos os que parece terem nascido sob o signo de bem servir, sentindo-se felizes quando se submetem aos mandos e caprichos dos que se projetam na liderança política, econômica, científica ou no variegado mundo das artes e das letras. Nem devem ser considerados seres inferiores, por obedecerem à própria natureza, sentindo-se realizados com os êxitos dos entes que admiram. Pela apontada variabilidade de seus conteúdos, a humildade pode ser considerada um dos pontos referenciais do universo da cultura, embora nem sempre seja analisada com a devida atenção pelos cultores da ética. A bem ver, deveria ser objeto de constante estudo por parte de psicólogos e sociólogos, sobretudo quando se tem em vista delinear as formas existenciais típicas, para conhecimento cada vez mais apropriado do ser humano e da sociedade. A “figura dos humildes”, eis aí um tema dos mais empolgantes para a imaginação criadora dos literatos, em seus contos, crônicas e romances, e para quantos cuidam de penetrar nos refolhos da consciência ou da alma humana. Há, todavia, um limite na abdicação da própria personalidade para a glorificação dos méritos alheios, não podendo sair ferida a dignidade da pessoa humana, 16 Vari aç õ es s o br e a h u m i l da de valor que atualmente figura, no Artigo l.o da Constituição de 1988, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Não posso encerrar estas variações sobre a humildade sem lembrar o que sobre ela escreveram filósofos de todas as correntes de pensamento. Bela síntese dessa história é-nos dada por Nicola Abbagnano em seu Dizicionario della Filosofia, após lembrar que a antiguidade clássica não tratou da matéria. A seu ver, foi na Idade Média que surgiram as primeiras manifestações filosóficas sobre o tema objeto do presente artigo, a partir do mistério da encarnação de Deus na figura humilde de Cristo, o deus-homem. Foi então que Tomás de Aquino viu a humildade como parte da virtude “que tempera e freia o ânimo a fim de não se elevar sem medida no culto das coisas mais altas”. Singular é a posição de Spinoza, que não aprecia a humildade como virtude, visto nascer ela do sentimento da própria impotência em confronto com seres mais perfeitos, reduzindo-se, assim, a uma “emoção passiva”. Já Kant apresenta a humildade como “o sentimento da pequenez de nosso valor perante a lei” e, ao mesmo tempo, como a pretensão de alcançar um valor moral oculto mediante a renúncia do valor moral de si, considerando ele hipocrisia pretender os favores de Deus ou dos homens graças ao rebaixamento do próprio valor. É analisando as relações agônicas entre o senhor e o escravo, tema tão debatido pela filosofia romântica no século XIX, que Hegel diz que a humildade “é a consciência de Deus e da sua essência como amor”, o que, penso eu, quer dizer que o acesso a Deus depende de nosso humilde amor por ele. Por fim, não há como esquecer a posição de Nietzsche, a qual não podia ser senão a de protesto contra a humildade, vista como um aspecto da “moral dos escravos”. Filosoficamente, para mim, a humildade significa a renúncia aos poderes da razão perante os problemas que a transcendem, aos quais ascendemos pelas vias do amor. É nessa posição que talvez se situe a humilde confissão de Einstein quando reconhece que “por de trás da matéria há algo de inexplicável”, contrastando com os que, orgulhosos das conquistas da razão no mundo das ciências positivas, negam Deus e a imortalidade da alma. 17 A responsabilidade dos cientistas Cels o F u r t a d o A s palavras que pronunciarei comprometem apenas a mim mesmo. Não tenho a pretensão de falar em nome de todos os novos acadêmicos. Valho-me, contudo, desta oportunidade para dizer o quanto admiro os trabalhos acadêmicos do historiador José Murilo de Carvalho e do cientista político, meu ex-aluno, Paulo Sérgio Pinheiro, também eleitos para esta Casa na condição de cientistas sociais. Em sua extensa obra, um e outro souberam nos revelar os desvãos do inconsciente de nossa cultura, na qual o mito do «homem cordial» encobre formas perversas de repressão social. Foi para mim motivo de profunda satisfação ser convidado para participar das atividades desta nobre instituição fundada há quase um século com a finalidade de promover, estimular e coordenar o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, em qual- Economista, dirigiu o BNDE (1958-59), elaborou o Plano de Desenvolvimento do Nordeste e dirigiu a Sudene (1959-64); primeiro titular do Ministério do Planejamento (1962-1963) e autor de extensa bibliografia sobre a economia brasileira. Discurso de posse na Academia Brasileira de Ciências, proferido em nome de todos os novos membros. Rio de Janeiro, 4 de junho de 2003. 19 Cel so Fu rtado quer domínio do conhecimento. Muito jovem tive a intuição de que estava destinado ao mundo do saber e tratei de defender-me de todas as tentações que me afastavam desse rumo. Foi então que percebi que as ciências brotam do mesmo tronco e que os valores universais, comuns a todas as culturas, se alimentam da mesma seiva. No Brasil, o que nos interessa em particular não é tanto a ciência em si, mas a relevância da investigação científica que nos permita decifrar esse teorema apaixonante que é a construção deste país continental. As peripécias da vida, decorrentes da certeza de que nosso povo merecia um destino melhor, levaram-me a ser cassado de direitos políticos e partir para o exílio, privando-me da fortuna de exercer atividades universitárias entre nós. Mas, vinte anos como professor em universidades da Europa e dos Estados Unidos permitiram-me reconhecer a importância do trabalho intelectual realizado no Brasil, mesmo nos anos em que foi mais duro o exercício da liberdade. Hoje vem-me certa nostalgia ao rememorar as longas conversas que tive com José Israel Vargas, ex-presidente desta Casa, à sombra dos vetustos colégios da Universidade de Cambridge, quando imaginávamos que dali a dez anos, se muito, o Brasil estaria no chamado Primeiro Mundo. Passado mais de um decênio, tive troca de idéias não menos interessantes com outro ilustre membro desta Academia, José Leite Lopes. Sua lucidez não era menor, mas a visão do futuro do Brasil assumira tons bem mais sombrios. Estávamos na Universidade de Estrasburgo, onde se integram admiravelmente o espírito francês e o espírito alemão. Essas longas caminhadas, que se estenderam a vários continentes, me permitiram observar a variedade da produção universitária nos centros de maior prestígio, e consolidaram em mim a convicção de que nosso país é um permanente desafio à criatividade, pela diversidade dos valores que integra. Portanto, havia que olhar para a frente, investir nas novas gerações. As ciências evoluem graças a agentes que são capazes de atingir e ultrapassar certos limites. Não basta armar-se de instrumentos eficazes. O valor de um cientista resulta da combinação de dois ingredientes: imaginação e coragem. Em muitos casos, cabe-lhe também atuar de forma consistente no plano político, 20 A respo nsabi li da de do s c i e n ti s ta s portanto assumir a responsabilidade de interferir no processo histórico. Não devemos esquecer que a ciência está condicionada pelos valores da sociedade onde é gerada. Basta lembrar que supostas teorias científicas sobre as diferenças raciais, que prevaleceram no século XIX, nada mais foram do que um simples subproduto das doutrinas imperialistas em voga na época. As ciências sociais, talvez mais que outras, são sujeitas a influências ideológicas que refletem o espírito de uma época. Se ajudam os homens a enfrentar uma profusão de problemas, também contribuem para conformar a visão do mundo que prevalece em certa sociedade. Assim, podem servir de cimento ao sistema de dominação social em vigor, mas também, eventualmente, justificar abusos de poder. Ao longo da história, não foram raros os casos em que as estruturas de poder procuraram cooptar os homens de ciência. Os fornos crematórios foram fruto dessa colaboração espúria. Daí a importância de que prevaleçam na sociedade compromissos éticos. No campo das ciências sociais, cujo objeto de estudo, diferentemente de um fenômeno natural, nem sempre é algo perfeitamente definido, e sim algo em formação, criado pela vida dos homens em sociedade, o princípio da responsabilidade moral faz-se ainda mais premente. Na área que me é familiar – a economia – verifica-se um empenho em buscar o formalismo, em adotar métodos que fizeram a glória das ciências chamadas exatas. Esse louvável esforço tem, todavia, um custo, pois com freqüência nos leva a esquecer que o objeto das ciências sociais nem sempre é compatível com a elegância formal. Disso me dei conta cedo, ao me debruçar sobre os problemas do desenvolvimento econômico. Com efeito, o próprio conceito de desenvolvimento já nos obriga a perceber que o homem é um fator de transformação agindo tanto sobre o contexto social e ecológico como sobre si mesmo. Nesse sentido, a reflexão sobre o desenvolvimento traz em si uma teoria do ser humano, uma antropologia filosófica. É natural que se esperem dos cientistas sociais, e dos economistas em particular, respostas às questões que mais afligem o nosso povo. Mas, como tudo o que é humano tem uma dimensão social, esses problemas não podem ser apre- 21 Cel so Fu rtado ciados fora de um contexto amplo que envolve variáveis políticas, portanto, poder e valores. Partindo dessas reflexões, permitam-me abordar alguns temas mais afins com a ciência econômica, os quais, creio, são de atualidade no momento histórico brasileiro. O primeiro ponto diz respeito à tendência persistente de nossa economia ao desequilíbrio interno e externo. Nas atuais condições de entrosamento internacional dos sistemas produtivos e dos circuitos financeiros, pergunto-me se não estamos em face de um agravamento dos desequilíbrios estruturais com sérias implicações externas? É evidente que nos países desenvolvidos as sociedades são cada vez mais homogêneas no que respeita as condições básicas de vida, enquanto no mundo subdesenvolvido elas são cada vez mais heterogêneas. A integração política planetária, em processo de realização, está reduzindo o alcance da ação regulatória dos Estados nacionais. Nesse quadro é que devemos situar o tema da inflação crônica que marca a economia brasileira, e leva governos a praticarem uma política recessiva, de elevado custo social. Os economistas tendem a reduzir o problema a uma simples dicotomia entre contração de demanda monetária ou expansão fomentada da oferta de bens e serviços. Mas qualquer solução para esse problema exige modificações amplas na distribuição da renda, que por seu lado tem demonstrado ser um objetivo difícil de alcançar. Ademais, deve-se ter em conta que muitas das variáveis com que lidamos no campo da política econômica dependem de decisões tomadas fora do país. Levando o raciocínio ao extremo: o espaço de manobra de um governo pode ser tão restrito que ele se veja privado da faculdade de ter política econômica, em razão de compromissos assumidos com credores externos, e seja forçado a praticar uma moratória com sérias projeções políticas. Temos de reconhecer, assim, que nos escapa a lógica do processo de globalização em curso, o que nos dificulta captar o sentido do processo histórico que estamos vivendo. Não conseguimos compreender os fundamentos do acontecer atual, nem dirimir dúvidas essenciais, não obstante os fantásticos avanços das técnicas da informação. Essa pouca transparência do processo em 22 A respo nsabi li da de do s c i e n ti s ta s que estamos envolvidos, e a que chamamos de aceleração do tempo histórico, revela a intervenção de fatores que fogem ao nosso entendimento, em particular os de natureza estrutural. Já praticamente não existem sistemas econômicos nacionais dotados de autonomia. Os mercados de maior relevância, em especial os de tecnologia de vanguarda e de serviços financeiros, operam hoje unificados e marcham rapidamente para a completa globalização. Mas este é um processo aberto. O que vai acontecer em cada país dependerá em parte substancial do comportamento de seu povo e de seu governo. Vejamos o que está ocorrendo nas principais áreas econômicas mundiais. Os países da Europa Ocidental estão empenhados na mais rica experiência de cooperação política e de integração dos mercados de fatores, inclusive de mão-de-obra, o que implica um esforço financeiro comum para reduzir as desigualdades de nível de vida existentes na região. Pretensamente com o mesmo propósito de mobilizar recursos políticos para colher vantagens econômicas, os norte-americanos tomaram uma série de iniciativas cujo objetivo é integrar sob seu comando as economias do hemisfério ocidental. Essa integração, no caso do Canadá, significa dar continuidade a um processo histórico, conquanto enfrente problemas culturais. Mas, com respeito à América Latina, e em particular o Brasil, os problemas decorrentes desse plano de integração continental revestem-se da maior gravidade. Com efeito, caso aceite firmar o acordo que acena com uma suposta integração entre iguais, o Brasil estará na realidade firmando um compromisso entre desiguais, pois quem lidera esse projeto é nada menos do que a maior potência mundial em termos econômicos, políticos e militares. É evidente a assimetria entre os futuros co-signatários desse projeto conhecido pelo nome de ALCA (Área de livre-comércio das Américas), que estabelece regras comuns para um amplo espectro de atividades, desde investimentos norte-americanos no hemisfério até o controle da propriedade intelectual. Em outras palavras, o projeto acarreta uma clara perda de soberania para o Brasil, que teria de renunciar a um projeto próprio de desenvolvimento, abdicar de uma política tecnológica independente, e esfacelar o seu já fragilizado sistema industrial. Se o modelo de integração 23 Cel so Fu rtado européia objetiva homogeneizar os padrões de desenvolvimento de seus membros, permitindo a mobilidade de mão-de-obra, a ALCA, ao contrário, exclui toda possibilidade de fluxos migratórios. E mesmo que não excluísse, seria tão prejudicial para o nosso país que, parodiando às avessas o famoso escritor que fugiu do nazismo e veio a morrer entre nós, poderíamos proclamar: o Brasil é um país sem futuro. Faço essas reflexões para enfatizar a responsabilidade que nos advém coletivamente na construção de um Brasil melhor. Somos uma força transformadora deste mundo. Cabe a nós, intelectuais e cientistas aqui presentes, balizar os caminhos que percorrerão as gerações futuras. Quando tomei posse na Academia Brasileira de Letras, afirmei que o domínio avassalador da razão técnica limita cada vez mais o espaço em que atuam os seres humanos. Quero concluir estas palavras lembrando que a história é um processo aberto e o homem é alimentado por um gênio criativo que sempre nos surpreenderá. De instituições culturais como esta Academia espera-se que velem para que essa chama criativa se mantenha acesa e ilumine as áreas mais nobres do espírito humano. Paris, maio de 2003 24 A literatura brasileira vista da Espanha B asil io L o s a d a E m primeiro lugar, um prefácio: eu não nasci para uma ocasião como esta, não sei nunca em que língua devo falar. Eu nasci no mundo galego da montanha, essa foi a minha primeira pátria. O galego foi a minha primeira língua. Foi a primeira língua que eu falei e a primeira em que eu vim falar. O espanhol é, para mim, uma língua aprendida, mas logo depois, na minha vida, tive que aprender muitas línguas e tive que passar por muitas outras culturas. A minha mulher, a minha querida Ilse, que hoje não está aqui, é alemã, nasceu em Hanover, mas está aprendendo galego, porque eu quero que as últimas – em galego dizemos derradeiras – palavras que eu sinta na minha vida sejam também na primeira língua em que falei e em que me falaram. Vou falar em espanhol, com a segurança de que ninguém vai ter problemas nesta língua.1 Catedrático de Filologia Galega e Portuguesa na Universidade de Barcelona. Tradutor de autores brasileiros e portugueses para o espanhol, agraciado com o Premi Nacional de Traducción. 1 Até aqui em português no original. (N. do T.) 25 B a sil io Lo sada Machado de Assis em Madri. Réplica da estátua instalada à entrada do Petit Trianon, no Rio de Janeiro, doada ao povo espanhol, em 1998, pela Academia Brasileira de Letras e a Fundação Roberto Marinho. 26 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a Feito este prefácio, passo, como é lógico nestas liturgias acadêmicas, à gratidão. Eu tenho muitos motivos de gratidão: à Academia Brasileira, ao Instituto Cervantes, que tornaram possível minha viagem ao Brasil. Não é a primeira vez que estou neste país. Em espírito, com pensamentos, com a ilusão e em sonhos, estive muitas vezes. Mas creio que esta é a quinta vez que venho ao Brasil, e espero que não seja a última. O Brasil é, para mim, uma pátria, a pátria maior. Eu coleciono pátrias, sou uma personagem estranha que coleciona pátrias e coleciona rios. Tenho dezenove pátrias e, à noite, conto minhas pátrias, uma a uma, e, se me falta alguma pátria de que não me lembro, tenho de abrir minha caderneta de pátrias até encontrar a que me falta. Baviera, Alsácia, Flandres... Colecionar pátrias e colecionar rios: muitas vezes viajei por toda a Europa simplesmente com a ilusão de ver o Danúbio, ou ver o Volga, ou ver o Elba, ou ver o Sena, e esses rios também são parte de minhas lembranças, como o são muitos rios desta minha pátria que é o Brasil. Esta honra insigne, esta honra de falar-vos, é um dos atos em que minha vida – já muito, muito avançada – em que minha vida culmina. Na verdade, eu deveria intitular esta minha palestra “História de uma paixão”. Como descobri Portugal? Como descobri o Brasil, o mundo da lusofonia que agora se prolonga com meus amigos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, como descobri este continente de pátrias imensas, profundas e conflitivas? Foi a partir de minha condição de menino galego que não sabia falar castelhano. Meu primeiro dia de escola, tinha eu cinco anos, foi numa cidade de língua castelhana, León, e eu não sabia falar castelhano. A primeira frase que eu disse na escola foi uma frase em galego. Disse eu: “Ve, ve alí hai un gato e ten un rabo estalicado.” E aí todo o mundo riu-se de mim, a começar pela freira, pela professora; e aí durante um ano eu não quis falar. E não falei. Um ano inteiro fui à escola sem falar. E se me perguntavam quantas pessoas tinha a Santíssima Trindade, uma pergunta então razoável, eu sabia que eram três, mas me calava, e sempre havia algum obtuso que dissesse “Tem oito pessoas”. Eu sabia que eram três, mas não me atrevia a falar, até que me impus a obrigação de falar o espanhol melhor que os outros – coisa que, realmente, consegui – mas sempre carreguei comigo, e ainda hoje a carrego, 27 B a sil io Lo sada a lembrança daquele menino que falava uma língua desprezada, que era um estigma, uma marca de inferioridade, mas que nunca abandonei. E por isso espero que, quando a morte chegar – como diz Woody Allen, eu não tenho medo da morte, mas tentarei estar ausente quando ela chegar –, tentarei estar ausente, mas, caso não possa estar ausente, quero ouvir as últimas palavras nesta variante do português, que é o galego, porque hoje o português não é uma língua, é uma constelação de línguas, é um sistema lingüístico que está em permanente evolução, em recriação constante. E eu falo com meus amigos angolanos, com escritores de Angola ou de Moçambique, e me surpreende a capacidade criativa deste idioma que se renova constantemente. Descobri por mim mesmo a literatura brasileira: durante meus estudos médios e na universidade, ninguém jamais me falara do Brasil nem da existência de uma literatura brasileira. Terminei meus estudos de Filologia Românica, na universidade, e ninguém me falara de Machado de Assis, por exemplo. A verdade é que, naquele tempo, falava-se de muito poucas coisas, e minha ignorância de então era uma ignorância enciclopédica que tudo abrangia. Mas um belo dia vi, numa livraria de segunda mão, Os velhos marinheiros, de Jorge Amado, que viria a ser um grande amigo meu, muito admirado e muito querido, e li Os velhos marinheiros com paixão. Lia-o no ônibus. Nas aulas do curso de doutorado, na universidade, eu escondia Os velhos marinheiros embaixo da carteira e o lia ali também. Foi a partir daí que começou esta história de uma paixão. Mais tarde tornei-me editor. Dirigi a seção de literatura de duas editoras muito importantes, hoje desaparecidas, a Editorial Caralt e a Editorial Noguer. Minha primeira preocupação, por conseguinte, foi que essas editoras publicassem livros de literatura brasileira. E elas publicaram alguns. Publicaram, evidentemente, Os velhos marinheiros e mais algumas obras de Jorge Amado. Publicaram obras de Autran Dourado, numa época em que parecia impossível que uma editora espanhola publicasse livros do Brasil. Daqui a pouco explicarei qual é o problema da literatura brasileira, uma literatura fora dos circuitos, uma literatura que não entra nos intercâmbios editoriais. Quando eu dirigia a Noguer, que era uma grande editora de Barcelona, com milhares de títulos publicados, eu soli- 28 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a citava autorização para publicar um livro da Inglaterra ou da Alemanha e, freqüentemente, respondiam: “Está bem, cedemos-lhe os direitos deste livro, se também publicarem este outro”. Há uma palavra em catalão, que é outra das minhas línguas e outra das minhas pátrias, uma palavra para a qual não encontrei tradução em nenhuma das línguas que conheço. Esta palavra é torna. A torna é o que acontece quando alguém vai comprar um quilo de pão e, ao pesarem-no, verificam que ali só há 900 gramas. Cortam, então, um pedaço de 100 gramas que equilibre a balança e o peso. E eu não sei se isto existe em alguma outra língua.2 Além do mais, este é um elemento que caracteriza perfeitamente a mentalidade catalã, o pesar as coisas e medi-las. Pois bem: quando eu negociava os direitos de publicação de um livro, outros livros entravam como torna, para equilibrarem o peso; e eu nunca podia impor, como torna, um livro em espanhol. Pouco a pouco fui construindo minha própria imagem do Brasil, uma imagem em nada diferente da imagem do Brasil que se tem, hoje em dia, na Alemanha ou na Bélgica. Mensalmente dou um curso na Alemanha e outro na Bélgica, em Lovaina e Antuérpia, e às vezes falo de um tema que, para mim, é um tema permanente e de que logo voltarei a tratar: a oralidade na literatura. E dou como exemplo de oralidade sublime, magnífica, uma das três ou quatro grandes obras narrativas do século XX, Grande sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. E vejo em meus alunos alemães ou flamengos o estupor, o assombro que lhes causa a existência da literatura brasileira. Por que esse desconhecimento? Porque a literatura brasileira está fora dos circuitos, dos grandes circuitos editoriais em que entram as literaturas que hoje em dia, no aspecto narrativo, são de segundo plano. Por exemplo, a literatura narrativa francesa, obcecada por problemas técnicos, por novas maneiras de narrar, esqueceu-se de que um romance é, essencialmente, uma histsória bem contada. E, se esquecemos que um romance é uma história bem contada, estamos alie2 Existe. Leia-se o que diz o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, na acepção 5 do verbete contrapeso: “Porção menor de uma mercadoria vendida a peso, que o vendedor acrescenta para compensar o peso pedido.” Idêntico vocábulo existe em castelhano, com a mesma acepção. (N. do T.) 29 B a sil io Lo sada nando o público, estamos assumindo uma atitude elitista e altaneira que bem pode ser a ruína da literatura. Do Brasil existe a imagem tópica, a imagem dos tópicos: o carnaval, o futebol e as praias. Os tópicos são realidades, dizia Ortega y Gasset, um filósofo espanhol que, atualmente, ninguém lê, mas que se deveria voltar a ler; os tópicos, dizia Ortega, são verdades cansadas, verdades que, de tão evidentes, esquecemos. Cumpre, então, reinventar os tópicos, cumpre reinventar os lugares-comuns, para que voltem a ter seu poder agressivo, seu poder de obrigar a pensar. Carnaval, futebol e praias eram o que se me pedia quando, antes de ser diretor editorial, eu ia de editora em editora com um livro brasileiro debaixo do braço e o dava a examinar. O mesmo me sucedeu com a literatura portuguesa. Li o primeiro livro de Saramago – o primeiro não, perdão; o primeiro livro fulminante, que foi o Memorial do convento – e fui àquela grande editora espanhola, a Seisbarral, dizendo: “Vejam, aqui está um escritor português que me parece extraordinário.” E olharam o Memorial do convento e me disseram: “É português, não desperta interesse.” E eu: “Mas é uma obra extraordinária!” E eles: “Sim, mas esse homem publicou algum outro livro, além desse?” E eu: “Bem, ele publicou O ano da morte de Ricardo Reis.” E eles: “Ah, Ricardo Reis é Pessoa, e Pessoa interessa.” Logo falarei deste fenômeno, de que hoje em dia, na Europa, falar de literatura brasileira é difícil; mas, se, por exemplo, proponho-me falar de Machado de Assis, dizem-me: “O que os estudantes da universidade esperam é que lhes fale de Paulo Coelho.” Bom, então eu falo de Paulo Coelho, por que não? O mesmo se passa em relação a Saramago. Para a política cultural de um país, é muito difícil superar esses lugares-comuns, essas barreiras. Qualquer novelista inglês de segunda classe tem possibilidades – e, se for de terceira, ainda mais – de vir a ser publicado em espanhol. Há países que encontram as barreiras fechadas, que estão fora de circulação. Tenho para mim que toda grande literatura é uma grande literatura regional. Quero também dizer que sei, e disto estou convencido, que todo grande escritor tem um mundo próprio e uma linguagem própria para exprimir esse mundo. E foi isto que descobri na literatura do Brasil: um mundo próprio, di- 30 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a ferente, e uma linguagem ou umas linguagens capazes de exprimir essa diferença. Ler na Europa a literatura do Brasil é um descobrimento permanente. Não vou citar nomes, mas poderia ser qualquer um dos que traduzi – Autran Dourado, Rubem Fonseca, Clarice, de modo especial. Tenho a imensa satisfação de ter transmitido meu amor a este país e à sua variante lingüística a minha filha, que me sucedeu na direção do Departamento de Língua e Literatura Galego-Portuguesa, na Universidade de Barcelona e que vai começar a dirigir numa editora prestigiosa, Ciruela, a publicação de toda a obra de Clarice Lispector, com prólogos dela e também meus, ainda que a coisa se arrisque a parecer uma empresa familiar. Pois bem: esta é uma literatura fora do circuito. Como se poderia mudar essa situação? Eu vejo a coisa com muita clareza: os futuros leitores da literatura do Brasil deverão sair das universidades. Desgraçadamente, em toda a Europa, exceto em Roma, enfim, em todas as universidades européias que eu conheço, não há docentes universitários de origem brasileira. Todos são portugueses e, naturalmente, defendem sua literatura, sua língua canônica, e até, em certos casos, me dão a impressão de que pretendem penetrar demasiado a fundo na literatura do Brasil. Creio que apenas Roma e a Universidade de Barcelona têm, dentro do programa de licenciatura e doutorado, uma presença constante da língua do Brasil, em sua variante brasileira, e da literatura do Brasil, certamente muito bem acolhida. Quando me jubilei, me aposentei, no ano 2000, tínhamos 1300 alunos, não desta licenciatura, os licenciados eram poucos, eram dez, mas vinham alunos de muitas outras faculdades ou de muitas outras especialidades, para assistirem, por exemplo, a um curso sobre Guimarães Rosa, um curso de 60 aulas, ou um curso para doutorandos, em 20 aulas, sobre a narrativa do Nordeste do Brasil. Tendes uma língua em ebulição, uma língua magmática, uma língua criativa, uma língua que ultrapassa todas as definições canônicas. O espanhol de hoje me parece rígido, impreciso, incapaz de manifestar emoções profundas a partir de uma perspectiva nova. Por isso a grande literatura em espanhol não se faz, hoje, na Espanha, mas sim nos países americanos de língua espanhola, nos quais se entra na língua com um espírito libertário, com uma criatividade que, 31 B a sil io Lo sada possivelmente, o espanhol, o francês, o português, o alemão nem tanto, perderam já. A literatura alemã continua a ser muito importante, e cada vez mais, porque é a literatura que nasce da amargura, da frustração, da decepção, da tragédia, da rebeldia dos filhos contra os pais, quando lhes perguntam – coisa que vivi em minha própria família – quando as crianças perguntam, agora ao avô, anteriormente ao pai, por que aconteceu aquilo, como foi aquilo, como se pode justificar aquilo. Uma literatura que nasce da tragédia é uma grande literatura, como o foram as literaturas medievais. Pouco tempo depois tive a sorte de conhecer João Cabral de Melo Neto, que foi cônsul em Barcelona. (Meu relógio estava marcando a hora espanhola, e não a brasileira, de sorte que vi, alarmado, dez da noite e pensei: “Que diabo é isso? Que aconteceu?” Mas, agora, já o acertei para a hora brasileira.) Mas eu dizia que o enorme valor da literatura do Brasil é a oralidade. Foi o que descobri, por exemplo, em Guimarães Rosa. Era algo que se movia ao redor de mim e dentro de minha cabeça: Onde está e quais são as razões da crise das literaturas narrativas nos dias que correm? Na realidade, as razões da deserção do público leitor é o fato de a literatura ter-se convertido em algo muito maçante. Não me refiro à poesia, refiro-me ao romance que, na Europa, é infinitamente maçante. Eu, que fui jurado dos prêmios nacionais de literatura narrativa na Espanha, por vinte e cinco anos, tive de abandonar a coisa porque não estava disposto a ler oitenta livros detestáveis, horrorosos, por ano. E decidi que já não queria ser jurado do Prêmio Nacional de Narrativa. Fizeram-me, então, e nomearam-me jurado permanente do Prêmio Nacional de Poesia. Estou disposto a ler oitenta ou cem poemas por ano, mas ler oitenta romances abomináveis era algo que só se poderia oferecer a título de penitência. A literatura tornou-se muito enfastiante porque o leitor foi esquecido e o narrador está ensimesmado, experimentando técnicas que, quando justificadas, funcionam, mas que, quando não têm justificativa, são uma agressão ao leitor. É evidente que, muitas vezes – e, no caso de James Joyce, é evidente –, o monólogo interior é necessário. Mas simplesmente introduzir um monólogo interior sem qualquer necessidade, como um exercício de exibição heráldica, de ostentação de 32 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a saberes prescindíveis, isso não tem sentido algum e ameaça o futuro da literatura narrativa. Certa vez, em Marrakech, no Marrocos, uma cidade deslumbrante, descobri a oralidade que vislumbrara desde minhas origens na Galícia. Dei-me conta de que havia narradores orais, ou seja, um mouro se sentava, tocava uma campainha e, imediatamente, as pessoas se reuniam ao redor dele para ouvirem as histórias que ele contava. O narrador oral tem de estar muito atento às reações do público. O mesmo, aliás, nos acontece, a nós, professores. Eu sempre disse que um bom professor tem de ser um bom ator e, se não é um bom ator, não é um bom professor. Se aborrece os alunos, se os leva ao desespero, se os alunos vão para a aula como quem vai para a guerra, o professor fracassou. Eu via, então, os narradores de Marrakech contando histórias e muito atentos às reações do público, porque quem escutava a história, caso esta não lhe interessasse ou fosse enfadonha, ia ouvir outro narrador. E assim, na hora de passar o chapéu ou a bandeja, o dinheiro também iria para o outro. Oralidade, então, é, fundamentalmente, o ter presente o leitor, ter presente que a criação literária é um sistema de colaboração. E, em poesia, isto fica muito claro. Eu, que sou um poeta frustrado, antes, quando era jovem, diria que daria seis anos de minha vida para escrever um bom poema. Agora, que não me restam seis anos de vida, já não daria nada. Mas houve um tempo em que, para escrever um grande poema, eu daria seis anos de vida. A poesia é como uma partitura para um músico. É preciso ler a partitura. E a poesia é, em grande parte, enriquecida pelo leitor. É o que eu explico a meus alunos, que agora são alunos americanos, e não espanhóis, contando-lhes uma história que vivi e que se relaciona com este aspecto da literatura enquanto participação, e, de modo especial, com a poesia. De certa feita li um poema que me pareceu um bom poema, mas nada mais que isso. Intitulava-se “A carta do amigo suicida” e um poeta, amigo meu, explicava que, um dia, outro poeta, amigo dele, se suicidou e ele viu uma carta fechada sobre a mesa de seu escritório e não a abriu. O poema me pareceu um hábil exercício de poesia, até que a viúva de outro amigo me chamou: meu amigo se suicidara, e ela me disse que pusesse os papéis dele em ordem, por faltarem-lhe, 33 B a sil io Lo sada a ela, forças para tanto. Passei, então, uma tarde na casa de meu amigo, buscando papéis, e, ao abrir uma gaveta, encontrei uma carta fechada. De repente, aquele poema, “A carta do amigo suicida”, se converteu numa vivência minha. Já não num fato literário puro, mas numa enorme experiência emocional, porque eu sabia por que meu amigo se suicidara. Meu amigo tinha uma amante, e sua amante lhe dera um ultimato: ou te divorcias e vens viver comigo, ou terminamos. E ele não se atrevia a divorciar-se e se matou. De pronto aquele poema, que não me parecera um poema especial, se enriquecera com minha experiência. Em poesia o leitor é fundamental. Mas também o é no romance. A experiência dos narradores orais de Marrakech trouxe-me de volta o mundo da minha infância. Eu digo aos meus alunos de agora, que são americanos, que nasci no século XII; e eles me olham e dizem: “Também não exagere!” Eu nasci nas montanhas da Galícia, numa casa que não tinha luz elétrica. Vivíamos, minha grande família de sessenta pessoas, numa casa imensa, e vivíamos exatamente como se vivia no século XII, e falávamos uma língua também medieval, a minha língua. A oralidade, ali, era fundamental. Quando caía a noite, vinham os camponeses das redondezas para a grande cozinha de minha casa, para a lareira, onde sempre ardia o fogo. É possível que, em quinhentos anos, aquele fogo, aquele lume, jamais se tenha apagado. E então um tio meu contava histórias que nós, meninos, ouvíamos assombrados, porque eram histórias de mortos, de gente que vinha do outro mundo; mas eram histórias que também transmitiam os sinais de identidade da tribo e tinham enorme valor antropológico, eram histórias que também transmitiam um mundo de cultura. Vou tentar transmiti-lo em minha própria língua. Contava-se aos meninos, por exemplo, que un día ían dous pequenos á escola e pasaban polo bosque, xa sabedes onde estaba o bosque, aquel bosque tremendo, e alí, xunto á ponte vella, viron chegar un home, un vello que viña cargado con leña, era un vello moi feo, cunha barba longa, todo esfarrapado, e entón os pequenos ríanse del. E o home aquel fixo así: Pluf! E aqueles dous nenos quedaron convertidos en dúas cerdeiras bravas, dous cerezos salvaxes, no? E dicían: Son as cerdeiras bravas que hai alí, xunto á ponte vella. Entón os nenos da casa, os meninos da casa, demos nomes àquelas duas cerejeiras: 34 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a uma se chamava Daniel e a outra, Genaro. E falávamos com as cerejeiras, e, quando voltávamos da escola, dizíamos: “A professora é muito má, bate em nós, é uma mulher terrível...” Aquelas cerejeiras eram dois meninos também. Mas, quando íamos pelo bosque e víamos algum velho carregado com o que quer que fosse, aproximávamo-nos dele e dizíamos: “Senhor, podemos ajudar-te. Queres que te ajudemos em algo?” Não eram apenas os sinais de identidade da tribo: era também um sistema de valores que transmitia aquela literatura oral. E, de certa feita, contei por escrito outra historia oral, e um amigo meu, escritor, compôs um conto baseado nessa história e pediu-me licença para antecipar-lhe a publicação: a lareira da casa3 não se apagava nunca e minha avó dizia (a porta de casa, a da cozinha, deixavam-na sempre aberta), e minha avó dizia, então: “Aquí, se algún día, se algún día vedes aquí alguén que ven de fóra, hai que deixalo entrar e pode comer todo o caldo que queira, todo o que queira, non preguntedes nada, non lle digades cal é o seu nome, porque pode ser Noso Señor.”4 E Nosso Senhor, não é verdade, não gosta que se lhe façam perguntas. E sucedeu que um dia voltamos para casa, meu primo, que já morreu, e eu, muito crianças ainda, e vimos um velho com uma barba branca servindo-se de conchas de caldo. Escondemo-nos num canto e eu perguntava a meu primo: “Achas que é Deus? Achas que é Nosso Senhor?” E ele dizia: “Eu acho que é.” Mas estávamos em dúvida, até que, depois de tomar sete xícaras de caldo – digo sete porque é um número mágico, talvez fossem seis ou nove – o velho se levantou, juntou as mãos e disse: “E agora unha Ave María polos mortos desta casa.”5 E se foi. Neste ponto fiquei convencido de que vira a Deus. Mais tarde vim a pensar que ele não era Deus. E, já agora, volto a pensar que talvez fosse. Mas tudo isso era o mundo da oralidade, e este mundo pode ser reconhecido na literatura do Brasil, em muitas histórias de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, de tantos e tantos escritores que fazem com que hoje a literatura do Brasil seja a mais estimulante, a mais carregada de novidade e a mais rica entre as literaturas que eu conheço. E eu 3 Em galego no original. (N. do T.) Idem. 5 Idem. 4 35 B a sil io Lo sada prego de universidade em universidade, em Chicago, ou em Heidelberg, ou em Malinas, prego que a literatura brasileira é a melhor do mundo, a mais interessante, a que pode devolver aos entediados leitores europeus a paixão pela arte de narrar. Mas, com uma condição: não esquecer o leitor. O leitor é uma peça importante, inclusive porque compra o livro. Isto é, se um homem gasta três mil pesetas (eu ainda calculo em pesetas e não em euros), se um homem gasta três mil pesetas num livro e o livro o enfara ou o leva à loucura, não torna a comprar outro livro. Tem opções muito mais baratas, no futebol ou onde quer que seja. A literatura brasileira se move no âmbito do romance mais vivo. Por quê? Porque este é um país magmático, incrivelmente confuso, um país em permanente recriação, onde o absurdo é o quotidiano. Eu, por exemplo, nunca vivi em outro país do mundo uma aventura como a que vivi ontem, em meu hotel, quando lá entraram três pistoleiros e armaram uma tremenda confusão. Eu, escondido, assistia à coisa com interesse evidente e me dizia: “Estou compondo um capítulo de minhas memórias.” Isto nunca me aconteceu na Alemanha ou em Nova York. É claro que é triste, mas, literariamente, é algo efetivo, é algo que hoje tem valor. Também tem valor, tristemente, mas tem, outro incidente que me aconteceu, ao almoçar num restaurante. No Rio de Janeiro as porções de comida são brutais, são imensas, são intermináveis. E, por isso, deixei uma grande parte da comida que trouxeram e disse: “Não agüento mais.” Veio, então, o criado, o garçom, e me perguntou: “O senhor se importa se dermos os restos a alguém?” E eu disse: “Não, de modo algum.” Chamaram então uma menina que estava na rua, uma menina linda, de uns doze anos, branca, mas carregando um menino negro, e me emocionava o amor com que estreitava contra seu corpo ainda infantil aquele menino negro. Deram-lhe a comida, numa embalagem de papel de estanho, e, pouco depois, ao passar eu junto a um jardim, vi essa menina comendo a comida que me sobejara. Outra experiência, creio eu, que jamais viverei na Europa. Não há dúvida que é uma experiência dramática, mas é também uma experiência que daria matéria para um belo conto. Este país, o Brasil, no qual, em duzentos quilômetros, se pode pas- 36 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a sar do neolítico à tecnologia mais avançada; um país que está não apenas na vanguarda da criatividade literária, mas também da criatividade artística em design e arquitetura; este país de tremendos contrastes, um país invertebrado, magmático; a miscigenação, que é uma realidade viva e é o futuro do nosso mundo.6 Neste sentido, mesmo quando pensamos, por exemplo, que 15% dos habitantes de Berlim são turcos, ou quando pensamos que 30% dos habitantes de Paris são gente do norte da África, vemos, então que, também nisto, doloroso, difícil, possivelmente amargo, o Brasil está na vanguarda de um mundo com o qual vamos ter de aprender a conviver, porque o futuro está na mestiçagem. Digo-o eu, que sou um mestiço cultural e, possivelmente, físico. Quero dizer: no sangue de qualquer espanhol há muçulmanos, marroquinos judeus, gente do norte: a mestiçagem é a liberdade. O mestiço é aquele que, tomando um pouco daqui e um pouco dacolá, pode construir seu próprio mundo. A mestiçagem, no meu caso, mestiçagem cultural, é algo que só reconheço na velhice e que foi uma imensa fortuna, uma imensa fortuna. Foi a minha grande experiência de liberdade pessoal. Por isso coleciono pátrias e coleciono rios. E por isso qualquer viagem, para mim, é a tentativa de descobrir mais uma nova pátria que me enriqueça. Um rio a mais, no qual eu possa adivinhar, como Pessoa, os barcos que por ele transitaram ou as pessoas que o atravessaram repletas de esperança ou desespero. Pois bem: este país, que vive em permanente trabalho de reconstrução – nos anos em que passo por aqui tenho visto mudanças de moeda, mudanças de governo – poderia, também, contar exercícios de oralidade e aventuras minhas neste Brasil inusitado e assombroso. Por exemplo, como, no ano de 1970 me prenderam sob a acusação de pretender seqüestrar um avião... Absurdo... Mas, ao fim e ao cabo, o absurdo é a realidade! Muitas editoras me pediram que escrevesse um romance sobre esta minha experiência dos anos 70, quando me 6 Assim no original. Não há uma oração principal, à cuja volta se estruture, organicamente, todo o período. Cumpre não esquecer que esta palestra constitui um bom exemplo daquele estilo oral, no qual o encadeamento espontâneo das idéias tende a deixar a estruturação sintática em segundo plano. (N. do T.) 37 B a sil io Lo sada confundiram com um terrível revolucionário que ia seqüestrar um avião e desviá-lo para Cuba. E me perguntavam: “Mas o senhor ia para Cuba, não?” E eu respondia: “Não, ia modestamente para Barcelona...” Coisas assim. E tudo isso pode ser incidentes, anedotas, elementos passíveis de considerar-se destituídos de importância, embora, para mim, tenham sido muito importantes, enormemente importantes, qualquer um desses fatos: a menina a quem, hoje, deram os restos do meu almoço e que, pouco depois, os comia com uma fome atrasada, junto aos gradis de um jardim; minha experiência de 1970, na minha primeira visita ao Brasil. Digamos que o Brasil é, hoje em dia, um país onde acontecem coisas interessantes. Há muitos outros países, desgraçadamente no Iraque também estão acontecendo coisas interessantes, mas este é um país com esperança, este é um país aberto, este é um país com tecnologia – e, cada vez que venho aqui, noto avanços consideráveis, que dão alento, não à minha esperança no futuro, mas à minha convicção de que hoje o Brasil está avançando e abrindo caminhos para o mundo. Pois esta é sua literatura. Lembro-me de uma dos primeiros romances que traduzi, A barca dos homens, de Autran Dourado. É um romance terrível, impressionante e belíssimo. Poderia falar das permanentes transgressões de linguagem de Clarice Lispector, sua constante tentativa de inventar uma linguagem nova, porque inventar uma linguagem nova é inventar um mundo novo. Dizia Pessoa que a pátria do homem é sua língua. Outro, Rilke, dizia que a pátria do homem é sua infância. Outros dizem que a pátria não é o lugar onde nascemos, mas aquele onde queremos morrer (esta definição não me serve, porque eu não quero morrer em parte alguma). Outros, enfim, dizem que a pátria é o lugar onde nasceram nossos filhos. Eu sou muito mais modesto e digo: a pátria é o lugar onde as coisas quotidianas não são um problema, onde alguém sabe onde comprar novos cordões para os sapatos, quando os cordões velhos se rompem, ou uma aspirina (isto, literalmente, já me causou dores de cabeça em certos países). Na pátria, em qualquer pátria, o quotidiano não é um problema. Pois bem, a literatura do Brasil sempre me fascinou, porque nela vejo es- 38 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a Capas de Clóvis Graciano De Jorge Amado Basilio Losada traduziu: Los pastores de la noche (Os pastores da noite). Barcelona: Luis de Caralt, 1970; Barcelona: Ediciones B, 1995. Los subterráneos de la libertad (Os subterrâneos da liberdade). Barcelona: Bruguera, 1980. Mies roja (Seara vermelha). Barcelona: Luis de Caralt, 1985. Los viejos marineros: dos historias del muelle de Bahia (Os velhos marinheiros: duas histórias do cais da Bahia). Barcelona, Ediciones B, 1988. Jubiabá. Barcelona, Plaza & Janes, 1994. Navegación de cabotage: apuntes para un libro de memorias que jamás escriberé (Navegação de cabotagem). Madri: Alianza, 1995. De cómo los turcos descubrieron América. Barcelona: Ediciones B, 1996. 39 B a sil io Lo sada tes elementos de oralidade. Contar bem uma história, sem perder de vista o leitor. As últimas obras brasileiras que traduzi, Patrícia Melo, por exemplo, ou o último livro de Rubem Fonseca, são literatura absolutamente insólita na Europa. Agora, como convencer os europeus daquilo que eu prego, a saber, que o Brasil, não só em literatura, em muitas áreas (mas, para mim, por razões profissionais, fundamentalmente em literatura) está na vanguarda do mundo? Este seria um trabalho que, no melhor sentido da palavra, poderia ser chamado de político. Eu gostaria de ver em Heidelberg, em Hanover, em Göttingen, em Florença, em Malinas, em Gand, docentes de literatura brasileira7 como o que temos em Barcelona, que simplesmente transmite a seus alunos o amor a esta literatura e lhes revela o seguinte: que esta literatura é de vanguarda, que ela está rompendo os velhos esquemas das literaturas européias. Quando vejo que na França continuam escrevendo romances cujo tema central é saber se a Senhora Dupont vai para a cama com o pintor do lado – um assunto que não interessa nem sequer ao Senhor Dupont – parece-me que a literatura será viver as coisas, escrevê-las (e talvez eu escreva esta minha experiência de hoje, quando compartilhei meu almoço, o que foi um ato involuntário, mas, não obstante, fez com que me sentisse enobrecido; e, logo depois, eu teria gostado de falar com aquela menina, para que ela me explicasse algumas coisas, e, talvez, deixar-lhe algum dinheiro a fim de que, durante um mês, ela e aquele menino negro que ela carregava pudessem esquecer a angústia de sobreviver um dia depois do outro). Se a literatura, portanto, tem algo importante, se ela é algo importante, ela o será nisto: descobrir-nos mundos, descobrir-nos novos usos da linguagem que jamais prevíramos, pôr um adjetivo novo ao lado de um substantivo com o qual esse adjetivo nunca se casara antes, provocar em nós essa emoção que às vezes, tantas vezes, traduziu-se para mim na experiência de estar lendo, sobre7 No original está “lectores de literatura portuguesa”, um evidente lapsus linguae corrigível pelo contexto. (N. do T.) 40 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a tudo um poema, e ter de fechar o livro, porque a tensão emocional era tão alta que eu vislumbrava que aquilo não era deste mundo nem correspondia a minha própria experiência. É esta a grandeza da literatura. Continuarei a pregar, talvez inutilmente, de universidade em universidade, dizendo que a literatura do Brasil é a mais nova, a mais rica, a mais sugestiva do mundo. Continuarei a peregrinar pelas editoras com um livro brasileiro debaixo do braço (antes isto era fácil, porque todos os editores eram meus colegas, gente de minha geração; em seguida, eram alunos meus; mas agora já é uma terceira geração, é gente que eu não conheço e que não me conhece e, aí, a coisa se torna um exercício apostólico). Sinto-me em permanente apostolado, com qual tento pagar tudo o que este país e esta língua me deram. Porque aquele menino humilhado na escola, por falar uma língua humilhada, descobriu, mais tarde, que essa mesma língua era uma língua carregada de dignidade. E a partir daí viveu e assumiu essa língua com um orgulho imenso. Esta é a história de uma paixão. 41
Download