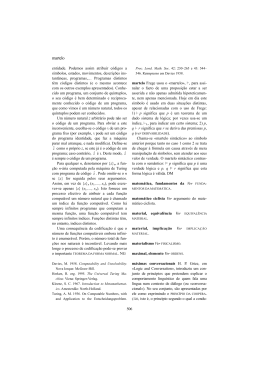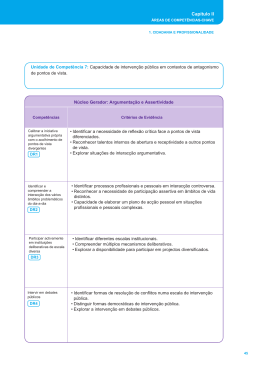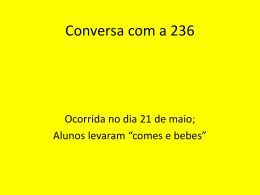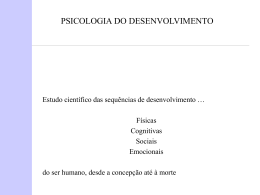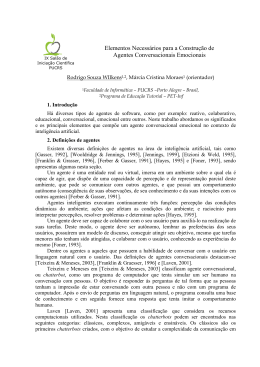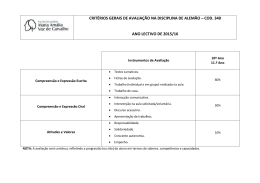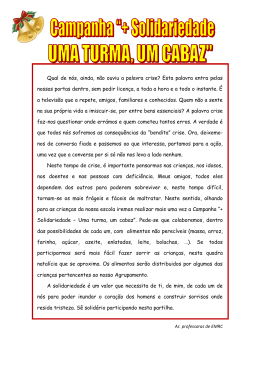PROCESSOS COGNITIVOS E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO Adriano Duarte Rodrigues Um dos fenómenos mais enigmáticas da nossa experiência da linguagem tem a ver com o facto de raramente querermos dizer aquilo que efectivamente dizemos. Em geral, queremos dizer ora menos, ora mais, ora coisas diferentes daquelas que os enunciados que produzimos dizem. Observemos o seguinte diálogo entre o marido e a mulher: Marido: Estou a pensar ir ao cinema logo à noite. Mulher: Gostaria muito de ir contigo, mas tenho um trabalho para acabar. Marido: É pena. Então vou sozinho. Mulher: Depois contas-me o filme. O que é que o marido disse? Que estava a pensar ir ao cinema nesse dia à noite. Mas será isto que ele quis dizer? Se repararmos não foi a isto que a mulher respondeu. A mulher respondeu a um convite para ela ir com ele ao cinema nessa noite. Será que foi isso que ele quis dizer? Aparentemente sim, porque se não fosse, a resposta dele não teria sido “É pena. Então vou sozinho”, mas qualquer coisa como “Eu não te estava a convidar para ires comigo, mas a informar que estou a pensar ir ao cinema logo à noite”. Por seu lado, se repararmos bem, a mulher também não disse aquilo que ela queria dizer. O que é que ela disse? Que gostaria muito de ir com o marido ao cinema, mas que tem um trabalho para acabar. E o que é que o marido entende? Que não aceita o convite para ir com ele ao cinema. Será também isto que ela quis dizer? Parece óbvio que sim, porque se não fosse, a mulher não lhe teria respondido “depois contas-me o filme”, mas qualquer coisa como “não vais não, porque eu vou contigo”. Como podemos ver por este exemplo aparentemente trivial, que pode ocorrer numa conversa entre qualquer casal, aquilo que queremos dizer não corresponde exactamente àquilo que as nossas palavras significam, mas depende da situação do discurso, do conjunto de dados que os interlocutores não podem deixar de ter em mente no momento em que falam. Esta relação entre o sentido do que dizemos e a situação do discurso é de tal modo óbvia que raramente nos damos conta da discrepância entre a 1 significação daquilo que dizemos e o sentido que efectivamente as nossas palavras têm. É por isso que a grande maioria dos estudiosos da linguagem chama a atenção para o facto de não ser suficiente possuir o domínio da língua que falamos para entendermos o que dizemos. Fazemos intervir igualmente processos cognitivos. Os processos cognitivos consistem num trabalho mental que todos fazemos quando falamos ou quando ouvimos alguém falar, trabalho mental de inferência daquilo que queremos dizer a partir daquilo que dizemos. Existem duas modalidades de inferência, os processos por implicitação e os processos de inferência por pressuposição. Os processos de inferência por implicitação são os que fazem com que os falantes dêem a entender coisas diferentes daquilo que dizem e entendam coisas diferentes daquilo que ouvem os outros dizer. Os falantes são levados a escolher uma hipótese interpretativa de entre um conjunto de hipóteses plausíveis. Retomemos o referido exemplo da conversa entre o marido e a mulher. Quando o marido diz que está a pensar ir ao cinema logo à noite, pode querer dizer várias coisas, mais ou menos plausíveis, tais como dar conta de um pensamento que lhe ocorreu ou informar a mulher da ocupação que pretende dar ao seu serão. Mas, para que lhe daria ele estas informações, que objectivo poderia ter ao dar-lhe estas informações? A mulher não pode descartar a hipótese de que o objectivo do enunciado que lhe dirigiu é o de a querer convidar para ir ao cinema com ele, dando ao enunciado do marido a força inerente àquilo que designamos por força ilocutória de convite. Daí que é a um convite do marido para ir com ele ao cinema que a mulher responde e não a uma informação sobre o que o marido está a pensar fazer ao serão. É evidente que ao escolher esta interpretação corre o risco que se enganar, mas este é o preço que todos inevitavelmente pagamos pelo facto de o sentido daquilo que dizemos não depender da significação literal codificada na língua, mas de processos cognitivos de inferência. Para melhor nos convencermos da importância e da generalização dos processos cognitivos de inferência por implicitação que intervêm na elaboração e no entendimento do sentido daquilo que dizemos ou ouvimos dizer, vejamos um outro exemplo. Se perguntarmos a alguém onde mora o João e obtivermos a resposta de que o João mora no Norte, podemos compreender por implicitação que o nosso interlocutor não sabe onde o João mora, partindo da hipótese de que se ele soubesse nos teria dado a morada exacta 2 dele. Embora o nosso interlocutor não nos tenha dito que não sabe exactamente onde o João mora, podemos activar a hipótese muito provável de que é isso que a resposta dele quer dizer, de que ignora a morada do João. Como veremos, mais adiante, uma grande parte das implicitações decorre da aceitação de um princípio lógico, o de que o discurso é uma actividade regida por regras de cooperação entre os interlocutores. De facto, se o nosso interlocutor soubesse onde mora o João e não o dissesse quando lhe perguntamos onde o João mora, não estaria a ser cooperante connosco e, na medida em que, como sublinhou Paul Grice, numa célebre conferência proferida em 1966, a linguagem é uma actividade de cooperação entre seres racionais, não estaria a comportar-se como um ser racional. Mas deixemos por agora os processos de inferência por implicitação. Vejamos a outra modalidade de processos cognitivos que intervêm na elaboração do sentido daquilo que dizemos ou ouvimos, os processos de inferência por pressuposição. A pressuposição consiste num conjunto de saberes que temos que aceitar como indiscutíveis para que aquilo que dizemos ou ouvimos dizer possa ser aceite ou recusado. Imaginemos que o instrutor de um processo criminal se volta para o arguido e lhe pergunta: «O que é que você fez depois de ter assassinado a sua vizinha?» Embora o instrutor não diga que o seu interlocutor assassinou a vizinha, a pergunta que formulou só tem sentido e a resposta do interlocutor só é possível se ambos pressupuserem ou estiverem de acordo acerca do facto de que o arguido assassinou a vizinha. No caso, quer o arguido responda que foi beber um café, passear, trabalhar, telefonar a um amigo ou que não fez nada e se deixou ficar tranquilamente deitado, o simples facto de responder equivale a uma confissão do crime, pressupõe inevitavelmente que fez aquilo que o enunciado do instrutor pressupõe como tendo sido feito antes do que quer que seja que o arguido tenha feito. É provavelmente por essa razão que aos arguidos é facultada a liberdade de não responder às perguntas que lhe são feitas, sob a observação de que tudo aquilo que disser poderá ser tido em conta contra ele. Agora que definimos estes dois processos cognitivos de inferência, vejamos as várias modalidades que podem apresentar. 3 1 As modalidades da implicitação Aquilo que dizemos pode querer dizer coisas diferentes daquilo que as nossas palavras significam, quer por razões convencionais, quer por razões conversacionais. O uso de determinadas palavras pode produzir sentidos implícitos por razões convencionais. Assim, por exemplo, se eu disser: «O João é português e por isso gosta de bacalhau», estou a querer dizer, por implicitação convencional, pelo menos duas coisas, a de que os portugueses gostam de bacalhau e a de que o facto de o João ser português é a razão pela qual ele gosta de bacalhau. Trata-se de implicitações convencionais, visto decorrerem da significação convencional da expressão “e por isso”. Em geral, esta categoria de expressões linguísticas, a que damos o nome de conectores, produzem sentidos implícitos convencionais. É o caso nomeadamente das expressões mas, pois, visto que, uma vez que, e por isso, por conseguinte, no entanto, etc. Há, no entanto, implicitações que não dependem da significação convencional de nenhuma expressão em particular, mas de regras a que se supõe que todos os falantes obedecem quando falam, se quiserem ser considerados como seres racionais. A estas implicitações deu Paul Grice o nome de conversacionais. Grice chamou a atenção para o facto de o discurso ser uma actividade humana e, como tal, aquele que a realiza não pode deixar de ser cooperante se quiser ser considerado um ser racional. Ser cooperante consiste em fazer com que aquilo que diz seja um contributo para o objectivo que está em causa no momento em que toma a palavra. A este princípio deu Grice o nome de princípio de cooperação. Deste princípio decorre um conjunto de máximas, organizadas em torno das categorias da quantidade, da qualidade, da relevância e do modo. Assim, os falantes comportam-se de maneira racional se contribuírem para o objectivo do discurso em que estão envolvidos, se fornecerem tanta informação quanto a que é requerida e não fornecerem mais do que a que é requerida, se fornecerem as informações que consideram verdadeiras e tiverem suficiente evidência para as considerarem como verdadeiras, se aquilo que disserem tiver a ver com o objectivo da conversa em que estiverem envolvidos ou for relevante para o seu avanço, se forem claros e ordenados na maneira de falar. É da suposição de que, quando falamos, estamos a seguir estas máximas que somos levados a inferir determinados sentidos implícitos a partir daquilo que dizemos. 4 Assim, posso inferir que o meu interlocutor não sabe onde mora o João quando, em resposta à minha pergunta, me diz que mora algures no Norte, porque não posso deixar de considerar que, de acordo com a máxima da quantidade, se soubesse, teria respondido dando a morada exacta do João. Quando alguém me responde que tem dois irmãos posso inferir que não tem três nem quatro, embora logicamente se alguém tiver dois irmãos também possa ter mais, porque se tivesse mais tê-lo-ia dito. Quando alguém diz que a Maria zangou-se com o patrão e foi despedida não posso deixar de entender que foi depois de se ter zangado com o patrão e eventualmente por isso que foi despedida, porque parto do princípio de que o meu interlocutor está a seguir a máxima do modo segundo a qual é suposto exprimir-se de maneira ordenada. Muitas vezes as implicitações decorrem, não do cumprimento mas da violação ou da exploração das máximas conversacionais, produzindo aquilo a que damos o nome de figuras retóricas. Se, numa manhã de chuva, o marido disser para a mulher que está um lindo dia para fazerem o pic-nic planeado, está manifestamente a violar a máxima da qualidade, visto dizer uma coisa que é obviamente falsa. A mulher não pode deixar de inferir que aquilo que ele quer dizer é exactamente o contrário daquilo que as palavras significam e vai por conseguinte entender que as palavras do marido têm um sentido irónico. Como podemos observar, algumas implicitações não dependem da situação em que o discurso ocorre. É o caso da implicitação que me leva a inferir do enunciado «O João tem dois filhos» que o João não tem mais do que dois filhos ou do enunciado «A Maria zangou-se com o patrão e foi despedida» que a Maria foi despedida depois de se ter zangado com o patrão. Mas o caso do enunciado «Que belo dia para fazermos um picnic» não tem sempre um sentido irónico, depende da situação ou das circunstâncias que são manifestas no momento em que o locutor o proferiu, em particular da observação do estado do tempo. É para dar conta desta distinção que Grice fala de implicitações generalizadas e de implicitações particularizadas. 5 2 As modalidades da pressuposição Também existem diversas categorias de pressuposição. Mas, antes vejamos a diferença entre esta modalidade de inferência e a implicitação de que acabámos de falar. A implicitação decorre, como vimos, do facto de quando falamos ou ouvimos alguém falar não podermos deixar de ter em conta todo um conjunto de hipóteses interpretativas que decorrem, ora da significação convencional de determinadas expressões linguísticas, ora do facto de não poder deixar de ter em conta que o falante produz uma actividade racional e para ser considerado como tal as suas palavras devem ser cooperantes. Por seu lado, a pressuposição é também um processo de inferência, mas não tem a ver com hipóteses interpretativas que decorram da significação convencional das palavras ou do princípio de cooperação; decorre antes da necessidade de, tanto o falante, como o que o ouve não poderem deixar de ter em conta um conjunto de saberes indiscutíveis para que possam concordar ou discordar acerca daquilo que dizem. A pressuposição é, por isso, um processo inferencial constitutivo da próprio quadro enunciativo, isto é, produz a delimitação do mundo acerca do qual os falantes podem falar, quer para concordarem, quer para discordarem acerca dos juízos que formulam. Oswald Ducrot (1991) chamou a atenção para duas categorias de pressupostos que constituem o quadro enunciativo1: os pressupostos da enunciação e os pressupostos do enunciado. Por pressupostos da enunciação entende Ducrot aquilo que obriga, torna possível, interessante, ou confere autoridade para se dizer aquilo que se diz ou para calar aquilo que se cala. É por isso que se tenderemos a aceitar os conselhos dietéticos do médico no quadro de uma consulta e acharemos os mesmos conselhos despropositados se forem formulados pela pessoa que encontramos ocasionalmente no metro. Se quisermos darmos conta dos pressupostos da enunciação podemos colocar as seguintes perguntas ao nosso interlocutor: «porque dizes isso?», «quem te autorizou a dizer isso?», «porque me dizes isso a mim?», «porque me dizes isso aqui?», «porque dizes isso agora?». A explicitação da resposta a estas perguntas corresponde à identificação dos pressupostos da enunciação ou, se preferirmos, das diferentes variáveis que definem o quadro 1 Abordei sistematicamente a questão da pressuposição, do ponto de vista pragmático, em Rodrigues 2005, 155-171. 6 enunciativo. Podemos, no entanto, facilmente observar que a explicitação destas questões é um acto de violência discursiva que tem como consequência o fim da conversa, porque corresponde a uma recusa ou pelo menos ao pôr em dúvida o quadro enunciativo no seio do qual se situa a referida interacção verbal. Por seu lado, os pressupostos do enunciado têm a ver com a aceitação indiscutível da existência daquilo de que fala o enunciado discurso. Frege (1952) sublinhou duas categorias de pressupostos do enunciado: as referenciais, que consistem na aceitação da existência daquilo a que os enunciados se referem e as cláusulas temporais (antes de, depois de), que consistem na aceitação da ocorrência de determinados factos ou acontecimentos em relação aos quais o enunciado situa os factos referidos. Os pressupostos do enunciado são desencadeados por marcas linguísticas que desempenham o papel de dispositivos pressuposicionais. O desenvolvimento dos estudos da pressuposição dos últimos 50 anos tem levado à descoberta de algumas dezenas de dispositivos verbais desencadeadores de pressuposições dos enunciados (presuppositions triggers). São dispositivos desencadeadores de pressuposições, entre outros, as expressões definidas (ex.: «a Maria viu um rato na cozinha» pressupõe que existe um rato na cozinha), os verbos factitivos (ex.: «a Marta lamenta a zanga que teve com o irmão» pressupõe que a Marta se zangou com o irmão), implicativos (ex.: «o João conseguiu parar o carro a tempo» pressupõe que o João tentou parar o carro), de mudança de estado (ex.: «o Ricardo deixou de fumar» pressupõe que o Ricardo dantes fumava), iterativos (ex.: «o Ricardo está de novo a trabalhar» pressupõe que já trabalhava antes), de julgamento (ex.: «o Rui acusou o irmão de comer os chocolates dele» pressupõe que o Rui considera mau o facto de o irmão comer os chocolates dele), as marcas temporais (ex.: «a Manuela antes de se mudar para o Porto morava em Lisboa» pressupõe que se mudou para o Porto) , as marcas de realce ou enfáticas (ex: «foi o João que se casou com a Manuela» pressupõe que alguém casou com a Manuela), as marcas comparativas (ex.: «O Rui é mais alto do que o irmão» pressupõe que o irmão do Rui é mais baixo do que o Rui), as condições contrafactuais (ex: «Se eu tivesse estudado mais teria passado de ano» 7 pressupõe que não passei de ano), os pedidos para realizar acções (ex.: «feche a porta» pressupõe que a porta está aberta). Algumas observações para sublinhar as suas funções discursivas da pressuposição, quer da enunciação quer do enunciado. Em primeiro lugar, e ao contrário das implicitações, as pressuposições mantêm-se inalteradas quer os enunciados produzidos se apresentem na forma positiva, negativa ou interrogativa. Para que possa afirmar, negar ou perguntar se o João deixou de fumar tenho que pressupor que antes o João fumava, visto que qualquer das formas positiva, negativa ou interrogativa acerca do facto de o João ter deixado de fumar pressupõe que dantes ele fumava. Em segundo lugar, a recusa dos pressupostos tem sempre como resultado o fim da conversa que depende do quadro enunciativo que eles formam. Efectivamente se, por exemplo, eu não aceitar que o João dantes não fumava também não poderei dizer nem que deixou nem que não deixou de fumar. Como vemos, as pressuposições formam uma espécie de pano de fundo ou de cimento que permite encadear entre si os enunciados de um discurso e dar-lhe coerência. No entanto, como fazem parte do conjunto de saberes indiscutíveis que os interlocutores têm que aceitar para prosseguirem a sua actividade conversacional, só se dão conta da sua existência, quando esses saberes são postos em causa por um dos interlocutores, violando deste modo as fronteiras que delimitam o quadro enunciativo. 8 3 As estratégias da comunicação Como vemos, o discurso decorre de um processo interactivo, é uma actividade regulada por princípios e obedece a normas que os falantes possuem interiorizadas e que constitui a sua competência comunicacional. Como qualquer actividade, também a interacção discursiva possui estratégias, que podem ser comparadas com as estratégias dos jogos de competição. A interacção discursiva é uma actividade que seres humanos realizam na presença física uns dos outros, dessa presença decorrendo para os que nela tomam parte o estatuto de participantes. É porque a presença física é o factor primeiro e fundamental da prática discursiva que todas as outras modalidades de prática discursiva têm na actividade conversacional o seu modelo e o seu fundamento. Em qualquer das outras modalidades discursivas, como por exemplo na correspondência epistolar, telefónica ou telemática, na escrita e na leitura de obras literárias ou de qualquer outra modalidade de discurso escrito, só podemos entender o sentido daquilo que escrevemos ou lemos porque pressupomos a presença física de interlocutores. Cada uma dessas outras modalidades de prática discursiva depende de dispositivos técnicos que não conseguem assegurar a totalidade das dimensões da presença física envolvidas na actividade conversacional face a face. A presença física produz nos participantes um grau variável de energia emocional e desempenha, por isso, o papel fundamental de constituição da sociabilidade. A energia emocional provocada pela presença física manifesta-se nas marcas, tanto verbais, como paraverbais e extraverbais, das intervenções dos participantes. Os seres humanos são dotados de um sistema nervoso que os predispõe a uma reacção emocional específica provocada pela presença física de outros seres humanos. A gestão dessa predisposição explica o facto de tenderem a adoptar processos de interssincronização ao longo do desenrolar da conversa. O funcionamento destes processos depende da reacção emocional desencadeada pela presença física dos participantes, do grau de investimento emocional nessa presença. Quanto maior é o grau de energia emocional investida pelos participantes, mais animada e gratificante é a conversa e mais perfeitos são os processos de interssincronização das intervenções dos participantes. Por seu lado, quanto menor for o 9 grau de energia emocional investida, mais aborrecida e monótona é a conversa e mais deficientes ou negativos são os processos de interssincronização das intervenções dos participantes2. Sem se darem conta, os participantes tendem a ajustar às expressões dos outros participantes, tanto positivamente como negativamente, não só as expressões verbais das suas intervenções, mas também os elementos prosódicos, tais como ritmo, a entoação e o débito das suas intervenções, assim como os processos quinésicos e as expressões mímico posturais. Podemos, por isso, a propósito falar de uma espécie de contágio entre as marcas da energia emocional investida pelos diferentes participantes. No caso de conversas com um elevado grau de energia emocional investida, os processos de interssincronização são perfeitamente ajustados e regulados. A actividade conversacional em que estão envolvidos é animada e gratificante, apresentando os comportamentos a aparência de uma coreografia perfeitamente regulada. Por seu lado, quando a energia emocional investida é diminuta, os processos de interssincronização são desajustados e desconexos, a actividade conversacional é decepcionante, com a consequente sensação de enfado e de aborrecimento. O factor principal do investimento emocional dos participantes na interacção conversacional é o reconhecimento mútuo e recíproco dos mesmos focos de atenção, convertidos em objectos simbolicamente marcados. É a falta deste reconhecimento, a ausência de focos de atenção mutuamente reconhecidos como simbolicamente marcantes, que explica as conversas desinteressantes, quando os participantes não conseguem sincronizar as suas intervenções, com a consequente sensação de perca de tempo e de aborrecimento. Um dos efeitos mais notáveis do processo de interssincronização das intervenções é, por um lado, o de pertença dos participantes a um mesmo mundo interssubjectivo, o reconhecimento da sua qualidade de membro ou de pertença a esse mundo comum e, por outro lado, o de exclusão dos outros, dos que, não reconhecendo os mesmos objectos simbolicamente marcados pelos mesmos focos de atenção ou de interesse, não se identificam com o mesmo mundo interssubjectivo e não se consideram por isso como 2 O estudo sistemático dos processos de interssincronização serão estudados mais à frente. 10 seus membros. É esta ambivalência que define a natureza simbólica das marcas em que os participantes investem a sua energia emocional. Os processos de interssincronização que permeiam a actividade conversacional representam, por isso, formas rituais destinadas a produzir, a manter, a reforçar e a restabelecer laços sociais e de solidariedade. A actividade conversacional bem sucedida, em que os processos de interssincronização entre os participantes funcionam de maneira bem regulada, desempenha, por conseguinte, esta função ritual de constituição de uma comunidade, em torno do reconhecimento do mesmo mundo vivido e da identidade de membro de uma mesma comunidade de vida. De entre as diferentes marcas simbólicas dos processos de interssincronização merecem particular relevo as formas de tratamento. Ninguém fica indiferente quando ouve alguém chamar pelo seu nome próprio e o emprego de formas de tratamento ao longo da conversa assume uma função ritual particular. A permanência do mesmo nome com que os outros nos interpelam é uma forma de reconhecimento da nossa identidade, apesar das mudanças produzidas pela historicidade da existência humana: «Os rituais de endereço pelo nome pessoal são uma versão dos símbolos que são utilizados para prolongar a categoria de membro de uma situação para a outra. Ilustram também o ponto de que o maior grau de memória simbólica e de prolongamento da qualidade de membro é conectado com um maior grau de identificação pessoal com estes símbolos. Para uma pessoa moderna ocidental, não há em geral nada mais intensamente pessoal do que o seu próprio nome. Mas como mostram as comparações interssociais, não há nada de inerente nem de natural na identificação de nós próprios e dos outros como indivíduos únicos; é antes o fluxo progressivo dos rituais quotidianos de chamar pelo nome que mantém estas identidades ao mesmo tempo como as nossas e como as dos outros.» (Collins 2004, 84) Os processos de nominalização das datas, tais como “o 25 de Abril”, “o 5 de Outubro”, “o 11 de Setembro”, são outras formas rituais de produção de fortes marcas simbólicas que dão conta do reconhecimento e da identidade dos membros de um mesmo mundo interssubjectivo, dos que, reconhecendo a natureza simbólica dessas datas, atribuem uma espessura emocional forte aos acontecimentos que elas representam. A referência a pessoas e a situações conhecidas pelos participantes é uma terceira categoria de formas rituais de produção simbólica. Não admira que ocorra sobretudo no 11 início e no fim da conversa, nas sequências que, como veremos mais adiante, são as mais ritualizadas. Perguntar pela saúde de familiares ou amigos, mostrar interesse pelo desenrolar de um acontecimento particularmente marcante para a vida pessoal, familiar ou profissional dos participantes são exemplos notáveis deste processo. Seria, no entanto, redutor restringir estes processos rituais à produção de marcas simbólicas positivas. A referência a pessoas ausentes para sublinhar a sua má conduta ou para as criticar, no caso das conversas maledicentes, é um processo ritual que visa idêntico resultado, o de produzir marcas simbólicas da pertença dos participantes a um mesmo mundo interssubjectivo, através da sua demarcação em relação a essas pessoas que os participantes se empenham em excluir do seu mundo. Trata-se de um processo ritual particularmente eficiente, uma vez que estreita a cumplicidade dos participantes em torno de marcas tanto mais fortes quanto mais acentuam a sua qualidade de membros de uma comunidade da qual as pessoas criticadas são excluídas. Daí a tendência para a produção de um crescendo, ao longo da conversa, das marcas maledicentes das intervenções, a que se poderia aplicar o ditado popular: “um diz mata, o outro esfola”. Esta função simbólica identitária da conversa maledicente torna-se evidente se tivermos em conta o facto de a não aceitação das críticas formuladas por parte de algum dos participantes provocar inevitavelmente a ruptura dos processos de interssincronização, com a consequente exclusão desses participantes. Os participante que se demarcam das intervenções maledicentes dos outros, exclui-se e é excluído da interacção conversacional, é posto literalmente à margem da conversa. Ele próprio se automarginaliza, pelo facto de não reconhecer as marcas do mundo interssubjectivo comum e de se recusar a investir nelas a sua energia emocional. De maneira geral, o não reconhecimento e a recusa da mesmas marcas simbólicas é objecto de sanções simbólicas, tais como a irritação de que é alvo por parte dos outros participantes e o fim da sua qualidade de participante, de membro do mundo comum. Idêntico processo de exclusão se verifica nos casos em que um dos participantes recusa investir a sua energia emocional e sincronizar as suas intervenções com as intervenções festivas e jocosas dos outros participantes ou quando produz intervenções racionalizantes que explicitam os próprios processos de interssincronização utilizados pelos outros participantes, processos que é suposto serem mantidos implícitos para 12 poderem produzir o seu efeito específico de constituição dos laços sociais de solidariedade. A exclusão provocada pelo não reconhecimento das mesmas marcas simbólicas e a não identificação com os mesmos objectos de investimento tem a ver com facto de ser um processo de dessacralização. É por isso objecto de sanções simbólicas destinadas, quer a assegurar a exclusão dos que os manifestam, quer a restabelecer a ordem simbólica violada pelas intervenções dessacralizantes. A energia emocional é dotada de uma racionalidade específica e situa-se a montante e a jusante dos outros domínios da experiência do mundo. É ela que dá sentido ao investimento nos outros domínios, nos domínios profissionais, políticos, intelectuais ou culturais. Dela retiram os participantes na actividade conversacional a força suficiente, não só para prosseguirem o seu investimento nas outras actividades, mas também para se dedicarem a outras actividades. Assim, um elevado grau de energia emocional investido nas interacções que estabelece com os outros fomenta o reconhecimento que gera a auto estima indispensável para o envolvimento nas outras actividades, ao passo que um diminuto grau ou a ausência de energia emocional estão associados à falta de reconhecimento e à falta de consideração que desencorajam o envolvimento nas outras actividades. Por seu lado, do envolvimento nos diferentes domínios da experiência retira o ser humano a energia emocional que investe nas interacções que estabelece com os outros. É esta relação da actividade conversacional com os diferentes domínios da experiência que confere racionalidade à energia emocional investida nas suas marcas simbólicas. Podemos assim considerar a actividade de interacção conversacional como um mercado em que cada um dos participantes negocia o capital simbólico de que é detentor, formado pelo conjunto das suas marcas dotadas de um determinado grau de energia emocional3. O capital simbólico é assim identificado, trocado, partilhado e, nesse processo cada um dos participantes, tanto podem vê-lo aumentado ou acrescido pelo seu reconhecimento por parte dos outros participantes, como podem vê-lo diminuído e perdido em virtude do seu não reconhecimento. De acordo com esta metáfora económica, 3 Retomo esta noção de capital simbólico da obra de Pierre Bourdieu. 13 a actividade é uma espécie de mercado de valores que ora valoriza ora desvaloriza a cotação das marcas simbólicas de que cada um dos participantes é detentor. A este processo correspondem, respectivamente, o sentimento de satisfação ou de gratificação e o sentimento de frustração provocados pela interacção conversacional. Podemos procurar estabelecer uma relação entre o mercado do capital económico e o mercado do capital simbólico. Nas nossas sociedades, a riqueza económica pode contribuir para o aumento do capital simbólico. No entanto, habitualmente é a satisfação proporcionada pelos processos de interacção em que nos envolvemos que confere a energia indispensável para suportarmos o esforço exigido pela procura da riqueza, assim como é a satisfação proporcionada pela energia emocional que visamos com o aumento dos bens económicos. A falta de reconhecimento por parte daqueles com quem nos relacionamos acaba por retirar às actividades que realizamos nos outros domínios da nossa experiência a tonicidade emocional suficiente para as podermos desempenhar de maneira gratificante e eficaz. Além da ser de natureza gradativa, o capital simbólico é desigualmente repartido. Esta característica faz com que os participantes nem sempre invistam o mesmo grau de energia emocional na conversa em que estão envolvidos. A qualidade ou a posição4 de participante numa conversa é indissociável de uma característica a que Goffman deu o nome de footing, designação que compreende duas noções fundamentais da interacção conversacional, as noções de face e de território. Trata-se de metáforas sugestivas que entraram na terminologia técnica da análise conversacional, devido à sua capacidade heurística, a de dar conta e a de explicar uma grande parte das decisões são que os participantes são levados a tomar ao longo da conversa. Goffman definia deste modo a noção de face: «o valor social positivo que uma pessoa reivindica efectivamente a través da linha de acção que os outros supõem que ela adoptou no decurso de um contacto 4 Foi esta noção de posição que Goffman utilizou para dar conta da multiplicidade de lugares ocupados pelos participantes num artigo publicado primeiro no n.º 25 da revista Semiotica e retomado em Goffman 1987, 133-166. 14 particular. A face é uma imagem do eu delineada segundo determinados atributos sociais aprovados e no entanto partilháveis, dado que, por exemplo, pode-se dar uma boa imagem da profissão que se exerce ou da confissão religiosa a que se pertence ao dar uma boa imagem de si próprio». (Goffman 1974, 9) Goffman insiste na natureza sagrada da face, o que acarreta o imperativo do respeito que cada um dos participantes deve, tanto à sua própria face, como à face dos outros participantes e, no caso, de ter sido violado esse valor, o imperativo da expiação e da reparação do desrespeito de que a face terá sido alvo. A conversa é evidentemente, deste ponto de vista, um acontecimento arriscado, uma vez que cada um dos participantes vai tentar, ao longo da conversa, por um lado, preservar ou aumentar este valor social, “fazendo boa figura”, como diz de maneira sugestiva a expressão popular, e, por outro lado, evitar que este valor social não diminua ou corra o risco de diminuir, “fazendo má (ou triste) figura”. Expressões como “perder a face” ou “atirar à cara” mostram que todos os falantes dominam todo um conjunto de estratégias para exorcizarem os riscos para a sua face e para a face dos outros participantes que decorrem da interacção conversacional. Enquanto valor que se joga ao longo das intervenções dos participantes na conversa, a face representa, por conseguinte, uma espécie de capital investido que, tanto pode ser ganho e aumentado, como perdido e recuperado. Cada um dos participantes joga no sentido de o ver maximizado, ao longo das intervenções que é levado a realizar, intervenções que desempenham, deste ponto de visa, a função de lances que se jogam com vista a aumentar o valor da própria face e a face dos outros participantes. Numa conversa, existem tantas faces quantos os participantes e, por conseguinte, a estratégia que visa a maximização do seu valor, por parte de cada um dos participantes, tem que ter em conta que existe a mesma estratégia por parte dos outros. Neste sentido, cada participante procura constantemente jogar com a procura de um equilíbrio, sempre problemático, entre o objectivo de salvaguardar e aumentar o valor da sua própria face com a salvaguarda e o respeito pela face dos outros participantes. Porque se trata de um compromisso arriscado, os participantes por ocasião das suas intervenções tendem a vigiar as consequências, para o valor tanto da face própria como da face dos outros participantes, das suas tomadas de palavra, corrigindo-as sempre que o equilíbrio possa 15 ser posto em causa, através de intervenções de natureza metadiscursiva ou parafrásica: «não era isso que eu queria dizer», «não leves a mal se te disser», «não disse isso por mal», «disse isso por dizer», «estava a brincar», «o que queres dizer com isso?», «não digas isso», «Não devias dizer isso», etc. Como vemos, a preservação ou a manutenção da face, o respeito da face própria e da face dos outros participantes na conversa, a recuperação da face perdida são várias modalidades do processo ou do trabalho de elaboração da face que os participantes prosseguem ao longo de toda a interacção conversacional. É por isso que Goffman fala de “work face», de trabalho da face, expressão que traduziremos aqui por figuração, à semelhança do que fez o tradutor francês da obra do autor: «Por figuração (work face) entendo designar tudo o que uma pessoa empreende para que as suas acções não façam perder a face a ninguém (inclusivamente a ela própria).» (Goffman 1974, 15) Goffman distinguia dois tipo de figuração. O primeiro consiste em evitar, tanto aquilo que possa atentar contra a face própria, pondo em risco a auto estima ou a consideração que os outros participantes têm de si o respeito que têm por si, fazendo como se diz “boa figura”, caso contrário dizemos que “faz má figura”, que “faz triste figura” ou que “perde a face”, como aquilo que possa atentar contra a face dos outros participantes, pondo em risco a sua auto estima ou a sua reputação. O segundo tipo de figuração consiste em reparar tudo aquilo que, no decorrer da conversa, possa, directa ou indirectamente, atentar contra a face própria ou contra a face dos outros participantes. Goffman distinguia quatro etapas do processo de reparação: a intimação ou a chamada de atenção para o acontecimento eventualmente atentatório da face, a oferta de explicações ou de desculpas reparadoras, a aceitação dessa oferta por parte do(s) suposto(s) ofendido(s) e o agradecimento dessa aceitação por parte do responsável pela ofensa. É claro que estas quatro etapas podem não ser todas concretamente marcadas nas intervenções reparadoras. Assim, por exemplo, intimação pode não ser explicitamente marcada, sobretudo quando os participantes eventualmente ofendidos consideram que o autor da intervenção ofensiva não precisa que lhe chamem a 16 atenção e entendem assim deixar que ele próprio tome a iniciativa de proceder à apresentação de explicações ou de desculpas. (Goffman 1974, 17-24) Destes dois tipos de figuração depende a continuação da interacção conversacional, uma vez que só se toma a iniciativa de conversar e só se aceita continuar a conversar, se os interlocutores se considerarem dignos ou se pressupuserem o valor das suas faces respectivas. A razão de ser deste exigência tem a ver com o facto de a conversa ser partilha mútua de uma dádiva, do dom da palavra. Os dois tipos de figuração são processos regulados por regras logicamente simétricas, na medida em que a um acto do locutor destinado a valorizar a face própria corresponde um acto do alocutário destinado também a valorizar a sua face própria. No entanto, esta simetria não é linear, mas cruzada, uma vez que, por um lado, o acto de valorização da face própria por parte do locutor representa inevitavelmente o risco de corresponder à desvalorização da face do alocutário e de ser, por conseguinte, entendido como um acto arrogante e, por outro lado, o acto do locutor de valorização da face do alocutário representa o risco de desvalorização da sua face própria, sendo entendido como um acto insincero. Ambos os riscos, o da arrogância e o da insinceridade tendem a ser considerados negativamente, na medida em que têm como efeito a ruptura da lógica da sociabilidade que exige o equilíbrio entre as faces dos participantes, fundamento à própria interacção conversacional. É considerado indigno para a própria face, tanto conversar com alguém que não tem suficiente auto estima, como conversar com alguém que tem de si próprio uma auto estima demasiado elevada. O mesmo se passa em relação aos valores que o locutor atribui à sua própria face, quer quando a desvaloriza, quer quando a sobre estima. Nestes casos, a interacção conversacional corre riscos, pelo facto de os participantes, como se diz, “perderem a face” e, por conseguinte, de não poderem contar com o respeito mútuo necessário para o prosseguirem da conversa. A figuração é, deste ponto de vista, um processo ou um trabalho constante dos participantes tendo em vista a manutenção de um equilíbrio permanente, apesar de instável, do valor das suas faces respectivas, ao longo de toda a interacção conversacional. Além da noção de face, o footing comporta também uma outra noção fundamental, a noção de território ou de espaço de sociabilidade. Território é aqui 17 entendido no sentido da etologia e da ecologia. Podemos facilmente observar que, ao aproximar-nos, por exemplo, de um jardim com um cão de guarda, há um limiar a partir do qual o animal levanta as orelhas, um outro a partir do qual se ergue sobre as quatro patas e um outro a partir do qual ataca violentamente. Estes limiares têm a ver com a experiência biológica de território ou de espaço vital, delimitado por uma fronteira imaginária, considerada pelo animal como limite inviolável, aquém da qual a entrada de qualquer ser desconhecido é considerada uma intrusão intolerável. Os seres humanos são dotados de idêntico mecanismo de defesa do território, como bem notaram os etologistas (Eibl-Eibesfeld 1977, 87 e ss.) e como tem igualmente mostrado a análise conversacional. Numa conversa, cada um dos participantes possui um território próprio, a partir do qual fala e que entende igualmente ver respeitado, mantendo-o ao abrigo da intrusão dos outros participantes na interacção conversacional. Tomar a iniciativa de começo de uma interacção conversacional é sempre correr o risco de ser um acto interpretado pelos outros participantes como uma intrusão no seu espaço vital ou no seu território próprio. É por isso que, como veremos, a sequência de abertura comporta processos rituais destinados a salvaguardar o território dos participantes, a esconjurar eventuais riscos de violação do seu espaço vital, prevenindo deste modo que aquele que toma a iniciativa, não seja considerado um intruso ou um violador do território dos outros participantes: «não te incomodo?», «tens um momento para mim?», «estás disponível para conversarmos?», «posso incomodar-te?» Não existem evidentemente fronteiras rígidas e fixas do território próprio de cada um dos participantes, uma vez que o seu limiar varia de acordo com a percepção que cada um tem das fronteiras do território dos outros, em função do maior ou menor grau de familiaridade ou de formalidade da relação que estabelecem entre si. A constituição da fronteira do território é inversamente proporcional à formalidade da relação entre os participantes e obedece, por conseguinte, à seguinte regra: Quanto mais formal é a relação entre os participantes na interacção conversacional, maior é o território próprio, e quanto mais informal e familiar é a relação entre os participantes na interacção conversacional menor é o território próprio. 18 Por outras palavras, os participantes estão abertos a admitir num território tanto mais restrito quanto maior for a percepção de informalidade e de familiaridade da relação que estabelecem entre si. É evidente que o território dos participantes numa interacção conversacional pode ser simétrica ou assimétrica, dependendo da natureza mais ou menos simétrica da relação, de acordo com as seguintes regras: Entre participantes numa interacção conversacional que se consideram hierarquicamente iguais, os seus territórios são simétricos, admitindo cada um a intromissão dentro de territórios de dimensão análoga. Entre participantes numa interacção conversacional que se consideram hierarquicamente desiguais, os seus territórios são assimétricos, admitindo o(s) participante(s) que é considerado como superior a intromissão por parte do(s) outro(s) participante(s) num território menor do que o(s) participante(s) que se considera(m) hierarquicamente inferior(es). Assim, por exemplo, é perfeitamente admissível o patrão perguntar pelos estudos do filho ao empregado da sua empresa ou falar sobre outros assuntos da sua vida privada, mas é pouco provável o empregado fazer idênticas perguntas ou falar de idênticos assuntos com o patrão. Por seu lado, dois colegas de trabalho de mesmo nível hierárquico tendem a admitir como perfeitamente normal conversar sobre os seus filhos e sobre a sua vida privada. As fronteiras dos territórios dos participantes tendem a variar ao longo da sua história conversacional. A variação das formas de tratamento é um bom indicador ou uma das marcas mais evidentes do seu retraimento, de acordo com a seguinte regra5: À medida que progridem numa história conversacional comum, os participantes tendem a aumentar as marcas de familiaridade e a retrair, na mesma proporção, os limites dos territórios próprios. As faces e os territórios dos participantes numa interacção conversacional são valores que possuem uma dimensão sagrada e vital, na medida em que cada um dos participantes lhes dedica um verdadeiro culto, considera os actos que atentam contra elas 5 Sobre as formas de tratamento e a cortesia verbal ver o excelente trabalho de Rodrigues 2002. 19 como uma profanação e adopta procedimentos rituais com vista a mantê-las ao abrigo de todo acto susceptível de os profanar. No termo desta abordagem da figuração, do processo a que Goffman dava o nome de work face, literalmente trabalho da face, a conversa apresenta-se como uma actividade regulada por regras contraditórias, entre, por lado, a regra fundamental da sociabilidade, segundo a qual somos supostos conversar com as pessoas presentes, dirigindo-lhes a palavra e respondendo à palavra que nos dirigem e, por outro lado, as regra da figuração, segundo a qual dirigir a palavra aos outros é correr o risco de importuná-los, de intrusão no seu território próprio, atentando contra o valor da sua face ou violando o seu território próprio. É para resolver praticamente esta contradição entre as exigências da lógica sociabilidade e as exigências da figuração que os participantes na interacção conversacional têm ao seu dispor um sistema formado por um conjunto de regras sistémicas e por um conjunto de regras rituais. Goffman designava por regras sistémicas as convenções que regulam as etapas e o bom funcionamento do processo de interacção conversacional, ao passo que definia as regras rituais como as normas que visam instituir, preservar, manter e recuperar as faces e o território dos participantes. As regras sistémicas visam contrariar os riscos para a interacção conversacional decorrentes da ocorrência dos seguintes factores: a) perda do contacto entre um ou mais participantes, por desatenção ou por ruídos provenientes do meio ambiente; b) incompreensão daquilo que o locutor diz, por deficiente audição ou por utilização de expressões incompreensíveis; c) silêncios ou hiatos prolongados; d) sobreposição da tomada de palavra por parte de dois ou mais participantes. A ocorrência dos factores de risco a) e b) é prevenida pelas regras sistémicas seguintes: Sempre que o locutor apreende, acertada ou erradamente, a ocorrência do factor a) ou do factor b) de risco para a interacção conversacional em que está envolvido, isto é, os riscos decorrentes da perda de contacto, de desatenção ou de ruídos, utiliza marcas fáticas interactivas. 20 Sempre que o(s) alocutário(s) apreende, acertada ou erradamente, a emissão por parte do locutor de marcas fáticas interactivas, utiliza(m) marcas reguladoras interactivas. Marcas fáticas interactivas são manifestações verbais (eih!, está(s)?, sabe(s), é, não é?!, estás a ouvir?!, presta atenção!), para verbais (subida ou de descida repentina de tom, aceleração do débito) e extra verbais (orientação e inclinação do corpo e do olhar na direcção do alocutário), que visam manter e restabelecer a interacção conversacional, averiguar se não foi quebrada e, no caso de se ter quebrado, restabelecê-la. Marcas reguladoras interactivas são manifestações verbais (uhm!, estou!, ok, também acho!, sim, sim), para verbais e extra verbais pelas quais o alocutário assinala que, ou está a seguir a conversa, está empenhado na sua evolução, está a compreender o que o locutor está a dizer, ou não está a seguir, não está empenhado na conversa, não está a compreender. Mas o que faz com que as regras sistémicas contribuam para a solução dos problemas da interacção conversacional é o sua reciprocidade, razão pela qual as marcas fáticas e as marcas reguladoras são simétricas entre si, razão pela qual falamos de sincronização interaccional ou de interssincronização. A ocorrência dos dois últimos factores, o do silêncio ou do hiato e o da sobreposição da tomada de palavra, é contrariada pelas regras que regulam a gestão da tomada de palavra por parte dos participantes, questões que abordarei mais à frente, no capítulo dedicado à organização e à estrutura da conversação. O outro conjunto de regras que visam resolver as contradições entre a lógica da sociabilidade e os imperativos da figuração são as regras rituais, tomando este termo no sentido etológico, de comportamento estereotipado que desempenha funções de natureza predominante ou exclusivamente interactiva6. Observemos os seguintes diálogos: 6 A noção de ritual é aqui utilizada num sentido diferente do que é habitual. Não é tanto o aspecto cerimonial que nos interessa, mas o de um comportamento convencional que comporta a ocorrência, ao mesmo tempo, de elementos regulares e de elementos novos. Ritual é por isso todo o comportamento que é simultaneamente sempre o mesmo e sempre diferente. Mesmo os rituais profanos possuem uma dimensão sagrada, em dois sentidos distintos. Por um lado, porque consiste no retorno de componentes arcaicas de que se ignora a origem, por ter sido objecto de um trabalho de amnésia. Por outro lado, porque marca e 21 L: Diga-me as horas. A: É uma hora. L: Podia dizer-me as horas por favor? A: Com certeza. É uma hora. L: Muito obrigado A: Não tem de quê. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo diálogo? Não se distinguem do ponto de vista do objectivo da interacção, uma vez que ambos os diálogos cumprem perfeitamente o objectivo que leva L a tomar a palavra, o de obter da parte de A a informação horária solicitada. A diferença reside no facto de, no segundo diálogo, os interlocutores utilizarem um conjunto de actos de linguagem que asseguram funções de natureza exclusivamente ritual, actos de linguagem a que Goffman dá o nome respectivamente de reparação, satisfação, apreciação e minimização. (Goffman 1987, 22 e ss) Deste modo, ao submeterem-se a todo um conjunto de comportamentos verbais ritualizados, o locutor entende respeitar a face do alocutário, através de um acto de linguagem reparador da intrusão que o pedido realiza potencialmente, prevenindo assim o risco de ver o alocutário recusar o seu pedido (“Podia dizer-me as horas?). O alocutário procura respeitar a face do locutor, através de um acto de satisfação do acto reparador realizado pelo locutor(“Com certeza”). O locutor, por sua vez, procura respeitar a face do alocutário através de um acto de apreciação ou de agradecimento pelo seu acto de satisfação (“Muito obrigado”). Por último, o alocutário tenta preservar a face do locutor, através de um acto de minimização (“Não tem de quê”). É a ausência deste trabalho ou deste processo de produção de todo um conjunto de actos de linguagem de natureza ritual que faz com que, apesar de formalmente correcto, o primeiro diálogo tenda a ser considerado, em muitos quadros enunciativos, como pouco exorciza os riscos inerentes aos momentos de transição. Um aperto de mão, uma saudação são exemplos evidentes de comportamentos rituais que intervêm na interacção conversacional, sobretudo nas sequências de abertura e de fecho, sequências em que está justamente em jogo o trabalho de negociação entre os participantes tendo em vista a gestão dos riscos inerentes ao estabelecimento e à ruptura da interacção conversacional. 22 delicado, dando a entender que o locutor está mal disposto, não tem maneiras ou está zangado com o alocutário, a não ser que seja produzido numa situação de emergência entre interlocutores que têm da sua relação uma percepção dotada de familiaridade e informalidade. Podemos formular a hipótese segundo a qual as regras sistémicas são dotadas de universalidade e se observam por isso em todas as culturas, ao passo que as regras rituais são culturalmente determinadas e variam, por isso, de cultura para cultura. 23 Bibliografia fundamental: AUSTIN, J. (1962) – How to Do Things with Words, Oxford Univ. Press. (trad. francesa: Quand Dire c’est Faire, Paris, ed. Du Seuil, 1971). BAKHTINE, M (1978a) – Le Marxisme et la Philosophie du Langage, Paris, Minuit (original : 1929) BAKHTINE M. (1978b) – Esthétique et Théorie du Roman, Paris, Minuit (original : 1975). BAKHTINE, M. (1992) – Estética da Criação Verbal, Rio de Janeiro, Martins Fontes (original: 1979). BATES, E. (1976) – Langage and Context. The Acquisition of Pragmatics, New York, Academic Press. BERGER, P. & LUCKMANN, T. (1992) – La Construction Sociale de la Réalité, Paris, Méridiens Klincksieck. BOBES NAVES, M. C. (1992) – El Diálogo. Estudio Pragmático, Linguístico y Literario, Madrid, Ed. Gredos BOURDIEU, P. (1977) – L’Economie des Echanges Linguistiques, in Langue Française, nº 34, pp. 17-34. BOURDIEU, P. (1982) - Ce que Parler Veut Dire. L'Economie des Echanges Linguistiques, Paris, Fayard. COLLINS, R. (2004) – Interaction Ritual Chains, Princeton, Princeton University Press. COSNIER, J. e BROSSARD, A. (1984) – La Communication non Verbale, Neuchâtel/Paris, ed. Delachaux et Niestlé. COSNIER, J. et alii (org.) (1988) – Echanges sur la Conversation, Paris, CNRS. COULTHARD, M. (1985) - An Introduction to Discourse Analysis, Londres, Longman. DUCROT, Oswald (1991) - Dire et ne pas Dire, Paris, ed. Hermann, 3ª. Ed. ECO. U. (1992) – Os Limites da Interpretação, Lisboa, Difel. ECO, U. (1993) – Interpretação e Sobreinterpretação, Lisboa, Presença. EIBL-EIBESFELD, I. (1977) – Amor e Ódio, Lisboa, Teorema (original: Liebe und Hass, 1970) 24 FLAHAULT, F. (1978) – La Parole Intermédiaire, Paris, ed. du Seuil. (trad. port.: A Palavra Intermediária, Lisboa, Via Editora). FREGE, G. (1952) – On Sense and Reference, in P.T. Geach & M. Black(ed.), Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Oxford, Blackwell, 56-78 (texto original: Über Sinn und Bedeutung, in Zeitscrift für Philosophie und Philosophische Kritik, 1892, 100, 25-50. Tradução francesa: Sens et Dénotation, in Gottlob Frege, Ecrits Logiques et Philosophiques, Paris, Seuil, 1971, 10-126). GARFINKEL, H. (1967) – Studies in Ethomethodology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. GOFFMAN, I. (1974) – Les Rites d’Intéraction, Paris, ed. De Minuit. (Interaction Ritual, 1967). GOFFMAN, E. (1987) – Façons de Parler, Paris, ed. de Minuit. (or.: Forms of Talk, 1981). GOFFMAN, E. (1991) – Les Cadres de l’Expérience, Paris, ed. de Minuit. (or.: Frame Analysis, 1974). GRICE, H. P. (1975) - Logic and Conversation, in COLE, P, E MORGAN, J. (eds.) – Syntax and Semantics, 3, Speech Acts, New York, Academic Press, pp. 41-58. GUMPERZ, J. (1989) – Engager la Conversation. Introduction à la Sociolinguistique Interactionnelle, Paris, ed. de Minuit. HAVERKATE, H. (1994) – La Cortesía Verbal. Estudio Pragmalingüístico, Biblioteca Románica Hispánica, Madrid, Editorial Gredos. HYMES, D. (1974) – Foundations of Sociolinguistics, Philadelphia, Univ. of Pensylvania Press. HYMES, D. (1984) – Vers la Compétence de Communication, Paris, ed. HatierCrédif. KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1980) – L’Énonciation, Paris, ed. Armand Colin, 1ª ed. 1977. KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1998a) – Les Interactions Verbales, Tome 1. Approche Interactionnelle et Structure des Conversations, Paris, Armand Colin. KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1994) – Les Interactions Verbales, Tome 2. Paris, Armand Colin. 25 KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1998b) – Les Interactions Verbales. Tome 3. Variations Culturelles et Echanges Rituels, Paris, Armand Colin. LAKOFF, R. (1972) – Language in Context, in Language, nº 48, 4, pp. 907-927. LE BRETON, D. (1997) – Du Silence, Paris, ed. Métaillé (trad. port.: Do Silêncio, Lisboa, ed. do Instituto Piaget, 1999). LEVINSON, S. C. (1983) – Pragmatics, Cambridge, Cambridge University Press. MAUSS, M. (1995) – Essai sur le Don. Forme et Raison de l’Echange dans les Sociétés Archaïques, in Sociologie et Anthropologie, col. Quadrige, Paris, P.U.F., pp. 143-279. (or.: 1923-1924) MOESCHLER, J. (1985) – Argumentation et Conversation. Eléments pour une Analyse Pragmatique du Discours, Paris, ed. Hatier-Crédif. MOESCHLER, J. (1996) – Théorie Pragmatique et Conversationnelle, Paris, ed. Armand Colin. MOESCHLER, J. e REBOUL, A. (1994) – Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique, Paris, ed. Du Seuil. PARRET, H. (org.) (1991) - La Communauté en Paroles. Communication, Consensus, Ruptures, Bruxelles, ed. Pierre Mardaga. PARRET, H. (1999) – L’Esthétique de la Communication. L’Au-delà de la Pragmatique, Bruxelles, Ousia. RODRIGUES, M. I. G. (1998) – Sinais Conversacionais de Alternância de Vez, Porto, Granito. RODRIGUES, A. D. (2005) – A Partitura invisível. Para uma Abordagem Interactiva da Linguagem, Lisboa, Colibri, 2ª edição. RODRIGUES, D. (2002) – A Cortesia Linguística. Uma Competência DiscursivoTextual, Tese de doutoramento em Linguistica, mimeografado. ROULET, E. & al. (1987) – L’Articulation du Discours en Français Contemporain, Peter Lang, 2ª edição. SACKS, H. – Tout le Monde doit mentir, in Communications, nº 20, pp. 182-203. SACKS, H. (1992) – Lectures on Conversation, 2 vols., Oxford, Blackwell. 26 SACKS, H., SCHEGLOFF, E. A. & JEFFERSON, G. (1974) – A Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking in Conversation, in Language, 50, 4, 696-735. SACKS, H., SCHEGLOFF, E. A. & JEFFERSON, G. (1978) – A Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking in Conversation, in Schenkein, J. (ed.) SCHEGLOFF, E. A. – Sequencial in Conversational Openings, in American Anthropologist, nº 70, pp. 1075-1095. SCHEGLOFF, E. A. e SACKS, H. (1973) – Opening up Closings, in Semiotica, nº VIII/4, pp. 289-327. SCHENKEIN, J. (ed.) (1978) – Studies in the Organization of Conversation Interaction, New York, Academic Press. SCHIFFRIN, D., TANNEN D. & HAMILTON, H.E. (Ed.) (2003) – The Handbook of Discourse Analysis, Malden, Oxford, Victoria, Blackwell Publishing. SCHUTZ, A. (1998) – Eléments de Sociologie Phénoménologique, Paris, L’Harmattan. SEARLE, J.L. (1972) – Les Actes de Langage, Paris, Hermann (original: Speech Acts, Cambridge Univ. Press. 1969). SPERBER, D. & WILSON, D. (1986) – Relevance. Communication and Cognition, Oxford, Blackwell. (Trad. franc.: Pertinence. Communication et Cognition, Paris, ed. De Minuit, 1989. Trad. port.: Relevância. Comunicação e Cognição, Lisboa, F. C. Gulbenkian, 200?). VIDAL, M. V. E. (1993) – Introducción a la Pragmática, Barcelona, 2ª ed. VION, R. (1992) – La Communication Verbale. Analyse des Interactions, Paris, Hachette. WINKIN, Y. (ed.) (1981) – La Nouvelle Communication, Paris, ed. du Seuil. 27
Baixar