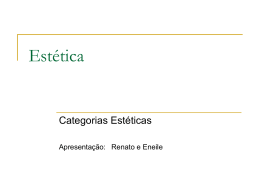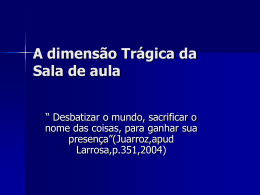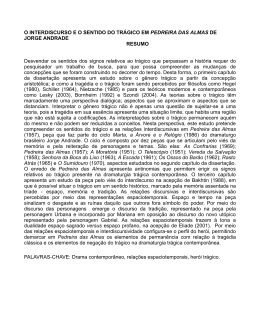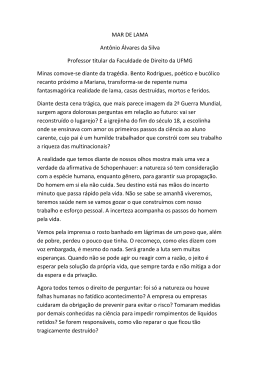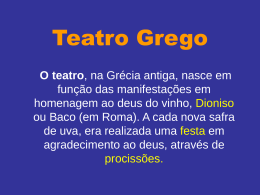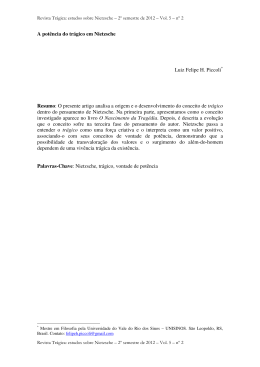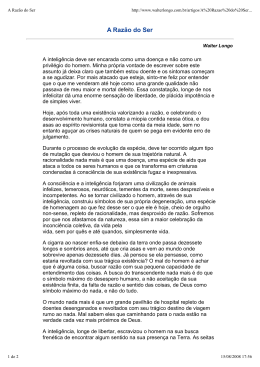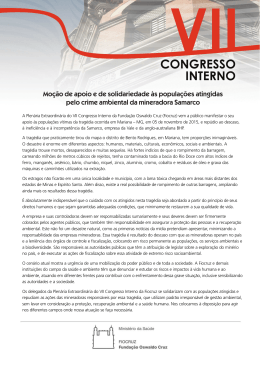A presença da forma trágica Ricardo Pinto de Souza Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Literatura (Literatura Comparada) Orientador: Professor Dr Eduardo de Faria Coutinho Rio de Janeiro Julho de 2010 Souza, Ricardo Pinto de. A presença da forma trágica / Ricardo Pinto de Souza. – Rio de Janeiro: UFRJ/ FL, 2010. ix, 240f.: 31 cm. Orientador: Eduardo de Faria Coutinho Tese (doutorado) – UFRJ/ Faculdade de Letras / Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura (Literatura Comparada), 2010. Referências Bibliográficas: f. 228-240. 1. Tragédia Grega. 2.Idealismo Alemão. 3. Filologia Clássica I. Souza, Ricardo Pinto de II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura III. Título. ii A presença da forma trágica Ricardo Pinto de Souza Orientador: Professor Doutor Eduardo de Faria Coutinho Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Doutor em Ciência da Literatura (Literatura Comparada). Examinada por: Presidente, Prof. Doutor Eduardo de Faria Coutinho – UFRJ Prof. Doutor João Camillo Barros de Oliveira Penna – UFRJ Prof. Doutor Ary Pimentel – UFRJ Profa. Doutora Izabela Guimarães de Guerra Leal – UFPA Prof. Doutor José Luís Jobim de Salles Fonseca – UERJ Prof. Doutor Alberto Pucheu Neto –UFRJ, suplente Prof. Doutor Eduardo Guerreiro Brito Loso – UFRRJ, suplente Rio de Janeiro Julho de 2010 iii RESUMO SOUZA, Ricardo Pinto de. A presença da forma trágica. Rio de Janeiro, 2010. (Doutorado em Ciência da Literatura (Literatura Comparada). Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Este trabalho é um estudo sobre a recepção da tragédia grega no idealismo alemão. Há uma leitura de algumas peças dos três tragediógrafos gregos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, com a apresentação de como alguns temas destes textos, como a solidão, a relação do homem com o divino e com a comunidade, o conflito de valores, são trabalhados no idealismo, especialmente nas obras de Hegel e de Hölderlin. O objetivo é entender como um pensamento sobre a alteridade, conforme entendemos a dialética do idealismo, se relaciona a uma forma de arte, a tragédia. Esta alteridade, o campo do negativo, é algo que deve ser confrontado em um primeiro momento para que em um segundo momento haja a possibilidade de reconciliação, de reunião do indivíduo isolado com o absoluto, com uma unidade e uma universalidade de que ele estaria exilado. A hipótese é que a forma trágica serviu como modelo teórico ou no mínimo como uma iluminação para que este pensamento se formasse. O trabalho de filólogos nascidos em fins do século XIX, como Werner Jaeger, Karl Reinhart e Bruno Snell, entre outros, que utilizam em suas obras idéias e conceitos presentes nas obras dos pensadores idealistas é referido como uma maneira de mediação entre a filosofia e a literatura. Tratamos também das relações entre discurso filosófico e discurso poético, referindo o veto platônico à poesia e à mimese. Há um capítulo dedicado a cada tragediógrafo, um capítulo dedicado à expulsão do poeta da politeia platônica e um último capítulo dedicado à teoria da tragédia no idealismo alemão. iv ABSTRACT SOUZA, Ricardo Pinto de. The presence of tragic form. Rio de Janeiro, 2010. (Doutorado em Ciência da Literatura (Literatura Comparada). Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. This is a study of the reception of Greek tragedy in German idealism. There’s the reading of some plays written by the three Greek tragedy writers, Aeschylus, Sophocles and Euripedes, and the presentation of some of the themes in these texts, such as loneliness, the relationship between man and god and man and community and the clash of moral values. This reading follows the way tragedy has been understood in German idealism, especially in Hegel’s and Hölderlin’s work. Our aim is to understand how a reflection upon otherness, which is the way we understand the idealistic dialectics, is related to an art form, the tragedy. This otherness, the realm of negativity, is something that must be confronted in a first moment so that later there may be a possibility of reconciliation, of reunion of the isolated individual and the absolute. The hypothesis is that the tragic form was used as a theoretical model or at least as an inspiration for the building of this thought. We also refer to the work of philologists born at the end of nineteenth century, such as Werner Jaeger, Karl Reinhardt and Bruno Snell among others, who use in their work the idealist thinkers’ ideas and concepts. This is a way of mediating the literary and the philosophic discourse. We also considered the relationship between philosophic and poetic discourse by referring to Plato’s banishment of poetry and mimesis from his Republic. There’s a chapter dedicated to each of the Greek tragedy writers, a chapter turned toward the study of Plato’s banishment of the poet from his politeia, and finally a chapter on the theory of tragedy in German idealism. v SINOPSE Um estudo sobre a recepção da tragédia grega pelos idealistas alemães, especialmente em Hegel e Hölderlin, e pelos filólogos da geração de eruditos nascidos em fins do século XIX, que em sua leitura dialoga com a tradição idealista. O objetivo é recuperar os temas desta recepção em paralelo a uma exposição do próprio texto trágico. vi Para Iza e Chloe, para meus pais e minha irmã, nisso que salva. Para Eduardo e João Camillo, com amizade e infinito agradecimento pelo apoio e tolerância. Para a Biblioteca Nacional e para as outras, por existirem. vii SUMÁRIO INTRODUÇÃO 10 1. SOBRE O TEXTO TRÁGICO: QUESTÕES INICIAIS 1.1. Descrição formal e substrato do texto trágico 30 1.2. Crime e castigo, destino e ethos 39 1.3. A transformação do sentimento do divino 46 2. ÉSQUILO E O DEUS NECESSÁRIO 58 3. SÓFOCLES 3.1. Após Ésquilo 82 3.2. Electras 85 3.3. O corpo de Filoctetes 91 3.4 Conhecimento trágico 113 4. EURÍPÍDES 4.1. A ambigüidade de Eurípides 125 4.2. O que se imita 129 4.3. Deuses e homens 136 4.4. O pesadelo da história 141 viii 5. PLATÃO E A EXPULSÃO DO POETA 5.1. Platonismus 155 5.2. Justiça e representação 158 5.3. O primeiro argumento contra a poesia: a ignorância do poeta 164 5.4. O segundo argumento: a prática da poesia é perniciosa 165 5.5. Terceiro argumento: a imagem poética é perniciosa 169 5.6. Ponto de fuga 173 6. TEORIAS DA TRAGÉDIA NO IDEALISMO ALEMÃO 6.1. Antecedentes da recepção da tragédia no idealismo alemão 182 6.2. O trágico em Schelling e o afastamento da teoria do efeito trágico 188 6.3. A tragédia em Hegel: a descrição formal no Curso de estética 193 6.4. O trágico em Hegel: A Fenomenologia do espírito 200 6.5. O trágico em Hölderlin 206 7. CONCLUSÃO 222 8. BIBLIOGRAFIA 228 ix INTRODUÇÃO A tragédia nasce em Atenas no século VI a.C (os primeiros festivais ocorrem por volta do ano 530), como uma prática relacionada aos ritos de Dionísio durante cinco dias do mês de março, chega a seu auge após a vitória grega sobre os Persas em 480, e, cerca de cinqüenta anos depois, declina após a devastação da guerra do Peloponeso. A morte de Eurípides em 406 a.C. talvez seja um marco adequado para o fim do gênero enquanto prática festiva e pública, acima de tudo enquanto prática textual que se renova. Temos então cerca de noventa anos entre o surgimento das primeiras peças de Ésquilo e a morte de Eurípides. Das centenas de obras produzidas neste período, os pósteros puderam ler trinta e uma peças de três autores, repertório consolidado à época de Adriano. A permanência deste corpo não é arbitrária a princípio: Ésquilo, Sófocles e Eurípides teriam sido os autores mais populares (e o que significaria isto para a Atenas clássica?), além dos mais respeitados pelos antigos. As peças que sobreviveram teriam também sido as preferidas pelo público do período, e sua sobrevivência logo após a morte dos autores se deve especialmente a sua reencenação em Atenas e outras cidades gregas após o período áureo do século V. No entanto, é sem dúvida um destes mistérios da cultura a preservação destas obras geração após geração por cerca de 2500 anos, e, mais que isso, sua influência constante sobre o pensamento e o sentimento dos homens que chegaram a conhecer o corpo trágico grego. Obviamente, o fato de o repertório trágico estar presente como uma constante fonte de renovação espiritual, seja através de sua representação e leitura, ou meramente através daquilo que gerou com sua sombra, o 9 pensamento trágico, aponta para que o que estes três escritores gregos produziram há tanto tempo atrás fala a alguma dimensão fundamental do ser humano. Por mais que possamos contextualizar a recepção destas obras e atar sua leitura e discussão ao respeito quase pânico que a Europa pensante tem em relação à cultura grega de um modo geral, é difícil não utilizar a definitiva palavra “universal” quando nos referimos ao alcance desta literatura. Sua centralidade na cultura ocidental só é par com a desta outra criação do século V ateniense, a metafísica platônico-aristotélica, e talvez sua imaginação plástica – nos três casos concepções únicas da cultura grega do período. Dito isto, talvez não seja um mistério tão misterioso assim, nem milagre, nem acidente, que, como a literatura de Kafka ou a música de Bach, a tragédia grega, ou ao menos uma pequena fração extremamente representativa do conjunto desta obra, tenha escapado à derrisão. Mas de que derrisão a tragédia escapa? Pois ainda temos o interesse escolar por uma boa parte da cultura grega, e ainda mantemos como uma presença fantasmal uma certa idéia de Grécia., imagem que através de sucessivas leituras e do acúmulo de esforços dos que vieram após o fim da antiguidade pôde ser salva e registrada. O estatuto do texto trágico é nitidamente diferente. Ele não se esgota no interesse, nem se estabelece simplesmente através do gosto pelo exótico e pelo distante, tampouco por nosso amor ocidental pelas idéia da Grécia. A tragédia é, ainda, um modelo que nos afeta de forma profunda, é ainda influência no sentido forte de Bloom, o de uma presença que precisa ser emulada, distorcida e superada (cf BLOOM, 2002). Assim, o texto trágico é ainda algo que a literatura e a cultura modernas tentam emular. Estranhamente sua sombra não pesa, e por mais que a legibilidade destes textos seja 10 comprometida pelo tempo, ainda dialogamos com eles como com contemporâneos. Esta tese tentará reconstruir a partir de uma leitura do texto trágico um momento desta relação entre filosofia e literatura, sua recepção no idealismo alemão e na filologia do início do século XX. É uma discussão difícil, mas que tem o mérito de ser absolutamente essencial para a compreensão da cultura moderna. Nosso esforço será realizar uma leitura da tragédia a partir de autores como Werner Jaeger (1888-1961), Albin Lesky (1896-1961) , Frances Cornford (1874-1973), H.D.F. Kitto (1897-1982) , Karl Reinhart (1886-1958), Bruno Snell (1896-1986), Paul Friedländer (1882-1968), Gilbert Murray (1866-1957), filólogos e scholars nascidos em fins do século XIX e que constroem uma Grécia que dialoga com aquela que inspirou as obras de Hegel, de Hölderlin e de Schelling, ou seja, com a imagem da Grécia e da tragédia grega construída no campo do idealismo alemão do século XIX. Assim, neste estudo haverá uma leitura do texto trágico em paralelo à apresentação da recepção deste texto. A filologia é um campo de conhecimento próprio, e relacionar a imagem da Grécia deste campo com a Grécia trágica que interessou à tradição do idealismo não é algo automático. Mas há muitas coincidências, e necessariamente a recriação da Grécia neste período na filologia se comunica intensamente com o leito de idéias, preconceitos e expectativas que a filosofia deitou. Em alguns momentos do trabalho haverá uma leitura própria, pessoal, do que está sendo analisado, necessariamente anacrônica em relação à proposta, mas um gesto inevitável considerando a atração que a tragédia exerce sobre qualquer leitor. Nossa leitura do trágico seguindo os passos da tradição novecentista tenta se concentrar principalmente em dois aspectos das peças, que parecem estruturar a leitura 11 especialmente de Hegel e de Hölderlin. O primeiro é a solidão do herói trágico, a solidão de um indivíduo separado da comunidade, do mundo e do divino, e que através mesmo desta separação, que é ao mesmo tempo um afastamento e um confronto, constrói sua excepcionalidade, pois nesta solidão encontra a si mesmo, um sentido próprio para seus atos e sentimentos. A solidão humana, neste caso, se relaciona a duas dimensões: uma cósmica, em que a solidão do homem se dá em relação a sua distância do divino ou da natureza, e uma dimensão ética, em que este isolamento é isolamento da comunidade, da lei positiva dos rituais e costumes. Em ambos os casos o texto trágico questiona o estatuto tradicional do indivíduo em relação ao divino e à comunidade, e, na leitura do idealismo, o trágico, apresentando o herói em sua solidão, pensaria na maneira da reconciliação do homem com os campos de que se afastou. Este entendimento da solidão se refere diretamente a uma tentativa de encontrar uma conciência-de-si, na terminologia hegeliana, forte e intensa o bastante para se confrontar ou unificar com o mundo objetivo (o deus, a comunidade de outros) que a cerca. O resultado do confronto é geralmente aniquilante, mas seu sentido passa sempre pela problematização do desejo de unidade entre o indivíduo e uma alteridade absoluta, um outro, o campo do negativo, mediado geralmente pela presença de outros indivíduos e valores. Nas palavras de George Steiner, em seu livro Antigones, muito maior e mais ambicioso que nosso trabalho, mas que parte de uma proposta muito próxima: A prescrição ética de Kant sobre o valor absoluto que um ser humano deve assinalar a um outro, a luta epistemológica heróica de Fichte com a “contra-presença” dos outros eus e a paradoxal necessidade desta presença para qualquer sistema inteligível de liberdade e sociedade, a famosa dramaturgia da realização da consciência através do encontro antagonístico com o outro, – todos são derivados do axioma da solidão e na esperança de que possa ser, parcialmente, rescindida. (STEINER,.1984: 15)1 12 A filologia do fim do século XIX vai utilizar o pensamento idealista como um ponto de referência, e se manter nos contornos das conclusões a que Hölderlin e Hegel, especialmente, chegaram. Assim, estudiosos como Albin Lesky e Karl Reinhardt descrevem o trágico em termos muito próximos daqueles utilizados por Hölderlin, como uma tentativa dolorosa de reconciliação entre o homem e um divino que se afasta do mundo e do homem. Autores como Cornford ou Gilbert Murray seguem de perto uma leitura ética da tragédia, presente especialmente em Schelling, que concebe o conflito trágico como um problema de conflito de valores. Já autores como Jaeger, Bruno Snell ou Paul Friedländer utilizam uma teoria dialética que tem início em Hegel, e sua descrição da cultura grega circula pelos temas de uma história do espírito (Jaeger e Bruno Snell), ou de uma fenomenologia (Paul Friedländer, em seu caso já mais próximo da fenomenologia de Husserl e Heidegger do que da de Hegel). O tema comum a todos os autores é a apresentação da tragédia como um pensamento sobre o negativo, sobre uma alteridade radical que isola o indivíduo e que tem de ser superada. Esta alteridade pode tomar várias conformações no texto trágico, pode ser o divino, o direito, os valores do outro, mas está sempre presente de forma tensa. Vamos nos referir a esta palavra, tensão, muitas vezes ao longo do trabalho. O termo não deve ser entendido como tensão narrativa, como quando um autor cria um elemento de mistério na trama para aumentar o interesse do leitor, mas tensão de valores, confronto e oposição de campos. Outro elemento dado na leitura da tragédia do século XIX é que o trágico é representação de uma matriz espiritual, é comunicação sensível de uma forma, uma idéia, um conceito. Isso, por um lado, faz com que a tradição filológica do fim do século XIX tenha como ponto de partida algumas discussões muito complicadas e sofisticadas sobre a 13 representação de valores na forma trágica, mas por outro lado produz uma cegueira constante para aspectos ligados a questões antropológicas que formam o cerne da leitura trágica contemporânea, ou para questões literárias mais ligadas diretamente à realidade do palco e às necessidades de encenação. O texto trágico vai surgir para a Alemanha do século XIX como um caminho para criar identidade. O que autores como Lessing, ou Goethe ou Schiller buscavam em sua leitura dos gregos era obter um atalho para a grandeza que um espaço de fala alemã até aquele momento bastante atrasado e, de um modo geral, conservador e regressivo, negava. A pretensão inicial, como nos tragediógrafos franceses de algumas décadas antes, é “emprestar” um modelo de civilização e de sociabilidade que possa atualizar aquilo que uma jovem intelectualidade alemã imagina como o potencial próprio de sua língua e cultura. A pretensão inicialmente é encontrar uma medida para o bom-gosto, ter um parâmetro para medir a própria cultura. O objetivo, no entanto, não é recriar uma Grécia, como o Renascimento e talvez a cultura de corte francesa, o modelo mais próximo a ser emulado por estes jovens autores. Como afirma Roberto Machado em O nascimento da tragédia de Schiller a Nietzsche: Para se formar o bom gosto na modernidade é preciso voltar aos gregos, o artista moderno deve antes de tudo imitar as obras-primas ... A imitação dos antigos, no entanto, não é um fim em si mesmo, é um meio de se chegar a uma reprodução do real mais rapidamente. (MACHADO, 2006: 15. A especificidade desta ambição é que os autores alemães conseguiriam entender a tragédia como um modelo espiritual, mais do que propriamente um modelo formal. Não são as unidades aristotélicas ou a mise em scène do palco grego as grandes 14 preocupações, mas sim aquilo que esta forma literária legou em termos de visão da vida humana. Acima de tudo, o trágico é um ponto de referência comum ao século XIX e início do século XX, uma referência estável em um tempo incerto, de revolução e transformação, e, mais que isso, um modelo da representação de um espírito e de uma vida humana que se constroem como foco do sensível e do supra-sensível, do eu e do outro, do indivíduo e da comunidade. Ao longo dos anos os esforços da dramaturgia alemã se confundiriam com os da filosofia alemã. Hegel, especialmente, com sua leitura de Antígona no capítulo VI da Fenomenologia do Espírito, é o responsável por tornar a tragédia conforme a entendeu como um exemplo da dinâmica dialética da consciência humana. A tragédia, pela importância que teve para o pensamento do período e, posteriormente, a importância que este pensamento teve para nossa própria visão de mundo, sempre circulou como um fantasma pela Europa. Esta presença trágica não pode ser explicada simplesmente por uma genealogia do pensamento, como pretexto e legitimação para ansiedades modernas. Há uma força literária na tragédia que a mantém enquanto forma atual, a mantém como literatura com a qual nos identificamos, e os problemas extraídos pelos filósofos desta forma ainda permanecem pulsantes, desafiando e atraindo a visão. O sintoma mais poderoso desta contemporaneidade do trágico é que o nascimento de uma filosofia pós-kantiana, ou seja, de uma modernidade da modernidade do pensamento, é construída a partir da influência e da presença espiritual destes textos, primeiro na fenomenologia hegeliana, que na sua dinâmica de movimento entre identidade e alteridade, entre consciência e outro, utiliza o trágico como um modelo, e, em seguida em Nietzsche, que retomando o pensamento de Hölderlin e de 15 Schopenhauer concebe a filosofia como exercício de transfiguração. A derrisão a que o texto trágico escapa é a do próprio funcionamento da cultura, que se move através do assassinato redutor de seus fantasmas. Mas, a tragédia não é redutível, nunca chega a se tornar conteúdo assimilável que possamos simplesmente consumir em algum ritual antropofágico. Ao contrário, diante do trágico e do seu oceano, corremos nós o risco de sermos devorados. Não terá sido exatamente isto que se dá com o pensamento trágico, de quando a filosofia, reproduzindo o momento de seu nascimento e imitando o gesto de Platão, tenta com Hegel instrumentalizar o texto trágico para incluí-lo em seu domínio e acaba, ao contrário, se transformando? Quando temos a transição de uma filosofia do trágico para o projeto difícil e conflituoso de uma filosofia trágica? E neste tratamento já há a ameaça à filosofia, pois o trágico necessariamente se impõe. Há uma presença na obra de arte, mas esta presença não é necessariamente o sentido atribuído pela filosofia do idealismo, nem sua tarefa será possivelmente a reconciliação de homem individual e universal, entre parte e todo. Quando Walter Benjamin estabelece a distinção entre o funcionamento da alegoria e do símbolo em A origem do drama barroco alemão (BENJAMIN, 1984), optando pela última como um mecanismo de representação mais adequado aos problemas modernos, talvez seja isto que esteja em jogo. Mesmo que ainda possamos nos referir à representação de uma idéia ou de um todo na obra de arte, e mesmo isso é um ato de fé, o sentido da representação, a hierarquia que estabelece que a representação se volta para fora do homem particular em direção a um mais universal, é sempre algo que depende de uma crença na capacidade de um absoluto, além do desejo deste absoluto. E talvez seja este o vírus que 16 o trágico inocula na filosofia, a possibilidade de que no palco, nas palavras, na imagem, seja o transitório e o finito que fique registrado, e não o infinito, que uma transcendência feliz não é uma possibilidade, e que a tensão entre sofrimento e felicidade, entre eu e outro deve ser mantida sem nunca ser interrompida. Esta é uma possibilidade que se abre, no entanto, a partir do pensamento sobre a alteridade no idealismo. Este outro pensado, que deve ser tocado para permitir a transfiguração do mesmo, é o caminho para a construção do conhecimento. O que a filosofia a partir de Nietzche vai conceber é que este processo não se interrompe, que ele não é o meio para um fim, mas a própria dinâmica inesgotável de um estar no mundo do homem, que se justifica por si, e que o pensamento deve acompanhar esta dinâmica se quiser se manter vivo. Na dialética de Hegel isto já está previsto, embora na crença do progresso, na crença de que há a possibilidade de melhoramento através do conhecimento e superação do mundo sensível e da finitude, falte o salto que constrói um pensamento mais próximo a nós. Nosso trabalho vai tratar do momento anterior a esta passagem, mas que a prepara de uma certa maneira, se concordarmos que a base da dialética do idealismo é o confronto com a alteridade, a retirada do conforto do mesmo através do choque com o negativo, a alteridade. Vamos nos ater a este momento, o que justifica a ausência, neste trabalho, da referência à teoria do trágico em Nietzsche, que já é a fuga de uma estética simbólica. Por outro lado, a obra de Walter Benjamin, como um meio-termo e uma ponte entre o idealismo e uma concepção mais próxima a nós do que seja a obra de arte vai estar bastante presente. O cerne de nossa leitura, seguindo especialmente um esquema hegeliano que vamos aprofundar nos próximos capítulos, é que a tragédia figura uma dialética entre 17 identidade e diferença, entre proximidade e distância2. Há na tragédia uma dialética entre proximidade e distância. O sentido econômico da proximidade, do familiar, que é a proteção e que é sagrado, é criticado e, possivelmente, profanado na tragédia. Aquilo que permite a proximidade sociável, que são os ritos públicos de união, de funeral, de respeito à lei, ao companheiro de armas e à comunidade da pólis, todos sagrados e, através do sacrifício, projetados também em um plano superior à simples existência política e concreta da cidade, são transformados em alguma outra coisa na forma trágica, profanados para que sua função, e, especialmente o papel do homem nestes âmbitos, seja repensado. Esta profanação é dialética, e nasce de uma leitura específica e nova que a Grécia, ou pelo menos a Atenas do século V tem sobre a realidade e o sentido do humano. O liame dos ritos públicos existe através da repressão daquilo que seja ambição individual e desejo sem medida. A hybris, elemento estrutural que faz a fábula trágica se mover, se refere então a esta energia reprimida que a existência social organizada impõe ao homem grego. Essa repressão gera um campo negativo, o da impossibilidade de existência de um indivíduo isolado, impedido da sociabilidade da pólis. É este campo negativo que a tragédia põe em movimento na figuração do exílio, do ostracismo, do afastamento da pátria e da família. Em Homero estes são momentos pontuais de uma trajetória, após os quais ainda é possível uma religação, um regresso – na verdade o retorno à família e à comunidade são o destino do herói. O que a tragédia tem de distinto é entender este regresso e esta memória como elementos possíveis, mas não necessários, do homem entregue a si longe da comunidade. O que está em jogo, então, é o sentido da solidão humana. 18 A história de Édipo ou do ciclo dos aqueus com Agamêmnon e Orestes, é propriamente a formalização desta desconfiança em relação ao otimismo homérico. O afastamento da comunidade – que na leitura idealista, especialmente de Hegel, é a instância de intermediação entre o homem e o divino, o campo de ação entre a potência e o limite humano – tem como conseqüência a catástrofe. Neste sentido, a tragédia é uma reflexão sobre o limite da liberdade humana e sobre a possibilidade de reconciliação desse eu com o outro do divino. Se a conclusão dos tragediógrafos é de que a solidão humana é intrinsecamente desastrosa, é porque temos, pela primeira vez, uma visão do mundo que deseja um homem em si em vez de um ateniense, um coríntio, um labdácida ou um aqueu. Esta primeira tentativa, sob qualquer medida magnífica, de conceber idéias e noções que sejam válidas para todos os homens, passa necessariamente por uma reflexão sobre o mal e a crueldade. Na tragédia a violência surge como uma linguagem, como a forma de comunicação do homem com o divino, como a mediação problemática da solidão humana com os valores de que este homem está isolado. Em Hegel esta é uma dialética entre família e pólis, entre os valores mais exclusivos e singulares do núcleo familiar e os valores mais categóricos da lei política. Em Hölderlin temos uma dialética entre um grande indivíduo, o herói dotado do fogo “aórgico” do desejo, da independência, do pensamento, e o grande outro que é a natureza. Em ambos os casos esta dialética deve gerar uma reconciliação, uma transformação de valores que aponte para um novo estado, para um novo equilíbrio. Assim, o que a dialética do isolamento produz é um conhecimento e uma figuração. Conhecimento da alteridade, figuração do indivíduo transfigurado por esta alteridade. E nesta lida com o outro há o projeto de um homem universal, de um indivíduo sensível 19 que possa alcançar o universal, que possa não ser apenas um indivíduo singular e unilateral, mas que consiga sensivelmente atingir o ideal. Pensar este homem universal significa abandonar o exclusivismo da comunidade e da família, fazer o salto do universo protegido do familiar e se projetar no abismo da alteridade, do estranho, do que ainda não está. E este distanciamento do familiar, por sua vez, envolve pensar o sofrimento e a crueldade, pois longe da família, abandonado entre o mar e o céu profundo como o Odisseu homérico, o homem está desprotegido, sujeito à natureza, ao estrangeiro, a, finalmente, à medida estranha e desconfortável de si mesmo. O que a tragédia faz é dar forma à ansiedade deste abandono utilizando algumas fábulas tradicionais. Mas, se um dos impulsos para a forma trágica é este temor diante de um homem isolado, o resultado tem um alcance muito mais amplo do que isto. Na figuração da solidão humana que a tragédia constrói, há como legado um homem universal, que pode ser medida do humano e não apenas de si mesmo e de sua comunidade. Quando falamos em uma dialética entre proteção e abandono, entre universo positivo da comunidade e universo natural da solidão, entre, finalmente, familiar e estrangeiro, podemos nos referir a uma dialética propriamente: o universo da proteção familiar gera seu negativo, na figuração do expulso e do estrangeiro. Mas esta figuração, por sua vez, modifica as condições da proteção familiar. A paixão dos heróis trágicos tem várias conseqüências éticas, revolve, interroga e interpreta o universo todo do sentido do direito positivo e dos limites da comunidade. Mas, estruturalmente, sua tendência é propor uma abertura conceitual em relação às regras de sociabilidade. Não é que o universo familiar cesse de ser a base sagrada da existência humana, mas este 20 universo se abre ao estrangeiro como elemento a ser interrogado, apropriado e, finalmente, hospedado, também, de forma sagrada. Historicamente talvez possamos atribuir isto ao momento específico da história grega e ateniense, em que há o esboço de um império ateniense após a última invasão persa. Esta não é uma preocupação exclusiva de Atenas, a política de todas as grandes cidades-estado gregas do período passou a sofrer a influência de questões pan-helênicas, e é a partir deste momento que podemos falar de uma “Grécia” de forma adequada. Literariamente esta síntese que leva à aceitação do estrangeiro como um elemento a ser levado em conta na identidade do homem público é representada na condição dúbia dos heróis trágicos no que se refere a sua pátria. Édipo é um estrangeiro falso e um falso conterrâneo, um tebano que se crê coríntio, um coríntio que “adota” Tebas apesar de seu destino ditar que será expulso duas vezes desta terra. Medéia é a esposa estrangeira de um herói estrangeiro, perdida em uma terra que deseja anular o rito sagrado que a uniu a Jasão e exilá-la e a seus filhos. Filóctetes sofre sozinho em uma ilha sem ter a quem chamar de irmão. Egisto, o amante de Clitemnestra, é um aqueu que quer destruir sua própria linhagem, Orestes é o exilado que retorna e que em vários momentos pode ser visto sob o manto de um estrangeiro, seja quando se disfarça para matar sua mãe, seja quando, exilado e perseguido pelas Fúrias, chega ao Areópago. Outro elemento da representação desta dialética é o papel que mensageiros e viajantes têm na imaginação trágica. Caracteristicamente eles são os elementos marginais à fábula que, no entanto, possibilitam seu progresso. São estrangeiros os personagens em Édipo rei que lhe oferecerão os meios de reunir as informações fragmentárias que lhe revelarão seu destino. Em Hécuba de Eurípides, é o aqueu 21 Agamêmnon que se apieda da rainha troiana Hécuba e contribui para que ela realize sua vingança. Nas Eumênides de Ésquilo é o conselho ateniense do areópago que decide o destino do argivo Orestes. Este é um bom símbolo da síntese política que nos oferece a tragédia: Orestes, exilado em terra estrangeira, é justiçado e perdoado não por sua comunidade, mas por estes outros a princípio não comprometidos com seu sofrimento. E este gesto de generosidade é suficiente para transfigurar as Fúrias em Eumênides, as Cadelas em Bondosas, e indicar a fundação de um novo direito, que se aplique para além da comunidade restrita da pólis. Estes são termos próximos da descrição da tragédia enquanto figuração de um conflito ético, especialmente em Schelling e Hegel, a crença de que a tragédia representa um conflito que deve ser superado, em que os valores éticos em oposição devem se transformar para gerar um novo momento, mais universal. Esta dialética entre familiar e estrangeiro, bastante concreta para a Atenas do século V, permanecerá um tema de toda tradição após os anos do ciclo trágico grego. Seus termos serão adequados e atualizados para cada época e lugar, mas seja em Sêneca, seja em Shakespeare, em Racine ou Schiller, o questionamento da solidão moral do ser humano, ou seja, a interrogação pela medida mais própria do que seja a ação humana, sempre retornará quando nos referimos ao trágico. E é esta dialética que permitirá, através de uma longa linha de transformações, que a forma trágica dê origem a uma filosofia do trágico e a uma filosofia trágica, como viriam a exigir Peter Szondi, Walter Benjamin ou Adorno. Será esta forma que nos permitirá, finalmente, falar em um espírito trágico. 22 Mais à frente trataremos mais especificamente da leitura do idealismo sobre o trágico; por hora gostaríamos de apontar que a dialética entre o indivíduo e o universal, entre o absoluto e sua formalização, que a tragédia grega representa pelo confronto do homem solitário com a divindade, é a base da filosofia de Hegel, mas também da dinâmica entre vontade e representação, em Schopenhauer, ou entre aórgico e orgânico, em Hölderlin, ou entre Apolíneo e Dionisíaco, em Nietzsche, ou entre sonho (e linguagem) e o conteúdo inconsciente, em Freud. Estas todas são abstrações relativas a estas questões concretas com que os tragediógrafos gregos se defrontaram no século V a. C. O esforço de nosso trabalho será tentar recuperar parte das questões que o idealismo reconheceu na tragédia em paralelo a uma leitura do próprio texto trágico. Este é um esforço necessário, ainda que necessariamente superficial, pois é a tragédia como forma, como prática textual, que tem o papel histórico de estabelecer um elo entre a filosofia e a literatura criativa. Embora os problemas e as preocupações de ambos os campos sejam essencialmente os mesmos, especialmente o sentido da realidade e da experiência humana, a ética e a prática em que estas reflexões se dão é estritamente distinta. A literatura tem o dever de ser linguagem pública, o que vale dizer, linguagem que refere constantemente a uma identidade e que atende à vocação concreta de jamais se afastar demais da vida, real ou sonhada, dos homens. Isto obriga o literário a ser mimético (ou talvez a mimese obrigue ao literário), mas esta mimese não é totalmente livre, é um jogo que tem suas regras. Acima de tudo, a literatura tem um compromisso com a beleza, o que define e limita o tipo de conhecimento que chega a produzir. Seu dever de origem, na epopéia e na tragédia, nunca foi traído substancialmente. Isto tem uma série de conseqüências, como a liberdade formal e 23 moral do produto literário, como a impossibilidade de que o conhecimento poético gerado pela literatura seja aceito pacificamente: ele é sempre questionável, sempre. A maneira como o discurso literário tentou compensar esta última fragilidade foi se atar a uma concretude emocional e sensível da vida dos homens. Aquilo que ela carece de certeza compensa com um dom oferecido, a aposta, mais ou menos correta, de que o vagar cego do homem pelo mundo, embora seja o lugar da incerteza, possui uma dignidade específica que deve ser registrada e celebrada. O discurso filosófico tem suas próprias questões e limites, mas o dom que tenta criar é outro. Seu problema de saída é a condição de verdade daquilo que afirma, e, enquanto o tipo de conhecimento que a literatura produz é estruturalmente questionável, o tipo de produto do discurso filosófico tem a pretensão de ser permanente, de ser uma verdade autônoma que possa persistir independentemente do âmbito concreto em que foi gerado. A apresentação de suas preocupações estabelece um corte na dignidade humana: a dignidade não está no humano em si, em todo o humano, mas naquilo que é passível de permanecer, naquilo que é imutável. Conforme nos informa João Camillo Penna em sua introdução a Ensaios sobre arte e filosofia, de Phillippe Lacoue-Labarthe, Ao traduzir Ge-stell por estela (stèle, em francês), Lacoue-Labarthe delimita, nesta imagem-palavra, o sentido da própria essência do projeto da metafísica, enquanto história do conhecimento do que “permanece” (aei on), do estável, do mesmo.3 Esta restrição obviamente afasta o discurso filosófico de um compromisso com a vida concreta dos homens, em que exatamente o impermanente é um elemento constitutivo e inescapável da identidade e da sensibilidade. Mesmo com a tentativa após Nietzsche de se liberar da tradição metafísica, a filosofia ainda está afastada da prática mimética que 24 a literatura estabeleceu como sua forma por excelência de expressão, e que a obriga constantemente a considerar a realidade que a cerca de uma maneira interessada. A cisão textual entre filosofia e literatura não se dá propriamente no estatuto da imaginação e da figura em cada uma das respectivas práticas textuais. A fabulação é uma prática essencial na literatura, ou ao menos é uma tradição tão poderosa que se impõe como uma natureza. No caso da filosofia, Platão baseou sua escrita na forma narrativa do diálogo, e obras importantes da tradição filosófica ocidental, como as confissões de Agostinho ou as meditações de Descartes utilizam a fabulação como forma de preparar a discussão filosófica. Então, embora na filosofia esta fabulação seja marginal, ela é ainda assim admissível. A mimese, por outro lado, é um corte entre os dois campos. De novo, a mimese é essencial à prática discursiva da literatura e marginal à filosofia, na verdade, uma solução e um problema em relação aos respectivos discursos. Mas, enquanto a literatura torna a mimese sua prática mais comum, a filosofia tem a pretensão de que esta prática seja um degrau em um recurso argumentativo que visa chegar à verdade. A representação é admissível, desde que ela conduz a um ponto de decisão em que aquilo que é representado aponte para o uno, para o universal, o essencial. No campo literário, ao contrário, o representado não é um degrau, mas antes o próprio fim de uma prática figurativa em que a representação do humano é a meta e o meio. Neste sentido o discurso literário é tautológico: o homem é representado, e a representação do homem é o produto do ato de representá-lo – é um jogo de soma zero em que o que é tirado do real é devolvido transfigurado, mas não há um produtividade aí, talvez apenas uma revelação, já distinta da revelação metafísica, que aponta 25 constantemente para um resto, um produto da prática textual a ser sempre buscado e perdido. A revelação literária ocorre de tal maneira que este resto possível é diluído na própria forma. Uma rosa, por qualquer outro nome, continuaria sendo rosa. O “sentido” da rosa é o outro nome que lhe damos, que, sim, tautologicamente aponta para a primeira rosa. A diluição do sentido na figuração é exatamente o que o discurso filosófico não consegue praticar (e não deseja, é averso a). Ainda que este sentido buscado seja necessariamente fugidio e fenomenológico, ele é o fim deste texto, é sua pretensão e obsessão. Daí que, pelo menos até Nietzsche, o discurso metafísico é também comprometido com o bem, o justo, a felicidade, não concebendo a presença de um campo negativo no humano. O mal ou o sofrimento sempre foram inabordáveis por um discurso filosófico, e o prazer bastante concreto que eles geram através de sua representação, assim como seu lugar devido em uma possível ordem cósmica, são um ponto cego. Para o literário, ao contrário, este campo daquilo que é o contrário do bem é uma presença bastante concreta, inescapável, na verdade. Já que o discurso literário não se obriga a tirar nenhuma conclusão dela, sua representação pode ser gratuita, ou seja, pode ser realizada sem que se chegue a uma decisão sobre as conseqüências dessa presença para a ordem do mundo e do homem. Não seria possível para um poeta chegar ao tipo de decisão a que Descartes chega ao pensar sobre o sentido da realidade e afastar a possibilidade de que um “gênio maligno” esteja por trás da ordem das coisas. Na verdade, não seria nem uma questão quando ele fosse representar essa ordem, pois o poeta não se preocupa em dizer o criador, não mais, ao menos, do que em dizer o contrário da criação também. Isto não quer dizer que não haja ideologia ou fé a sustentar 26 uma obra, mas sim que o próprio funcionamento do literário, com seus tropos e práticas miméticas, produz um “aplainamento” de dignidades. Dante representou o inferno e o paraíso, um tão intenso quanto o outro. O que isto diz do universo em que os dois lugares são possíveis fica por conta de quem lê. Mas uma das conclusões possíveis é que o Grande Deus que os sustenta não é lá um sujeito muito legal. O sentido possível não é algo que necessariamente leve ao justo, ao bom, ao feliz, pois na obra literária o contrário destes valores tem a mesma intensidade. E, acima de tudo, o sentido é uma potencialidade, sua atualização não é exigida, ou pelo menos não é exigida para que o que está sendo representado na obra de arte exista. A interpretação da estética sobre a natureza da obra de arte se afasta dessa posição, no idealismo especialmente ela aparece sempre como símbolo de uma determinada ordem ética ou cósmica, como manifestação particular de uma totalidade que, na representação, pode ser recuperada. Neste sentido, a reflexão sobre a tragédia durante o período em que vamos nos deter a imagina sempre como a expressão complexa de um sentido – necessariamente e ainda bom, justo, belo – a que a cisão entre sensível e supra-sensível no mundo concreto da ação humana impede o acesso. Esta recuperação do sentido é extremamente complexa, e passa necessariamente pelo sofrimento, mas cria um ponto cego para uma materialidade da obra de arte, para a possibilidade de que haja na obra de arte um outro mecanismo que não seja a produção de sentido e de bem. Então, é na representação do sofrimento humano que encontramos uma outra bifurcação entre filosofia e literatura. A construção típica da filosofia é pensar o mal e o sofrimento como desvios de um caminho natural, e sua grande preocupação se refere ao evitamento deste campo, como ser justo, como ser bom, como 27 ser feliz. Isto significa que diante do mal o discurso filosófico se limita a dizê-lo enquanto negatividade, enquanto ausência. O sofrimento e seu universo correlato são sempre crises, sempre cortes no real que devem ser cauterizados, o que quer dizer, silenciados, desviados. Mas, e se o mal não for negatividade? Se for uma das potências que organizam a realidade? A representação do mal na literatura parece atender a esta pergunta. Mas devemos modalizar: a representação literária não responde a uma pergunta, não tenta preencher um vazio de verdade à maneira da filosofia. Ela meramente representa, talvez possamos dizer: ela apresenta resposta a uma pergunta que não foi feita. O que temos diante de uma peça como Agamêmnon, por exemplo, em que o representado é o mal enquanto presença bastante concreta – a mentira, o sofrimento, a violência, a paixão não conciliável –, esta representação é acaso provocada por uma angústia diante do sofrimento, por uma interrogação à realidade, ou por um prazer, que se confunde com um dever de ofício, de imitar o sofrimento pura e simplesmente porque ele está lá? Quando Platão expulsa o poeta esta é uma das coisas que está em jogo, a inadmissibilidade na cabeça do filósofo de que as coisas são dotadas de dignidade por sua mera existência, simplesmente por estarem lá. Isto não quer dizer que o discurso literário não respeite uma ordem ética. Apenas esta ordem ética não adere: podemos condenar Macbeth – e a fabulação de Shakespeare visa isto –, mas sentimos prazer com e por Macbeth, e este prazer não atende a uma ordem moral, não atende à unidade ética necessária entre belo, bom e conhecimento. Sentimos prazer em ver Macbeth, seus atos, sua perversão, sua queda. Caso ao fim da peça ele se tornasse rei da Escócia, acreditamos que nosso prazer não seria menor, não porque “gostamos” de Macbeth, mas 28 sim porque suspeitamos que haja um sentido não-óbvio diante do que vemos, e, acima de tudo, nos satisfazemos com que esse sentido se perca na memória do que vimos, se perca como presença em sua representação, se diluindo na forma. O ruído de fundo em que o esforço deste trabalho se dá é pensar o divórcio entre a realidade pensada pelos filósofos e a realidade pensada pelos poetas. Autores como Hegel ou Schelling, ou, de resto, qualquer dos grandes nomes por que passaremos aqui, são imensos e possuem obras francamente muito além de nossa capacidade de abarcálas. Mas estes mesmos gigantes que tentaram pensar a realidade de cabo a rabo se afastaram talvez irremissivelmente daquilo que os homens concretos viveram e sofreram. O pensamento trágico é exatamente o elo, feito e desfeito, fortalecido e quase rompido, que aproxima suas idéias e seu discurso da prática textual literária. O trágico é uma possível conciliação da filosofia com este homem real naquilo que ele tem de errante e incerto. Daí sua centralidade. 1 Tradução própria do original em inglês: Kant’s ethical prescript as to the absolute evalution which one human being must assign to another, Fichte’s heroic epistemological struggle with the ‘counter-presence’ of the other selves and the paradoxical necessity of this presence to any intelligible system of freedom and society, Hegel’s famous dramaturgy of the achievement of self through antagonistic encounter with the other – all are derived from the axiom of aloneness and the hope that this action can be, partially, rescinded. 2 A inspiração para esta leitura vem do comentário de Derrida sobre Levinas em Adeus a Emmanuel Lévinas, especialmente uma certa dialética da hospitalidade e do outro, do rosto, como fundação do pensamento. Nos desviamos desta leitura e não vamos retomá-la ao longo do trabalho, mas nos pareceu justo indicar sua seminilidade. (cf DERRIDA, Jaques. Adeus a Emmanuel Lévinas. (trad Fábio e Eva Landa) São Paulo: Perspectiva, 2004. 3 PENNA, João Camillo. Introdução – O imperativo do pensamento. In LACOUE-LABARTHE, Philippe. Ensaios sobre arte e filosofia. (org e trad Virgínia de Araújo Figueiredo e João Camillo Penna). São Paulo: Paz e Terra, 2000. (p.14) 29 1: Sobre o texto trágico: questões iniciais 1.1. Descrição formal e substrato do texto trágico A tragédia enquanto forma teatral surge na Atenas do século VI derivada de cantos públicos, os ditirambos, que através de improvisação se tornam o texto trágico. Aristóteles vai indicar suas características formais: a imitação de um episódio heróico e religioso (o mythos, que geralmente se traduz por “fábula”) de enredo completo, em um palco com acompanhamento musical de instrumentos como a Cítara, a lira, o aule, a stynx , tambores e canto coral. O espaço do palco é dividido entre coro, posto mais próximo da platéia e no centro da estrutura do teatro, os atores que representam mortais mais ao fundo, provavelmente sobre um estrado, e os deuses, geralmente surgindo em uma plataforma acima dos mortais. Usam-se máscaras, para efeitos cênicos e melódicos. Uma tragédia é espetáculo de canto, dança, literatura e cenografia, os quatro níveis de representação apresentando elementos religiosos e profanos, mantendo uma tensão constante entre a visão velha, religiosa, e o humanismo que surgia. Sua linguagem é elevada e hierática, e se utiliza de um vocabulário que perpassa todo o campo da tradição grega, mas especialmente a linguagem jurídica e religiosa (cf MALHADAS, 2003 e ROMILLY, 1998 para uma descrição breve da encenação da tragédia). Aristóteles entende que a tragédia existe enquanto veículo para produzir catarse, a purgação homeopática das paixões do medo e da compaixão. A Arte poética de Aristóteles ainda é uma das melhores definições da forma trágica, porque nos indica a materialidade do que teria sido a tragédia, sua prática enquanto espetáculo. Acima de tudo nos obriga a entendê-la como obra de arte multidimensional, em que várias artes se unem para o efeito estético. 30 O fato de a tragédia ser aquilo que mais tarde entenderíamos, especialmente através do filtro do Nascimento da tragédia de Nietzsche, como obra de arte total, ou seja, obra que fala a todos os sentidos e a todos os níveis da experiência humana, cria necessariamente um vácuo na sua compreensão. Conseguimos entender as questões mais estritamente literárias e culturais que chegam a nós através dos textos preservados, sua formalização verbal e ideológica, mas aquilo que seria a forma trágica de fato supõe uma união bastante cerrada entre a performance textual e aqueles outros três níveis, o da música, da dança e da mise en scène. É sintomático que geralmente a descrição de um nível exclua a dos outros. Assim, autores da estatura de Albin Lesky, Paul Vernant ou Werner Jaeger nos oferecem uma descrição ampla do texto trágico, das questões culturais e estéticas que ele suscita, mas não relacionam estas questões a sua formalização no palco em conjunto com os outros níveis do espetáculo. Aqui nos preocuparemos essencialmente com os aspectos literários e culturais da tragédia, mas é preciso ter em mente que a compreensão de fato do trágico, do espírito trágico, inclusive, envolve pensá-lo enquanto forma completa, enquanto campo de experiência em que a tekhné, o artifício, a elaboração, a formalização são o caminho para o conhecimento estético. É exatamente esta intuição que torna Nietzsche um pensador tão poderoso do que seja o trágico, ao atribuir à música o papel central na formação do espírito trágico. Nas palavras de Roberto Machado: Sua originalidade foi ... valorizar a música para pensar a tragédia grega como uma arte essencialmente musical, ou como tendo origem no espírito da música. (MACHADO, 2006: 243). Esta é uma limitação com que teremos de lidar, em parte por limites pessoais, em parte porque este nível de reconstrução da cultura grega não é possível. De qualquer maneira, tentaremos envolver estas questões em nossa discussão. 31 Para nossa discussão será pertinente estabelecer um corte entre dois níveis culturais a partir dos quais a tragédia é gerada. Ambos se relacionam e se confundem na forma trágica, mas para apresentá-los será útil distingui-los. O primeiro nível é religioso: a tragédia reproduz no palco os mitos e rituais com que o público ateniense pensava sua relação com o divino, seu lugar no universo e sua identidade tanto comunitária quanto individual. Neste nível é que importa manter sempre presente a figura do deus Dioniso. À época de Gilbert Murray e durante os estudos clássicos novecentistas de um modo geral, a tragédia era entendida como um evento ligado ao culto de Dioniso. Não necessariamente uma homenagem direta ao deus, mas um acontecimento que tomava emprestado seu espírito do das orgias e bacanais em homenagem ao deus, e, especialmente, coincidia com as festas em sua homenagem no mês de março. Corroborava-se esta visão com a referência à Arte poética de Aristóteles, que localizava nos ditirambos religiosos de um coro representando sátiros a origem da forma trágica. Durante muito tempo este início da tragédia explicava o nome do gênero (o canto do bode como sendo o canto dos sátiros). Albin Lesky critica esta posição: Já estamos cientes, por intermédio de Furtwängler, de que essas representações pertencem, sem exceção, a uma época mais recente e de que o costume de dotar nossos demônios de rabinhos, orelhas e chifres de bode só se introduziu na época helenística, sob influência do tipo do deus Pã. O aspecto dos sátiros nos tempos mais antigos, no-lo mostra grande número de monumentos: geralmente trata-se de figuras de vasos, que nos apresentam esses demônios silvestres com enormes caudas e orelhas de cavalo e, nas representações mais antigas, até mesmo com cascos de cavalo ... Tentou-se eludir por diversos caminhos a dificuldade decorrente do fato de encontrarmos providos atributos eqüinos os sátiro-bodes, cuja existência reconhecemos no nome da tragédia, mas nenhum deles se mostrou praticável. (LESKY, 2006: 70) A explicação mais viável é que o “canto do bode” do trágico se refira ao animal sacrificado na abertura das festas. Isto não esgota o problema, no entanto. A tragédia nasce como uma extensão do rito religioso comunitário ateniense, mas, temos de nos perguntar, como faziam os atenienses que viveram logo após a era de 32 ouro do teatro, o que a tragédia tem a ver com Dioniso? Após a leitura de Nietzsche é quase direto afirmarmos que o Dioniso do trágico está no espírito de transbordamento e de informe a que o caminho apolíneo da formalização conduz. A leitura de Hegel também, que utiliza o Édipo rei e a Antígona como modelos para seu comentário sobre a distinção entre direito divino e direito humano, entre direito natural (relacionado à família, ao sangue) e direito universal, categórico (relacionado ao estado) vai estabelecer o divino como um dos pólos fundamentais para uma leitura da tragédia. Mas isto não dá conta do problema mais estritamente ritual. O espetáculo trágico ocorreu durante décadas relacionado ao culto de Dioniso, mas a referência ao deus é escassa nas peças que sobreviveram, o mesmo podendo-se dizer, através dos catálogos sobreviventes, do que se conhece sobre as peças perdidas. O aspecto religioso das peças não se relaciona, então, especificamente a Dioniso, mas as histórias representadas são religiosas, embora para nossa mentalidade seja difícil entender como um herói com a história de Édipo possa ser digno de culto. E, no entanto, o aspecto religioso das tragédias passava por aí. A explicação de Murray, é que as tragédias serviam inicialmente para explicar a origem de certas figuras menores do culto grego (cf. MURRAY, 1943:18-20). Assim, com o ciclo de Prometeu teríamos a explicação do santuário ao demônio menor Prometeu em Atenas, com a tragédia de Ájax a explicação do culto ao herói em Corinto, com a Oréstia a explicação do culto às Eumênides no Areópago, etc. Esta hipótese tem a vantagem de dar uma resposta coerente ao problema da relação entre a tragédia e o ritual religioso. Mas não resolve o problema de como Dioniso se relaciona com o ritual trágico. Lesky tem uma leitura bastante próxima à de Murray, entendendo que o coro trágico é inicialmente desligado do culto dionisíaco: 33 A aparente contradição entre a tragédia como parte do culto dionisíaco e seu conteúdo não dionisáico foi observado muito cedo pelos antigos e deu margem a uma expressão proverbial: “Isto nada tem a ver com Dioniso” ... Nesta conexão, adquire máxima importância para nós um relato de Heródoto (V, 67). Desde a mais alta antiguidade existia em Sícion o culto do herói argivo Adrasto, e Heródoto diz expressamente que os sicionences não veneravam a Dioniso, mas a Adrasto, e em coros trágicos cantavam seus tormentos ... o conteúdo desses cantos eram os feitos e os sofrimentos do herói de um dos grandes ciclos de lendas. E é neste ponto que entra a reforma do tirano Clístenes, que dedica estes cantos a Dioniso, isto é, faz com que estes cantos sejam entoados não no culto do herói Adrasto, mas no serviço do novo deus. ... A passagem não diz outra coisa senão que os velhos coros “trágicos”, com seu conteúdo tirado dos cantos heróicos, passaram a integrar o serviço religioso dionisíaco. (LESKY, 2006: 78-79) A hipótese é que esta transição tenha se dado também em Atenas, e que, com a ligação dos coros em homenagem a algum herói com os coros a Dioniso, tenha havido lentamente uma mudança de conteúdo, com estes cantos adquirindo caráter dionisíaco, ou seja, um espírito dionisíaco mais ou menos da maneira que entende Nietzsche. O segundo nível cultural se refere à evolução política ateniense, com o espetáculo trágico sendo um elemento de promoção do estado ático. A tragédia se une à promoção da democracia grega, sendo o rito por excelência que une aqueles homens importantes e respeitáveis, responsáveis pela condução dos assuntos da cidade, a outra parte da população livre ateniense. Os autores, atores, e, especialmente, os “produtores” do espetáculo pertenciam àquela camada mais elevada da população, que, dentro do palco, representava sua estirpe e a si mesmos para o público de artesãos, camponeses livres e mercadores que deveriam liderar. Ésquilo, autor e ator de suas peças, teve tragédias produzidas por Péricles, o estratego maior de Atenas. O fato objetivo dos príncepes desta democracia estarem diretamente ligados ao palco, representando a história de heróis e de deuses, relaciona a grandeza de uns à de outros, e faz com que seja impossível não pensar o espetáculo trágico em algum nível como também um rito de classe. Mas pensá-lo exclusivamente deste modo não daria conta da riqueza da forma trágica. No mínimo, porque esta grandeza representada no palco era sempre manchada pelo crime e pela impureza. Este é um elemento importante das relações de classe e 34 poder que se tornam presentes na tragédia: elas não são simples propaganda de um poder, de uma estirpe ou de uma classe, mas sim a contradição e problematização deste poder, desta estirpe, desta classe. Uma maneira de entendermos esta estranha “propaganda” é relacioná-la aos rituais jocosos do rei-mendigo e do phármakon, em que o rei é transformado ritualmente em homo sacer, em entidade sagrada que deve ser adorada e execrada simultaneamente, ou, no mínimo, ser tornado objeto de troça. Todas as sociedades pré-modernas conhecem este ritual, e esta será uma das bases de René Girard para relacionar a tragédia aos rituais de bode expiatório que ele entende como manifestações de uma lógica de controle da violência que permite a existência da cultura. A vantagem desta leitura do fenômeno é que ela liga a tragédia a rituais muito antigos e bem documentados que estão sempre presentes na descrição da visão de mundo de sociedades primitivas. O problema é que a sociedade ateniense do século V já não era tão primitiva, em nenhum termo de comparação válido. No auge do império marítimo que se formou após a guerra contra os persas temos uma cidade de cerca de 300.000 habitantes, com rotas fixas de comércio se entendendo do Egito à Itália, abarcando todo o mediterrâneo. O fato de a democracia ateniense ter podido sustentar uma guerra de trinta anos contra todo o resto da Grécia dá a medida de seu poder. Uma boa parte das instituições culturais a que estamos acostumados tem sua origem na Atenas desta época. Era uma sociedade necessariamente complexa por qualquer medida, e, embora necessariamente os antigos rituais comunitários de controle ainda estejam presentes, devemos nos perguntar a força que eles ainda possuem em uma sociedade que prepara o surgimento da filosofia. Preferimos entender esta ambígua representação do poder na tragédia, seguindo a leitura ética de Hegel na Fenomenologia do espírito, como um esforço consciente de pensar a natureza do poder político, da cidadania, do estado. Como em 35 outros momentos, como na era barroca ou no século XIX burguês, a tragédia põe em cena e reflete sobre os vícios do poder e do cidadão, e isto não de forma restrita e privada, mas de forma pública. Não temos então propaganda, mas um momento de excepcional riqueza espiritual em que existe liberdade crítica, mais que isso, em que a crítica faz parte da própria dinâmica do poder do Estado. O cidadão é o termo mais importante da democracia ateniense. É a ele que a tragédia se volta, e é da relação entre a liderança política e os outros cidadãos que se constrói o tipo específico de lógica de representação da tragédia ática. Todos os problemas de estatuto de verdade que o texto trágico suscita – a contradição entre daímon e caráter, entre destino e vontade, entre o que é dito aparentemente e o que é dito de fato – podem ter suas raízes apontadas para a necessidade de incluir o cidadão na construção do sentido da cidade. Não é uma crítica válida a afirmação de que a democracia ateniense era restritiva, pois não é a quantidade de cidadãos que define a dinâmica deste poder, e sim a maneira como os vários interesses que o compõem são organizados na cidade. Assim, a tragédia representa a cidade, torna-a parte do ciclo heróico-religioso que é um dos fundamentos da identidade coletiva grega. Mas a inclusão do público na construção do sentido da peça trágica vai além disso. Pois, ao contrário das outras formas tradicionais da literatura grega, como os ciclos épicos, a literatura religiosa e a lírica, a tragédia tem a contradição como parte constituinte de seu texto. E por ser irônico e contraditório, o texto trágico exige um processo ativo de decifração do signo. Exige um leitor como o entendemos, alguém que possa ler nas entrelinhas, antecipando e refletindo sobre o apresentado e reorganizando-o, adquirindo o sentido do dito e estabelecendo os níveis distintos de significação. Quando, por exemplo, Clitemnestra recebe Agamêmnon em Agamêmnon, de Ésquilo, seu discurso é doce e subalterno, cumprindo o papel de boa esposa. O público todo já sabe de antemão 36 que ela assassinará o marido, e o sentido real de seu discurso, a ironia antecipatória do assassinato, só é construída fora da própria peça, no público que a assiste. Esta é já a coexistência do estético, que, embora possamos referir em qualquer texto – o texto (e a obra de arte) só existe enquanto atualização cumprida por um leitor, enquanto discurso concreto que se cumpre simultaneamente a sua decifração no ato de leitura, diante do próprio texto ou na memória do leitor – é estrutural ao texto trágico. Não há um cartaz no palco dizendo “olha, isso é mentira!”, “olha, isso não é necessariamente assim”. É a mente do espectador que traça estas relações, e, portanto, é a mente do espectador que torna o mito conforme é apresentado no texto trágico em algo que exista. A conseqüência política desta característica do texto trágico é que é o público de cidadãos que mantém vivo o mito identitário da pólis. Este ente coletivo que é a comunidade de cidadãos é que confere coerência à realidade conforme apresentada no palco trágico. O corte entre dois planos de sentido, um que se dá no palco, insuficiente, e outro que se completa na mente do espectador, traz o público para dentro do palco, torna-o parte ativa do espetáculo. Acima de tudo, faz com que a arte trágica seja já uma reflexão sobre a linguagem, a verdade e o sentido. Na tragédia temos a construção de um dos primeiros signos complexos da literatura, ou seja, de um discurso que se constrói enquanto sobreposição de outros discursos, e que não refere nunca a um sentido unívoco, mas antes à suspensão tensa do significar, ao múltiplo, ao variável, à fulguração intensa e transitória da obra de arte que Platão não pôde mais que condenar (cf Capítulo 5). A tragédia é linguagem já posta em crise. Obviamente, o sentido é recuperado na apresentação da peça, mas a natureza transitória e frágil da linguagem já é trazida à baila. Estes dois níveis da experiência grega estão presentes na tragédia, sendo responsáveis pelos temas que vai abordar. As questões de sucessão, a hybris, a natureza 37 da justiça, o destino do homem e da comunidade, a relação do homem com o divino e os limites entre os dois reinos, estas todas são preocupações que o século XIX vai projetar sobre o texto trágico, articuladas entre si no herói trágico e no deus-destino que o assalta, e que referem diretamente os universos religioso e político dos gregos. A singularidade da tragédia estaria em que os valores tradicionais serão transformados em uma nova visão que culmina em um indivíduo consciente de si e de sua independência espiritual, um novo herói consciente que Platão pensará como o seu modelo de ser humano. Esta transfiguração do herói trágico – e dos valores tradicionais da pólis ateniense – em um novo personagem, que usa sua própria humanidade como medida de sua presença no mundo, é um dos grandes legados da arte trágica. O nosso esforço a partir de agora será de entender como os valores tradicionais da cultura grega conforme interpretados pela tradição filológica e filosófica do período a que estamos nos atando puderam paulatinamente gerar esta nova visão. Como, a partir da representação do conflito entre o divino e o homem individual, e entre ele e a comunidade, chega-se a Platão e à idéia de liberdade e de universalidade. Esta é uma linha de exposição que duplica a leitura do século XIX sobre a tragédia através especialmente da teoria de história hegeliana, que o Paidéia de Jaeger parece acompanhar. Em Jaeger isto se daria em três momentos, naquilo que se refere ao Estado ateniense: um primeiro momento aristocrático, ligado aos valores da épica e que a partir da influência das idéias e da legislação de Sólon permite o fortalecimento da instituição estatal e o surgimento da democracia no século V. Um segundo momento de promoção e de expansão deste estado, a que a instituição dos concursos trágicos estaria ligada, e um terceiro momento, após a queda de Atenas na Guerra do Peloponeso, em que uma certa consciência ética construída pela tragédia culminaria na obra platônica. Jaeger conta a história espiritual deste processo, como ele se constrói em termos de valores e de construção de uma 38 autoconsciência humana, na transição da épica para a visão trágica e da visão trágica para a visão platônica. Segundo Jaeger, esta transição está ligada especialmente á idéia de responsabilidade pessoal e de justiça que se manifesta inicialmente no pensamento de Sólon: Na concepção épica, a cegueira, a Ate, engloba numa unidade a causalidade divina e humana em relação com a desventura: os erros que arrastam o Homem para a ruína são efeito de uma força daimônica à qual ninguém pode resistir. É ela que induz Helena a abandonar a casa do marido para fugir com Páris, e é ela que endurece o coração de Aquiles perante a embaixada que o exército lhe envia para dar explicações para reparação da sua honra ultrajada, e perante admoestações do seu velho preceptor. O desenvolvimento da autoconsciência humana realiza-se no sentido da progressiva autodeterminação do conhecimento e da vontade em face dos poderes superiores. Daí a participação do homem no seu próprio destino e a sua responsabilidade perante ele. (JAEGER, 1995: 302) 1.2. Crime e castigo, destino e ethos Um dos efeitos de a tragédia ter surgido tendo como horizonte os substratos religioso e político da cultura grega é que o problema da justiça está sempre presente. A maneira justa de viver, mas também a tentativa de compreensão da justiça divina, da justiça dos homens, do erro (a hamartía) e perdão. Talvez a maneira mais produtiva de iniciarmos a discussão seja entendendo a idéia de erro trágico, tão sublinhada por Aristóteles, e sua função na estrutura da fábula trágica. O herói trágico é hamarton, o homem impuro, devido a seu desvio, voluntário ou involuntário, do sagrado. A noção de hamartía-hamarton se afasta bastante da idéia de culpa cristã conforme presente na teologia. Em primeiro lugar, a hamartía não se refere à relação entre arbítrio e pecado que marca a visão cristã de mundo. O hamarton não é aquele que peca, mas aquele que concretamente comete o ato impuro que o afasta do deus. Enquanto no conceito de pecado o afastamento do divino é marcado pelo desejo consciente de afastamento – o 39 pecador é aquele que se afasta de deus –, a hamartía ocorre sem que haja a necessidade de decisão do indivíduo: o afastamento do divino é passivo, não é algo procurado pelo herói, mas antes sofrido por ele, ou ainda: ocorre pela própria natureza da relação entre o homem e o divino. Este afastamento do divino será o grande tema da descrição da tragédia por Hölderlin, e comentadores como Lesky e Reinhardt vão aderir plenamente a este modelo interpretativo. Autores mais próximos a um modelo ético hegeliano, que percebe este divino como nada mais que um nome para a consciência, vão atribui a este deus a identidade com valores éticos e políticos tradicionais, identidade com uma idéia de justiça, especialmente, como no caso de Murray, Cornford ou Jaeger. Neste caso o afastamento do deus significa a perda de um referencial para julgar o valor da ação, momento em que a consciência humana ganha força porque é obrigada a agir de acordo com seu próprio julgamento. Outra maneira de entender este deus, e neste caso é uma discussão constante em todo século XIX, é como destino, como uma alteridade radical em relação à liberdade humana, que estabelece os limites tanto da ação quanto da felicidade do indivíduo. Neste caso, o deus-destino se contrapõe ao homem, é seu outro, só que infinitamente mais poderoso que o próprio homem. Para que haja a hamartía é necessário um segundo momento após esta contraposição, em que o herói, já exilado da graça divina, cometa um ato que o torne impuro. Assim, Édipo não é hamarton porque o deus vira as costas para ele, mas sim porque, simultâneo a este abandono, há o assassinato e o incesto. Para que haja o erro, é necessário o abandono pelo deus, havendo o abandono pelo deus, o erro é inevitável. É importante marcarmos esta distinção entre o pecado cristão e a hamartía trágica porque para a discussão ética do século XIX isto funciona como uma iluminação. Na maneira como a hamartía é percebida há a possibilidade de conjugar o castigo a um desvio necessário, a um movimento inevitável da consciência na obtenção de conhecimento, como na leitura de 40 Hegel sobre Antígona. É este tornar complexo o circuito do crime e castigo que faz da falta trágica, a leitura da falta trágica neste momento, como um momento de afirmação do homem e da consciência humana em busca de si mesma muito mais do que um problema moral. É o que talvez possa permitir a afirmação de Hegel logo no início da Fenomenologia: [seção 39] O verdadeiro e o falso pertencem aos pensamentos determinados que, carentes-de-movimento, valem como essências próprias, as quais, sem ter nada em comum, permanecem isoladas, uma em cima, outra embaixo. Contra tal posição deve-se afirmar que a verdade não é uma moeda cunhada, pronta para ser entregue e embolsada sem mais. Nem há um falso, como tampouco há um mal. O mal e o falso, na certa, não são malignos tanto como o demônio, pois deles se fazem sujeitos particulares (como aliás também do demônio). Como mal e falso, são apenas universais; não obstante têm sua própria essencialidade, um em contraste com o outro (HEGEL, 2002: 43). O crime trágico obedece a uma lógica distante do simples condenatório, mas é antes uma figuração do encontro da ação humana com sua alteridade no destino. Quando Hegel afirma que não existe mal, esta é a preparação para afirmar a necessidade da comunicação entre um eu isolado, sempre certo pois unilateral, com um outro, relacionalmente sempre errado por não ser o eu. É no confronto e na interpenetração dos dois pólos, no abandono de sua unilateralidade, que se chega ao conhecimento possível. Este eu que isolado age sobre o mundo sempre de forma coerente (e necessária) consigo mesmo, sempre se confronta com uma alteridade, e deste confronto surge a possibilidade de reconhecimento e de consciência. E o modelo desta consciência infeliz, destinada a se chocar com uma alteridade, é o herói trágico, marcado ao mesmo tempo por seu próprio ethos e por um destino exterior. Por outro lado, como na visão grega a hamartía é essencialmente uma impureza, uma polução, é possível que o hamarton seja livre do sofrimento que a mancha traz através do ritual de purificação. Para tanto é necessário, obviamente, que o deus esteja disposto a devolver sua graça, a reverter o abandono do herói. Tanto quanto a hamartía, 41 o perdão ritual é um tema que circunda a tragédia. É o que torna possível, por exemplo, a reconciliação em Édipo em Colono ou As Eumênides. A fala de Medéia logo após o assassinato de seus filhos não é absurda em uma visão tradicional grega: JA ME Deixa que eu enterre os mortos e os pranteie! De modo algum, que eu mesma irei fazê-lo No templo de Hera Acraia. Assim evito Que algum dos inimigos lhes profane A tumba. Aos dois dedico festa e rito Nas paragens de Sísifo – sublimes! –, Forma de compensar o triste crime. Vigoram no futuro. Com Egeu, Passo a viver na terra de Erecteu. (EURÍPIDES, 2010: vv 1377-1385 (tradução de Trajano Vieira) Medéia não supõe sua vida terminada com o assassinato dos filhos, e sua liberação da maldição que a hamartía traz se dá através do rito a ser celebrado, e significa livrá-la dos efeitos práticos do crime – o impuro traz a maldição do deus, portanto não pode partilhar da sociedade –, assim como dos efeitos espirituais: cumprindo-se o ritual de purificação, o criminoso pode fazer parte de novo da ordem divina e humana. A catarse aristotélica se relaciona diretamente a este universo de crime-polução-purificação, e em algum nível a purgação do excesso sentimental de “piedade e horror/temor” que a catarse trágica provoca reflete a purgação religiosa que o texto trágico tematiza. Mas é preciso entender este texto trágico enquanto forma que problematiza a visão de mundo tradicional dos gregos. O herói trágico é ainda hamarton, mas a relação entre divino e humano já não é tão passiva quanto na religião tradicional grega. O que a tragédia faz, na leitura do idealismo, é tencionar o conceito tradicional de hamartía enquanto impureza: se o hamarton tradicional, o presente na épica e no mito religioso, é aquele que comete o ato impuro devido ao deus, ao destino, à “força daimônica à qual ninguém pode resistir” nas palavras de Jaeger, o herói trágico é aquele que torna este afastamento um problema, que questiona tanto a natureza da paixão humana quanto a 42 natureza – a justiça e o sentido – do divino, e que adiciona à equação a sua própria responsabilidade soberana sobre sua ação. Isto é representado pela confusão no texto trágico, entre o daímon e o ethos, os dois pólos que conformam a ação humana. O daímon é inicialmente a manifestação do deus-destino, a manifestação não propriamente da vontade, mas da presença do deus em um destino humano. Em Ésquilo ele é o poder do deus que se manifesta no universo sublunar da ação dos homens. Em Sófocles e Eurípides esta presença se torna cada vez mais um elemento imanente, confundindo-se no último com a paixão humana, em que o deus influi muito pouco. Mas o daímon não é completamente arbitrário: o deus se manifesta de forma específica em um determinado ethos, um determinado caráter humano, uma determinada conformação existencial ou essência específica do herói. A questão de precedência aqui é bastante confusa: em Ájax, o herói é tocado por Atena para matar os rebanhos dos gregos pensando eliminar, na verdade, seus aliados a quem agora devota ódio. A traição de Ájax aos outros gregos é uma Ate, uma cegueira, uma ação incontrolável que foge a seu poder de decisão. Mas a traição de Ájax só é possível por seu ethos, por ser o maior dos guerreiros, que deseja justamente as armas de Aquiles, por ser orgulhoso, e assim a cegueira que leva Ájax a tentar assassinar Ulisses e Agamêmnon só é possível porque Ájax é Ájax e não outro. A ambigüidade da relação entre daímon e ethos é que, ao mesmo tempo que o daímon apaga a identidade ao obrigar a ação do herói além de seu controle, contra seu próprio interesse e contra, na verdade, aquilo que o define – seu lugar privilegiado na ordem cósmica, que o torna um homem superior aos outros, o que só ocorre por determinação divina– ele só é manifestável em uma determinada personalidade, ou seja, é o próprio caráter do herói que torna seu daímon necessário. Em Destino e caráter, Walter Benjamin se refere a esta ambigüidade entre os dois campos. Segundo Benjamin: 43 Nas fronteiras do conceito do homem a ponto de exercer uma ação, não se saberia definir o conceito de um mundo exterior. Antes, entre o homem que exerce uma ação e o mundo exterior tudo é ação recíproca, seus campos de ação se interpenetram; por mais distintas que possam ser as representações, seus conceitos não são separáveis. Não somente, e em nenhum caso, pode-se indicar aquilo que, em última análise, vale como função do destino (isto não significaria nada aqui se, por exemplo, ocorresse isto na pura experiência, houvesse passagem recíproca de um ao outro), mas o exterior que reencontra o homem a ponto de agir pode sempre, por princípio, e na medida em que se quiser , se reduzir a seu próprio exterior, digamos mais: ser visado a princípio como sendo este exterior mesmo. Nesta perspectiva, longe de ser teoricamente golpes um do outro, caráter e destino coincidem. (BENJAMIN, 1971a: 153)1 No mesmo texto mais abaixo Benjamin utilize esta lógica para tentar entender a culpabilidade do criminoso legal em relação à justiça: um homem é miserável, comete um crime e vai contra a justiça, mas a justiça é exatamente construída para que o criminoso se torne criminoso, para que da miséria chegue ao crime, já que não pode aceitar a alteridade da miséria. Podemos talvez pensar esta relação entre destino e caráter, ou ao menos o momento em que o herói rompe com o direito divino e afirma sua própria consciência, como uma loucura (sagrada). Pois ao mesmo tempo que a loucura é sempre impessoal, é o afastamento de um indivíduo do reino familiar a que pertencia, tornando-o estranho para si e para os outros e impedindo seu retorno, ela é também afirmação de uma personalidade: na diferença do louco em relação ao resto da humanidade só podem estar, simultaneamente, sua loucura e o louco mesmo. A solidão do louco e a solidão do herói são parelhas, e é nela que isto que se constrói, uma consciência, um espírito individual, brilha mais forte. Quando Ájax reclama de seu destino, é isto que está em jogo: como eu pude me tornar outro, como o que eu sempre fui me conduziu a ser isto? Ah! Trevas, toda a minha luz! Ah! Érebo Esplendoroso para mim! Levai-me Para viver convosco! Sim! Levai-me! Já não sou digno de elevar os olhos À procura da ajuda dos bons deuses A até dos homens!... Veio atormentar-me 44 E mata-me a filha de Zeus supremo, Deusa dotada de grande poder. Que terra ainda me receberá? Onde procurarei refugiar-me Se minha boa fama, amigos meus, Morreu com as vítimas mortas por mim, E se sou condenado a um triunfo Cuja conquista me leva à loucura? ... ... Nunca mais vereis o homem que fui até ontem, homem tão bravo que Tróia arrogante – direi aqui palavras presunçosas – até há pouco não vira outro igual no exército vindo da terra grega! Mas vede agora a grande humilhação Que o reduziu praticamente a nada!... (SÓFOCLES, In ÉSQUILO; SÓFOCLES; EURÍPIDES, 1993: vv. 545-582 (tradução de Mário da Gama Kury) Destino e caráter são os dois níveis de articulação da ação trágica. Um refere o deus, o outro a condição humana. No texto trágico estes dois campos se confundem cada vez mais para aos poucos haver a construção de uma consciência cada vez mais complexa. O tipo de entendimento tenso da condição humana que a tragédia traz fica bem claro se pensarmos que é exatamente na instância do negativo, da alteridade, que esta ampliação do alcance da consciência humana se dá. Pois no trágico o antigo conceito de hamartía, de erro trágico, começa paulatinamente a se tornar uma culpa trágica. Como afirma Jean-Pierre Vernant: Como a personagem trágica se constitui na distância que separa daímon e ethos, a culpabilidade trágica se estabelece entre a antiga concepção religiosa de erro-polução, de hamartía, doença do espírito, delírio enviado pelos deuses que necessariamente engendra o crime, e a concepção nova em que o culpado, o hamarton, ... é definido como aquele que, sem ser coagido, deliberadamente decidiu cometer um delito. (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1999: 15) Jaeger afirma algo muito próximo a isto em seu comentário a Ésquilo (cf JAEGER, 1995: 305-6). Especificamente no caso do alemão há a afirmação de uma autoconsciência individual que se sobrepõe à influência divina. Na leitura de Jaeger, como nos referimos anteriormente, esta lenta construção da consciência através do 45 complexo do erro e da dor é um momento da construção de um homem grego em oposição tanto ao momento anterior da comunidade aristocrática, quanto do posterior, em que já se pode falar em um indivíduo que tem condições de mediar a realidade com sua própria razão. Vamos tentar entender este processo utilizando a imagem da sentença do oráculo de Delfos, Conhece-te a ti mesmo. 1.3. A transformação do sentimento do divino A interpretação do conhece-te a ti mesmo do oráculo será utilizado aqui como uma ilustração para pensar a maneira como a relação com o divino foi entendida na tragédia conforme lida pelo período que estamos tratando. A inscrição no templo de Apolo, de autoria incerta e surgida provavelmente no século VI ou VII a.C., é uma espécie de síntese da religiosidade grega. Seu significado básico é: sabe que és mortal e que não estás à altura dos deuses. No universo pré-clássico de Homero e Hesíodo o sentido da sentença é bastante direto: conhece que és um homem, que não estás à altura dos deuses, aceita teus limites humanos. É o “Nunca a estirpe humana se assemelhará à dos deuses imortais” (Ilíada 5, 440) na luta de Diomedes contra Apolo disfarçado de Enéias. Neste caso, o “conhecer” que a sentença parece propor é da mediação entre homem e divino, o do ritual, da sociabilidade ritualizada. Conhece-te a ti mesmo, aqui, é uma advertência contra a hybris e aponta para o sentido sagrado. Já na literatura homérica há a ambigüidade entre proximidade e distância do divino. O deus é aquele que interfere diretamente nos assuntos dos homens, e seu jogo de preferências e caprichos traça o caminho de glória ou o desastre para o herói. Mas o deus é também o limite inalcançável que o homem não pode tocar e não deve almejar. O deus – o rito ao 46 deus – é a lei em que se constroem as ambições humanas, e o deus é naturalmente o destino: sua vontade anula os planos e desejos humanos. Ele estabelece os limites do justo, ele os extrapola segundo seu capricho. E é esta ambigüidade que prepara o advento da tragédia séculos depois das epopéias. Nas palavras de Albin Lesky: O pólo oposto à proximidade familiar é a insuperável distância, para a qual a cada instante os deuses estão dispostos a repelir o homem. O deus ... com o “conhece-te a ti mesmo”, assinalou os limites inalteráveis da existência humana ... esta natureza diferente que os deuses possuem, que ninguém expressou de maneira mais grega que Hölderlin na canção do destino de Hipéron, aparece repetidas vezes na Ilíada, de tal maneira que coloca sob um signo trágico toda existência humana, esta existência que, apesar de toda a sua riqueza e variedade, não pode escapar à aniquilação. (LESKY, 1995, p.87) O que em Homero e Hesíodo é uma noção religiosa e cósmica, o destino final do homem como a morte, é problematizado na tragédia, tornado angústia. O corte essencial entre homens e deuses é a morte, é aquilo que estabelece uma distância entre o homem mortal e o deus imortal. Nesta visão é necessário que o homem seja inapelavelmente mortal para que a distinção entre humano e divino seja mantida. Para a visão do trágico do século XIX, este corte se torna problemático, pois o homem, concebendo sua autonomia e independência ôntica, se angustia diante da perspectiva da finitude, e, mais que isso, de sua solidão existencial, de sua separação com o todo. É esta angústia que alimenta o pensamento de todo século XIX, esta solidão inescapável do homem separado do divino, do mundo, da totalidade. Obviamente, podemos nos referir a esta angústia em qualquer momento da cultura humana, e o rito fúnebre, exatamente uma das bases da cultura, é a maneira de separar o reino dos mortos e dos vivos. A angústia que autores como Hölderlin e Hegel localizam na tragédia é de outra ordem, pois, a princípio, não é exorcizável pelo rito. Os vivos e os mortos não se separam completamente, estes ainda assombram aqueles, e, assim, a fundação do ritual fica trincada. O desejo de continuidade de uma cultura tão pujante quanto a ateniense tem 47 como reflexo o ataque à própria identidade estabelecida pelo rito, que veta em cláusula pétrea esta possibilidade. A fábula de Alceste, de Eurípides, é uma boa fantasia para ilustrar esta angústia. O herói, Ádmeto, rei de Feras, recebe como favor de Apolo estender sua vida caso consiga convencer alguém a acompanhar a morte em seu lugar. Primeiro, pede que um de seus velhos pais morra em seu lugar, mas é sua esposa, Alceste, quem acaba aceitando substituí-lo. Uma Morte, que já não é uma força distante e impessoal, inapelável, da natureza, mas um personagem alegórico que reclama e discute com Apolo, vem para levar Alceste ao Hades. O próximo passo da tragédia é o surgimento de Hércules durante o luto por Alceste. Ádmeto se recusa a dizer que está de luto por alguém próximo, e oferece hospedagem a Hércules. Mais tarde, ao saber que o luto é pela rainha de Feras, Hércules se retira. Ao fim da peça o herói ressurge com uma mulher velada. É Alceste, que Hércules devolve a Ádmeto após louvar o rito da hospedagem. O final feliz torna Alceste uma obra estranha em meio ao corpo trágico, e em termos de estruturação narrativa é de fato um recurso pobre resolver a fábula com um Hércules superpoderoso. Mas essa peça tem como grande virtude tornar explícito o jogo entre vida e morte que toda tragédia dramatiza. A Morte alegórica já é um indício de que as tensões culturais que foram responsáveis pelo surgimento do gênero estavam tomando outra forma na Atenas dos sofistas e de Platão, mas vamos encontrar poucos exemplos dentro do gênero de uma profanação tão grande do ritual quanto a morte revertida. Nesta reversão há a presença de um ser humano que pede igualdade com o divino: aquilo que Apolo não pôde, impedir a Morte de levar Alceste, é alcançado pelo herói Hércules, que desce ao inferno para resgatar a mulher. 48 O confronto e as acusações mútuas entre Ádmeto e seu pai, Feres, pela morte de Alceste, são essencialmente exageros: um acusa o outro de não querer morrer, e aí talvez haja uma crítica ao estilo dos heróis de coragem abismal de Sófocles e Ésquilo, pouco humanos na sua aceitação da dor e do sofrimento. Mas as falas de Ádmeto e de Feres são essencialmente uma reflexão ética em linguagem elevada do que seja a felicidade humana. Diz Ádmeto, acusando seu pai: E nós dois viveríamos, Alceste e eu, Os anos prefixados para nossa vida, E eu – pobre de mim! – não ficaria só Gemendo por meu mal enorme. Tu, porém, Gozaste tudo o que faz a felicidade De qualquer homem. Ainda na flor da idade Já detinhas a posse do poder supremo. Vias em mim um filho para ser herdeiro Deste palácio; em tempo algum correste o risco De morrer sem deixar um descendente digno E abandonar a casa deserta de filhos A mãos estranhas que por certo a pilhariam ... Procria sem demora, Feres, filhos que te nutrirão na velhice, E quando fores fulminado pela morte Cobrirão com um lençol ritual teu corpo Antes de expô-lo, pois não te sepultarei Com estas mãos que vês; (EURÍPEDES In ÉSQUILO; EURÍPIDES; SÓFOCLES, 1993: 800-822 (tradução de Mário da Gama Kury)2 O interessante da fala é confrontar dois sentidos de felicidade, em uma tensão típica do período. A felicidade de Feres, pública e voltada para isto que os gregos tradicionalmente consideravam a realidade, a vida comunitária na pólis. Já a infelicidade de Ádmeto é privada, baseada em ter de ficar só, mas aí já uma solidão diferente da de Édipo e de Orestes, não a solidão do exílio, do exilado, mas a solidão emocional de se ver sem um objeto de desejo. O primado deste homem privado, que possui sua vida interior tão rica quanto a dos ritos da comunidade, só é possível na presença de uma individualidade forte, que a tragédia desde Ésquilo prepara. 49 Mas a fala de Ádmeto tem mais riqueza. Neste trecho ele repassa os ritos comunitários – cidadania, casamento, sucessão, funeral – a que a felicidade está atada, e a platéia por certo não deixará de notar que o sucesso destes ritos não é exclusivo de seu pai: a fala de Ádmeto poderia perfeitamente referir a si próprio. René Girard identifica nisto, no problema do duplo, na duplicação do desejo e de sua potencialidade que ameaça destruir a identidade, a essência da tragédia e da própria cultura. Vamo-nos deter em Girard mais à frente, mas gostaríamos de propor que a duplicação trágica, presente também na relação de Édipo e Orestes com Laio e Agamêmnon, ou entre Medéia e Glauce, a futura esposa de Jasão, é uma maneira de abordar o limite entre vida e morte, ou a distância entre lei humana e lei divina, nos termos que Hegel utiliza na Fenomenologia do espírito, ou entre aórgico e orgânico, os termos de Hölderlin. E isto de uma maneira bastante rica, porque estabelece que este jogo de manutenção e de dissolução de limite se dá em pelo menos dois níveis, o primeiro político –e todos os exemplos que demos acima são primariamente problemas de sucessão, de quem detém o poder– , e um segundo nível ôntico, em que a condição humana é interrogada. A duplicação enquanto problema político é prevista pela teoria da cultura de Girard: a crise sacrificial só pode ser resolvida pelo restabelecimento dos limites identitários através do rito do phármakon, que a tragédia dramatizaria. Mas há uma segunda conseqüência do duplo, relacionada à crise comunitária que sua eliminação deve sanar, que é a confusão entre mundo dos vivos e dos mortos, da dissolução do limite entre mortais e imortais. Laio morto ainda tem presença ativa na realidade de Édipo, Agamêmnon na de Orestes, a morta-viva Medéia ameaça a felicidade de Glauce, o moribundo Filoctetes que ameaça a honra e a glória de Neoptolemo. Ou seja, o mundo dos mortos ainda parece agir sobre o dos vivos, e isto é um sinal não só da força do destino e da divindade, como também do poder de um homem que dessacraliza o 50 divino, que se pretende independente do divino. Os dois níveis, o ritual e o político, são indissolúveis, mistura que alimenta a nova visão grega, uma expressão utilizada por Jaeger para referir ao individualismo e ao sentimento de liberdade e autoconsciência que prepara a filosofia platônica. Girard considera as tragédias cautionary tales, sua teoria supõe que a história de Édipo ou de Orestes tinha um caráter exclusivamente terrível para os gregos. Mas, e se não for assim? E se o anti-herói Édipo, como um venenoremédio em um outro sentido além do farmacológico, trouxesse aos gregos algo além do terror, algo como uma admiração velada por aquela potência, distinta do divino, que estava surgindo, como se um dragão fosse liberado? Que tipo de sentimento terá despertado a fala de Ádmeto “pois não te sepultarei/ Com estas mãos que vês”, uma heresia imensa, ou o desafio ambíguo de Creonte aos deuses em Antígona: Chafurdai no dinheiro, se quiserdes, Negociai o âmbar sardo, o ouro indiano, Mas ninguém nunca enterrará o corpo, Mesmo que as águias do Cronida almejem Agarrar a carniça, trono acima, Nem nesse caso, por temor ao miasma, Aceito que o sepultem. Não há homem Com força para macular um nume. (SÓFOCLES, 2009: vv1037-1044 (tradução de Trajano Vieira) Horror, certamente, mas não poderíamos dizer também que este novo homem ateniense que se está construindo sentiria um certo arrepio herético? Retornemos ao oráculo, e observemos como a sentença tem um sentido distinto do Homérico na tragédia de Édipo, que, aliás, pode muito bem ser entendida como a dramatização do oráculo. A ação na peça é motivada por três oráculos:o primeiro leva Laio a abandonar seu filho, que viria a ser Édipo. O segundo, que anuncia o destino de Édipo, provocaria seu abandono de Corinto e, enquanto vagava, se confrontar e assassinar Laio. O terceiro, já como rei de Tebas, o motiva a procurar o assassino do pai, si mesmo. Na relação do herói com Apolo temos a criatura que é representação do 51 poder divino. Édipo, como toda a vida humana, é o livro que o divino escreve, talvez não um deus olímpico, mas certamente o destino. O conhece-te a ti mesmo do oráculo, é, aqui, transfigurado: não é o sentido direto do limite entre homem e divino, mas uma elaboração mais complexa desta relação. O conhecer aí se refere especialmente a um reconhecimento, ao saber de uma identidade, enquanto um campo (de ação, de sentidos) sobre o qual a divindade está interessada. Conhece-te a ti mesmo significa descobre a tua origem e teu destino, estas coisas impessoais, bem acima e mais poderosas que o indivíduo. Mas, em Édipo, tanto origem quanto destino são um elo entre destino e indivíduo. Este elo pode marcar tanto uma distância infinita e superável apenas na aniquilação, como em Hölderlin, quanto uma distância tão tênue que a ação humana ameaça a própria substância da realidade, a ordem ética, como em Hegel. E a solidão de Édipo, seu abandono solitário pela divindade, é, paradoxalmente, a marca da presença do divino. Édipo só pode ser abandonado porque os deuses decidem se retrair de sua relação com o humano. E esta retração, embora desastrosa, permite o surgimento de um traço de permanência no humano que seja distinto daquele que uma criatura possui. O conhecer homérico parece concordar com aquela expressão da cabala que Borges sentia prazer em citar – “se Deus apenas tirar o olhar de tua mão ela cairá sem vida”. O conhecer trágico, este que Édipo dramatiza, prepara o campo para uma nova visão, em que, mesmo sem o olhar do deus, tua mão permanece agindo, ainda que seja para confrontar amorosamente o deus. Este confronto entre dois pólos igualmente válidos, entre humano e divino, é o que caracteriza uma primeira leitura da tragédia no romantismo, a partir de Goethe, especialmente em Hegel e Hölderlin. Hegel põe o confronto em termos de sua própria obra, como uma figuração do conflito entre família e estado, ou entre lei divina, natural (familiar) e a lei humana, da comunidade. A suposição é que através do confronto dialético entre os dois pólos se chegue à 52 transfiguração da consciência, através do reconhecimento da alteridade e do retorno a si mesmo. É, no entanto, em Hölderlin que este afastamento do divino ganha a dimensão mais problemática, pois não é algo conciliável. Talvez um bom vislumbre deste pensamento seja o comentário de Karl Reinhardt sobre o espírito trágico em seu Sófocles. Sua leitura segue essencialmente a visão de Hölderlin sobre a tragédia. Segundo Reinhardt: Os deuses de Sófocles não trazem nenhum consolo ao homem, e quando eles dirigem seu destino para que ele se conheça, ele se apreende como homem apenas em seu entregar-se e abandonar-se. Somente no despedaçamento sua essência parece sair de sua dissonância, tornando-se pura para ganhar o estado de uma harmonia com a ordem divina. (REINHARDT , 2007: 11) O momento final desta transformação do papel da divindade em âmbito grego, sua passagem de uma religião e de um ritual sagrado para algo muito próximo de uma mitologia é a maneira com que o Sócrates platônico interpreta o conhece-te a ti mesmo. O conhecer, aqui, é conhecer a própria alma, a própria essência, já dotada de razão e autonomia. É uma equação em que o divino, desde sempre retraído, está agora completamente ausente. O deus ausente é a divindade olímpica, necessariamente, mas possivelmente também qualquer divino – teríamos de definir até que ponto uma metafísica platônica prepara uma teologia. Precisamos, no entanto, repensar nosso argumento sobre a natureza da relação entre deuses e homens na tragédia em termos da especificidade de cada um dos três tragediógrafos. A dialética de afastamento e de proximidade, do homem com o deus, do homem com a comunidade, do destino individual com a volição, é representada de maneira diferente em cada tragediógrafo. A ordem representada nas peças não é necessariamente a mesma, nem a relação do homem com o divino. Werner Jaeger em 53 seu Paideia nos dá a medida da dificuldade de se falar em uma “tragédia” para além da forma técnica do espetáculo: Se nos interrogássemos sobre o que é o trágico na tragédia, descobriríamos que em cada um dos grandes trágicos teríamos uma resposta diferente. Uma definição geral apenas serviria para gerar confusões ... A representação clara e viva do sofrimento nos êxtases do coro, expressos por meio do canto e da dança, e que pela introdução de vários locutores se convertia na representação integral de um destino humano, encarnava de modo mais vivo o problema religioso há muito tempo candente, do mistério da dor enviada pelos deuses aos homens. (JAEGER, 2003, P.297) O conhece-te a ti mesmo de Édipo supõe um afastamento dos deuses em relação ao homem, em relação à felicidade humana, ao menos, mas supõe também uma ordem cósmica em que o divino ainda participa nos assuntos humanos, ao menos na forma de uma proposital provocação à falsa leitura (e é esta hamartía de Édipo para Hölderlin, ter interpretado de forma excessiva, como uma exigência religiosa e não política, a exigência do oráculo), desastrosa e que põe a fábula em movimento. Retornaremos a este tema mais adiante. O estar e não-estar do deus, que na ordem homérica significa simplesmente a inferioridade do homem em relação ao céu, assim como seu dever de piedade, no século V ateniense é complicado ao abismo. Édipo e os outros heróis de Sófocles reconhecem em seu abandono a fragilidade do homem, mas também a força ética que os obriga a agir apesar de tudo, em nome do dever, da honra, ou simplesmente de uma vaga idéia de dignidade humana. É especialmente esta perspectiva que vai informar a filosofia do trágico no século XIX, através da leitura de Schiller e mais tarde de Schelling (cf cap. 6). O abandono divino aniquila e violenta o homem, mas, ato contínuo, eleva o humano. O que a cultura alemã encontrou de vibrante na forma trágica foi exatamente a dimensão de coragem ética que os heróis trágicos demonstravam, em que a violência, do deus ou da comunidade, não produzia uma individualidade menor, mas maior do que antes da situação trágica. Este grande eu que surge no trágico pode ser forte o bastante 54 para reavivar o laço quebrado entre o homem enquanto ser racional e sua natureza sensível, entre a imensidão física da natureza e a imensidão moral do homem. Mas o caminho para esta reconciliação passa necessariamente pela violência, porque é na situação limite do trágico em que esta dimensão ética do homem, sua humanidade, é negada, e na resistência a esta negação é que o humano brilha mais forte. Nesta resistência à alteridade radical do destino, da natureza ou da lei, há a possibilidade do fogo humano, seu demônio da liberdade, elevar o homem e liberá-lo do sensível. Segundo Schiller em Teoria da tragédia: O que caracteriza o homem é a vontade, e a própria razão nada mais é do que a perene regra do mesmo. Sua prerrogativa, dado que toda natureza age racionalmente, reside apenas em que ele, cônscia e voluntariamente, o faz segundo a razão. Todas as outras coisas são obrigadas; o homem é o ser que quer. Por essa mesma razão, nada há de mais indigno do homem que sofrer violência, pois a violência o nega. Quem a exerce sobre nós, não faz nada menos que contestar-nos a humanidade. (SCHILLER, 1992: 49) A leitura de Schiller segue de perto uma ética kantiana, e a violência a que ele se refere no caso é não só a violência política, mas também a violência do homem diante do sublime, diante de tudo aquilo que foge da escala humana e torna sua razão inútil. A resposta de Schiller ao sublime, que ele entendia como um problema a um eu que se pretende infinito, é a arte, e das artes, especialmente a apaixonada forma trágica. Na formalização artística os eventos infinitos que violentam o homem são postos de novo em uma escala humana, permitindo sua fruição estética e a reconciliação entre a grandeza humana e a grandeza alterna da natureza. Segundo Schiller: Sem o belo, haveria sempre um litígio ininterrupto entre a nossa destinação natural e racional. Ante o empenho de satisfazer nossa missão espiritual, iríamos perder nossa humanidade. ... Sem o sublime, o belo nos faria esquecer nossa dignidade. ... Só quando o sublime se conjuga com o belo é que somos perfeitos cidadãos da natureza, sem, por isso, sermos seus escravos e sem perdermos os nossos direitos de cidadãos no mundo inteligível. (SCHILLER, 1992: 69) 55 O trágico seria a forma que conjuga de forma mais intensa violência e resistência à violência, o universo humano e o divino, aquilo que a razão dá conta e aquilo que lhe escapa, e nesta conjugação há a possibilidade de apontar para a conciliação destes opostos, cujo resultado é a catarse, no idealismo alemão entendido como o sentimento paradoxal de alívio pelo aniquilamento do herói. É que há o entendimento de que neste aniquilamento está representada a unificação do homem com as forças imensas que lhe negam. Isto é válido para Sófocles, Ésquilo e Eurípides, mas a maneira como o movimento duplo de aniquilação e elevação se processa é diferente em cada um, e, acima de tudo, supõe uma divindade e um humano um pouco distintos. 56 1 Versão própria da tradução francesa: Aux frontières du concept d’homme en train d’exercer une action, on ne saurait definir le concept d’un monde extéurieur. Bien plutôt, entre l’homme qui exerce une action et le monde extérieur, tout est action réciproque, leurs champs d’action s’interpénetrent; si différentes que puissant en être les representations, leurs concepts ne sont pas séparables. Non seulement, en aucun cas on ne peut indiquer ce qui, en dernière analyse, vaut comme function du destin …, mais l’extérieur que r’encontre l’homme en train d’agir peut toujours, par principe, et dans la mesure que l’on veut, se réduire a son proper extérieur, dison plus: être envisage par principe comme étant cet extérieur meme. Dans cette perspective, loin d’être théoriquement coupes l’un de l’autre, caractère et destin coincident. 2 Na versão de David Kovacs (EURÍPIDES, Alcestis, 1994: vv. 650-665) [And she and I would have lived for the rest of our time, and I would not be grieving for my trouble, bereft of her.] What is more, all that is required for a man to be happy has already befallen you: you spent the prime of your life as a king, and you had me as son and successor to your house, so that you were not going to die childless and leave your house behind without heirs for others to plunder. Surely you cannot say that you abandoned me to death because I dishonored you in your old age, for I have always shown you [660] every respect. And now this is the repayment you and my mother have made to me. You had better hurry, therefore, and beget other children to take care of you in old age and, when you have died, to dress you and lay you out for burial. I for my part shall never bury you myself. 57 2: Ésquilo e o deus necessário De um modo geral é Ésquilo que dá o tom para a leitura do trágico no século XIX. Embora o Sófocles do ciclo tebano seja o autor mais comentado, especialmente por nele estar presente com mais força aquilo que o idealismo reconheceria como o fulcro da tragédia, a colisão ética entre valores igualmente válidos, ou a colisão entre divino e humano, é em Ésquilo que se busca a semente desta estrutura. Nele são identificados três elementos fundamentais à recepção da tragédia no século XIX: o conflito ético (como por exemplo na oposição entre Prometeu e a lei de Zeus em Prometeu acorrentado); o problema da decisão, através da reflexão sobre o problema moral de como resolver uma aporia (que a decisão de Orestes sobre matar ou não matar sua mãe em Coéforas seria o primeiro exemplo); a possibilidade de reconciliação, de reintegração de um eu em conflito a uma realidade harmonizada após o conflito trágico (que as Eumênides, quando Orestes é libertado da maldição das Fúrias, serviria para ilustrar). Prometeu, especialmente, é um personagem que tem um significado imenso para a tematização da liberdade humana, e os poemas de Goethe e de Shelley sobre o herói são apenas a parte mais visível de sua ressonância. E, no entanto, o Ésquilo na imaginação do idealismo e da geração de filólogos nascida ao fim do século XIX é um escritor profundamente religioso. Nele, a profanação do rito que propusemos na introdução ainda supõe no autor a possibilidade de conciliação e uma ordem suprahumana, essencialmente justa. Isto não quer dizer que os deuses de Ésquilo tenham qualquer traço da santidade que o cristianismo viria a identificar com o sagrado – ao contrário, poucos personagens da grande literatura são tão cruéis quanto o Zeus que 58 aprisiona Prometeu em Prometeu acorrentado. Nos termos apresentados por Albin Lesky: O problema mais difícil de compreender prende-se com a imagem de Zeus desta peça. Em que relação se encontra o novo senhor do Olimpo, que governa pela violência e causa sofrimentos como os de Io, com o justo condutor do mundo, a quem nas piedosas preces do Agamémnon mal se ousa invocar com o nome de Zeus? (LESKY, 1995: 284) Esta crueldade divina, e a maneira como o homem pode reagir diante dela, é o grande tema para a leitura de Ésquilo no período, e se identifica com o pensamento sobre a necessidade e sobre o lugar da natureza nas ações humanas. A crueldade do deus é idêntica à da natureza, e essencialmente impessoal. Porém, por trás desta impessoalidade dura há uma ordem, justa porque se preocupa, como a natureza dotada de razão a que Schiller se refere em seu comentário sobre o sublime em Teoria da tragédia, com a construção da harmonia no viver humano, ou ao menos da ordem comunitária e política da cidade. Esta ordem política será um dos nortes para o comentário sobre Ésquilo, seguindo especialmente os passos da leitura de Hegel sobre o trágico, entendendo o fortalecimento desta harmonia ética com o fortalecimento do estado, e do entendimento de que a ordem religiosa se manifesta na ordem política. Jaeger lê a obra de Ésquilo como a representação dos ideais políticos do legislador ático Sólon. Segundo Jaeger, o que motiva e informa a forma trágica, é, mais do que os termos religiosos da hybris e da moira, a desmesura contra o divino e o lugar devido de cada um no cosmos, o termo político Ate. A palavra, “cegueira”, se refere em Sólon ao mau-destino, à força impessoal e destrutiva de um fado. Mas em Sólon, a Ate não libera o ser humano de responsabilidade, ao contrário, ela se liga ao arbítrio humano. Na leitura soloniana, há a injunção de mau-destino e má-ação, de fado impessoal e volição pessoal. O termo já seria previsto por Homero na Odisséia. Nas palavras de Jaeger 59 Ali [na Odisséia] se faz clara distinção entre uma Ate, no sentido de um destino prepotente, imprevisível e divino, e a culpabilidade da ação humana, que aumenta as desventuras do homem em uma medida superior às pressões do destino. Para a segunda é essencial à previsão da ação injusta conscientemente desejada. (JAEGER, 2003: 181) O que Sólon faz, segundo Jaeger, é reler a tradição religiosa grega de tal maneira que o destino e a hybris, referentes à relação homem-deuses, e que se ata a um rosto, a um indivíduo, torna-se um problema coletivo. O que desperta o mecanismo de castigo não é a ação individual, mas sim a desmesura da comunidade ao permitir más leis e más práticas. Citando Jaeger: Se considerarmos, porém, a idéia que Sólon forma do castigo, descobriremos até que ponto ela se afasta do realismo religioso em que se apóia a fé de Hesíodo na Justiça. O castigo divino não consiste em peste ou más colheitas, como em Hesíodo, mas se realiza de forma imanente pela desordem que toda a violação do direito gera no organismo social. (JAEGER, 2003: 179). Sólon concebe a base da democracia ateniense dentro desta visão, de que a hybris é originada e deve ser resolvida dentro da comunidade. A maneira de evitá-la, e portanto evitar a ruína que a injustiça das leis necessariamente projeta sobre a comunidade, é ter instituições políticas fortes, ou seja, um estado justo, que vá além do arbítrio tanto dos interesses pessoais de uma nobreza egoísta quanto dos interesses de um tirano. Ésquilo teria esta justa medida política como um pano de fundo para sua obra. Jaeger considera que o ponto de partida de Ésquilo é a crítica à Ate política. O Zeus de Ésquilo em Prometeu acorrentado é um modelo da tirania contra a qual Sólon fala, assim como seu Prometeu é representante do exclusivismo aristocrático que condena a pólis à ruína, nenhum dos dois defensáveis diante do ideário da democracia ateniense. Mas estes personagens são mais que isso, e há uma reflexão sobre uma ordem cósmica transcendente tanto quanto sobre a justeza política de uma ordem imanente. 60 Não acreditamos que estas instâncias possam ser separadas, e se confundem na forma trágica. Talvez o que nos ajude a pensar isto seja a maneira como a exigência divina é representada nas peças. A exigência de obediência genocida de Zeus a Prometeu, a exigência de Apolo a Orestes, o assassinato da própria mãe, que necessariamente vai despertar a ação das Fúrias e levar ao sofrimento do herói podem parecer descabidas, mas é exigência, de fato. O crime de Clitemnestra ameaça a disposição do mundo, e, permanecendo impune, põe a ordem social em risco de dissolução. Será o mesmo tema de Sófocles em Édipo rei, mas o deus de Ésquilo dificilmente é o mesmo de Sófocles. Seu deus está distante do panteão mítico, e se relaciona melhor com o deus dos primeiros pensadores, já representando a imensa transformação espiritual por que passava Atenas no século V. O Zeus de Ésquilo é menos o deus que seduz Io e Leda, e mais o deus filosófico de Xenófanes, uno, todopoderoso, onisciente. Na apresentação de Lesky em História da literatura grega: Estes deuses homéricos são obra do homem, e se os bois e os leões tivessem mãos, fabricariam deuses à sua imagem e semelhança ... Mas, na verdade, um só é o deus supremo, todo ele olhos, todo ele ouvidos. Sem esforço, tudo abala com a força do seu espírito, permanecendo firme em si mesmo, sem movimento que não convenha à sua grandeza (B 25-26). Já aqui se anuncia o motor imóvel de Aristóteles. (LESKY, 1995: 239). Mas este “Zeus” que é celebrado no início de Coéforas (vv. 243-260), identificado plenamente com a justiça, ao contrário do deus filosófico de Xenófanes não está completamente fora do mundo. Sua ação é violenta, especialmente violência contra o herói trágico, mas ele é ainda a força que impede o retorno ao caos. Em Ésquilo, o abandono do homem pelo deus não significa abandono do deus da ordem cósmica, mas passa por uma concepção desta ordem como sustentada por sacrifício e dever. É possível traçar um paralelo entre a visão esquiliana e o momento que viveu, 61 especialmente a batalha de Salamina, em que a vitória sobre os persas teve por custo a destruição de Atenas. O Zeus de Ésquilo exige o sacrifício, não dá nada livremente, sempre cobrando um preço pela ordem que impõe. Tanto preço quanto ordem são essencialmente justos. Diante da tragédia, no entanto, estas questões sempre se abismam. Como justificar o Zeus de Prometeu, como se interroga Lesky, diante desta piedade fundamental? É nesta interrogação que penetramos no território por excelência do trágico, a dissolução dos limites. Nós vamos agora nos referir ao pensamento de René Girard como um contraponto para o pensamento trágico, como uma espécie de compreensão antitrágica da relação entre eu e outro e assim, em negativo, tentar entender a raiz do trágico –tanto do conflito trágico quanto de sua conseqüência, a reconciliação – no pensamento de Hegel. Girard vai considerar tão central a questão do limite entre eu e outro que vai atribuir aos rituais responsáveis pelo restabelecimento dos limites a fundação secreta da cultura humana. Para Girard, o rito político que a tragédia dramatiza tenta dar conta de uma crise sacrificial. A reflexão de Girard é essencialmente sobre o desejo humano, como se o mediador inicial das relações humanas fosse o desejo. A referência a seu pensamento serve especialmente para iluminar o quanto isto que é a base de toda dialética, o reconhecimento e a superação da alteridade, seja ela um outro indivíduo, a comunidade ou o deus, e que é entendido pelo idealismo como um processo contínuo da condição humana, pode ser lido de forma bastante destrutiva. Acima de tudo o pensamento de Girard aponta para o quanto o desejo é o motor da dialética, o quanto o desejo de autoafirmação é a energia por trás da construção da consciência. E o quanto este grande eu que o idealismo percebe no herói trágico é marcado, em sua autoafirmação, pela violência. O desejo, então, media a presença do eu no mundo. Mas é um desejo não exatamente do outro ou do que o outro possui, e sim o 62 desejo da própria identidade do outro. Isto cria um duplo fantasmal: o outro sou eu mesmo, o outro é um eu que me ameaça de dissolução. A linguagem desta mediação é a violência: desejar o outro, desejar o desejo do outro, nos termos próprios de Girard, significa o desejo de destruir o outro e assim calar a indistinção angustiante entre o sujeito e o outro. Em termos comunitários, permitir a existência do duplo indistinto significa permitir o ódio universal, pois, segundo Girard em Violence and the sacred: Se a violência é a grande niveladora dos homens, e todos se tornam o duplo, ou “gêmeo”, de seu antagonista, parece conseqüência que todos os duplos são idênticos e que qualquer um pode, a qualquer momento, tornar-se o duplo de todos os outros; ou seja, o único objeto de ódio e obsessão universais. (GIRARD, 1977: 79)1 Isto significa, por um lado, que a base formal da justiça, a distinção entre arbítrio e direito, entre o desejado e o permitido, é impossível, pois todos são um outro a quem o ódio é devido, portanto sem possibilidade de limite ao desejo, pois é justa a destruição do inimigo que ameaça minha própria identidade; por outro lado, isto significa também que é justa a destruição de qualquer um, pois em um sistema de duplicação infinita de identidades, todos são culpados. É esta última característica que permite o controle do desejo/violência universal, pois dela vem o instituto do bode expiatório. A linguagem violenta do desejo deve ser reprimida para que haja a possibilidade da comunidade humana. Esta repressão é o ritual do bode expiatório, do phármakon ateniense, o objeto sobre o qual o desejo pelo outro pode ser posto, e, com sua expulsão, exorcizado, e assim exorcizada a indistinção destrutiva entre os sujeitos que ameaçavam a comunidade. O ritual do bode expiatório é um remédio precário, que precisa ser utilizado ad infinitum para controlar a possível explosão da violência recíproca na comunidade, para manter o limite de identidades. A tragédia seria a representação estética desta lógica cultural, essencialmente uma cautionary tale sobre o perigo do 63 duplo. Toda a teoria de Girard parte do princípio de que a indistinção é um convite à violência, tão perniciosa que o sentido do ritual tem de permanecer oculto do espírito sob o risco de interromper o processo de sanitarização. Seu pensamento não prevê um indivíduo que consiga lidar com a indistinção de forma consciente, talvez desejá-la como um jogo com o limite de identidade. O limite entre eu e outro é condição da cultura, e permitir sua dissolução é convidar ao desastre. Apenas em um momento posterior, em que com o esclarecimento os mitos são abandonados, é que o espírito humano pode dar conta da violência do desejo que o estrutura, e que o mecanismo oculto que garante a existência social pode finalmente ser desvelado. O mecanismo que Girard identifica com a base da cultura é essencialmente um mecanismo de catarse, em que o impossível gozo sobre o outro pode retornar a ser gozo sobre si através do ritual de expulsão de um outro genérico, um outro categórico, pensamos. O mais próximo em Hegel desta estrutura é a dialética entre o senhor e o escravo, em que uma primeira consciência (o “senhor”) utiliza uma segunda consciência alienada (o “escravo”) para mediar sua relação com o mundo objetivo. A consciência do escravo reflete o mundo para o senhor, a media de forma incompleta, embora satisfatória porque aquilo que o escravo reflete é apenas aquilo que o senhor permite que reflita, o que garante que a primeira consciência permaneça no gozo de si, sem ter de se confrontar com a alteridade. Mas em Hegel esta é uma dialética que precisa ser superada através da renúncia ao desejo de dominação sobre o escravo e sobre o mundo. Apenas nesta renúncia a consciência consegue sair de seu gozo tranqüilo de si e penetrar no ciclo de confronto e transformação que leva ao universal. Apenas na renúncia a um agir unilateral é que existe a possibilidade de conhecimento pleno de si mesmo, e a catarse tem sentido então apenas dentro deste movimento de renúncia, ao próprio desejo, à própria decisão: aquilo que forma o herói trágico, a hybris de sua decisão, de sua 64 afirmação de si, é o que precisa ser superado para que este grande eu possa ganhar um novo sentido e se reconciliar com os valores com que entrou em conflito na tragédia. Sobre a necessidade de renúncia ao desejo para que se possa construir conhecimento, Hegel afirma em a Fenomenologia do espírito que: [seção 229] Através destes momentos – do renunciar à própria decisão, e depois à propriedade e ao gozo, e, enfim, através do movimento positivo em que a consciência se põe a fazer algo que não compreende – ela se priva, em verdade e cabalmente, da consciência da liberdade interior e exterior, e da efetividade como seu ser-parea-si. Tem a certeza de ter se extrusado verdadeiramente de seu Eu, e de ter feito de sua conciência-de-si imediata uma coisa, um ser objetivo. Só mediante este sacrifício efetivo a consciência podia dar provas de sua renúncia a si mesma: porque só assim desvanece a fraude que se aloja no reconhecimento interior da ação de graças por meio do coração, da intenção e da boca – um reconhecimento que afasta de si toda a potência do ser-para-si e a atribui a um dom do alto. Mas até nesse afastar conserva para si a particularidade exterior na posse, que não abandona, e a particularidade interior na consciência da decisão que ela mesma toma, e na consciência do conteúdo dessa decisão determinada por ela; conteúdo que não trocou por outro conteúdo alheio que a preenchesse sem a menor significação. (HEGEL, 2002: 170) Ao renunciar a si, a sua ação efetiva sobre a realidade de forma isolada e parcial, a consciência torna-se, literalmente, um outro. Um outro que pode perceber a si mesmo, sua decisão, seu desejo e seu gozo em um momento anterior, à distância, e assim recuperar seu próprio sentido. Este se tornar outro retomando o sentido de si e daquilo a que este si se opunha, que é o aufhebung, é também a dialética que Hegel vai perceber como o conteúdo que a tragédia, e a arte de um modo geral, dramatiza. No trágico, então, não se trata de manter os limites, nem de propriamente exorcizar sua dissolução, mas antes de tencioná-los para obter conhecimento estético, para obter a alegria do naufrágio da catarse trágica, o Dioniso apolíneo de Nietzsche. Aceitar o pensamento de Girard significa abdicar de uma consciência que possa encarar o abismo e retornar, abdicar de um sentido heróico do ser humano. E é isto que não é possível na tragédia. É verdade que o otimismo homérico já não é possível, que a luta contra a natureza e as paixões não parece solúvel, pois temos um homem que não consegue se render incondicionalmente a este poder, e um homem que não se concebe 65 já capaz de ser livre destas forças, como a filosofia platônica irá crer possível. Mas é verdade também que o pessimismo trágico não abdicou de tentar tirar nacos cada vez maiores de consciência do caos. A relação entre homem e deus, o lugar por excelência em que se dá a reflexão sobre o limite do humano, é o âmbito privilegiado pela tragédia para entender estes limites. E nesta reflexão, a natureza do deus é uma questão fundamental. O Zeus de Prometeu é o mesmo Zeus de Orestes, ostensivamente injusto por qualquer medida em relação a Prometeu, mas ainda assim necessário, e de necessária autoridade. O Zeus de Prometeu é acima de tudo o deus de um poder fundador, absoluto e a quem a rendição é devida. Mas o Zeus de Prometeu é também a duplicação do herói. Entre Zeus e Prometeu temos uma relação de duplo, tão característica da tragédia. Pois, se a natureza de Zeus é o poder, o absoluto da decisão sobre o que pode e não pode ocorrer no mundo, Prometeu é aquele que contraria esta decisão, que foge ao absoluto do Zeus-lei-destino, e assim se põe como igual a Zeus. Prometeu acorrentado é uma tragédia excepcionalmente produtiva para pensar como o jogo de duplos da identidade – que é também uma maneira de pensar o limite entre vida e morte – como o campo da morte influi sobre os viventes e assim desfaz o limite tradicional entre o reino dos mortais e dos imortais. Prometeu, como Medéia, como as mulheres troianas, como Édipo, como Ádmeto de Alceste, é um morto-vivo, um ser que ainda existe enquanto criatura dotada de vida biológica, mas que não participa da vida enquanto um estar no mundo ativo, que mantém laços com a comunidade e com os deuses. A morte em vida de Prometeu é a punição por sua hybris, por sua duplicação da natureza de Zeus. Temos o trágico quando, em vez deste duplo profano ser eliminado e exorcizado, o que acabaria com a crise sacrificial, nos termos de Girard, ele é mantido enquanto campo de discurso, enquanto ser que tem voz e vida ativa, projetando sua sombra sobre a distinção 66 entre vivos e mortos, entre eu e outro, e assim confundindo os limites dos dois campos. Prometeu é o herói que desafia o poder soberano de Zeus e por isso é punido. Mas, cabe perguntar, por que este poder soberano não dá fim a Prometeu? Pois se seu sofrimento é contínuo, ele não impede que o herói se manifeste ainda enquanto ser dotado de dignidade, dotado de fala e acima de tudo de um destino na ordem do mundo. Prometeu ainda fala para outros, ainda representa sua própria presença. Na fala de Prometeu: Notai os males que eu, um deus, suporto, Mandados contra mim por outros deuses! Vede as injúrias que hoje me aniquilam E me farão sofrer de agora em diante Durante longos, incontáveis dias! Eis os laços de infâmia, imaginados Para prender-me pelo novo rei Dos Bem-aventurados! Ai de mim! Os sofrimentos que me esmagam hoje E os muitos ainda por vir constrangem-me A soluçar. Depois das provações Verei brilhar enfim a liberdade? Reanimado, depois de alguns minutos de silêncio Mas que digo? Não sei antecipadamente Todo o futuro? Dor nenhuma, ou desventura Cairá sobre mim sem que eu tenha previsto. Temos de suportar com o coração impávido A sorte que nos é imposta e admitir A impossibilidade de fazermos frente À força irresistível da fatalidade. (ÉSQUILO In ÉSQUILO, SÓFOCLES, EURÍPEDES, 1993: vv 116-138 (tradução de Mário da Gama Kury) Em termos cênicos esta fala forte tem a função essencialmente de iniciar o páthos de Prometeu, de estabelecê-lo enquanto ser que sofre e construir a solidariedade compassionada da platéia. No chamamento de Prometeu, é a exigência da continuidade de uma presença. O personagem trágico é aquele que se faz notar, que chama a atenção para si: notai este sujeito, notai este discurso, notai esta presença que apesar de impura e abandonada ainda assim se apresenta diante de vós. Notai, finalmente, que o exilado ainda está presente. E a presença do exilado é um problema de representação da arte trágica grega. Como dar presença àquilo que deveria estar morto, a esta morte que retorna para 67 assombrar os vivos e a ordem? É aqui que uma arte essencialmente cênica vem construir a tragédia. Música, cênica, dança e discurso se articulam para fazer com que a presença dos personagens seja mais intensa. O sentido do espetáculo é esta intensificação do sensível que torna a tragédia algo muito além da lembrança do mito. Aqui também há um jogo de proximidade e distância, de esquecimento e lembrança: a máscara, a música, o próprio círculo de jogo fechado lançam o apresentado em uma dimensão sobrehumana e pela inacessibilidade do mito, sua a-historicidade e seu tempo negativo, gratuita e distinta do que seja o sério2 da conseqüência e da vida ativa. Mas o discurso aproxima a representação do horizonte do sério, ata-a, através do verbal, ao universo ético e religioso da pólis. A linguagem dos personagens, a altiva linguagem do discurso público, do universo jurídico, político e religioso, faz com que o público esteja entre o mito e as questões sérias do destino da cidade. A articulação entre dois tempos, duas representações, finalmente, entre duas formas de viver, uma relacionada ao deus e ao universo dos mortos, e outra relacionada à vida ativa dos viventes, forma um campo de significados que confundem o limite e o horizonte de sentidos. São talvez dois modos de ser que na tragédia ganham igual dignidade, um impessoal, o da natureza do deus e do destino, e um subjetivo, das razões e desejos justos ou não do herói. No caso de Ésquilo esta reconstrução de limites se refere à justiça, que em seu modo de sentir a realidade é necessariamente justiça do deus. Na leitura de autores como Jaeger ou Bruno Snell, a relação do herói trágico com o absoluto do divino aponta para a construção de um sentido de liberdade humana, de uma ampliação do campo de ação do indivíduo. Segundo Snell, em A cultura grega e a origem do pensamento europeu, o que Ésquilo põe em cena é a representação, pela primeira vez, de um indivíduo moralmente livre, que é obrigado a tomar uma posição 68 ética diante de uma aporia. E nesta tomada de posição surge seu afastamento em relação ao divino, reestruturando os dois campos. Afirma Snell: Só com Ésquilo é que o homem tem consciência de chegar, através de sua própria reflexão, a um agir responsável, e só assim surge a idéia de liberdade humana e da autonomia do agir. Ésquilo representou esta nova situação colocando um homem diante de duas instâncias divinas contraditórias: seu Orestes, por exemplo, deve obedecer à ordem de Apolo de vingar a morte do pai, isto é, de matar a mãe – e assim transgride o mandamento divino de honrar a mãe. É, portanto, obrigado, visto que os imperativos divinos se elidem reciprocamente e falham em sua tarefa, a decidir sozinho. (SNELL, 2009: 253) Esta consciência da liberdade é apenas um primeiro momento do trágico. Ele significa a transição de um momento de isolamento do herói na normalidade – no não agir, na não consciência da alteridade, na aceitação não conflituosa de si próprio e da ordem do mundo – para um segundo momento em que o herói percebe a alteridade e é obrigado a agir de acordo com sua consciência. A fala conformista de Prometeu (“Temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade”) tem um contraponto mais à frente, uma fala herética, representação de sua hybris, mas que precisa ser também notada: Fica sabendo ainda: nunca eu trocaria Minha desdita pela tua submissão. Acho melhor ficar preso a este rochedo Que me ver transformado em fiel mensageiro De Zeus, senhor dos deuses! Assim mostrarei Aos orgulhosos quão vazio é o seu orgulho! (ÉSQUILO In ÉSQUILO, EURÍPEDES, SÓFOCLES, 1993: vv vv. 1283-1288 (tradução de Mário da Gama Kury) Um roteiro possível de leitura da tragédia passa exatamente pelo registro da heresia em seu texto, da heresia e do seu contrário, o respeito cego à vontade do deus. Estes momentos são de horror religioso, mas supomos também de um certo prazer herético em perceber um sujeito que se contrapõe ao divino é que prepara a filosofia. Como nos referimos anteriormente, o herói trágico tem um traço específico, que o define e à tragédia enquanto gênero, que é o fato de que, ao contrário do phármakon e 69 das vítimas sagradas, a presença e o discurso do morto-vivo tem de ser ouvido. O herói trágico é aquele que não pode ser tirado facilmente da percepção, é aquela impureza que não pode ser expurgada, que permanece, que diz. O herói trágico, apesar da tragédia ser uma espécie de escrita da morte, de escrita de uma morte que amplia seus limites sobre os vivos, é aquele que não pode ser morto. Ele mantém viva sua memória, às vezes ele próprio se mantém enquanto criatura viva, indestrutível. É este o sentido do desafio de Prometeu a Zeus, de uma grandiosidade que tem poucos pares na história da literatura: Não há ultraje nem astúcia pelos quais Zeus possa convencer-me ainda a revelar O que ele quer saber, antes de me livrar Destes grilhões adamantinos humilhantes! Já que ele quis assim, deixe sobre meu corpo As labaredas deste sol destruidor! Confunda Zeus o universo e o transtorne Cobrindo-o todo com a neve de asas brancas O som de trovões e de estrondos subterrâneos! Nada, força nenhuma pode constranger-me A revelar-lhe o nome de quem deverá Destituí-lo de seus poderes tirânicos! ÉSQUILO In ÉSQUILO, EURÍPEDES, SÓFOCLES, 1993: vv. 1314-1325 (tradução de Mário da Gama Kury) A indestrutibilidade do herói trágico será por muitos séculos a medida da dignidade humana. Ela é possível em termos estruturais, de arte formal de um discurso, porque a tragédia confunde os reinos dos mortos e dos viventes. Esta é uma questão religiosa, política e ideológica entre os gregos do século V, mas a figuração do herói desta maneira específica informa toda a literatura posterior. Os pósteros guardarão a indestrutibilidade como valor da dignidade humana, ainda que de uma forma deslocada. A fábula de Jó da Bíblia, os personagens shakespeareanos, O Dom Quixote, o Satã de Milton, a Nina de Crime e castigo, Joseph K. de o Processo, estes todos são personagens que, respeitando os valores específicos da cultura e da visão de mundo em que se deu sua gênese, reproduzem ainda a indestrutibilidade trágica. Gilbert Murray se 70 refere a este valor trágico enquanto afirmação ética do ser humano sobre o cosmos impessoal que o acossa. Nas palavras de Murray: Em sua forma primitiva, esta vitória sobre a morte exige a ressurreição ou renascimento do herói: em sua forma mais elevada, no sentimento que encontra tão magnífica expressão em O rival de Sanção [Samson agonistes], de Milton, de que, mesmo que o herói esteja ou não morto, venceu realmente em algum sentido mais profundo o mal ante o qual sucumbiu seu corpo, e que “nada resta à lágrimas”. (MURRAY, 1943:. 23)3 A leitura de Murray segue a leitura ética que se torna canônica a partir de Hegel e de Schelling de considerar a tragédia como uma representação das tensões políticas e sociais da Atenas do século V, o que é obviamente um estágio inevitável em qualquer leitura do trágico. E estas tensões são presentes através da oposição do herói aos outros com que se confronta. É o turno do discurso que constrói a presença do herói, é esta presença que, impedindo o esquecimento, confere permanência àquilo que a figura trágica é. Talvez seja a esta irredutibilidade que Walter Benjamin se refere ao dizer que o herói trágico é mudo em sua crítica ao Oedipe rex de Gide (O ensaio “Édipo, ou o mito razoável” In BENJAMIN, 1971a). Ele é mudo porque não nos concede um sentido, porque na forma trágica há um conteúdo não exprimível, uma potencialidade que não se atualiza, e que precisa retornar ao silêncio – retornar à interrogação sem resposta do herói sobre si e seus atos, sobre o sentido daquilo que fez. Quando Benjamin diz em “Édipo ou o mito razoável”: E como Édipo não seria golpeado de mutez, como o pensamento poderia alguma vez se livrar das redes que lhe interditam saber o que constitui sua perda, o crime mesmo, o oráculo de Apolo, ou sua própria maldição contra o assassino de Laio? Esta mutez, entretanto, não caracteriza apenas a Édipo, mas a todos heróis da tragédia grega. E é ela que sublinha sempre de novo as críticas recentes: “O herói trágico não possui uma linguagem inteiramente à sua medida que não seja o silêncio”. (BENJAMIN, 1971: 178)4 71 A mudez do herói trágico é paradoxalmente construída por seu próprio discurso, por sua mera presença indestrutível que exige permanência contra aquilo que deseja sua destruição. Esta exigência pode ser chamada como uma mudez apenas se entendermos que o dizer necessita legar um sentido final, o que a tragédia não apenas recusa, mas se revela incapaz, pois destrói as fronteiras que permitiriam julgamento e decisão, que permitiriam, finalmente, um conhecimento positivo sobre o acontecido. Este possível sentido fica projetado em uma outra dimensão que não seja apenas a da palavra presente: a dimensão de uma alteridade radical em relação ao ponto de partida das peças, um futuro, um outro lugar, uma outra moral, em que herói e deus possam estar reconciliados. Mas esta outra dimensão é oferecida apenas à mente coletiva da platéia como um dom marginal à própria ação: é nos espectadores que este campo negativo se torna efetivo e tem alguma presença. Quanto ao próprio herói, o sentido de seus atos é sua própria morte, sua aceitação da morte como o sacrifício necessário à reconciliação entre os valores que se batem no conflito trágico. Nós podemos pensar nesta aceitação da morte, neste abandono à aniquilação, naquilo que Benjamin descreve como o vazio da alma do herói trágico (cf. abaixo), como uma das figurações daquela renúncia a si mesmo que Hegel aponta como necessária para a construção do espírito. Em Hölderlin, este silêncio é o “signo=0” (cf. Capítulo 6) que a tragédia deve construir para que se chegue a uma linguagem do absoluto que seja comum a humano e divino, e esta linguagem é o silêncio. A renúncia do herói a um sentido final é aquilo que cria o espaço adequado para o surgimento de novos valores. Sua mudez é ao mesmo tempo a marca de sua individualidade, pois chegou ao paroxismo através de sua própria cadeia de decisões, de sua responsabilidade e erro consciente, e a marca de algo que seja além deste grande eu inicial, um outro conjunto de valores que através de sua liberdade, e, após o conflito 72 com o grande outro que é o deus ou a comunidade, através de sua renúncia à liberdade, o herói consegue pôr em movimento. Segundo Benjamin em A origem do drama barroco alemão: Não assim o herói trágico [referindo-se à atitude de Sócrates diante da morte], que teme a morte como algo que lhe é familiar, pessoal e imanente. No fundo, sua vida se desdobra a partir da morte, que não é seu fim, mas sua forma. Pois a existência trágica só pode assumir sua tarefa porque seus limites, tanto os da vida lingüística quanto os da vida física, lhe são dados desde o início, e lhe são inerentes. Essa idéia foi formulada das mais diferentes maneiras, das quais a mais adequada talvez seja a contida no comentário casual de “a morte trágica é apenas o sinal extremo de que a alma já morreu”. Com efeito, pode-se dizer que o herói trágico não tem alma. Do seu interior incomensuravelmente vazio ressoam, ao longe, os novos mandamentos divinos, e nesse eco as gerações futuras aprendem sua linguagem. (BENJAMIN, 1984: 137) Este “ser-para-a-morte” do herói é o seu sentido, e esta morte necessária que ele carrega em suas ações surge mais forte em oposição ao desejo de escapar dela (que constrói sua mudez: o herói aceita seus limites após tê-los recusado, e sua aceitação é tão paradoxal que não pode ser dita). E na oposição que o herói figura entre desejo e renúncia, entre eu e outro, surge a possibilidade do novo. É interessante notar como essa mutez trágica, que gostaríamos de entender como indecidibilidade, será um elemento importante para os outros ensaios “trágicos” de Benjamin, como Destino e caráter, Fragmento teológico-político, Dois poemas de Friedrich Hölderlin e, finalmente, seu célebre Crítica da violência5. Neste último, Walter Benjamin discute a impossibilidade de encontrar o sentido da justiça dentro das categorias kantianas tradicionais, como se a distinção entre direito natural, o campo da volição, do desejo e do interesse, e direito positivo, o campo do dever, do devido, mais especificamente, da ação pelo que é certo e não por interesse, formassem uma aporia inescapável. A resposta de Benjamin para o problema é propor que a Justiça pode ser encontrada tão só no absoluto de um poder divino – a que fenomenologicamente não temos acesso, segundo o pensamento kantiano. Em Kant a possibilidade de justiça depende da identidade entre ação e desinteresse, em que o gesto ético pode ser motivado 73 exclusivamente por um julgamento supra-sensível, ou seja, quando o entendimento se libera de suas afecções e determina a ação em termos daquilo que é racionalmente (universalmente) válido, o que exclui como justo qualquer gesto que atenda a uma vocação pessoal e subjetiva. Age-se em nome do que é correto, esta correção pode ou não gerar felicidade pessoal, mas o bonum, o prazer, não deve orientar o gesto ético. Em Kant, em última instância a decisão moral é sempre determinada por um absoluto, por um “é assim porque é assim”, já que a razão tem limites em sua capacidade de compreender o universal. Este é o ponto de partida de Benjamin, mas sua conclusão, em uma espécie de detournement do vocabulário kantiano, é que o conceito kantiano de justo é insuficiente, e que a justiça pode ser encontrada apenas na instância imanente da vida sensível e histórica dos homens entre outros homens. Introduzindo a questão, Benjamin diz que: Afinal, quem decide sobre a legitimidade dos meios e a justiça dos fins não é jamais a razão, mas o poder do destino, e quem decide sobre este é Deus. É uma maneira de ver incomum, mas apenas porque existe o hábito arraigado de pensar os fins justos como fins de um direito possível, ou seja, não apenas universalmente válidos (o que seria uma conseqüência analítica do elemento justiça), mas passíveis de universalização – o que está em contradição com esse elemento, como se poderia demonstrar. Pois, fins que são justos, universalmente reconhecíveis, universalmente válidos para uma determinada situação, não o são para nenhuma outra, por parecida que seja sob outros aspectos. Uma função não mediata da violência, tal como está sendo discutida aqui, aparece na experiência de vida cotidiana. Quanto ao ser humano, a ira, por exemplo, o leva às mais patentes explosões de violência, uma violência que não se refere como meio a um fim proposto. Ela não é meio, e sim manifestação. É verdade que esse tipo de violência tem suas manifestações objetivas, onde ela é sujeita à crítica. Elas se encontram, antes de mais nada e de maneira altamente significativa, no mito.6 O que está em jogo em Benjamin é uma justificação da violência revolucionária, a princípio moralmente injustificável, já que rompe com o direito positivo. A única maneira de justificá-la é entender que o justo não passa por uma identidade monolítica entre fins e ação, mas se estabelece quando a ação ética responde a uma vocação, a um daímon inescapável, o que torna a única violência justa aquela que é necessária, não racionalmente necessária, mas necessária de acordo com uma visão trágica da vida, que 74 diz que as paixões humanas não são mediatizáveis pela razão. Ou ao menos, que o momento de mediação crítica é sempre posterior à própria ação. A violência operária é necessária não porque corresponda a alguma decisão pragmática sobre um agir visando uma meta histórica, mas sim porque na vida cotidiana os operários sentem a necessidade absoluta, como um daímon impingido pelo deus, de se revoltarem. E apenas nesta instância ela é justificável, não podendo se perpetuar como violência mantenedora da ordem. Este texto se insere em um projeto crítico mais amplo de Benjamin, o de pensar uma ética que escape ao mesmo tempo daquilo que ele reconhece como as restrições kantianas, que, se não são necessariamente conservadoras, têm como conseqüência uma prática política e filosófica conservadora, e o laissez-faire meio automatizado do hegelianismo, que parece entender o indivíduo como um elemento pequeno demais para ser levado em consideração no grande plano do Espírito. Esta necessidade, condicionada historicamente, é aquilo que Benjamin identifica como o poder divino. Mais exatamente: este condicionante histórico que forma a necessidade é lido pela antiguidade ainda religiosa como poder divino. Segundo em Benjamin em Crítica da violência: O poder mítico em sua forma arquetípica é mera manifestação dos deuses. Não meio para seus fins, quase não manifestação de sua vontade, antes manifestação de sua existência. Disso, a lenda de Níobe oferece um excelente exemplo. É verdade que ação de Apolo e Ártemis pode parecer uma mera punição da transgressão de um direito existente. A hybris de Níobe conjura a fatalidade, não por transgredir a lei, mas por desafiar o destino – para uma luta na qual o destino terá de ser o vencedor, podendo engendrar, na vitória, um direito. Até que ponto o poder divino, no sentido da Antigüidade, não era o poder mantenedor da punição, fica patente nas lendas, onde o herói, por exemplo Prometeu, desafia o destino com digna coragem, luta contra ele, com ou sem sorte, e acaba tendo a esperança de um dia levar aos homens um novo direito. É, no fundo, esse herói e o poder jurídico do mito incorporado por ele que o povo tenta tornar presente, ainda nos dias de hoje, quando admira o grande bandido. A violência portanto desaba sobre Níobe a partir da esfera incerta e ambígua do destino. (cf nota 6) Este poder divino é o ponto de partida de Ésquilo. O destino e suas manifestações, o daímon trágico e o campo de mudez, de indecidibilidade, são a matéria-prima da forma 75 trágica. Daí sua importância no idealismo e em seu legado do trágico como modelo para pensar o limite da liberdade humana. Mas não temos ainda o trágico na mera manifestação do divino. Ser tocado pelo deus, expressão ambígua que em algumas sociedades significa sofrer uma desgraça, não é ainda um evento trágico, ou ao menos não é ainda o que a tragédia representa. É preciso que esta necessidade, justa na piedade esquiliana, seja obrigada a reconhecer a contradição, é necessário, para o trágico, que o herói tocado pelo deus tenha a chance de manifestar sua oposição. Uma leitura estrutural do mito de Prometeu o incluiria entre os tricksters clássicos, como Locki ou a raposa das fábulas, aquele que burla o poder e o relativiza, que vence porque escapa ao confronto e usa da violência menor do engano contra o poder concreto do soberano. Em Hesíodo (Teogonia, 535-540) é ele, por exemplo, que enganando Zeus faz com que os deuses tenham de aceitar no sacrifício a pior parte dos animais, os ossos e a gordura. Mas o Prometeu trágico já não é um trickster. Ele, para ser trágico, precisa mimetizar, ao se lhe opor abertamente, o poder divino. Isto cria um campo de tensão entre a necessidade e a possibilidade, entre o poder soberano divino e a possibilidade de um outro poder. Esta tensão é parte fundamental da identidade do herói trágico, e, se considerarmos que este herói é um modelo identitário para a pólis, com aquilo que comporta de horror e excitação, liberdade e aniquilamento, o que os tragediógrafos estão construindo é uma alternativa ao mito e à ontologia tradicionais. É preciso deixar claro que este homem proposto pelo trágico, embora anteceda e, na verdade, prepare o herói platônico, é distinto deste. Os campos de tensão com que o herói trágico se identifica – vida e morte, necessidade e liberdade, humano e divino, comunidade e solidão, etc – não podem ser resolvidos de maneira simples, são geralmente aporísticos. A resposta da filosofia será geralmente excluir um dos termos da equação como inválido, mas o herói trágico é aquele que mantém esta tensão. E é este tensionamento 76 constante que é responsável pela dimensão mais-que-humana destes personagens. Michael Abott, ao comentar o Crítica da violência, de Benjamin, vai se referir a esta identidade tencionada como pertencente àquilo que Benjamin chama de criatura. Diz Abott em seu artigo The creature before the law: …, Santner aponta que a palavra criatura deriva do latim creatura, que significa um ser passando por um processo de criação. É, Santner diz, não tanto o nome de um determinado estado de ser como o significante de uma exposição que se processa, de ser apanhado no processo de se tornar criatura através do ditame da alteridade divina. A dimensão teológica do termo é crucial: a criatura é primeiro e antes de mais nada um ser criado, um ser que vive sujeita a um soberano (o termo alemão Kreatur tem as mesmas conotações). À medida que a história do termo progrediu, no entanto, tornou-se sinônimo com não simplesmente as criações de Deus, mas antes com as linhagens particularmente monstruosas destas criações. Neste uso, pode evocar compaixão, pena ou mesmo horror; significa um ser marcado por uma intermediação que põe as fronteiras entre formas de vida particulares em questão. A criatura torna-se assim um ser que vive nas brechas entre espécies, uma ameaça ao próprio sistema de classificação. E é precisamente com este duplo sentido que Santner trabalha, desenvolvendo o conceito de criatura de Benjamin como um ser liminar [a referência específica é ao Odradek do texto de Benjamin sobre Kafka] (e de fato como um ser que emerge em situações liminares, excepcionais) que acha a si mesmo atada biologicamente a um poder soberano. (ABOTT, In FITZGERALD; SALZANI, 2008: 86)7 Há um senão em fecharmos a relação entre esta criatura benjaminiana e o herói trágico. O pensamento de Walter Benjamin visa exatamente uma maneira de manter esta tensão de forma produtiva, melhor ainda, de pensar as maneiras que a possível superação destas tensões não seja catastrófica, como geralmente é. O horizonte da felicidade, que esteticamente é desnecessário à tragédia, ainda é importante para Benjamin. Sua descrição do poder divino, do sentido da relação do poder divino com a criatura, parece ser aplicável ao Zeus de Ésquilo. A forma trágica dilui a decisão diante da oposição entre necessidade e possibilidade, como das outras oposições que se sobrepõem na forma trágica. No entanto, por uma questão narrativa, o conflito tem de ser fechado, e não porque o mito não poderia se manter em aberto, mas porque o efeito estético surge através do fechamento – é dele que vem a catarse. E, então, é o divino necessariamente que ganha. A tragédia apresenta o outro possível, mas não se preocupa em atualizá-lo (a não ser talvez em Eurípides, mas ainda chegaremos lá). O pensamento de Benjamin, no 77 entanto, é exatamente a reflexão revolucionária (no sentido político, inclusive) de por que esta alteridade nunca foi cumprida no Ocidente. Não se conhece a continuação de Prometeu, o Prometeu liberado, que possivelmente daria conta do problema da violência fundadora presente em Prometeu acorrentado. Em algumas versões do mito Prometeu é rendido por Hércules, que mata a águia de Zeus e o liberta. Outras referem que teria convencido o centauro Chiron a ficar em seu lugar. Ainda é necessário, no entanto, um segundo movimento para superar a violência fundadora, que é a conciliação propiciatória com Zeus. Prometeu revelará o oráculo relacionado à queda de Zeus, salvando assim o tirano do casamento com Tétis, que geraria o filho que o iria destronar. A versão de Ésquilo provavelmente deveria incluir este detalhe, dado que ele se combina com a idéia de piedade de sua literatura. A conciliação é um dos caminhos do trágico, e na verdade um problema considerando o conceito que se formou no século XIX. Nas palavras de Lesky, referindo Goethe: A moderna pretensão de indagar a natureza do trágico parte freqüentemente das palavras proferidas por Goethe a seis de junho de 1824 ao chanceler Von Müller:Todo o trágico se baseia numa oposição irreconciliável. Logo que se dá ou que se torna possível um reconciliação, desaparece o trágico. ... E, no entanto, no final da Orestéia, dá-se aquele equilíbrio, que, segundo Goethe, anularia o trágico! (LESKY, 1995: 293) É interessante notar que a leitura do idealismo sobre a tragédia é uma espécie de extrapolação da catarse aristotélica, da relação entre forma e efeito estético que Aristóteles entende como o “sentido de ser”, mais que propriamente função, da tragédia grega. Considerando a admiração de Goethe por Shakespeare, sua leitura do trágico possivelmente tem como referência mais as peças do inglês do que o teatro grego. Uma segunda questão é que Goethe fala de tragédia a partir das reflexões de Lessing sobre a catarse e o estético em Dramaturgia de Hamburgo e Laocoonte. Lessing entende a purgação catártica como um efeito necessário para que a obra de arte possua um sentido 78 moral e didático, uma descarga emocional que ao mesmo tempo libere o espírito para o julgamento racional do apresentado e construa a solidariedade entre o público e o conteúdo humano do que foi apresentado. Mais à frente (Capítulo 6) nos deteremos no comentário de Lessing, mas a posição de Goethe é distinta do didatismo de Lessing. Em Goethe já temos a defesa de uma obra de arte autônoma, de um estético como forma de conhecimento alternativo a uma razão pura, como uma forma válida do homem se pôr no mundo. O mesmo, supomos, em Nietzche. Em ambos a catarse trágica é o próprio fim do trágico, e já reflete um movimento profundo do espírito, como se a relação entre forma e catarse já fosse a representação da natureza do pensamento. Em Hegel, esta leitura está subordinada a sua própria filosofia, e talvez já possamos nos referir à obra hegeliana como uma filosofia trágica, no sentido de que a destruição e o sofrimento são estágios necessários a uma fenomenologia. A forma trágica em seus momentos mais característicos, nas obras “de horror” de Ésquilo e Sófocles, supõe o aniquilamento, mas prevê também um tipo de conciliação, política e religiosa – e nisto a obra de Hegel se mantém fiel ao trágico – em que as forças e personagens em conflito permaneçam. Aniquilamento e permanência são duas faces da mesma moeda, ambos se referem à vocação trágica de representar a totalidade dos valores humanos, a manter a tensão indecidível entre valores éticos e religiosos. É a isto que havíamos nos referido na introdução quando dissemos que a forma trágica “dilui o sentido”: não é necessário obter nenhuma conclusão sobre o representado, esta, em última instância, pertence aos deuses, ao destino, ao incognoscível que se limita com a experiência humana. O espectador não precisa se prender ao que vê ali, não existe verdade ofertada, mas, antes, o dom de se liberar da verdade, de percebê-la enquanto potencialidade. A catarse é a marca deste desligamento, embora este não seja o sentido que Aristóteles dê ao termo em sua poética. Catarse em Aristóteles se refere à tradição 79 clínica grega, a uma homeopatia, especialmente, em que o excesso emocional, ao ser despertado e excitado na peça trágica, é purgado do sensível, o que talvez a aproxime daquilo que propõe Lessing em primeiro lugar. A maneira mais simples de resolver o problema de um trágico que não é “tão trágico assim” é fazer a distinção, conforme propõe Albin Lesky, entre uma visão cerradamente trágica da realidade e outra em que o trágico é parte integrante de uma cosmovisão, mas não sua forma exclusiva. Continuando a discussão sobre Goethe e a visão trágica, Lesky diz: Separamos uma perspectiva do mundo essencialmente trágica, na qual se acaba com o aniquilamento, de outra que reconhece uma esfera de reconciliação e desfecho, mas que nem por isso exclui, no mínimo, a situação trágica, até nas suas manifestações mais acentuadas. (LESKY, 1995: 293) O problema central desta posição é que ela tende a diminuir a tensão entre formalização e espírito, como se a o trágico da estética novecentista pudesse se livrar da referência à tragédia enquanto forma, como se o termo “trágico” fosse apenas emprestado e pudesse ser substituído por algum outro, como fatalismo ou pessimismo, e que a tragédia (o tipo de intuição da vida formalizada no discurso extremamente complexo da tragédia) fosse uma ilustração mais que o objeto próprio a ser definido. Em outros termos, como se aquilo que a estética busca definir como trágico pudesse prescindir da forma concreta da tragédia, se libertar de sua influência. Pois há um trágico também nas tragédias conciliatórias, que assombra a tentativa de definição, mas que tem de ser levado em conta na descrição tanto da forma trágica quanto do espírito trágico. 1 If violence is the great leveler of men and everybody becomes the double, or “twin”, of his antagonist, it seems to follow that all the doubles are identical and that anyone can at any given moment become the double of all others; that is, the sole object of universal obsession and hatred. 80 2 Utilizamos aqui termos de Huizinga na descrição do jogo enquanto fundamento da cultura. Cf HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 2004. 3 En su forma primitiva, esta victoria sobre la muerte exige la resurrección o renacimiento del héroe: en su forma más elevada, en el sentimiento que encuentra tan magnífica expresión en EL rival de Sansón, de Milton, de que, ya sea que el héroe esté o no muerto, ha vencido realmente en algun sentido más profundo el mal ante el cual ha sucumbido su cuerpo, y que “nada queda para las lágrimas”. 4 Versão própria da tadução francesa de Walter Benjamin: Et comment Oedipe ne serait-il frappé de mutité, comment la pensée se pourrait-elle jamais déprendre du rets qui lui interdit de savoir ce qui fait sa perte, le crime même, l’oracle d’Apollon, ou sa propre malédiction contre le meurtrier de Laïos? Cette mutité, au demurant,ne caractérise pas le seul Oedipe, mais tous les héros de la tragédide grecque. Et c’est elle que soulignent toujours a nouveau les critiques récentes: “Le herós tragique n’a q’un langage entièrement à sa mesure, c’est le silence”. 5 Nossa leitura destes textos se deu a partir da tradução de Gandillac para a Denoël.BENJAMIN, Walter. Oeuvres I: myth e violence.(trad. De Maurice de Gandillac) Paris: Denoël, 1971. 6 Vamos utilizar aqui e na outra citação de Crítica da violência a tradução de Willi Bolle ao texto, Critica da violência – crítica do poder. In BENJAMIN, Walter.. Documentos de cultura, documentos de barbárie: escritos escolhidos, (trad. de Celeste H. M. Ribeiro de Souza et al) São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1986. Os trechos citados são de uma reprodução parcial do texto disponível no endereço http://www.espacoacademico.com.br/021/21tc_benjamin.htm 7 Tadução própria do original em inglês: …, Santner points out that the word creature derives from the Latin creatura, which signifies a being undergoing a process of creation. It is, Santner says, .not so much the name of a determinate state of being as the signifier of an ongoing exposure, of being caught up in the process of becoming creature through the dictates of divine alterity. The theological dimension of the term is crucial: a creature is first and foremost a created being, a being that lives in thrall to a sovereign (the German term Kreatur has the same connotations). As the history of the term progressed, however, it came to be synonymous with not simply God’s creations but rather with particularly monstrous strains of those creations: in this usage, it can evoke compassion, pity or even horror; it signifies a being marked by an indeterminacy that puts the borders between particular life forms in question. The creature thus becomes a being that dwells in the gaps between species, a threat to the very system of classification. And it is precisely this double meaning that Santner works with, developing a Benjaminian concept of the creature as a liminal being [a referência específica é ao Odradek no texto de Benjamin sobre Kafka] (and indeed as a being that emerges in liminal, exceptional situations) that finds itself biologically tied to sovereign power. 81 3: SÓFOCLES 3.1 Após Ésquilo Uma diferença central entre a arte de Ésquilo e a de Sófocles é como o conflito se constrói, como a oposição trágica entre dois campos igualmente poderosos é representada. Se Prometeu confronta Zeus, se Orestes confronta Clitemnestra, se as razões e a oposição são coisas claras, em Sófocles estas razões se tornam dúbias, o argumento, multifacetado, perde o ponto de inflexão. Mesmo que Clitemnestra ou Orestes cometam suas vinganças através de ardis, há um momento no drama em que, ao se confrontarem, suas razões, e desejos, e poderes são postos sobre a mesa. Sabemos o que motiva cada personagem, pois estas causas são representadas no discurso, e é este o limite de Sófocles na apresentação de uma interioridade. Sabemos com certeza o que motiva Orestes e Clitemnestra, não temos razão para duvidar do que declaram. Este universo interior, tão exíguo e indistinto do que é ação e exteriorização em Ésquilo, é diferente em Sófocles: sempre deve uma parte de si ao silêncio, uma parte de si é sempre indizível. O que faz com que Jocasta tente impedir Édipo de chegar à verdade, quando, na iminência de descobrir toda a verdade sobre si, o herói convoca o antigo servo de Laio que testemunhou o crime: ED JO ÉD ]O ED Esposa, quem há pouco procurávamos é o mesmo que ele agora nos menciona? Que te importa saber de quem se fala? Esquece! É vão rememorar palavras. Quem é? Tu podes identificá-lo? Pelos deuses! Se tem valor tua vida, imploro, pára! Basta o meu sofrer. Tem brio! Mesmo se eu for escravo ao triplo – de mãe da mãe da mãe –, o mal é meu. 82 JO Mas eu, contudo, insisto: encerra a busca! ED Só encerro quando tudo esclarecer. JO Desejo-te o melhor, quando te falo. ED Há muito esse melhor só me angustia. JO Pudesses ignorar tua identidade! (SÓFOCLES, 2001: vv 1054-1068 (tradução de Trajano Vieira) É horror, certamente, de estar envolvida em uma história tão terrível. Mas no silêncio de Jocasta, no seu pedido de silêncio, em seu calar sobre porque quer que Édipo não descubra a verdade, estão projetadas outras razões em potência – o afeto erótico por seu marido/filho, o apego a um papel social, a uma dignidade, a um destino, enfim, na comunidade e no mundo, do qual terá de abdicar caso a calamidade que sofre se confirme. Mais que isso, a inversão do destino que imaginava próprio de si e que se revela falso, isto informa de um deus perverso, de um homem perverso, de uma ordem diabólica. Mas estas são possibilidades não ditas, que se sobrepõem e se tornam presentes apenas como leitura, e não como elemento de ação. É o mesmo com Antígona, que a cada passo de seus argumentos confirma e nega suas razões. O amor excessivo a Polinices ou à linhagem, o orgulho de sua posição que não quer abandonar, o sentimento religioso, estas todas são possíveis motivações para seu desafio a Creonte. Mas a razão de fato, esta escapa à linguagem. Antígona, obviamente, se justifica: o deus, o amor à família, o puro dever são seus argumentos. Mas nas acusações de Ismene de Creonte, que não chegam a ser refutadas e colam à heroína, constrói-se uma ambigüidade inescapável. Este silêncio da motivação e do universo interior é a marca de que o personagem – e o ser humano heróico, ideal problemático de uma visão e um modelo de decifração do humano – torna-se alguma coisa mais profunda do que era em Ésquilo. Pois, esta riqueza interior só é silenciada porque é complexa demais para ser representada 83 de forma distinta, porque escapa à representação enquanto coisa que, embora possa ser percebida, não pode ser dita. Não é que faltem palavras para Antígona declarar suas razões, nem que ela as desconheça. Antígona pode dizer o que sente, e, provavelmente, sabe o que sente, como qualquer outro personagem trágico. O problema é que suas motivações são algo tão complexo que o dizê-las as esvaziaria de sentido. Elas se sobrepõem de forma algo mórbida, como em sua idéia de fidelidade aos deuses infernais. Quando no diálogo com Ismene Antígona declara sua motivação, Nada te impinjo, mas rejeito o auxílio Que porventura me pretendas dar. Age como quiseres, que eu me empenho No enterro! Serei grata se morrer Amando quem me amou, concluindo ao lado Dele o rito. Mais vale o tempo no ínfero Do que na companhia de quem vive: O eterno circunscreve o meu repouso. Desestima o que os deuses sobrestimam! (SÓFOCLES, 2009: VV 69-77 (tradução de Trajano Vieira)1 podemos perceber um esboço desta interioridade em convulsão de Antígona, sua confusão, sua ambigüidade, sua riqueza. Mas isto se constrói não através de um porquê – a não ser que admitamos que a única coisa que está em jogo para Antígona é a piedade religiosa, o dever para com os deuses infernais, o que seria insatisfatório. A única justificativa na sentença é “serei grata se morrer”, mas, se perguntará algum espectador tradicional na platéia, o que raios isso significa? E no silêncio surge a arte de Sófocles, em que a máscara do personagem já não manifesta apenas – sua aparência não diz tudo, as palavras não bastam, e um continente de sentido – a alma, talvez – resta sem ser dito. Seria fácil e inadequado pensar isto como uma espécie de formalização da alétheia filosófica, embora 84 necessariamente estas questões estejam na ordem do dia para o teatro de Sófocles. Melhor, talvez, pensar o silêncio representado por Sófocles como uma técnica de representação, uma estratégia para representar a “alma profunda cheia de logos” de Heráclito, como talvez milênios mais tarde Tchekov fará. As palavras não bastam. Não bastam porque a complexidade que Ésquilo projetava no enredo, nas ações concretas e discursos dos personagens – os disfarces de Clitemnestra e Orestes, os vários níveis de significado que a derrota dos persas ou a luta entre os irmãos possuem – ações e palavras que evocavam significados religiosos, culturais, afetivos, familiares, políticos, os vários níveis de referência, os vários planos de discurso que se manifestavam na ação dos personagens são agora projetados para dentro do próprio indivíduo. Isto é possível porque este grande eu, dotado de uma alma e de um mundo interior ao qual nos referimos tantas vezes está a ponto de surgir em sua forma acabada, com a filosofia e os sofistas. 3.2. Electras Mas, esta mirada no homem interior é possível também porque formalmente Ésquilo havia preparado o caminho para que a multiplicidade da ação trágica fosse internalizada. Possivelmente o momento em que a semente seja lançada nos textos que chegaram até nós é no reconhecimento entre Electra e Orestes nas Coéforas. Porque aí o que está em jogo não é simplesmente uma peripécia a mais dentro do enredo, não é simplesmente mais um estágio na economia da ação. O reconhecimento, ou o possível 85 efeito da leitura do reconhecimento em um público, não serve apenas para marcar uma aliança entre Orestes e Electra, meio que tornando o exilado em um conterrâneo novamente. O efeito possível é o do páthos ente dois irmãos que se amam e que se revêm após muitos anos de separação e sofrimento. Exatamente este sentido, o mais direto e universal, é o que é contornado em Ésquilo em Coéforas (o reconhecimento ocorre nos versos 210-234), quando se evita o contato entre os irmãos. Orestes se apresenta a Electra, e logo em seguida pede que a irmã controle sua alegria, para evitar suspeitas sobre seus planos. O gesto que confirmaria o reconhecimento, presente mais tarde tanto na versão de Sófocles quanto na de Eurípides, não está lá. Em vez disso um substituto do corpo do outro é utilizado: as mechas de cabelo, o tecido que envolve Orestes, a imagem da armadilha, que refere também o cadáver de Agamêmnon em Agamêmnon. Mas a realização do reencontro, o toque que confirmaria a aliança, é evitado. Em seguida há o silêncio sobre os dois, outro tema reutilizado nos outros dois tragediógrafos. A suspensão da emoção do reconhecimento – o abraço que não se cumpre, a troca de experiências que é vetada – não impede, no entanto, que ele percorra a cena. Mas não é representado, nem verbalmente, nem cenicamente. Isto não quer dizer que o páthos não esteja lá, significa sim que ainda não há maneira devida de representá-lo, seja por pudor, seja por ainda não haver um modelo de representação que o autor possa utilizar como ponto de partida. De novo, este não dizer não se deve a uma falta de palavras, mas sim ao fato de que o lugar da representação da intensidade entre os gregos sempre foi a objetiva exterioridade da ação. A medida da dor da perda de Pátroclo é a devastação que Aquiles provoca entre os troianos, a marca de sua humilhação quando perde Briseida é retirar sua espada contra Agamêmnon. Mas, qual a marca do reencontro entre Electra e Orestes? Quase nenhuma em Ésquilo, senão a 86 confirmação da identidade. Na Electra de Sófocles temos um abraço, que traduz a alegria do encontro, mas, no momento em que Electra começa a se expandir muito, há em Sófcoles a voz de Orestes pedindo que ela silencie. Em Eurípides o abraço se repete, mais longo, já não a marca do páthos do reencontro, mas algo como uma gratuidade do afeto. A distância de Ésquilo para Eurípides e Sófocles é aquela de algo que não pode ser dito de maneira simples – em Ésquilo este universo afetivo não é representado, nos outros dois tragediógrafos é representado através de um abraço, este gesto tão raro nas tragédias, como qualquer outra espécie de contato entre corpos. É Sófocles que torna o toque uma linguagem, uma forma de representar o grande afeto, como uma consciência de que a linguagem verbal não é bastante para dizer a emoção. Dizer a emoção, como Shakespeare fez, ou como Eurípides ensaiou fazer em algumas peças, exige um certo tipo de consciência psicológica ainda não formalizada àquela altura – o tipo de olho para o detalhe que reproduza o universo interno de Orestes e de Electra, os passos de seu sentir, a riqueza pessoal e intransferível do milagre do reencontro. Este “olho” para o detalhe só viria mais tarde, mas é interessante notar como, por uma falta de técnica discursiva que obriga Sófocles a representar esta ambígua riqueza psicológica através de um campo de silêncio que envolve o personagem, algo mais poderoso é atingido, ou de uma intensidade distinta, ao menos, que a técnica dramatúrgica posterior permitiria. O silêncio é concreto na Electra de Sófocles: Orestes pede que a irmã se cale após o reencontro. Estranha passagem da literatura, em que uma limitação técnica, em que a incapacidade de representar a interioridade do personagem é tornada um elemento da própria trama: após se abraçarem, Orestes pede que a irmã se cale para que não haja o risco de os dois serem desmascarados. Formalmente é a imitação da cena apresentada por 87 Ésquilo, mas o abraço que antecede o diálogo dos dois estabelece que o silêncio, que o veto à troca de experiências entre os dois, é algo distintamente diferente de Ésquilo. Há a preparação da cena por Sófocles: Orestes dá uma urna com as falsas cinzas de si mesmo à irmã, que ainda não o reconhece. Electra se desfaz em prantos, fala com a urna como se falasse com o irmão, a aperta contra o corpo, e, assim, materializa seu desespero. A cena vai se tornando cada vez mais emocional: OR São a mesma pessoa quem vejo e Electra? El Eu sou aquela em condição de espectro. OR É insuportável! Que revés duríssimo! EL Tens certeza de que é por mim que sofres? OR Sem nume e sem renome, o corpo sofre! EL A quem, senão a mim, cabe o lamento? OR Ai! Moiramarga de um viver sem núpcias! EL Por que me pões sob escrutínio e choras? OR Só agora me apercebo dos meus males. EL Tua conclusão, tiraste-a do que eu disse? OR De ver a expressão do sofrimento. (SÓFOCLES In EURÍPIDES; SÓFOCLES, 2009: 62 (tradução de Trajano Vieira) [sem indicação de versos, vv 1176-1187 na edição de Jebb, SÓFOCLES, 1894a] 2 O que Sófocles faz é criar a antecipação pelo reconhecimento dos irmãos. É um artesanato tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso que só podemos compará-lo à técnica teatral de nosso próprio tempo. Pois o que prepara a emoção é o não dito, o vetado, o silenciado, e, no entanto, nestes silêncios é que a emoção se concentra, e, finalmente, nesta apaixonada concentração podemos vislumbrar algo como um si por trás das máscaras, uma alma no palco, já não a fantasmal entidade dos filósofos, mas uma presença. Karl Reinhardt descreve esta passagem como uma pequena metabole, não uma virada dramática, mas uma que ocorre no invisível dos sentimentos e que se materializa em ação: 88 ... Pois como Electra pode revelar a profundidade do seu amor fraternal apenas sob a pressão causada pelo embuste, também Orestes, crescendo por causa da mesma pressão, pode passar de ânimo renovado, da felicidade da vitória para a percepção dolorosa e compadecida, a fim de que a alma da irmã, ao tocar o que é igual a ela, incendeie-se. (REINHARDT, 2007: 184) Esta alma que se incendeia é mais presente, e sua presença é poderosa o bastante para que Orestes mude seus planos e revele sua identidade à irmã. Isto é já um atestado da concretude deste espírito que está sendo construído pela cultura grega, pesado o bastante para afetar o mundo objetivo dos corpos, das palavras e das ações. Outra maneira de dizermos isto é que, antes que haja o reconhecimento físico e formal entre os irmãos, o que ocorre no nível do discurso, da ação, do concreto visível do palco, há o reconhecimento invisível na sensibilidade. Orestes se apieda, e sua compaixão o iguala em um nível muito profundo à irmã. Após o compadecimento de Orestes, ele se sente obrigado a se revelar: EL OR EL OR EL OR EL OR EL OR EL OR EL OR EL CO EL OR Mas onde o infeliz foi sepultado? Não foi: quem vive não possui jazigo. Como disseste, jovem? Nenhuma inverdade. Então ele está vivo? Se houver alento que me anime a ânima! Estou na frente dele? Repara neste anel de nosso pai e diz se estou brincando. Ó luz que mais seduz! Sim: Ó luz! Ó voz que afagas, retornaste? Não indagues por outro! Enlaço-te me meus braços? Enquanto ambos vivermos! Caríssimas amigas! Ó micênias! Olhai – é ele! – Orestes! Um ardil O matou, um ardil o traz de volta! Estamos vendo, filha! Brotam do olho Lágrimas de prazer por teu destino! Ó filho, Filho do corpo mais benquisto, Tornaste enfim, Surgiste, vieste, viste quem querias. Estou aqui, mas silencia, aguarda! 89 EL Não entendi. OR Melhor calar: não quero que outros me ouçam. (SÓFOCLES In EURÍPIDES; SÓFOCLES, 2009: 64-65 (tradução de Trajano Vieira)3 É finalmente no abraço que toda a concentração de emoção que Sófocles criou é liberada. E neste gesto corporal, o silêncio exigido por Orestes ganha um segundo plano, já não apenas o silêncio devido à fabulação da peça, o silêncio de Ésquilo, mas uma nova dimensão em que o silenciar se refere também à contenção da emoção que ameaça transbordar e tomar o palco inteiro. A dimensão do afeto, do transbordante, esta que torna a alma concreta e permite sua representação, apenas em Eurípides será tornada sinônimo de trágico. Em Sófocles há contenção, em parte porque o autor não adere totalmente aos novos valores de Atenas, dos quais Eurípides será um entusiasta, em parte porque há em Sófocles a intuição de que esta alma profunda e difícil se representa através de algum nível de silêncio fundamental. É interessante como na Electra de Eurípides não há o veto ao dizer. Orestes não proíbe a irmã de se expressar, mas projeta a expansão do afeto para mais tarde. VElho E hesitas em cair nos braços dele? EL Não mais, pois me convencem os sinais que apresentas. Já me tornara cética, tanto tempo depois... OR Tempo... após... EL Parecia que nunca… OR Não pensava… EL És ele? OR Teu único aliado! Possa eu trazer a rede que lancei… Mantenho a fé! Se o injusto prevalece Sobre o justo, não haveria deuses! CO... OR Retribuirei, querida, teus afagos Em outra oportunidade. (EURÍPIDES In EURÍPIDES; SÓFOCLES, 2009: 102-3 (tradução de Trajano Vieira)4 90 Eurípides parte do princípio de que o efeito trágico passa necessariamente pela representação do afeto, e que o silêncio constituinte da alma se dá em um outro nível, que não é teológico, como ainda é em Ésquilo e Sófocles, mas psicológico, de fato, do abismo entre a alma e o corpo. Este silêncio da alma passa necessariamente por uma relação com o corpo, e se constrói ao mesmo tempo contra e a partir da expressão do corpo no palco. A seguir trataremos da representação deste corpo trágico em Sófocles. 3.3. O corpo de Filoctetes A dor de Filoctetes, em sua confusão entre corpo e espírito – dor de ter sido traído pelos companheiros de armas, dor por estar agonizando com uma ferida incurável – é a marca de uma espécie de fantasma sobre a construção do eu que se processa na tragédia. Pois Filoctetes é, em sua representação, na constante declaração do êxtase da sua ferida, da dor que o faz olhar a terra procurando a morte e ao mesmo tempo o céu em alguma identidade com o sagrado, a figura de um ser humano corporal, do mortal distante do divino e que, no entanto, à sua revelia, ainda precisa desempenhar um papel no drama cósmico. Este homem que se faz humano no corpo ferido e devastado é um modelo possível para entendermos a distância que ainda existe entre Sófocles e o platonismo. Filoctetes representa acima de tudo seu corpo, sua dor corporal, um ser humano enquanto ser corporal, de carne e nervos. A dor que sente não é superável, e tão poderosa que faz com que o herói a demonstre mesmo publicamente, para sua vergonha e humilhação. E este ser humano frágil 91 é o humano de Sófocles. Como o velho Édipo, como o Hércules agonizante de As Traquínias, o páthos de Filoctetes vem da maneira como o conhecimento sobre o humano se constrói. Conhecimento através da dor física, do limite do corpo, do entendimento que a grandeza moral humana ainda é um nada em comparação com estas forças devastadoras e absolutas que agem sobre o homem, um daímon que se manifesta no próprio corpo, um destino que manifesta sua presença no envelhecimento, na dor, na fome, no desejo. Os gregos tinham gênios para estas potências, exteriores ao homem, como forças invisíveis ou humores, tanto quanto qualquer outro daímon e loucura. A grandeza e diferença de Sófocles está em entender que estas forças devastadoras são a própria humanidade, e aqui pela primeira vez nós podemos pensar de fato em uma condição humana para além da mortalidade e da rendição ao divino. Pois tanto destino quanto morte, dor e decadência, são, na visão grega tradicional, limites humanos, pontos em que o humano toca o divino, seu non plus ultra. Este limite trágico, o da inferioridade física do humano em relação ao divino e à natureza, é um dos dados do pensamento idealista sobre o trágico. O ser humano é necessariamente um ser de finitude, e ainda que sua mente possa aproximá-lo do infinito, este infinito será sempre inicialmente lugar do sublime, do abalo diante de algo muito maior que a razão dá conta. O que o pensamento faz deste sublime e da finitude humana é que caracteriza as diferentes teorias do trágico. Em Schiller, há o otimismo de que através da formalização na obra de arte este sublime possa receber uma mediada humana e retornar a ser um elemento compreensível. No idealismo esta diferença entre a medida humana e a divina não é superável: apenas através de uma série de mediações muito complexas, que tendem sempre ao aniquilamento ou ao salto no abismo de se tornar um outro (gesto de que a morte é a figura mais poderosa) é que o ser humano pode contar se aproximar da medida 92 imensa da natureza. O primeiro passo para isso é obter a consciência desta distância, perceber que há um espaço vazio de significado separando a vivência sensível do homem daquilo que é o universo imutável do categórico. Em Hegel, esta é a condição para a superação desta distância: primeiro percebê-la, depois confrontá-la. Segundo Gérard Bras em Hegel e a arte, é na percepção da finitude humana através da sensibilidade que surge a possibilidade de entendimento do outro que é o categórico. Segundo Bras: Ao captar um lampejo num corpo, um sorriso de mulher etc, essa arte tende a nos mostrar não o imutável, o divino – que Hegel chama de o substancial – mas, ao contrário, o efêmero da substância sensível, a manifestação fenomênica. Com isto, esta arte nos abre para uma reflexão filosófica sobre o real, não por nos introduzir num mundo verdadeiro para além da existência natural, mas, ao contrário, por nos levar a pensar que a verdade é a união do ser e do devir, da essência e das aparências. (BRAS, 1990: 35) Em Hölderlin esta cisão entre sensível e categórico é pensada em termos de possibilidade de produzir a reunião do todo com as partes. O momento da fissura expõe a necessidade mútua do todo e das partes se religarem na conciliação trágica. A seguir vamos tentar demonstrar como em Sófocles se processa este momento de cisão entre finitude e infinito que, em um segundo momento, através do conflito trágico, pode revelar e conciliar homem e deus. Vamos realizar a seguir uma leitura mais pessoal e especulativa do processo, menos mediada pela tradição do idealismo, mas haverá concordância no entendimento de que o que é característico da tragédia é a representação da distância entre sensível e categórico, e que desta distância dolorosa é que surge a possibilidade de conhecimento do categórico. Assim, há uma condição humana que determina que o homem é ser finito. Esta é a humana condição em um sentido bastante antigo – a da dignidade, da moira humana, do lugar do homem na ordem das coisas, em oposição aos animais, aos deuses, aos rios e 93 bosques. O que Sófocles está pondo no palco é algo distinto disto, o sofrimento de Filoctetes, a velhice de Édipo, o shakespeareano abraço de Hêmon a Antígona, desejo e dor, decadência e agonia, mas, acima de tudo, uma segunda natureza humana, a experiência. O sofrimento é aprendizado, o sofrimento é o grande professor, o sofrimento é a condição humana, já não um deus ou um gênio, mas a própria essência complicada do que é ser humano. Se o morto-vivo que é o herói trágico em Ésquilo é algo que surge para ressuscitar seu discurso e seu direito, como quem dissesse “eu que estou morto agora vos digo o que sou, minhas razões e motivos”, em Sófocles temos uma complicação disto. Pois diferente de Dario, Orestes ou Prometeu, não basta a este morto-vivo, a este estrangeiro conterrâneo ou qualquer outra tensa conformação criatural que o herói assuma, não basta dar conta da sua presença. É preciso que ela seja concreta para além de um discurso e uma narrativa, que adquira e refira um segundo plano, que não é o inacessível do destino, este sempre presente em toda tragédia, mas o inacessível da alma humana. O herói trágico em Sófocles é aquele que se diz, diz sua história e direito, como em Ésquilo, mas, mais que isso, diz sua alma, o rumor estranho e profundo de sua alma. E, na falta de uma técnica consolidada para apresentar este segundo plano do herói, é no sofrimento do corpo que ele é representado, como um espírito que se faz carne. Talvez aí, nesta alma-corpo que sofre de Sófocles, tenhamos um dos momentos fundamentais da história da cultura, pois é nesta técnica de representação de Sófocles, tão distinta da dor moral característica de Ésquilo e Eurípides, que temos o germe do “espírito se fez carne”. Não se trata apenas de uma extensibilidade da alma, das metáforas que comparam corpo e espírito, como “meu coração se enche de luz”, ou “minha cabeça está pesada”, isto tudo já previsto em Parmênides e Heráclito, e 94 formando o mosaico da longa transição da visão antiga para a visão nova. Em Sófocles temos uma alma que é corpo, que está em consonância com o corpo, com a carne humana: quando uma sofre outra sofre, o sentido e o destino de uma é o destino de outra. Os heróis agonizantes de Sófocles se referem àquilo que Nancy escreve em Corpus sobre o substrato da teologia e do pensamento a partir do cristianismo: ... A outra [versão], a mesma, indiscerníveis e distintas, emparelhadas como no amor. “O” corpo terá sempre estado no limite destas duas versões, lá onde elas se tocam e simultaneamente se repelem. O corpo – a sua verdade – terá sido sempre o intervalo de dois sentidos – cujos intervalos da direita e da esquerda, do alto e do baixo ... não fazem mais do que se exprimir entre si reciprocamente. A outra versão da vinda chama-se encarnação. Se digo verbum caro factum est (logos sarx egeneto) estou num certo sentido afirmar que caro constitui a glória e a verdadeira vinda de verbum. Mas estou igualmente a afirmar, num sentido completamente diferente, que verbum (logos) constitui a verdadeira presença e o sentido de caro (sarx). E se, num certo sentido (uma vez mais), estas duas versões se pertencem mutuamente, e se “encarnação” nomeia ambas e em conjunto, num outro sentido ainda, no entanto, elas excluem-se. (NANCY, 2000: 64) A alma é representada na corporeidade, e a corporeidade-alma no sofrimento. O que vamos explorar agora é a maneira como esta iluminação foi possível a Sófocles, pois, este tipo de representação, embora já antecipado pela cultura grega, especialmente através da idéia de extensibilidade da alma, é bastante específico de Sófocles. Nossa hipótese é que um corpo que representa a alma e um sofrimento que torna este corpo concreto surgem de problemas específicos do palco grego, por um lado da relação do texto trágico com a tradição épica e, por outro, de certos limites físicos do palco grego. É Bruno Snell que tenta dar conta do problema principal de leitura da épica grega: a sensibilidade e a visão de mundo grega é radicalmente diferente da nossa. Não é que não haja um princípio de individuação ou um sentimento de corporalidade, mas ainda não se concebe um corpo como todo orgânico conforme entendemos. O corpo é acima de tudo a 95 ação específica do corpo sobre a realidade. O corpo é a perna que corre, a pele que recebe a armadura ou a que é rompida pela lança, não há um “olhar”, mas antes uma expressão dos olhos que tem certa intensidade ou mansidão. E a alma, cuja figuração é sempre construída em relação a um corpo, acompanha este corpo grego composto de partes atuantes que se sobrepõem mais do que se conformam. Nas palavras de Snell: Se quisermos com os conceitos de “órgão” e de “função” determinar a concepção que Homero tem da alma, iremos de encontro a dificuldades terminológicas, contra as quais se chocam todos aqueles que querem definir as particularidades de uma língua estrangeira com os termos da sua própria. Se digo: o thymós é um órgão da alma, é o órgão do movimento da alma, recorro a frase que contêm uma contradictio in adiecto, visto que, segundo nossas concepções, as idéias de alma e de órgão não podem combinar. Se quisesse falar com maior precisão, eu teria de dizer: o que chamamos de alma, é, na concepção do homem homérico, um conjunto de três entidades que ele interpreta por analogia com os órgãos físicos. (SNELL, 2009: 16) Poderíamos, utilizando uma imagem de Snell, dizer que a alma está lá, mas não foi ainda descoberta, e isto de uma maneira bem complicada: esta alma não pode ser descoberta como uma ilha é descoberta, ela ainda não está presente. Por outro lado, não podemos supor (ou ao menos não podemos conceber) uma diferença tão radical em relação a outros humanos que faça com que algo como uma consciência corporal, como a sensação de um corpo que limita minha identidade em relação ao resto do mundo esteja completamente ausente. Assim, é através de analogias que este corpo e esta alma são primeiro representados. No progresso da literatura grega aos poucos vai se desenhando um corpo orgânico – não os seios de Helena de Homero, mas a Helena simulacro de Eurípides –, em seguida uma alma análoga a um corpo, uma identidade que é também um todo orgânico e não a manifestação dos “órgãos” do espírito, e, finalmente, uma essência autônoma. Então, este é um plano contra o qual a literatura trágica se põe: a materialidade e ao mesmo tempo 96 a limitação do corpo e da alma homéricos, pois, embora o texto trágico tenha antecedendoo vários séculos de literatura que prepararam tanto o corpo quanto a alma, o modelo básico de seu discurso é a épica, por conta da dependência da tragédia em relação ao mito. Esta dependência é específica da tragédia, e vem da necessidade de concentrar seu discurso e a ação representada em um pequeno espaço de tempo. Enquanto Homero pode desenvolver sua narrativa ao longo de muitos versos e horas, iluminando e ressaltando certas passagens, construindo os antecedentes do que narra, o texto trágico depende das duas horas em que a peça individual da tetralogia deve ser apresentada. O único tema é o mito não tanto por uma obrigação religiosa, mas porque no mito há a possibilidade de concentrar a narrativa em um momento mais intenso. Os antecedentes biográficos são dados fora do próprio texto trágico, o que permite que ele concentre sua fabulação naqueles momentos mais intensos de uma biografia, quando a vida do herói, ou os valores contra os quais o herói está se confrontando, surjam sob uma luz mais intensa. Isto, no entanto, se é uma solução, por permitir à tragédia ser arte de intensidade e de tensão, é também um problema, pois o texto que serve de modelo à tragédia é contrário ao tensionamento. Auerbach entende isto como um problema de sobreposição de planos: a épica representa a fábula em um único plano, faltando a ela aquilo que é essencial à tragédia, um segundo plano, psicológico, em que a ação dos personagens ganha um outro sentido. Mas para o surgimento deste segundo plano é necessária uma lacuna, um silêncio, um não-dito, a que a épica é avessa. Auerbach se refere a esta necessidade de Homero preencher todas a lacunas através de digressões, de idas e voltas narrativas, como “efeito retardador”, seguindo uma discussão de Goethe e Schiller: 97 Goethe e Schiller, que em fins de abril de 1797 se correspondiam, não especificamente sobre o episódio aqui em pauta [o da cicatriz de Ulisses na Odisséia], mas sobre o “elemento retardador” na poesia homérica em geral, opunham-no diretamente ao princípio da “tensão” – termo esse não propriamente utilizado, mas claramente aludido, quando o processo retardador é posto, como processo épico propriamente dito, ao trágico (cartas de 19, 21 e 22 de abril). O elemento retardador, o “avançar e retroceder” mediante interpolações, também a mim, parece estar, na poesia homérica, em contraposição ao impulso tenso para uma meta. ... Mas a verdadeira causa de impressão de retardamento parece-me residir em outra coisa; precisamente, na necessidade do estilo homérico de não deixar nada do que é mencionado na penumbra ou inacabado. (AUERBACH, 1998: 3). É esta característica da literatura homérica, a compulsão em dizer tudo, mais do que uma ausência de tensão, descartada por Auerbach, que impede a existência de um segundo plano psicológico. Em Homero tudo é dito, nele “há um desfile ininterrupto, ritmicamente movimentado, dos fenômenos, sem que se mostre, em parte alguma, uma forma fragmentária ou só parcialmente iluminada, uma lacuna, uma fenda, um vislumbre de profundezas inexploradas”. (AUERBACH, 19998: 4) Mas é nestas profundezas que há a possibilidade de uma alma, e é do silêncio parcial sobre elas que surge um segundo plano, explorado pela literatura trágica. Este é o silêncio do deus, mas é também, e cada vez mais, o silêncio da alma do personagem trágico. Então o texto trágico tem como ponto de partida uma épica em cuja escrita uma de suas características fundamentais, a tensão entre dois planos de significado, está ausente. A tarefa do tragediógrafo é tornar presente este segundo plano, especialmente após Ésquilo, quando esta profundidade da alma humana não era ainda uma questão tão direta quanto para Sófocles e Eurípides. Como então representar este segundo plano? A resposta mais direta é através do discurso. E pensemos que a descrição, para um público que é formado pela audição da épica, não será um recurso pobre. Obviamente no teatro não temos a possibilidade de um narrador, que daria conta da construção deste plano de fundo 98 psicológico em outras modalidades de narrativa. Ele surge às vezes na figura do mensageiro, que torna presente a ação que ocorreu fora do palco, e os personagens podem expressar aquilo que sentem, como muitas vezes o fazem. Mas, insistimos, a representação das emoções diretamente através do discurso não dá conta da riqueza e da profundidade da alma, do homem interior que está presente no trágico. Em um teatro moderno, a expressão dos atores dá conta disso: as sutis contrações do corpo e da face do ator, o micro-gestual que tenta tornar presente o movimento da alma. Mas em um teatro de máscaras, que precisa de gestos largos porque se dá diante de um público de milhares de pessoas, esta é uma impossibilidade. Outro complicador é a estrutura do palco trágico. O logeiôn, o estrado de madeira sobre o qual ficavam os atores, separando-os tanto do coro quanto do fundo da cena, era um espaço longo e estreito. Ele permitia que uma carroça ou um pequeno cortejo ficasse disposto, como na entrada de Agamêmnon e Cassandra em Agamêmnon, ou no enterro de Astiânax em As Troianas. Isto também permite a hipótese de que o Prometeu de Ésquilo fosse um grande boneco, imitando o porte do titã. Mas impediria a ação em dois planos físicos ou qualquer movimentação mais dinâmica. E esta movimentação, o passeio pelo palco do ator, é um elemento importante na representação de qualquer personagem no teatro moderno. Provavelmente os gregos utilizavam, como no teatro No e no Kabuki japoneses, uma gramática gestual, utilizando o movimento dos membros e os adereços cênicos como uma figuração daquilo que se passava dentro do personagem. Esta seria uma maneira possível de representar as emoções no palco para além do discurso. Como representar algumas emoções sutis, como melancolia, preocupação ou mesmo dúvida de uma maneira que fosse perceptível para os possíveis quinze mil espectadores do teatro de 99 Dioniso? Não com um franzir de sobrancelhas. Possivelmente havia um gesto que correspondesse a preocupação, alguma posição das mãos ou alguma postura que a platéia interpretasse como preocupação. Peter Arnott em seu livro Public and performance in greek theatre relaciona o gestual do teatro grego com o da oratória. Seu argumento é que atores e oradores partilhavam algumas técnicas, o que permitia que a profissão dos primeiros fosse um bom preparatório para a dos segundos. Em ambos os casos, a arte gestual está ligada à idéia de hypokrisis, a performance ou a ação de tornar as idéias mais intensas ao ouvinte. De fato, a oratória e o teatro são inseparáveis no teatro grego, e parece bastante provável que a arte de um campo tenha alimentado a de outro. Segundo Arnott Podemos deduzir algo dos gestos utilizados pelos oradores gregos. De novo, Ésquines é valioso. Seus discursos, repletos de acusações pessoais, descreve o comportamento de seus oponentes. Conta que era um gesto típico de Demóstenes colocar suas mãos sobre a testa. Este era também um gesto comum do palco. Em outro ponto, Ésquines descreve seu rival como “girando”. Isto sugere uma atuação [hypocrisis] animada, e vívido acompanhamento físico. Do discurso de Demóstenes contra Teócrines, parece que era perfeitamente aceitável para o defensor se jogar sobre os pés de seus oponentes, um toque teatral ainda admissível nas cortes de justiça. . (ARNOTT, 1989:54)5 O problema de entender que o sentimento para além do discurso é representado por um gestual tão vivo é tornar o teatro trágico grego como uma arte expressionista. Necessariamente não havia a sofisticação gestual do teatro No, voltado para um público extremamente cultivado e representado de forma intimista. Mas imaginar um expressionismo cênico grego, com gestos fortes como nos filmes alemães do início do século XX, é criar um contraste grande demais entre esta ostensividade e a sutileza do texto de Sófocles, por exemplo, ou a grandeza do discurso de Ésquilo. No entanto, combinaria bem com o teatro de Eurípides, o que talvez nos diga que esta era uma possibilidade para o 100 palco da época. Mas uma possibilidade plena, pensamos, para o texto de Eurípides, não para o de Sófocles. Um outro caminho encontrado por Sófocles foi representar a alma pelo corpo, tornar a alma presente através daquilo que nela toca o corpo, ou seja, a dor. Os abraços de Sófocles – Orestes e Electra que se abraçam no reencontro, Édipo que abraça Antígona e Ismene em Colono, o abraço relatado pelo mensageiro entre Antígona morta e Hêmon, Neoptolemo carregando Filoctetes – são uma das dimensões da importância do corpo para a arte de Sófocles. O toque traduz uma intensidade do encontro de corpos que o verbo não daria conta. O toque é uma maneira de estabelecer uma igualdade e uma aliança em um nível mais profundo do que o discurso, pois se as palavras em Sófocles podem ser vãs e terem às vezes o sentido contrário do que dizem, o toque é o gesto certo que restabelece uma certa ordem em um mundo confuso. Toca-se o igual, através do toque minha identidade se confunde com a do outro. E nessa confusão o corpo projeta uma sombra que é o espírito. Através do corpo chega-se à alma e ao sentido de uma determinada experiência, como na recusa de Édipo em tocar Teseu após o herói ter salvado suas filhas em Édipo em Colono: Não estranhes, senhor, se fui prolixo, Pois o retorno delas surpeendeu-me. O júbilo da reaparição, Eu sei que o devo a ti e a mais ninguém. Nenhum mortal, além de ti, salvou-as. Os deuses correspondam ao que peço A ti e ao teu país! Respeito aos numes Somente aqui me foi dado encontrar E a tolerância e o linguajar não-pseudo. Aceita o meu discurso de tributo, Graças a mais ninguém tenho o que tenho. Me estende a mão direita, ó rei, pois quero Tocá-la e te afagar o rosto. Posso? 101 Mas o que falo? Como a mim, sem sorte, Alguém, livre da nódoa da desgraça, Permitirá que o toque? Eu mesmo não Posso aceitar: só quem provou ruína Igual a minha dela participa. Saudações, à distância! No futuro, Zela por mim, coo hoje o fazes, justo! (SÓFOCLES, 2005: vv 1119-1138 (tradução de Trajano Vieira)6 A outra maneira, mais rica e de grande importância para a cultura mais tarde, é tornar o corpo como aquilo que é indizível, e tornando-o indizível, impedindo que o discurso tome posse totalmente da dor que é tornada presente, apontar para um outro silêncio, o da alma. O sofrimento da ferida de Filoctetes é muito mais concreto que a dor moral que sente por ter sido traído, ao menos é mais representável. Mas na sua representação é também aquela dor moral que está presente. Da mesma maneira, a velhice de Édipo é simples de ser tornada presente, e em seu corpo alquebrado e cego, muito mais fácil e intenso em sua mera presença no palco do que um comentário de Édipo. O corpo devastado é a maneira de se obter dois efeitos. Primeiro, obter um corpo mais presente, de maior intensidade, do que o corpo saudável. O contraste lógico em Filoctetes é entre o corpo do efebo Néoptolemo, saudável e cheio de vigor, e o corpo devastado do arqueiro. Mas é o corpo de Filoctetes que fica mais presente em sua devastação, não porque a doença seja algo mais atraente que a saúde, nem mesmo em termos de fabulação, mas porque cenicamente ela é mais representável. É assim que o silêncio da interioridade de Electra, sua alegria silenciada no reencontro com Orestes, se relaciona ao despudor do sofrimento corporal de Filoctetes. Talvez em Sófocles tenhamos esta estranha modernidade de um sensível dotado de poder, de um corpo que é ele mesmo alma. Há um passo além em Sófocles, aquilo que marca seu 102 tradicionalismo e, ao mesmo tempo, sua diferença em relação a Ésquilo e Eurípides. Pois, se é verdade que Eurípides é de longe o mais “legível” dos tragediógrafos, no sentido de sua sensibilidade, apesar de ser contemporâneo de Sófocles, ser mais próxima da nossa, e se Ésquilo é titânico, é o autor que ainda nitidamente mantém traços de uma grandeza épica em seus heróis, Sófocles é aquele que mais nos faz pensar na palavra gênio. Gênio porque cada um de seus personagens é irredutível, porque não parece seguir esquemas na representação de seus heróis, porque é um autor fundamental, séculos mais tarde, para nossa própria concepção do que seja o humano, através de seu Édipo e sua Antígona. E esta genialidade, ou a impressão de genialidade que sua exígua obra nos causa, advém exatamente disto que para nós é uma inversão de atributos, de haver em suas peças um corpo que fala e uma alma que silencia. Isto não é sem conseqüência, pois esta alma silenciosa em Sófocles, mesmo que surgida de uma necessidade cênica, por uma espécie de incapacidade de representar uma alma, torna-se um campo vazio de sentido a ser invadido pelo discurso do corpo. Filoctetes, Édipo, Antígona, Ájax, todos eles são dotados de um ethos, de um núcleo duro que os motiva e os obriga a agir da maneira que agem. Mas este ethos não permite, ao contrário de em Eurípides, a descrição, não permite o registro de seu movimento e sutil transfiguração. Seu caráter está acima de sua capacidade de decisão. E, no entanto, se move... Pois ainda que Sófocles não possa, ou não queira, representar o drama interior, ele ocorre – ocorre para a sensibilidade do público, que cada vez mais se afasta da visão monolítica e sagrada da vida, ocorre para a ação trágica – já não o campo amplo do ódio, da maldição, da revolta e da necessidade divina, de uma ordem tirânica e tetânica, como em Ésquilo. As fábulas de Sófocles que nos restaram são desgraças individuais, sofrimentos de indivíduos que se vêm 103 diante do horror de si próprios, dos pequenos gestos que cometeram e que tiveram conseqüências catastróficas. Pensemos no que Édipo fez de fato – matou um homem, deitou com uma mulher, engendrou filhos – como isso produz um miasma? Pensemos em Dejanira, que simplesmente planeja recuperar o marido e mata o próprio Hércules, em Odisseu, que simplesmente quer um prêmio interessante, as armas de Aquiles, e em uma cadeia de eventos que não planeja nem deseja produz o fim de Ájax. O que produz esta mais valia monstruosa, que torna o gesto cotidiano de um vivente em algo horrível, é o deus – é na distância entre o divino e o humano que há espaço para a desproporção entre um gesto mínimo e uma catástrofe, como uma borboleta que cause um furacão do outro lado do mundo. Mas além do deus há o homem, a consciência humana. O que faz com que um gesto menor torne-se cataclísmico é o conjunto de ações coordenado pelo deus, mas a medida do cataclisma, aquilo que o torna sublime, digamos, é a consciência do homem que o sofre. Esta consciência que em Sófocles silencia, que não sabe ou não pode dizer, seja porque a medida humana é pequena demais para o que ocorre, seja porque o autor não sabe ainda representar esta consciência que pode abarcar a infinita profundidade do mal sofrido, seja porque, e é aqui que há uma possível grandeza incomparável do Sófocles autor, do nome Sófocles, porque neste silêncio que não deve ser preenchido indevidamente por qualquer coisa, por gestos ou palavras, é que está a única representação adequada da grandeza do sofrimento. Representação inadequada, incerta, que falseia a descrição – pois aquilo que preenche o discurso devido da alma é o lamento concreto do corpo. E eis que a alma se torna concreta, torna-se, ela também, corpo. O problema da possibilidade de representação é constante em qualquer arte de teatro, e segue a uma lógica própria, relacionada tanto aos recursos cênicos de uma cultura 104 quanto às suas idiossincrasias. A lógica que torna o corpo de Filoctetes mais presente que o corpo de Neoptolemo, uma lógica cênica, de presença de palco, é a mesma que obriga que os momentos mais vigorosos da tragédia ocorram fora de cena. Vemos o cadáver de Agamêmnon, ouvimos os gritos de morte de Clitemnestra, somos informados que Ájax se suicidou ou que Astiânax foi sacrificado, mas não vemos os assassinatos e suicídios. Talvez devamos nos deter um pouco mais sobre o sentido da ação exterior ao palco na tragédia. Podemos conceber uma razão prática para isso: a representação de um assassinato ou de uma luta corporal poderia ter efeitos devastadores sobre uma platéia tão numerosa quanto a do teatro ateniense, e as conseqüências de milhares de pessoas excitadas a este ponto seria difícil de prever. Outra possibilidade se refere a um pudor diante da morte em um ritual religioso, como era a tragédia. As mortes e vinganças na tragédia têm uma dimensão sacrificial para além da simples peripécia do drama, e esta dimensão obrigaria a um certo recolhimento em sua representação. Isto não vetaria a presença do cadáver ou do sangue dentro do palco, mas impediria a representação do próprio sacrifício. Outra hipótese é que os limites do palco grego não dariam conta de representar a fuga e o movimento vigoroso que uma luta pressupõe. A possibilidade mais interessante para nosso trabalho é pensar que o interdito à representação do sacrifício vem de uma certa lógica espacial e antropológica do mundo grego. Mike Wiles, se referindo à organização do palco grego, aponta para o quanto a skênê, a parede ou tela que dividia o palco entre o que a platéia via e o invisível, meio que delimita o espaço da ilusão. Segundo Wiles em Tragedy in Athens: performance stage and theatrical meaning 105 Na relação interna entre a área de atuação e o auditório podemos discernir uma mudança histórica com a introdução do skênê ou fachada. Inicialmente não havia a parede do palco, e a audiência se reunia ao redor de um espaço de dança que de forma alguma pretendia espelhar a realidade. Uma performance assim seria definida por Uberfeld antes como ludus (uma apresentação festiva) do que como mimesis (imitação da realidade) dentro de um espaço de atuação que se aproximava de seu modelo “plataforma”. O skênê criava um área fora do palco oculta e a conseqüente ilusão de que a ação se extendia para onde a audiência não podia vê-la . (WYLES, 1997: 15-16)7 A separação entre o palco e o bastidor da skênê servia essencialmente para dar aos atores um espaço para se trocarem, além de abrigar os mecanismos como guindastes, escadas e cordas que seriam utilizados nos momentos mais cênicos do espetáculo. Mas para além de sua função direta, ele acabava provocando a extensão do palco. Com a skênê a ação podia se estender para espaços internos, geralmente os palácios, ou uma gruta, no caso de Filoctetes, que fugiam à visão do público. Neste espaço fechado o silêncio da representação ganhava uma dimensão nova, já não era um silêncio sem conseqüências, silêncio da ausência de conteúdo, de algo que não interessa ao drama, mas, ao contrário, era uma nãorepresentação que se estendia ao espaço circunscrito do propriamente representado no palco. Era por trás da fachada dos bastidores que ocorriam os assassinatos e suicídios, roubando da platéia o momento mais intenso da representação. Arnott relaciona isto a um traço da cultura grega, a extrema publicidade de vida, em que o espaço privado estava relacionado às emoções negativas. Segundo Arnott em Public and performance in greek theatre: Na variante grega desta combinação, certas associações locais e sociais surgem. A sociedade grega era, primeiramente, uma sociedade ao ar livre. Encontros, assembléias, tribunais, negócios e cerimônias religiosas normalmente se davam fora de casa, à luz do sol. O grego dormia sobre seu telhado (como ainda têm tendência de fazer) e realizava uma boa parte de sua vida privada nas ruas. Ao contrário, o espaço reservado é muitas vezes manchado com furtividade e suspeição. O que não pode ser abertamente visto é potencialmente perigoso. Este sentimento transborda das peças. O que é bom, honesto e aberto tem a tendência de ocorrer do lado de fora; o que é enganoso, furtivo e malicioso, do lado de dentro. Em 106 Agamémnon, o palácio é um lugar de mal corruptor em que o rei entra para encontrar seu fim. Em Antígona, a heroína, buscando uma conversa com sua irmã, conduz Ismene para fora do paço, em vez de, como faríamos, para algum lugar privado e protegido do lado de dentro. Em Medéia, a casa é um lugar demoníaco de onde a voz de Medéia é ouvida pela primeira vez através de ameaças e que finalmente suga seus filhos para dentro para sua destruição. (ARNOTT, 1989: 133)8 O silêncio cênico é o que prepara a representação deste outro silêncio, o da alma, e nos dois casos o não representado serve mais como uma caixa amplificadora do que como um abafador. Os lamentos de Filoctetes ao longo da peça, seus ais e seu corpo devastado, sua fome, seu cansaço, sua agonia, são aquilo que torna seu corpo mais presente. Mas este corpo sofrido, como o do Édipo velho e como o do Hércules de As traquínias, é também corpo de êxtase. É nele que tanto a razão do espírito humano, sua profundidade afetiva e, finalmente, a relação do homem com o deus podem ser representados. É em um momento de lucidez durante sua agonia que Hércules ata o destino de seu filho Hilo, ao exigir que se case com Iole e incendeie seu corpo para destruí-lo. No sofrimento do corpo, na manifestação do poder divino sobre o corpo, é que aparece de forma clara, por contraste, a natureza do divino, sua essência negativa em relação ao homem, que sofre por sua impermanência, e na dor encontra o índice desta impermanência. É uma linguagem da crueldade, talvez não propriamente da crueldade do deus contra o homem, mas a crueldade da distância entre as duas naturezas. E esta crueldade deve ser ouvida, deve ser vista e aceita. É este talvez o sentido da fala final de Hilo, quando faz o comentário sobre as desgraças que ocorreram em sua casa: E que vós sabeis de toda a inclemência dos deuses no decorrer destes fatos. Eles, que geraram e são chamados, pois assistem impassíveis a tamanhos sofrimentos. Os do futuro, 107 ninguém consegue os divisar, os do presente, deploráveis são para nós, e vergonhosos quanto aos deuses. Mas os mais penosos são os que se apresentam ao homem que esta desgraça suporta. (SÓFOCLES, 1996: vv. 1265-1278 (tradução de Maria do céu Fialho)9 O fechamento da peça “mas, em tudo isto, nada que não seja obra de Zeus” (vv1277-78), não é simplesmente a afirmação conformada de um fato da vida por Hilo. Como em Electra, o que está presente nesta afirmação da natureza do deus, é o problema da esperança de felicidade humana. O que pode nos iluminar para pensarmos as conseqüências da representação da dor corporal no palco é pensarmos o estatuto desta dor. A obra clássica de Elaine Scary, The body in pain, talvez seja uma boa referência para liderar nosso questionamento. A tese central de Scarry é de que no sofrimento corporal há uma dialética identitária em que o mundo (a cultura, a alma, a experiência), através da dor, é separado e destruído do corpo que sofre. O corpo que sofre é meu corpo, mas não sou eu, esta dor que abrigo é exterior a mim, e mesmo assim faz com que aquilo que sou, todo o arcabouço de experiência que forma minha identidade, se confunda com a dor. Nos termos de Scarry, a voz do corpo, no grito de dor, no gemido, no pulsar da dor, cala a voz do espírito. Sua preocupação principal é entender o estatuto da tortura e da guerra, de que forma a relação de poder entre vítima e algoz, que se dá sobre o corpo mas também sobre a linguagem, cria o mecanismo de subjugação da vítima. Assim, a dor não existe em uma dimensão puramente física, mas projeta sobre a identidade primeiro a separação entre corpo e alma e, em seguida, a destruição desta alma, a destruição do mundo a que ela se liga. É daí que a experiência da dor física é essencialmente uma experiência de solidão absoluta, em que o espírito é desligado de todo seu referencial. Solidão que se constrói através da linguagem: a dor é 108 incomunicável, ela torna a linguagem insuficiente. Mas, ao mesmo tempo, é na dor que a linguagem brilha e pode surgir com mais força. Nas palavras de Scarry Testemunhar o momento em que a dor provoca a reversão para a pré-linguagem de gritos e gemidos é testemunhar a destruição da linguagem, mas inversamente estar presente quando uma pessoa se ergue para acima daquela prelinguagem e projeta os fatos de consciência no discurso é quase como ter obtido a permissão para estar presente no nascimento da própria linguagem. (SCARRY, 1985: 6)10 Filoctetes junto de Gritos e sussurros de Bergman são apresentados como os dois maiores modelos de representação da dor, representando esta dialética entre corpo e alma que Scarry está pensando. Os vários ais de Filoctetes, que ele intercala com imprecações e momentos de lucidez, são exatamente a medida desta dor corporal que comunica ao mesmo tempo que destrói a alma. O mundo roubado de quem sofre põe a vítima em uma solidão absoluta, e nesta solidão está a condição humana. Por outro lado, é a solidão da dor que obriga a vítima a transcender sua experiência normal e ganhar uma nova perspectiva, a compreensão da dimensão divina. Na passagem em que Filoctetes é carregado por Neoptolemo após obrigar o jovem a jurar que não o deixaria sozinho, vemos esta solidão e ao mesmo tempo esta transcendência da dor: FI NE FI NE FI NE FI NE FI NE FI Aonde... afora... me... onde? Aonde? O que dizes? Acima. Surtas? Por que mirar o círculo celeste? Deixa-me, deixa-me! Deixar-te onde? Apenas deixa-me! Afirmo que é impossível. Um simples toque teu me arruína. Se estás mais lúcido, te soltarei. Ó Géia-Terra, engole quem morreu! A chaga tira o chão do pé! Vertigem! (SÓFOCLES, 2009a: vv. 812-20 (tradução de Trajano Vieira)11 109 A agonia do herói faz com que ele procure o deus, faz com que o perceba, na verdade. Mas perceber o deus é perceber sua distância e a crueldade da relação, e na compreensão desta natureza, ser jogado em uma solidão ainda mais absoluta do que a anterior. Pois aquilo que o deus fala não é a linguagem do mundo, da cultura e da experiência, mas a silenciosa linguagem do corpo, do sofrimento e da impossibilidade de tocar os outros. Karl Reinhardt, seguindo o pensamento de Hölderlin, explica isso por uma espécie de lucidez tetânica de Sófocles, que consegue aceitar o deus mesmo que seu sentido seja o sofrimento, mesmo que o papel que esta divindade reserve ao homem seja o lugar do sofrimento e da injustiça. Segundo Reinhardt: Também a conclusão de Filoctetes é um ecce, mas não um ecce da coincidência devastadora do homem com a vontade dos deuses, tal como em Édipo rei, porém um ecce de separação absurda do andamento do mundo. O conflito entre a verdade divina e a aparência humana, aletheia e doxa – expresso de modo filosófico segundo Parmênides – do qual estava saturado o Édipo rei, dá lugar no Filoctetes à relação dolorosa entre a “parte” e o “todo”, no sentido conferido por Heráclito. Pois de modo diverso de Eurípides e Shakespeare, o poeta aqui não está do lado do que se liberta, mas do lado dos deuses que regem o mundo. (REINHARDT, 2007: 216) A leitura que Reinhardt faz de Sófocles é baseada nos temas de Hölderlin do afastamento do deus e da estrutura excêntrica, como centros de gravidade que de uma distância infinita se repelem e atraem, da relação entre o homem e divino. Assim, embora possamos aceitar que devido à tradição e à visão de mundo grega este deus seja aceito e respeitado, não conseguimos ver em Sófocles uma adesão tão imediata ao sentido deste deus. É verdade que em Filoctetes e Édipo em Colono há uma espécie de recompensa pelo sofrimento do herói, no caso de Filoctetes a recuperação de sua honra e de seu corpo, prometida pelos 110 olímpicos através de Hércules, no caso de Édipo sua ascensão no final da peça, quando desaparece “tragado” pelo deus em vez de simplesmente morrer. Mas o sofrimento já foi dado, ele não se apaga na ascensão. Desta perspectiva, o deus ex machina da aparição de Héracles não apaga os sofrimentos nem o abandono de Filoctetes. E o absoluto em que ele parece querer se dissipar, seu retorno ao centro, ao círculo celeste, é impossível sem a consciência do mal sofrido. Esta consciência é o dom que o trágico deixa à platéia. Esta consciência do mal em Ésquilo é aceitação da soberania divina, mas em Sófocles acreditamos que se dê algo distinto, talvez pelo estatuto do corpo em suas peças. A manifestação do deus sobre o homem é através das forças devastadoras do corpo: o tempo, a fome, o desejo, a dor. O deus em Sófocles é aquele que tortura o homem, que o castiga (ou que está tão distante que recusa até mesmo o castigo, como na leitura de Hölderlin sobre Édipo rei) por um crime que foi necessário – no momento em que o herói decide agir e seu ethos se manifesta, cada um de seus atos é inevitável para que o sentido de si se mantenha. Então, o que é castigado é a própria existência do herói, sua própria humanidade. E esta relação, em que há uma violência essencial, não simplesmente uma violência contra um ato específico em um sentido policial, mas uma violência de um poder fundador que se volta contra aquilo tudo que é o herói, é o elo entre deus e homem. A linguagem do deus é a violência, é pelo sofrimento que ele dá sua presença, e nesta conjugação entre conhecimento e violência temos a possibilidade de um ser humano mais plenamente livre do que sem o confronto. A condição para que a relação violenta entre deus e homem produza conhecimento é que o homem possa renunciar ao universo sensível, por um lado, e que o deus aceite a presença do homem, de sua liberdade e grandeza, como parte da ordem do mundo. Caso contrário, temos a falsificação do processo, um falso 111 conhecimento em que a relação entre homem e deus toma a forma perversa da tortura, de simplesmente um poder essencialmente cruel tentando manter seu domínio sobre o herói. Segundo Elaine Scarry: Tortura, então, para retornar por um momento para o ponto de início, consiste de um ato físico primário, a inflição de dor, e de um ato verbal primário, a interrogação. O ato verbal, por seu turno, consiste de duas partes, “ a pergunta” e “a resposta”, cada uma com conotações convencionais que a falsificam completamente. “A pergunta” é enganosamente entendida como “o motivo”; “a resposta” é enganosamente entendida como traição ... Uma é absolvição de responsabilidade, a outra é uma confissão de responsabilidade, as duas juntas viram de cabeça para baixo a realidade moral da tortura. (SCARRY, 1985: 35)12 Quando Scarry diz que a resposta do torturado é uma traição, ela se refere tanto ao fato do torturado estar “traindo” um companheiro quando fornece uma resposta ao interrogatório – daí a idéia de culpabilidade do interrogado – quanto ao fato de, ao atender à exigência do interrogador de uma confissão, a vítima reconhecer a justiça de sua pergunta. A lógica da tortura é uma falsificação da verdade da situação, mas está longe de ser algo leviano. Há uma dimensão teológica neste tipo de relação entre verdade e sofrimento, que é representada nas peças de Sófocles, e isto por uma coincidência de necessidade cênica e das transformações espirituais de sua época. Apenas no trágico esta relação entre um sofrimento infligido e uma linguagem que deve surgir do sofrimento é mais franca, sem as falsas premissas do processo de tortura, sem a falsificação de um poder que seja simplesmente mantenedor de uma ordem. Mas para que este processo de obtenção de conhecimento através do sofrimento seja verdadeiro, para que ele revele um poder fundador, um poder permanente e universal, é necessário o gesto de renúncia. É em Schelling, em sua X carta de Cartas sobre dogmatismo e criticismo, que podemos ler esta condição. Segundo Schelling: 112 A potência divina é demasiado sublime para ser corrompida por lisonjas, seus heróis são demasiado nobres para poderem ser salvos pela covardia. Aqui nada mais resta do que – lutar e sucumbir Mas tal luta também só é pensável através da arte trágica: não poderia tornar-se um sistema de agir [e podemos identificar aqui uma das raízes da restrição de Benjamin ao poder policial mantenedor da ordem,], já porque um tal sistema pressuporia uma raça de titãs e, sem essa pressuposição, redundaria, sem dúvida, na maior ruína para a humanidade. Se nossa espécie fosse destinada a ser torturada pelos terrores de um mundo invisível, não seria mais fácil ser covarde diante da potência superior desse mundo, estremecer diante do menor pensamento de liberdade, do que sucumbir lutando? Mas, de fato, se assim fosse, nos atormentariam mais os pavores do mundo presente do que os terrores do mundo futuro. O mesmo homem que mendigou sua existência no mundo supra-sensível torna-se, neste mundo, um espírito de flagelo da humanidade, que se enfurece contra si mesmo e contra os outros. Das humilhações daquele mundo, o domínio deste mundo deve desagravá-lo. Ao despertar das beatitudes daquele mundo, ele retorna a este para fazer dele um inferno. E é uma sorte se ele se embala nos braços daquele mundo para tornar-se, neste, uma criança moral. (SCHELLING in FICHTE; SCHELLING, 1973: 209) Para que haja substância ética, para que haja uma moralidade categórica, é necessário que o sofrimento humano (no pensamento idealista causado e sempre referente à distância entre o mundo finito do ser humano sensível e o infinito que ele anseia), seja uma expressão de sua disposição em se entregar à alteridade, e abandonar este mundo sensível. A coincidência entre aceitação do limite e, nesta aceitação, ainda assim manter o impulso em direção à alteridade divina, é o que permite que o deus surja. Assim, o que esta coincidência produz é aquilo que poderíamos chamar de conhecimento trágico. 3.4. Conhecimento trágico A confissão de Édipo em Édipo em Colono, quando o herói conta sua história e chega à conclusão de que foi mais vítima da necessidade que um agente consciente de seus 113 atos, e assim reconhece a grandeza divina, é uma destas instâncias de renúncia. Édipo trai sua liberdade, mas nesta traição há o abandono da unilateralidade de sua posição e o reconhecimento da alteridade do deus. O outro lado da moeda é que o deus é obrigado a aceitar Édipo em seu seio, traindo-se também, ao se manifestar e quebrar a distância entre deus e homem. Mas a base da reconciliação, assim como a base do conflito contra o deus, está no homem, no ato da confissão, já não a admissão de uma culpa ontológica, como num processo de tortura, mas a admissão da medida devida do ocorrido. Há uma dimensão de traição no ato de confessar – a dor do Édipo velho o obriga a confessar aos anciãos sua história, e nisso se desarma e se trai. A história de si, que tão ciosamente protege, é guardada por uma razão concreta: o temor de que sua impureza motive sua morte ou expulsão por outros. Quando Édipo confessa se abandona a uma solidão absoluta, em que mesmo o último umbral, a possibilidade de uma aparência mínima de normalidade, foi rompido. Mas é esta ruptura que permite sua redenção: é reconstruindo lucidamente sua história – afirmando o conhecimento de sua experiência, a de um indivíduo que sobrevive ao horror – que Édipo adquire de novo presença entre os homens. Sua fábula continua terrível, mas após o sofrimento de uma vida, o velho pode dizer “cheguei aonde cheguei nada sabendo”: Para que seve a fama e o belo nome, Se o que resulta é vão? Atenas (dizem) É uma pólis divino-devotíssima. Só ela abriga o forasteiro aflito, Só ela sabe como defendê-lo. Não sou merecedor do benefício? Desalojado, agora me banis? Meu nome atemoriza? Nem meus atos Remotos amedrontam, nem meu corpo. Os atos padeci, não cometi, 114 Se posso mencionar meus genitores, que fomentam o atual pavor. Bem sei. Nada macula minha natureza: Reagi ao que sofri. Acaso fui Agente ciente? Quem me diz que errei? Cheguei aonde cheguei nada sabendo; Sofri por quem, sabendo, me arruinou. (SÓFOCLES, 2005: vv. 258-274 (tradução de Trajano Vieira)13 Édipo se declara inocente, imputa a culpa a seus agressores. No caso, a referência é ao episódio do encontro com Laio, quando o cortejo do pai o ataca. Mas, considerando a ambigüidade do discurso de Sófocles, estes agressores podem ser também os deuses, a quem, como o pai, trata de confrontar agora. O mundo se desfaz, o mundo se refaz – o sofrimento é uma das maneiras do conhecimento. Daí o poder de sugestão que a catarse tem sobre a mente ocidental, tão grande que obscurece seu sentido original, médico e religioso, de expurgo. O sentido aristotélico da catarse é quase esquecido em nome daquilo que é o conhecimento trágico. Para que as emoções excessivas sejam expurgadas é preciso que sejam primeiro animadas, para que se possa superar o sofrimento – e, na tragédia, mais que isso, a própria morte – é preciso sofrer. E devemos entender este aprendizado pela dor não da maneira pragmática que a civilização moderna se acostumou a pensar: a experiência do sofrimento não se constrói como um acúmulo, como em alguma espécie de relação econômica com a vida, como se tanto trabalho/sofrimento gerasse tanto dinheiro/experiência. O conhecimento trágico se refere a algo mais essencial, a intuição de que, ao sofrer – e em Sófocles estamos falando de sofrimento concreto, corporal – tocamos o limite do negativo da morte, e assim conseguimos vislumbrar alguma coisa nova, talvez a outra metade inacessível da condição 115 humana, a que diz respeito apenas aos deuses. É assim também que lemos a fala de Filoctetes, buscando a terra e o céu ao mesmo tempo. Pensemos que o torturado mais célebre do ciclo trágico grego, o Prometeu de Ésquilo, em momento nenhum chega a conhecer algo novo, talvez porque possua presciência, mas também porque, ao contrário de Édipo, não se entrega totalmente ao negativo em que foi capturado. Prometeu não confessa, apenas relata o que aconteceu consigo. E relatar não é confessar: a confissão implica em uma internalização da rendição a um destino que Prometeu recusa. Embora sua experiência de sofrimento já aponte para aquilo que estamos chamando de conhecimento trágico, será apenas com Sófocles e Eurípides que teremos isto bem elaborado. Pois ao deus de Ésquilo é devida apenas obediência. Qualquer outra relação, que permitisse experimentar o divino como algo palpável, como um campo a ser conquistado, é vetada. Quando Sófocles representa a alma pelo corpo uma forma é encontrada, e esta forma, embora acreditemos que tenha surgido de razões práticas cênicas, tem como conseqüência uma nova visão. Para representar a parte divina do humano foi necessário utilizar o corpo, e para representar um corpo de forma mais intensa foi necessário atá-lo ao sofrimento. Alma é igual a corpo, que é igual a sofrimento, ergo, alma é igual a sofrimento. Isto projeta a experiência humana em um campo infernal, em que o sentido da vida, tanto do lado da experiência imanente e concreta da vida quanto do lado da intuição do divino é marcado pela dor. O deus de Ésquilo é a dura justiça necessária. Em Sófocles, no entanto, temos uma leitura notadamente distinta da relação do homem com o deus. Os personagens de Sófocles são essencialmente torturados pelo destino. Ele parece dramatizar o jogo de poder que se constrói entre torturado e vítima: a voz do corpo aponta para o silêncio do sentido, tanto o 116 sentido cósmico do papel do homem na ordem das coisas quanto do sentido moral da razão do sofrimento. Se a manifestação do deus, mais que a soberania divina esquiliana, é o personalíssimo infligir sofrimento a um indivíduo, então estamos em um universo em que o mal faz parte de uma certa ordem de manutenção da vida. Ao contrário de Jó, personagem quase trágico, o herói de Sófocles não aceita pacificamente a manifestação divina. O deus existe e exerce seu poder, mas este poder sem que o deus se aproxime do homem é vazio: é necessária a reconciliação para que o poder soberano do divino readquira significado. Quando em Colono Édipo declara sua inocência, quando diz que “Os atos padeci, não cometi”, este perdão é obtido mais através da própria consciência, de uma avaliação lúcida de seus atos, e não de um dom divino, de uma epifania ou de uma purificação – é Édipo que se autopurifica e declara inocente, não o ritual, não o deus. Sua “inocência” é uma afronta ao deus, em parte porque ela é parcial – Édipo continua sendo culpado de hybris, de ter suposto que sua razão pode se igualar à do deus – em parte porque esta liberação do erro é autoimputada. Nesta reafirmação da liberdade de si que é também traição de si, que reconhece o poder do deus mas exige que o deus, como Édipo, se torne outro e supere a distância, há o caminho para a reconciliação. A fronteira da mortalidade ainda vige, mas o conhecimento trágico é exatamente o processo espiritual pelo qual esta fronteira começa a ser devassada. A nova fronteira, baseada não simplesmente no reconhecimento do divino, mas no desejo de conhecer sua natureza, está sendo desenhada na tragédia. E esta natureza em seu efeito sobre o homem, o mal divino que é a força do tempo, da biologia, do frágil tecido do homem, não é plena e não corresponde à dignidade desta alma e pensamento. Assim podemos entender como a representação da alma pelo corpo é simultaneamente processo de encarnação e de espiritualização: ele dá uma forma corporal à alma e a liga 117 indissoluvelmente a um corpo, mas paralelamente estabelece a diferença abismal entre alma e corpo, pois no mais agudo da dor ainda há algo que resiste à dissolução, e este algo brilha com mais força exatamente quando a voz do corpo agonizante obriga a voz da alma a se calar. Nas palavras de Scarry: Pois o que o processo de tortura faz é dividir o ser humano em dois, para tornar enfática aquela distinção sempre presente, mas, a não ser no caso extremo de doença e morte, apenas latente entre uma consciência e um corpo, entre um “eu” e “meu corpo” ... [tortura é como a morte] pois na morte o corpo está empaticamente presente enquanto aquela outra parte elusiva representada pela voz está ausente de maneira tão alarmante que até céus são criados para explicar aonde foi. (SCARRY, 1985: 49)14 É como se os personagens de Sófocles tivessem, através do sofrimento, um vislumbre da estrutura “mitológica” em que o poder da tortura (e do divino sobre o homem) se baseia: o castigo é motivado, o sofrimento é merecido/ o interrogador é inocente, quem confessa é culpado. Neste vislumbre o herói trágico percebe o limite de realidade da relação entre homem e deus. A conclusão possível, que só se manifesta no vazio absoluto do divino em Eurípides, é que a relação entre homem e divino enquanto mantida na distância inconciliada é uma falsificação. A verdade desta relação só pode surgir na reconciliação, na renúncia mútua à distância. Os personagens de Sófocles são aqueles que se confrontam com a distância e exigem sua superação. Seu prêmio é conquistado por conta própria: o conhecimento de que o ser humano é frágil, mas que nesta fragilidade existe grandeza heróica, a grandeza de retornar a um lugar onde a agonia não seja o sentido unívoco do sofrido, enfim, uma consciência de si – de sua indestrutibilidade, digamos, e nisto Ésquilo já contribui. Este ir ao inferno e retornar, tocar o mal e a morte e ainda assim permanecer, é um tema constante de toda a cultura grega, em Hércules, Orfeu, Odisseu. A 118 novidade trágica é imaginar que mesmo o corpo humano devastado, ou seja, o corpo do homem real em oposição ao corpo do mito arcaico, é capaz deste feito. E aqui temos a semente espiritual da liberdade de pensamento e da ambição ilimitada da razão humana que levará à filosofia. Talvez este seja o sentido das máscaras de Górgonas que decoravam os teatros: conhece-te a ti mesmo: conhece-nos. E retorna. 1 Na tradução de Kury (SÓFOCLES , 2002: vv 7885) Procede como te aprouver; de qualquer modo/ Hei de enterrá-lo e será belo para mim / morrer cumprindo esse dever: repousarei/ ao lado dele, amada por quem tanto amei/ e santo é o meu delito, pois terei de amar / aos mortos muito, muito tempo mais que aos vivos./ Eu jazerei eternamente sob a terra E tu, se queres, foge à lei mais cara aos deuses. 2 Na tradução de Kury (SÓFOCLES In ÉSQUILO; SÓFOCLES; EURÍPIDES, 2007: vv 1175-1186) OR Ah! Dize-me senhora: teu nome é Electra? El Este é o nome muito infeliz que sou... OR Lamento imensamente tanta desventura!... EL Será mesmo de mim que te condóis, senhor? OR Devem ser grandes tuas penas. Sinto muito... EL Tuas palavras cabem-me como a ninguém. OR Destino amargo!... Sem esposo... Desditosa... EL Por que te mostras comovido, forasteiro? OR Não tinha consciência de meus próprios males... EL E como percebeste isto neste instante? OR Vendo teus sofrimentos, tantos e tão grandes Na tradução de Jebb (SÓFOCLES, 1894a) Or El Or El Or El Or El Or El Or 3 Is this the illustrious form of Electra? It is, though in a very wretched state. What pity, then, for this miserable fortune! Surely, stranger, you are not saddened like this on my account? O frame dishonorably, godlessly wasted! Those ills of which you speak, stranger, are none other's than mine. Ah, pity for your unwed, ill-fated life! Why, stranger, do you stare and grieve in this way? How I knew nothing, it seems, of my own sorrows! What that has been said made you realize this? It was the sight of you conspicuous in your many sufferings. Na tradução de Kury (SÓFOCLES In ÉSQUILO; SÓFOCLES; EURÍPIDES, 2007: vv 1218-36) 119 (Orestes tira gentilmente a urna das mãos de Electra) EL Então onde é a tumba do infeliz Orestes? OR Em parte alguma; os vivos não têm sepultura. OR Que me dizes, menino? OR Digo-te a verdade. EL Então ele ainda vive? OR Não pareço vivo? EL És ele? OR Sou. Observa bem este sinete, Outrora de meu pai, e dize que não sou! EL Bendito dia! OR Mais ainda para mim! EL É esta tua voz? OR Só esta escutarás! EL (abraçando Orestes) Tenho-te então nos braços? OR Terás para sempre! EL Amigas minhas! Eis Orestes! Contemplai-o! Fingindo-se de morto, ei-lo afinal de volta, vivo e saudável, graças a seu fingimento CO Estamos vendo, filha, e por esta ventura Choramos incontidas lágrimas de júbilo! EL Filho de um pai extremamente amado, Chegaste aqui de volta finalmente! Vieste, achaste e viste quem querias! OR Este era o meu desejo, mas guarda silêncio EL Por quê? OR Calemos ambos; alguém pode ouvir-nos Na tradução de Jebb (SÓFOCLES, 1894: 1218-36) EL OR EL OR EL OR EL OR EL OR EL OR EL OR EL CH EL OR EL OR And where is that sufferer's tomb? There is none; the living have no tomb. What are you saying, boy? Nothing that is untrue. The man is alive? If there is life in me. What? Are you he? Look at this signet, once our father's, and know if I speak the truth. O blissful day! Blissful, I am your witness! Is this your voice? Hear it from no other. Do I hold you in my arms? May you hold me so always hereafter! Ah, dear friends and fellow-citizens, see Orestes here, who was dead by design, and now by design has come safely home! We see him, daughter, and for this happy turn of fortune a tear of joy trickles from our eyes. O seed, seed of the person to me most dear, you have just now come, you have come, and have found and seen her whom your heart desired! I am with you; but keep silence and wait. What do you mean? It is better to be silent so that no one inside may hear. 120 4 Na tradução de E. P. Coleridge (EURÍPIDES, 1938: vv 576-598) VElho Then do you hesitate to embrace your dearest one? EL Not any longer, old man; for my heart is persuaded by your tokens. O you who have appeared at last, I hold you, beyond all hope. OR And you are held by me at last. EL I never expected it. OR or did I hope. EL Are you that one? OR Yes, your one ally. If I draw back the cast of the net I am aiming for—but I have confidence; or else we must no longer believe in gods, if wrong is to be victorious over right. OR Well; I have the loving pleasures of your greeting and later I will give them back in turn. 5 Tradução própria do original em inglês: We can deduce something of the actual gestures used by Greek orators. Once again, Aeschines is valuable. His speeches, crammed with personal invective, describe the behaviour of his opponents. He tells us that it was a typical gesture of Demosthenes to put his hand to his forehead. This was also a common gesture of the stage. Elsewhere, Aeschines describes his rival as ‘twirling around’. This suggests an animated delivery [hypokrisis], and lively physical accompaniment. From Demosthenes speech against Theokrines, it appears that it was perfectly in order for de defendant to throw himself at his opponents feet, a theatrical touch still permissible in the lawcourts 6 Na tradução de Kury (SÓFOCLES, 2002, Édipo em Colono: vv 1300-1324) Não deves admirar-te se estou abusando E se prolongo esta conversa na presença Destas meninas que reencontrei agora, Quando já não tinha esperança de revê-las. Sei que minha alegria em relação a elas Me vem de ti, de mais ninguém, pois as salvaste, Apenas tu entre os mortais; suplico aos deuses Que te protejam e ao teu povo como quero, Pois entre vós, acima de todos os homens, Encontrei piedade, retidão, e lábios Avessos à mentira; sei bem o que digo Quando te recompenso, embora com palavras, Pois recebi de ti, Teseu, tudo que tenho, E de nenhum outro mortal. Peço-te, rei, Que me estendas agora a tua mão direita; Quero apertá-la, e se for lícito desejo Beijar-te a fronte... Mas me excedo na ousadia! Como, sendo o infeliz que sou, posso atrever-me A impor-te contacto com um homem cujo corpo Abriga a mácula de todos os pecados? Não vou tocar-te, nem permito que me toques, Somente quem passou por provações iguais 121 Pode participar das minhas; cumprimento-te De onde me encontro e peço-te que no futuro Me ajudes lealmente como até agora. Na tradução de Jebb (SÓFOCLES, 1889b: vv. 1119-1138) Stranger, do not be amazed at my persistence, if I prolong my words to my children, found again beyond my hope. I well know that my present joy in them has come to me from you, and you alone, for you—and not any other mortal—have rescued them. May the gods grant to you my wish, both to you yourself and to this land; for among you, above all mankind, I have found piety, the spirit of decency, and lips that tell no lie. I know these things, and I repay them with these words; for what I have, I have through you, and no one else. Stretch out to me your right hand, lord, that I may touch it; and if it is right, let me kiss your cheek. But what am I saying? Wretched as I have become, how could I wish you to touch a man in whom every stain of evils has made its dwelling? I will not touch you—nor will I allow it, if you do consent. They alone, who know them, can share these burdens. Receive my greeting where you stand, and in the future too give me your righteous care, as you have given it up to this hour. 7 Tradução própria do original em inglês: In the internal relationship of acting area to auditorium, we can discern a historical shift upon the introduction of the skênê or façade. Initially there was no stage wall, and the audience gathered around a dancing space which did not in any way purpot to mirror reality. Such a performance would be termed by Ubersfeld as ludus (festive enactement) rather than mimesis (imitation of reality) within an acting space which approximates to her ‘platform’ model. The skênê created a hidden off-stage area and the consequent illusion that the visible action extended where the audience could not see it. 8 Tradução própria do original em inglês: In the Greek variant of this combination, certain local societal associations appear. Greek society was, primarily, an open-air society. Meetings, assemblies, courts, tribunals, business dealings, and religious ceremonies commonly took place outdoors, in the full light of the sun. Greek slept on their roofs (as they still tend to do) and carried on a good deal of their private life in the streets. Conversely, indoors is often tainted with furtiveness and suspicion. What cannot be openly seen is potentially dangerous. This feeling washes over the plays. What is good, honest, and open tends to happen outside; what is sly, furtive, and malicious, inside. In Agamemnon the palace is a place of festering evil, that the king enters to meet his doom. In Antigone the heroine, seeking conversation with her sister, leads Ismene ‘outside the courtyard’, rather then, as we would, to some private and protected place indoors. In Medea, the house is a demonic place from which Medea’s voice is first heard threatening and which ultimately sucks her children inside to their destruction 9 Na versão de Jebb (SÓFOCLES, 1892: vv. 1275-1278) And you, maiden, do not be left at the house. You have seen immense, shocking death, with sorrows great in number and strange. And in all of them there is nothing that is not Zeus. 10 To witness the moment when pain causes a reversion to the pre-language of cries and groans is to witness the destruction of language, but conversely, to be present when a person moves up out of that pre-language and projects the facts of sentiense into speech is almost to have been permited to be present at the birth of language itself. 11 Na versão de Jebb (SÓFOCLES, 1898: vv 812-820) 122 FI NE FI NE FI NE FI NE FI 12 Up there! What is this new delirium? Why do you gaze at the dome above us? Let me go, let me go! Where will you go, if I do so? Let me go, I say! I will not. You will kill me, if you touch me further. There, then, I release you—if in fact you believe it is for the better. Wide Earth, embrace me now on the verge of death! This pain no longer lets me stand up. Tradução própria do original em inglês: Torture, then, to return for a moment to the starting point, consist of a primary physical act, the infliction of pain, and a primary verbal act, the interrogation. The verbal act, in turn, consists of two parts, “the question” and “the answer”, each with conventional connotations that wholly falsify it. “The question” is mistakenly understood to be “the motive”; “the answer” is mistakenly understood to be betrayal … The one is absolution of responsibility,; the other is a confessing of responsibility, the two together turn the moral reality of torture upside down. 13 Na tradução de Kury (SÓFOCLES, 2002, Édipo em Colono: vv. 264-286) Que bem, então, resulta da reputação E glória, se tudo termina em vãs palavras? Disseram-nos que Atenas era uma cidade Temente aos deuses mais que todas, a única Pronta a salvar um forasteiro ameaçado, A única também capaz de protegê-lo. Onde estará agora esta disposição Quando se trata de mim, se pouco depois De me haveres persuadido a abandonar O assento, me expulsais assim, apavorados Apenas por ouvir meu nome? Não agistes Por causa de minha pessoa e de meus atos. Se eu pude falar agora de meu pai E minha mãe, perceberíeis que meus atos Foram de fato muito mais sofridos Que cometidos, e apenas por causa deles Me escorraçais agora cheios de terror Para longe de vós (sei disso muito bem). Seria eu, então, um criminoso nato, Eu, que somente reagi a uma ofensa? Ainda que tivesse agido a sangue frio Não poderíeis chamar-me de criminoso. Mas, no meu caso, cheguei até onde fui Sem perceber; meus agressores, ao contrário, Queriam destruir-me conscientemente. Na tradução de Jebb (SÓFOCLES, 1894b: vv. 258-274) 123 What help comes, then, of repute or fair fame, if it ends in idle breath; seeing that Athens, as men say, is godfearing beyond all, and alone has the power to shelter the outraged stranger, and alone the power to help him? And where are these things for me, when, after making me rise up from this rocky seat, you then drive me from the land, afraid of my name alone? Not, surely, afraid of my person or of my acts; since my acts, at least, have been in suffering rather than doing—if I must mention the tale of my mother and my father, because of which you fear me. That know I full well. And yet how was I innately evil? I, who was merely requiting a wrong, so that, had I been acting with knowledge, even then I could not be accounted evil. But, as it was, all unknowing I went where I went—while they who wronged me knowingly sought my ruin. 14 Tradução própria do original em inglês: For what the process of torture does is to split the human being into two, to make emphatic the ever present, but, except in the extremity of sickness and death, only latent distinction between a self and a body, between a “me” and “my body” … [torture is like death] for in death the body is emphatically present while that more elusive part represented by the voice is so alarmingly absent that heavens are created to explain its whereabouts. 124 4: EURÍPIDES 4.1. A ambigüidade Eurípides A imagem de Eurípides ficou marcada para nós como a do autor ambíguo que ao mesmo tempo mantém e destrói a tragédia. A leitura moderna passa muito pela posição de Nietzsche, que considera a tragédia de Eurípides como o fim da era trágica dos gregos: já não a grandeza da tensão trágica, mas um tipo de arte que estaria tão próxima do espírito da filosofia platônica que já não poderíamos falar de um espírito trágico. A contra-face desta leitura é a posição de Eurípides na antiguidade e mesmo nos ciclos trágicos modernos: foi o autor mais popular entre os pósteros da Atenas clássica, e através de Sêneca influenciou a tragédia de Shakespeare. Racine tem uma Fedra, e a mente presa em um pesadelo dos antiheróis shakespeareanos típicos, como Macbeth, Hamlet ou Lear, está muito mais próxima de Medéia e de Hércules do que de Édipo ou Orestes. Então nesta imagem se confundem ao mesmo tempo o traidor do espírito trágico e o autor cuja leitura foi responsável pela renovação do trágico. Talvez aqui nós possamos nos referir à distinção entre uma leitura colada a um projeto filosófico e uma outra que se cola a um projeto estético. Aquela percebe a obra de Eurípides como deletéria, um vacilo que quase escapa da espécie, da idéia de trágico, e que ajuda a fundar a metafísica, este grande pecado do Ocidente. A leitura estética, a dos próprios autores, e, provavelmente, a do público, percebe em vez disso paixão e êxtase, acima de tudo uma imagem do homem transfigurada pela emoção, e utiliza o legado desta imagem para construir a tragédia moderna. 125 Esta é a imagem de Eurípides entre os que vieram depois, entre os próprios gregos a ambigüidade do autor não é muito distinta. Aristóteles chama-o de “o mais trágico”, provavelmente por entender que na obra de Eurípides o efeito catártico é atingido de forma mais direta e intensa. Isto aponta para o fato de que, provavelmente para a Atenas que estava construindo a filosofia e passando pela experiência limite da guerra do Peloponeso, os valores representados em Ésquilo e Sófocles já não diziam tanto quanto há alguns anos. É óbvio para Aristóteles que as peças de Eurípides são imperfeitas, no sentido de que o tipo de artesanato sutil que vemos em Sófocles e o peso orgânico das obras de Ésquilo estão completamente ausentes do corpo da obra de Eurípides. Suas peças são compostas de episódios fragmentários, sem muita preocupação com a concatenação entre causas e efeitos que é um dos encantos até hoje na obra dos dois outros tragediógrafos. Eurípides, por outro lado, se preocupa muito mais em representar aquilo que poderíamos chamar anacronicamente de dimensão psicológica dos personagens, suas motivações e paixões. O outro comentador autorizado da obra de Eurípides é Aristófanes. O retrato pintado pelo comediógrafo, um Eurípides que representa a fraqueza de mulheres e de mendigos em vez da grandeza heróica que marca a obra de Ésquilo, é o índice de como a obra de Eurípides era percebida por uma parte mais conservadora da sociedade ateniense. Eurípides teria ensinado o povo a falar em suas peças, mas, ao custo de ter enfraquecido sua têmpera. Se Os sete chefes contra Tebas de Ésquilo é uma peça cheia de Ares, cheia de emoção marcial e celebração de um páthos guerreiro, As fenícias, que trata do mesmo tema, ou As troianas, que representa a situação das mulheres troianas escravizadas após a queda da cidade, são peças antibélicas, e, como Aristófanes acusa Eurípides, peças femininas, de lamento feminino pela guerra. Assim, em Aristóteles e Aristófanes podemos encontrar o 126 desenho essencial daquilo que incomodava aos contemporâneos do autor trágico. No filósofo, há a reclamação de que Eurípides parece abdicar de uma espécie de ilusão cênica – pois a sua fabulação, por ser às vezes incoerente e mal concatenada, obriga o espectador todo instante a se lembrar de que está diante de uma obra de artifício, que nada daquilo é verdade, ou então, o que é pior, que qualquer coisa é possível, que o milagre e o acaso fazem parte da experiência representada. Quando Aristóteles acusa a inverossimilhança da aparição de Egito em Medéia, é isto que está em jogo, a exigência do filósofo de que o círculo mágico da representação teatral seja mimético de uma maneira conseqüente, que os mecanismos de causa e efeito que constroem a realidade concreta da vida estejam presentes também nas peças. A acusação de Aristófanes, da “feminilidade” e da miséria humana dos personagens de Eurípides, estranhamente tem um sentido quase inverso da reclamação de Aristóteles. O protesto de Aristófanes contra o tragediógrafo é de que os personagens de Eurípedes são excessivamente banais, que suas questões são questões menores, ou ao menos pouco adequadas a um certo pudor heróico. A “garrafinha” que o personagem de Ésquilo põe na conclusão de todas as falas do personagem de Eurípides é exatamente a medida desta banalidade EU “Egito, segundo a tradição comum, alçando as velas para ir a Argos com seus cinqüenta filhos...” ES ... perdeu sua garrafinha. EU Que significa esta garrafinha? Você se arrependerá por isto! DIÔNISO Recite para ele outro prólogo, Eurípides, queremos ouvir mais. EU “Diôniso que, armado com o tirso e coberto de peles de veadinhos, dança no cume do Parnaso à luz das tochas...” ES ... e perdeu sua garrafinha. EU Para o golpe, eis aqui um prólogo ao qual ele não o poderá aplicar: “Não existe homem algum feliz em tudo; um oriundo de uma ilustre origem, não tem fortuna; outro de nascimento obscuro...” ES ... perdeu sua garrafinha. DI Eurípides! 127 ARISTÓFANES, As rãs, 2004: pp 258-259 (trad. Mário da Gama Kury)1 Mas a banalidade algo burguesa dos personagens de Eurípides está relacionada ao desejo de representar homens, mulheres e paixões reais. Miséria humana, medo, estupidez, são sentimentos bastante comuns nas peças de Eurípides, e marcam a diferença deste autor em relação aos outros dois tragediógrafos. A prescrição aristotélica, de que o personagem trágico não deve ser nem muito superior nem muito inferior ao homem normal, serve muito bem para caracterizar as peças de Eurípides, mas nem tanto a têmpera heróica de Prometeu, Ájax ou Orestes, ou a crueldade absoluta de Clitemnestra, ou a firmeza moral de Filoctetes e Antígona, ou a coragem espiritual de Édipo. Seus personagens são mais verossímeis, são homens conforme são de verdade, como Aristóteles ressalta na Arte poética: A seguir, supondo que a acusação seja “Isto não é verdade”, pode-se respondê-la dizendo “Mas talvez pudesse ser”, como Sófocles, que disse que retratava as pessoas como deveriam ser e Eurípides como elas eram. (Poetica, XX, 1460b; ARISTÓTELES, 1932, v. 23)2 Quando Eurípides abdica desta figuração, ao abandonar a representação de um caráter maior que a vida, e, ao contrário, insiste em almas excessivamente cheias de problemas e fraquezas, ambíguas e demasiadamente humanas, Aristófanes enxerga um sinal de decadência, de um poeta que recusa seu papel de pedagogo e investe em uma mimese distinta da que vinha sendo feita até então. Os personagens de Eurípides são mais verossímeis em um sentido realista (e é deste realismo excessivo que Aristófanes reclama), mas são menos se pensarmos na missão tradicional da tragédia ática, o fortalecimento do espírito e a construção da virtude. Eurípides passa a representar homens e não homens e deuses, como Ésquilo e Sófocles, e nisto há a ruptura com uma tradição religiosa e ética 128 que Aristófanes não consegue perdoar. Acima de tudo, há a recusa do poeta de um papel de vate, de voz do invisível e antena do deus, como Platão caracteriza o poeta no Íon, mas recusa também em declarar que este invisível na verdade é cognoscível, como faria a filosofia. Eurípedes não é mais um vate e não é ainda um filósofo, e esta recusa dupla é que define seu lugar na ordem trágica. Jaeger vai descrevê-lo como um autor entre dois mundos, que nem concorda com os valores tradicionais em que a tragédia se formou nem adere plenamente ao racionalismo de que a filosofia platônica seria o grande furto. Segundo Jaeger: Eurípides é o último grande poeta grego no sentido antigo da palavra. Mas também ele tem um pé distante daquele em que a tragédia grega nasceu. A antiguidade o chamou de filósofo do palco. Na verdade pertence a dois mundos. Nós o situamos ainda no mundo antigo, que estava destinado a derrubar, mas que brilha mais uma vez na sua obra com o mais alto esplendor. A poesia conserva ainda para ele o antigo papel de guia. Mas abre o caminho ao novo espírito que a arredaria da sua posição tradicional. É um daqueles grandes paradoxos nos quais a história se compraz. (JAEGER, 1995: 396) É um homem da crítica do humano, mas não um homem que proponha um novo humano. É assim que tentaremos ler a sua obra a seguir. 4.2. O que se imita O que é representado nas obras de Eurípides? A resposta imediata é a paixão humana. As paixões humanas, já não ligadas a uma força exterior ao homem, como na visão tradicional que ao menos Ésquilo adota plenamente, é o que move e brilha mais forte nas tragédias de Eurípides. Nós vamos retornar a isso mais à frente, mas por enquanto 129 vamos concordar que a mimese euripidiana tem a pretensão de representar o mundo sentimental e psicológico dos personagens. Este é o plano principal da ação trágica, é nos sentimentos dos personagens, em suas decisões e medos, que encontramos a base de suas ações. Tentamos até aqui demonstrar que na tragédia há paulatinamente a possibilidade formal de representar este homem interior, primeiro na indestrutibilidade esquiliana e em seguida na maneira como esta indestrutibilidade se torna presença agônica de uma alma e de um corpo em Sófocles. Nos dois casos, este homem interior que vai surgindo se põe necessariamente em relação a uma força violenta, a manifestação do deus, que limita e destrói os esforços humanos. Nos dois tragediógrafos há também a pretensão de um absoluto moral nesta manifestação, e temos já o indício de uma autonomia moral humana. O que Eurípides vai fazer é utilizar estes temas, mas estabelecendo uma mudança fundamental: em sua literatura o lugar do deus é um lugar vazio. E neste vazio do divino, que não é simplesmente o retraimento de Ésquilo e Sófocles, mas de fato uma ausência de presença divina atuando sobre o mundo. Não é que em Eurípedes os deuses sejam cruéis com os homens, eles simplesmente não existem ou não se importam. Nesta ausência existe a possibilidade do humano surgir como motor da ação, mas sempre de uma forma destrutiva e problemática. Pois se a razão divina é unívoca, a razão humana é múltipla, e se a justiça dos deuses, embora cruel, é um fundo de sentido que impede o absurdo, esta garantia não é dada em um mundo totalmente imanente. Abandonada a si mesma, a alma humana, já de saída solitária, torna-se um lugar de pesadelo. Se o deus nos outros tragediógrafos é uma maneira de se aproximar do mal da existência e de pensar o lugar do negativo em uma economia da vida, quando o deus deixa de existir como um pressuposto ético e religioso para a ação humana, este mal é 130 internalizado para o círculo dos homens e seus desejos e razões. É preciso deixar claro que o que estamos dizendo não implica necessariamente em um ateísmo de Eurípides. Em suas peças há a presença formal de deuses, e em uma obra como Hipólito ou As Bacantes as divindades são ainda os motores por trás da destruição humana. Em As troianas o grande plano da ação é também definido pelo diálogo entre Posidon e Atena, e em As fenícias é o elemento mágico da maldição paterna que justifica a ruína dos labdácidas. Mas em todos estes casos, o que é representado não é a relação dos homens com estas potências, mas sim a relação dos homens entre si: o que importa para Eurípides não é mostrar a imposição do deus sobre o homem, como no caso de Édipo ou do Orestes da Orestéia, não a relação deste homem com o absoluto devastador da divindade, mas sim como funciona a alma humana em certas situações limites, como o homem se move, e discute, e age quando está diante de coisas terríveis. Ou seja, quando Eurípides representa o mal, suas peças não procuram tocar o humano sob o jugo da divindade, mas sim tocar o humano sob o jugo de si mesmo. Isto significa que suas peças são geralmente estudos de situações: como um certo homem ou mulher agem em tal situação, o que passa pela cabeça de tal personagem se perde um filho ou é ameaçado de morte, até que ponto um herói é realmente heróico se confrontado com o medo e a dor, o que passa pela mente de um homem em uma situação difícil. Estas situações, que em Ésquilo e Sófocles são maneiras de projetar o divino no homem, se tornam em Eurípides o puro jogo de possibilidades morais e afetivas. Vem daí o aspecto fragmentário e episódico de suas obras, em que a ação surge destes “comos”, e não do império de uma força inumana encarnada em uma causalidade cega. A exceção a este comentário seria As bacantes, em que o divino tem de fato uma importância excepcional, 131 mas fora este caso, suas peças representam som e fúria para que o homem, exclusivamente, e não o deus, surja com mais força. Uma das conseqüências deste “humanismo” euripidiana é a baixa estima com que o autor foi considerado durante o idealismo. A tragédia de Hegel e de Hölderlin é a de Ésquilo e Sófocles, e Eurípides entra como um termo estranho, ligado em praticamente toda a tradição filosófica do século XIX, de Schelling a Nietzsche, como o autor que personifica a decadência do espírito clássico grego. Isto se liga especialmente ao quanto o absoluto da decisão trágica, que leva ao conflito do herói com a divindade, é tornado uma coisa multifacetada, já não mediado pelo outro absoluto da divindade mas sim pelos vários pontos de vista das paixões dos personagens que se confrontam. Talvez a maneira de apresentarmos isto adequadamente seja pensar que o silêncio divino que Ésquilo e Sófocles utilizam para se contrapor à ação humana, o incognoscível e inumano que constrói a alteridade do homem, é preenchido por Eurípides. Seus deuses cessam de ser aquilo que está distante e que serve de campo negativo ao homem e se tornam seres humanos, ao menos em termos de motivação, e na sua maneira de agir, deixam de ser um outro em relação ao humano. O sentido desta decadência varia de autor para autor, mas de um modo geral ela se relaciona ao surgimento da metafísica como uma perda de espontaneidade, quando o vigor de uma substância ética, para usar o termo de Hegel, que se manifestava na vida concreta e na arte, passa a se manifestar na filosofia. Em Hegel isto significa um amor vazio do pensamento pelo pensamento, quando os conflitos são retirados de seu solo vital, a vida concreta da ação, e se tornam abstrações. Se identificamos os valores de Eurípides com aqueles dos sofistas, o comentário de Hegel em sua Filosofia da história sobre a sofística se aplica também à arte de Eurípides: 132 Paralelamente ao progresso no desenvolvimento da arte religiosa e da situação política, progride o fortalecimento do inimigo destruidor: o pensamento. E na época da Guerra do Peloponeso a ciência já estava bastante desenvolvida. Com os sofistas, teve início a reflexão sobre o existente e o raciocínio. Exatamente essa atividade e ocupação, que vimos entre os gregos na vida prática e no exercício da arte, mostra-se também, entre eles, nas oscilações das representações. Assim como as coisas sensíveis da atividade humana são alteradas, processadas e deturpadas, também o conteúdo do espírito, o significado, o sabido, oscila, tornando-se objeto de atividade, esta se transforma em um interesse em si. A reviravolta do pensamento e o prazer interior nele contido, esse jogo sem interesses, tornam-se o próprio interesse. ... Mas essa formação do pensamento tornou-se o meio de impor intenções e interesses ao povo. O sofista experiente sabia como manipular um conceito para este ou aquele fim; assim, estavam abertas todas as portas para as paixões. Um dos princípios supremos dos sofistas era: “O homem é a medida de todas as coisas”. Também aqui, como em todos os aforismos deste gênero, existe ambigüidade, ou seja, o homem pode ser o espírito em sua profundidade e veracidade, ou também em suas arbitrariedades e interesses especiais. Os sofistas referiam-se apenas aos homens como subjetivos; com isso, explicavam a arbitrariedade pelo princípio daquilo que era justo e apontavam o que era útil ao sujeito como a última razão determinante. (HEGEL, 1999: 227) Paradoxalmente, é na obra em que o deus está ausente que o milagre acontece com mais facilidade. Se pensamos na maneira como Sófocles e Ésquilo encadeiam a ação de suas peças, percebemos que todo seu esforço se volta para construir situações em que a ação humana se misture com a direção divina. É preciso para que os deuses se manifestem que sua influência tenha um reflexo imanente: em Ájax, Atena pune Ájax, mas sua hybris é provocada pela decisão dos gregos em entregar as armas de Aquiles a Ulisses, a morte de Clitemnestra em As coéforas é uma exigência do oráculo, mas é justificada no plano mundano pelo muito humano desejo de vingança de Orestes, o Édipo de Édipo rei é o homem tocado pelo deus, mas é sua reação soberana a uma situação adversa, a praga de Tebas, que põe a ação em andamento, a derrota dos persas em Os persas é um decreto divino, mas é a ambição de Xerxes que leva seu exército a ser destruído. Em todos estes casos há um reflexo entre o plano divino e aquele da decisão humana. Frances Cornford, em seu livro que desenha um Tucídides trágico, se refere a este processo como uma evolução natural do pensamento religioso grego: primeiro os gregos representam este 133 homem interior como tomado por demônios, os sentimentos divinizados como o medo, o amor, o orgulho, etc (que são deuses de fato e não alegorias), para, no início da era trágica termos estas forças sobrenaturais em um equilíbrio delicado com o universo imanente de causa, efeito e volição. Nas palavras de Cornford, em seu Thucydides mythistoricus: A teoria envolve um equilíbrio tão delicado entre natural e sobrehumano, um comprometimento tão fino entre fé e conhecimento, que não pode ser mantido por muito tempo. A balança precisa se inclinar, e não há dúvida de qual prato vai cair. O sobrenatural precisa se dissolver e retroceder. Os deuses precisam render de novo ao homem a vida com que, como ele lentamente aprende, ele a seu próprio custo profusamente lhes doou. A natureza humana entra de novo em seu domínio alienado, consciente de si, e de nada mais que um mundo material que está centrado ao seu redor. Desejo e esperança precisam resignar de sua forma-sonho, e tudo que restará dele [o sobrenatural] é um movimento acalorado do sangue, a excitação de um nervo que pulsa (CORNFORD, 1907: 236-37).3 A referência a “forma-sonho” é uma ressonância do apolíneo nietzscheano, e aponta para a justificativa da ojeriza do alemão por Eurípedes: nele o brilho gratuito dos olímpicos estaria completamente apagado em benefício do mundo da seriedade histórica. Pois o reflexo do divino no humano já não é uma cadeia necessária como em Sófocles e Ésquilo, mas um elemento formal que Eurípides mantém da forma trágica, sem que tenha muitas conseqüências para a ação. Ou ainda: aquilo que os personagens fazem nas peças de Eurípides se refere apenas ao mundo dos homens, e muito pouco ao mundo dos deuses. É Afrodite que motiva a paixão de Fedra em Hipólito, mas sua morte e a de Hipólito nascem de um mecanismo concreto de vergonha e ciúmes, e as deusas ali já não são a força cega que destrói Édipo e Filoctetes ou o poder puro de Zeus. Suas motivações são tão cognoscíveis e sua ação tão direta quanto as de Iago de Otelo. Nas palavras de Lesky: 134 Tanto na cena final que acabamos de esboçar, como no prólogo pronunciado por Afrodite, encontramos passos que fazem aparecer todo o conflito como uma disputa entre as duas deusas, pela categoria e pela honra. Como podemos explicar isto precisamente neste drama, que nos parece modelado a partir do espaço humano? Eurípides não acreditava na existência dessas divindades, e as cenas em que aparecem estão separadas por um abismo (chamado sofística) das cenas dos deuses na Orestéia ou da cena inicial de Ájax, com Atena. (LESKY, 1995: 398) O deus humanizado, no sentido de ser figurado como um personagem de motivações compreensíveis do universo de valores dos homens, está ausente nos outros tragediógrafos, e é um traço específico de Eurípides. É nestes termos que devemos entender, então, o vazio do deus em sua obra, não como a ausência formal da presença divina – aliás, os deuses olímpicos são muito mais figurados em Eurípides do que em Ésquilo e Sófocles – , mas sim pelos fato de que esta presença é limitada a uma razão humana, o que, na verdade, esvazia de sentido o deus. Este espaço da divindade como um espaço vazio tem suas conseqüências na obra de Eurípides, tanto em sua recepção, e os ataques de Aristófanes são uma boa medida de como um público culto tradicionalista enxergava a obra do poeta, quanto na lógica interna de sua literatura. A presença meramente tradicional da divindade, como um traço de estilo a que não se pode fugir, teria também a vantagem de estabelecer uma comunicação mais direta com seu público. Através da figuração deste ou daquele deus, Eurípides conseguia estabelecer de maneira imediata um campo de interpretação para sua obra. Mas dificilmente esta presença formal pode ser interpretada como uma religiosidade de fato. A figura é a mesma, mas apenas na religião tradicional podemos falar em um deus não humano, que é, na verdade, o único deus possível. 135 4.3. Deuses e homens Em termos de fabulação, a conseqüência do deus humanizado é que o milagre se torna algo fácil. O carro do sol que serve para Medéia fugir, o resgate de Alceste do inferno, a Helena simulacro de Helena, estes todos são elementos estranhos a uma mentalidade que tenha de levar a divindade a sério. Os deuses nas outras tragédias têm uma atuação muito mais discreta, e mesmo a Atena de Ájax e de As Eumênides, que interage com os atores de uma forma mais ativa, é ainda uma força do desconhecido, realizando milagres menores como causar um delírio e organizar um tribunal. Apenas uma divindade decaída faz milagres, pois o pensamento ainda religioso só suporta um contato tão direto com o deus no passado mítico. No pensamento ainda mítico, em que o deus é o limite do humano, sua manifestação é necessariamente através dos mecanismos cósmicos de causa e efeito, dor, destino. É um pensamento racionalizante que concebe a divindade como algo que dobra a realidade de forma espetacular, porque neste pensamento este é o único lugar da divindade na imaginação. Épocas e sociedades de fato religiosas precisam do distanciamento do deus em seu cotidiano, e sua comunicação se estabelece através do ritual e do respeito à tradição mítica, não através do milagre, da presença concreta do deus. Isto só chega a ser um problema para a forma trágica porque, ao contrário do discurso épico ou religioso, em que fica estabelecido um corte definitivo entre passado mítico e presente histórico, o tempo da narrativa trágica é simultaneamente o tempo mítico e o tempo histórico, com referências tanto a um quanto a outro universo. Nas palavras de Easterling em seu ensaio Myth into muthos: the shaping of tragic plot: 136 O que é crucial é a mistura de passado e presente: a ambientação em tempos heróicos de maneira nenhuma interdita referências ao mundo contemporâneo, e de fato depende de uma multidão de lembretes irônicos à audiência de que eles estão no presente, assistindo a eventos que pretendem estar acontecendo em um outro tempo e lugar. Quanto mais esta tensão pode ser explorada, mais poderosamente a peça deve ser capaz de capturar sua audiência. (EASTERLING In EASTERLING, 1997: 167)4 Embora em Eurípides o paradoxo de que menos religião signifique mais milagre esteja muito presente, em todo o corpo trágico há este jogo entre visível e invisível, entre razão e mito, em que o primeiro termo paulatinamente anula o segundo. O distinto em Eurípides é que esta tensão, que nunca chega a ser resolvida nos outros tragediógrafos, oscila entre uma presença tão forte do mito que este se concretiza em cenas absurdas, inverossímeis em relação ao resto da tradição trágica que nos restou e à tradição religiosa como um todo, ou a pura ausência do divino como motivo da ação. O modelo mais usual da representação dos deuses é aquele que Sófocles usa em Ájax durante o diálogo entre Atena e Ulisses. Atena está presente como um elemento da fabulação, é ela que provoca a loucura de Ájax. Mas sua atuação de fato se dá em outro campo, como uma maneira de avisar que o que ocorre com Ájax é uma marca do divino, que os deuses são cruéis e suas razões pertencem apenas a si mesmos, e que, finalmente, o lugar do homem é se calar diante disso. Quando lemos em seu diálogo: AT OD Viste, Odisseu, como é grande o poder dos deuses? Quem mostraria em tempo algum maior prudência E também mais bravura na hora de agir? Até onde posso saber, ninguém, Atena. Compadeço-me dele [Ájax] em seu infortúnio Embora seja o pior dos meus inimigos, Pois está atado a um destino horrível. Medito ao mesmo tempo sobre a minha sorte E sobre a deste herói, pois vejo claramente Que somos sombras ou efêmeros fantasmas Vivendo a nossa vida como os deuses querem. 137 SÓFOCLES In ÉSQUILO, SÓFOCLES, EURÍPIDES, 1993: vv. 156-167. (trad. Mário da Gama Kury) Estamos diante de uma das muitas indicações do texto trágico à platéia de como interpretar o que ocorrerá adiante, ou seja, que a história de Ájax é um exemplo da força do destino divino sobre o homem, a que todos estão sujeitos e todos devem temer. Atena sai de cena em seguida, e a tragédia humana ocorre, com a dor e o suicídio de Ájax. Assim, o plano de atuação do divino não é sua figuração, sua ação direta no palco, mas está em outra ordem, que se relaciona ao funcionamento do cosmos, ao encadeamento de causa e efeito. O quanto esta sensibilidade está distante da salvação de Ifigênia em Ifigênia em Áulis, quando, após a heroína aceitar ser sacrificada pela pátria, é salva por uma intervenção divina. Nas palavras do mensageiro que conta a Clitemnestra o ocorrido: Depois o sacerdote Tirou o gládio da bacia feita de ouro, Pronunciando a invocação para escolher O lugar onde iria desferir o golpe. Meu coração se contraiu angustiado e baixei a cabeça. Repentinamente manifestou-se a todos nós, estupefactos, um acontecimento sobrenatural, sem dúvida um prodígio: todos ouvimos distintamente o ruído de um golpe rápido de gládio, mas a virgem desaparecera, sugada pela terra, sem que se pudesse ver ou conjecturar onde ocorrera o fato. O sacerdote deu um grito e nosso exército, Uníssono, iniciou suas aclamações Diante daquele milagre, obra, sem dúvida, De algum dos deuses, muito além da expectativa, Inexplicável mesmo para quem o viu. De fato, jazia imóvel, recém-morta, Uma corça descomunal e muito bela, Cujo sangue inda fresco manchava o altar. (EURÍPIDES, Ifigênia em Áulis, 1993: vv. 2196- 2214)5 138 Esta intervenção, que lembra tanto o episódio do sacrifício de Isaac, é bastante rara tanto na tradição religiosa grega quanto nas tragédias dos outros autores. Uma opção para explicá-la é interpretarmos esta passagem, como as várias outras na obra de Eurípides em que prodígios acontecem, como uma referência a um sentimento religioso pré-clássico, pois apenas nas teogonias encontramos este tipo de milagre, com o deus subvertendo a realidade e as regras físicas de funcionamento do mundo. É interessante notar que algo muito próximo ocorre em Édipo em Colono, quando ao fim da peça Édipo desaparece no ar após ouvir a invocação do deus. Mas, neste caso, temos uma meditação sobre a vida humana e a ordem do divino. Não é o caso de Ifigênia em Áulis, em que a ação toda se dá em torno do sofrimento e da decisão da família em torno do sacrifício de Ifigênia. De qualquer maneira, um episódio desses na peça final de Sófocles, um autor que de resto sempre tratou o divino com bastante pudor, indica que talvez em algum momento das experiências limite que os atenienses passaram durante a guerra do Peloponeso o respeito à religião tradicional se perdeu. A religião grega nunca adotou o lema do “creia porque absurdo”, mas nos momentos finais de convulsão do século V esta poderia ser perfeitamente uma possibilidade aberta. Outra possibilidade de explicação do episódio do sacrifício, que nos parece mais provável, é entendê-lo como uma figuração não religiosa, como uma fantasia intelectual. É este o espírito da comédia, em que temos cidades construídas nas nuvens e disputas de tragediógrafos no inferno, mas no caso da comédia estes episódios estão completamente desprovidos de um fundo religioso. Mas esta é uma liberdade da comédia, em que homens puros são representados. A tragédia deveria representar a divindade, e Eurípides o faz, mas de uma maneira tão alienada que esta divindade passa por um exercício fantasioso. 139 A outra maneira de Eurípides resolver a tensão entre mítico e histórico é esvaziar totalmente o conteúdo religioso de suas peças. É o que encontramos em Medéia, em As Fenícias ou em As troianas. Nestes casos temos a presença formal dos deuses, o carro do sol em que Medéia foge, a maldição paterna sobre Etéocles e Polinices, o diálogo entre Atena e Posídon. Mas estes são elementos completamente marginais à trama, que se move exclusivamente no universo das paixões humanas, das razões e motores de indivíduos enraizados no mundo e na vida. E este motor humano da trama acaba se sobrepondo à apresentação do divino. Segundo Jaeger em seu comentário sobre Eurípides: Nada caracteriza com tanta exatidão a tendência naturalista dos novos tempos [os anos durante a Guerra do Peloponeso] como o esforço realizado pela arte no sentido de retirar o mito do seu alheamento e da sua vacuidade, corrigindo-lhe a exemplaridade por meio do contato com a realidade vivida e desprovida de ilusões. Foi Eurípides quem empreendeu esta tarefa ingente, não a sangue-frio, mas com o ânimo apaixonado de uma forte personalidade artística e com tenaz perseverança contra longos anos de fracassos e desenganos, pois a maior parte do povo tardou muito em apoiar seu esforço. (JAEGER, 1995: 398) Então, em Eurípides temos a ordem do divino esvaziada. Os deuses não modelam as coisas que acontecem no palco, nem são o campo negativo que atrai o homem para o absoluto e a aniquilação como nos outros tragediógrafos. E, no entanto, este campo negativo existe, e é tão destrutivo e anti-humano quanto o deus de Sófocles. Sua identificação imediata é com o próprio universo humano das paixões e da história, do que vamos tratar a seguir. 140 4.4. O pesadelo da história O período de apogeu da tragédia grega se localiza entre três experiências limite de Atenas. A primeira, a guerra contra a invasão persa, é uma experiência de glória. As duas outras, a guerra do Peloponeso e a praga de Atenas, são experiências de ruína. Se no primeiro caso a improvável vitória sobre o exército persa lega aos atenienses um sentido de missão histórica, como um destino manifesto que é confirmado pela vitória, nos dois outros esta confiança otimista na própria potência e nos próprios valores fica abalada. Se a obra de Ésquilo e Sófocles nascem do espírito de liberdade e autonomia que os cinqüenta anos de expansão após a primeira guerra construiu nos atenienses, a obra de Eurípides é realizada principalmente durante a guerra do Peloponeso. A palavra, neste caso, já não é liberdade ou autonomia, mas sim aquele sentido de estranho relativismo moral que as guerras severas sabem provocar. Isto vem especialmente de um endurecimento da sensibilidade, que permite tanto que os valores tradicionais sejam menos respeitados e respeitáveis, quanto uma franqueza quase brutal na consideração do que seja o homem, suas paixões e motivos. O grande porta-voz deste período é Tucídides, e é nele mais que em Eurípides que podemos mapear a mudança de espírito que levaria ao fim da era trágica e ao início da filosofia. No historiador o relativismo moral da vida durante a guerra se traduz em uma teoria do poder que confunde justiça com força, e que, apesar de conceber a derrota ateniense segundo um modelo trágico, como um caso de hybris de uma nação heróica, não consegue lamentar totalmente sua queda. A simpatia de Tucídides, ou, se aceitarmos que sua história segue de fato um modelo trágico, a compaixão presente em sua narrativa é mais em relação ao sofrimento inútil da guerra do que a este ou aquele partido. Mesmo isto é um sentimento 141 ambíguo, pois se existe de fato o sentimento de piedade diante dos massacres e sacrifícios que espartanos e atenienses causam em seu conflito, existe também a defesa direta do direito do leão, a idéia de que o mais forte pode justamente dominar o mais fraco, e que a força, mais que qualquer outra categoria de justiça, divina ou não, é a legitimadora da ação humana. Eurípides se relaciona a estas questões de uma forma bastante particular. Em algumas peças, como Andrômaca, em que os espartanos são vilões de clichê, e Ifigênia em Áulis, em que a heroína aceita o sacrifício “pela pátria”, estamos, parece, diante de formas sofisticadas de propaganda. Já em peças como As troianas e Hécuba, em que são retratados os vencidos da guerra, parece haver uma reflexão um pouco mais cuidadosa e franca sobre a natureza da guerra e da história. O interesse das duas últimas peças passa principalmente em perceber o quanto um incipiente sentido de história está se manifestando, substituindo pouco a pouco as idéias tradicionais de destino e de singularidade individual com que eram caracterizadas as guerras e conflitos. No caso do espírito grego do período isto se traduz na crença em Tucídides de que o ser humano e suas paixões são sempre iguais, que existe uma constante nos atos coletivos humanos que pode ser pensada e tornada conhecimento. No caso do tragediógrafo, isto significa o pensamento nada confortável de uma certa dignidade dos vencidos e daqueles que sofreram com os desastres da guerra, um tema novo para a tragédia. No caso da tragédia temos Os persas, de Ésquilo, mas aí a descrição dos derrotados segue um esquema contrário ao que se vê nas peças de Eurípides. Os persas não é uma peça de compaixão, e a catarse, se podemos falar de catarse neste caso, passava muito mais por um júbilo público de registrar de uma forma tão íntima a ate do agressor. 142 Não é o caso das peças de Eurípides, em que o sofrimento das troianas é de fato comovedor, e visa exatamente medo e terror. Tanto no caso de Tucídides quanto de Eurípides a palavra chave para entendermos a maneira como esta nova matéria histórica era processada pela mente do período é perspectivismo. De um modo geral a palavra se confunde com relativismo e está muito ligada à sofística. Gostaríamos de especificar um pouco mais. Perspectivismo é sim aquilo que os mestres sofistas ensinavam, a maneira de enxergar uma situação por vários ângulos e defender de maneira adequada cada um dos lados da situação. Esta prática, que a filosofia platônica entendia por má-fé, se relacionava a um espírito que a própria tragédia cultivava, de manutenção da tensão entre pólos. Na sofística a meta do discurso não era a solução de um conflito ou interrogação, mas sim a possibilidade de construir discursivamente complexidade, de chamar a atenção para a complexidade estrutural da vida e do discurso humano, o que no caso dos mestres itinerantes era algo mais ligado à performance que à verdade de um conteúdo, no que a crítica platônica é justa, mas de qualquer maneira tinha conseqüências morais. E neste caso, perspectivismo quer dizer empatia, a capacidade de conceder dignidade igual aos valores em conflito, capacidade de se pôr na pele do outro. Tanto o aspecto performático quanto o aspecto moral do perspectivismo sofístico estão presentes em Eurípides. A prática discursiva e as conseqüências éticas desta prática são inseparáveis, mas é preciso notar que enquanto a pura performance tornou Eurípides uma espécie de representante da sofística na poesia trágica, a capacidade que o autor teve de perceber a transitoriedade das paixões e razões humanas deu universalidade a sua obra e a projetou no futuro. Quando falamos de psicologismo euripidiana, estamos falando mais desta capacidade de perspectiva, de projetar a alma humana em vários planos e construir 143 uma situação complexa, do que propriamente a preocupação com uma alma profunda à maneira de Dostoiévski ou Shakespeare. É verdade que Eurípides é, entre os três grandes, aquele que põe o irracional como um elemento estruturante de suas tramas, o irracional erótico, especialmente, mas esta irracionalidade de personagens como Medéia ou a Helena de As troianas, absolutamente imanente, está muito longe ainda da nossa idéia de amor e sentimentos. O amor moderno está relacionado através de Dante e dos românticos a uma experiência de fortalecimento da interioridade, de uma verdade íntima que se sobrepõe à vivência pública. Não é esta paixão exatamente que está presente em Eurípides, mas sim a crença muito grega de que o sentido da realidade está no mundo público, da cidade e da comunidade. O irracionalismo que chega a ser figurado no tragediógrafo não é aquele de Werther, de um naufrágio no mundo que revela a verdade de uma individualidade, mas sim da perda concreta e catastrófica dos laços com o dever e a comunidade. Esta paixão amorosa, como a ambição política e o ódio partidário, outros temas recorrentes em Eurípides, deve ser entendida como o lugar da negatividade que a ausência do deus deixa vago. Em As troianas, no diálogo entre Hécuba e Helena, vemos esta dinâmica bem desenhada. Após a queda de Tróia ambas são escravas, e Hécuba acusa Helena pelos males troianos. Esta se defende, atribuindo sua fuga com Páris à influência de Afrodite. A resposta de Hécuba é quase o resumo de uma poética euripidiana: Primeiro me tornarei aliada das deusas E mostrarei que essa aí não fala o justo. Pois Hera e a virgem Palas, eu não Creio terem chegado a tal estupidez, Que uma vendeu Argos aos bárbaros, E Palas, Atenas aos frígios, em servidão. Não com jogos e langor em trono da aparência Vieram ao Ida: por causa do que a divina 144 Hera teria tanto desejo pela beleza? Receberá esposo melhor que Zeus? Ou Atenas está caçando bodas com um dos deuses, A que do pai reivindicou a virgindade, Fugindo do leito? Não tornes as deusas estúpidas Ao enfeitar teu ato vil; não persuadirás os argutos. Cípris disseste (isto é muito engraçado) Ter vindo com meu filho ao lar de Menelau. Permanecendo, plácida, no céu, a ti não Levaria a Ílion, com Amiclas e tudo? Meu filho era o mais notável em beleza, E teu espírito, vendo-o, tornou-se Cípris: Sim, toda loucura é Afrodite aos mortais, E é correto que o nome da deusa reja a afronesia. Vislumbrando-o, com trajes bárbaros E com ouro luzindo, teu espírito desvairou-se. Pois em Argos circulavas tendo pouco, Mas afastada de Esparta, a cidade frígia Onde escorre outro esperaste inundar Com gastos: não te era o bastante a casa De Menelau para te esbaldares em luxúria. (EURÍPIDES, As troianas, 2004: vv. 914-997 (tradução Christian Werner)6 Hécuba inicia desclassificando o argumento de Helena: a fábula sobre o concurso das três deusas é somente uma invenção. Não há aí nada de excepcional, no sentido que dificilmente seria chocante para uma platéia do século V ouvir que um mito homérico é só uma lenda, e isto não tem nenhuma conseqüência religiosa. Mas se pensarmos que toda a tragédia parte exatamente destes mitos, há sim algo de estranho na fala da heroína Hécuba. O excurso de Hécuba sobre as deusas – que Atena não teria por que ser a mais bela, que Hera já possuía um bom esposo – é obviamente uma racionalização burguesa sobre o divino, tão diferente do mistério sagrado em Ésquilo e Sófocles que soa algo humorístico, e quase nos faz concordar com a garrafinha de Aristófanes. Mas nesta racionalização, na humanização do divino a que tínhamos nos referido anteriormente, está também a possibilidade do próximo trecho da argumentação de Hécuba, de que a paixão que dominou Helena partiu de seu próprio desejo e interesse, e não de um daímon mandado por Afrodite. É o abaixamento do divino que permite a presença do humano, ao menos deste humano 145 psicológico de um sujeito que age contra o dever e a comunidade em nome de si mesmo. É importante notar que os personagens de Eurípides são apaixonados, mas esta paixão é distintamente diferente da possessão trágica de um Ájax, de Clitemnestra ou de Xerxes. Neste caso temos a conformação de uma ate, um destino-cegueira que faz o herói agir contra si mesmo, de forma autodestrutiva ainda que muitas vezes inconsciente das conseqüências de seus atos. As motivações de Helena conforme apresentadas por Hécuba seguem uma lógica de desejo e de interesse, demoníaca apenas na medida em que estas paixões desconsideram o bem-estar da comunidade, mas não são objetivamente autodestrutivas. O mal, que nos outros dois grandes é um confronto heróico do homem com os deuses, em Eurípides se torna um problema de justiça do agir, um reflexo sobre o limite da ação humana motivada puramente em interesse e desejo, mas interesses imanentes, baseados na vida concreta e nos valores dos homens concretos. Enquanto em Tucídides a mediação deste interesse é a força, o mais forte tem o direito de tomar aquilo que sua força permitir, em Eurípides são os valores mais escorregadios do dever e do bem que constroem o conflito trágico. Dever para a comunidade, bem comum, que são problematizados na obra de Eurípides, pois a base destes valores não é a presença do absoluto divino, mas sim a complexidade de pesadelo da vida humana. O perspectivismo euripidiana é só possível em tempos de endurecimento da sensibilidade que a guerra traz, que torna mesmo os atos mais terríveis passíveis de defesa. Isto não significa cinismo, mas sim a compreensão bastante lúcida de que, já que a ação humana é baseada na incerteza da paixão, é muito difícil chegar a uma decisão final sobre a moralidade de cada situação. Quando as paixões, sejam elas eróticas ou políticas, estão em jogo, quando o universo interior do homem tão incerto e variável está por trás dos atos, 146 tudo se cobre de uma névoa de indefinição tão intensa quanto o silêncio divino. Medéia talvez seja a peça em que temos este princípio representado da maneira mais perfeita. A bruxa é uma vilã, certamente, mas nos movimentos de sua alma, na oscilação do amor aos filhos e do ódio ao marido se constrói a tragédia de um indivíduo que perde o compasso moral, uma pessoa cuja medida externa para a ação está perdida e tem de sofrer a presença simultânea e confusa de sentimentos opostos, seus únicos guias possíveis. Na cena que antecede o assassinato dos filhos, vemos Medéia se debatendo sobre como agir: Mulheres, titubeio! Os planos periclitam! Vou-me, mas com meus dois filhos! Prejudicar crianças em prejuízo Do pai não dobre o mal? Fará sentido? Comigo não: adeus, projetos árduos! O que se passa em mim? Aceitarei O escárnio de inimigos impunidos? Que infâmia ouvir de mim reclamos típicos De gente frouxa! Ao rasgo de ousadia! Para dentro, meninos! Se a lei veta A presença de alguém no sacrifício, Não é problema meu. O pulso agita-se, Ai! Deixa de agir assim, ó coração! Não queirais, infeliz, puir os filhos! No exílio, o bem se aloja em nosso espírito. Ó vingadores do ínfero, alástores! Está para nascer alguém que agrida Um filho meu! Se ananke, o necessário, Impõe sua lei indesviável, nós Daremos fim em quem geramos. (EURÍPEDES, 2010: 1044-1103 (tradução de Trajano Vieira)7 Existe um problema na divisão de Medéia, pois diferentemente dos personagens trágicos tradicionais, que ligam seus atos a uma razão divina e política, e que visam indubitavelmente o bem nos crimes que estão para cometer, e que indubitavelmente são seres morais, atados ao dever, Medéia age em nome apenas daquilo que sente, seja o amor aos filhos seja o ódio ao marido. E neste caso como no de muitos outros personagens, como 147 podemos falar em erro trágico? Pois o que quer que Medéia faça está atendendo a um chamado interior muito poderoso, não distinto de qualquer outro homem ou instituição humana, mas que tem apenas em si mesmo a medida de sua moralidade. Kitto, em seu comentário sobre Eurípides em Tragédia grega, aponta para como esta entidade abstrata que chamaremos de alma humana complica todo o problema da moralidade trágica: Considerou [Eurípides] a hamartía trágica, bem como a ação trágica, não como partes do carácter do indivíduo que levam à sua queda, mas de uma maneira mais abstracta, como elementos do desastre que, na nossa natureza humana comum, conduzem ao sofrimento, no que as pessoas culpadas podem participar ou não. (KITTO, 1990: 115) A hamartía está ligada à idéia de impureza, de ato impuro diante dos deuses. Mas, em um mundo desprovido de deuses, qual é a medida desta impureza? Em outros termos, se a medida dos atos humanos é o próprio homem interior, pois é a alma o motor destes atos, como julgar? É neste tipo de interrogação que temos uma pista pra o “humanismo” de Eurípides, já que, na falta de um absoluto moral, que permite a Eurípides pôr em cena personagens como Medéia, personagens que carecem dos valores positivos que um herói deveria ter, é um sentimento mais abstrato de empatia ao humano que pode levar à catarse. A empatia pelo herói passa pelo reconhecimento na audiência de que aquilo representado é um ser humano em geral, qualquer pessoa, e que devido a alguma dignidade categórica que as pessoas possuem deve-se sofrer por elas. Bruno Snell reconhece em Medéia o primeiro personagem em que a justiça já não está ligada a uma ordem divina, mas sim a valores puramente humanos de dignidade básica. Segundo Snell em A cultura grega e o pensamento europeu: 148 Eurípides é o primeiro a representar, na sua Medéia, um ser humano que não tem outro meio de despertar a compaixão exceto o de ser uma criatura atormentada: essa bárbara fora-da-lei tem a seu favor apenas o direito humano universal. Essa Medéia também é, porém, ao mesmo tempo, a primeira pessoa cujos sentimentos e cujos pensamentos são explicados sob um ângulo puramente psicológico e humano e que, embora sendo bárbara, é superior aos demais pela cultura espiritual e pela eloqüência. Quando o homem pela primeira vez se mostra independente dos deuses, prontamente se revela a potência do espírito humano autônomo e a intangibilidade do humano direito à justiça. (SNELL, 2009: 261) Mais que qualquer outro tragediógrafo, em Eurípides a crítica ao poder é inflamatória, pondo em xeque tanto a visão tradicional de justiça quanto a possibilidade em abstrato de justiça em um universo em que a realidade é construída pela vontade e pelo desejo. Sua capacidade de se colocar na mente do oposto, de manter o discurso da alteridade como coisa intensa e apaixonada, rendeu-lhe a posteridade mais próspera, mas também as críticas mais cruéis. Quando pensamos em uma peça como As troianas, que fala de uma cidade devastada em um momento que a própria Atenas está sob risco bastante concreto de ser conquistada e subjugada, tendo ela própria arrasado outras cidades durante a guerra, percebemos a dimensão de sua coragem intelectual e, por outro lado, da franqueza com que os próprios atenienses tratavam sua realidade. Nas palavras de Easterling Esta peça lida com o pior que pode acontecer a uma cidade, Adrian Poole propriamente a chamou de “fim-de-jogo de Eurípedes”. Ela usa os eventos da Guerra de Tróia, particularmente as últimas horas antes do incêndio final das ruínas, quando os homens já estão mortos, as mulheres esperando ser distribuídas a seus novos mestres, e os vitoriosos prontos para velejar para casa. A peça foi encenada em 415 a. C., quando a possibilidade de que uma cidade grega pudesse ser aniquilada não era de maneira alguma remota para a audiência. Platea, uma cidade aliada, dificilmente mais que quarenta milhas de Atenas, fora completamente destruída o ano após sua captulação para os peloponesos em 427, e em Cione e Calcídice em 421 e em Melos em 416 os próprios atenienses mataram todos os homens aptos a servir e escravizaram o resto da comunidade. (EASTERLING, 1997: 173)8 149 A invocação dos mortos ao fim da peça, quando Hécuba bate as mãos no chão invocando seus compatriotas mortos na guerra, é uma daquelas cenas universais que a tragédia grega nos legou e que dificilmente serão esquecidas. HE CO HE CO HE CO HE HE HE ... HE CO Ió terra nutriz de meus filhos. É. Crianças, escutai, apreendei a fala da mãe. Com ululos chamas os mortos. Velha, ponho no chão os membros meus E ressôo a terra com duplas mãos. Seguindo-te, o joelho ponho na terra, Chamando das profundas os meus Afligidos maridos. Escortadas, levas... / CO Agonia, agonia gritas. Para baixo de teto escravo. / CO Da minha pátria. Ió, Ió, Príamo, Príamo, Tu, destruído, insepulto, desamparado, Desconheces minhas desgraças. A cinza, igual a fumo, asa rumo ao céu, Desconhecedora de meu lar me torna. O nome da terra desaparecerá: lá E cá, tudo partiu, não mais é A pobre Tróia (EURÍPIDES, 2004: 1302-1324 (tradução de Christian Werner)9 Este lamento pelos mortos, que são os mortos inimigos e os próprios, é talvez um bom símbolo do que ocorre na literatura de Eurípides. Após ele, não teremos mais tragédias a serem lembradas. Após Eurípides teremos um novo tipo de crítica, corajosa também, mas que entenderá a suspensão trágica como uma celebração do erro e do mal. Mas o momento brilhante da cultura grega em que os três grandes atuaram permanece ainda como um ponto fulcral da história da cultura, fornecendo um caminho único para a interpretação do homem e da vida. Como Tróia, seu nome não desaparece apesar de tudo. Esta vitória contra o tempo, contra a derrisão de ser reduzido a uma outra natureza, esta intensidade e 150 integridade que nunca se rendeu, estes são indícios da grandeza da tragédia. Esta eternidade possível da arte tira e dá na mesma medida o sentido do homem. Como nos diz Easterling: Os velhos provérbios sobre a mutabilidade da fortuna tomam uma nova dimensão sinistra quando são tomados no contexto da destruição de uma comunidade inteira e sua cultura, mas o de Hécuba tem de ser levado em conta ao fim da peça, quando ela lidera as mulheres em um ritual de despedida para os mortos troianos, batendo no chão e clamando por filhos e maridos. A ênfase é toda sobre perda e aniquilamento, mas ao menos um elemento pode ser entendido de maneira diferente por uma audiência educada na poesia épica. Quando o coro canta que o “nome da cidade vai desaparecer” e “Tróia não mais existe” (1322-24) [1678-80 na tradução de Mário da Gama Kury] eles estão cantando para uma audiência para quem o nome de Tróia sobreviveu. (EASTERLING In EASTERLING, 1997: 177) 10 1 Na versão de Mathew Arnold (ARISTÓFANES: ll. 1206-1224) EU ES DI EU ES DI EU ES DI “Aegyptus, so the widespread rumor runs, With fifty children in a long-oared boat, Landing near Argos”— Lost his little oil flask! What was this “oil flask”? You'll be sorry! Recite for him another prologue, so I can see once more. “Dionysus, who with thyrsus wands and fawnskins bedecked amidst the pines on Mt. Parnassus bounds dancing...” Lost his little oil flask! Alas, again we have been stricken by that flask. It won't be a problem. For to this prologue he won't be able to attach that flask. “No man exists, who's altogether blest, Either nobly sired he has no livelihood Or else base-born he ...” Lost his little oil flask! Euripides! 2 Next, supposing the charge is "That is not true," one can meet it by saying "But perhaps it ought to be," just as Sophocles said that he portrayed people as they ought to be and Euripides portrayed them as they are. 3 Tradução própria do original em inglês: The theory involves so delicate an equilibrium between natural and superhuman, so nice a compromise of faith and knowledge, that it cannot be maintened for long. The balance must turn, and there is no doubt wich scale will sink. The supernatural must fade and recede. The gods must surrender again to man the life with which, as he slowly learns, himself at his own cost has lavishily endowed them. Human nature re-enters upon its alienated domain, conscious of itself, and of nothing else but a material world which centers round it. Desire and Hope must resign their dream shape, and all of that will be left of them is a hot movement of the blood, the thrill of a quickening nerve. 151 4 What is crucial is the mixture of past and present: the setting in heroic times in no way precludes reference to the contemporary world, and indeed depends on a multitude of ironic reminders to the audience that they are in the present, watching events that purport to be happening in another time and place. The more this tension can be exploited, the more powerfully should the play be able to enthrall its audience. 5 Na versão de E. P. Coleridge (EURÍPIDES, 1891: vv. 1578-1590) But the priest, seizing his knife, offered up a prayer and was closely scanning the maiden's throat to see where he should strike. It was no slight sorrow filled my heart, as I stood by with bowed head; when there was a sudden miracle! Each one of us distinctly heard the sound of a blow, but none saw the spot where the maiden vanished. The priest cried out, and all the army took up the cry at the sight of a marvel all unlooked for, due to some god's agency, and passing all belief, although it was seen; for there upon the ground lay a deer of immense size, magnificent to see, gasping out her life, with whose blood the altar of the goddess was thoroughly bedewed. 6 Na versão de Kury ( EURÍPIDES, As troianas, 2001: vv. 1230- 1267) Alio-me primeiro às deusas. Vou mostrar / Quanta injustiça existe nas palavras dela. / Ninguém de boa-fé creria que Hera e Palas / Pudessem comportar-se com baixeza tal / A ponto de em conluio Hera prometer / Que venderia aos bárbaros a terra argiva, / E Palas que daria Atenas aos troianos, / Sbmissa ao jugo frígio. Essa competição / Das deusas junto ao Ida certamente foi / Uma frivolidade ou entretenimento. / Por que razão Hera divina nutriria / Desejo tão insano de ser a mais bela? / Seria para conquistar melhor esposo / que Zeus onipotente? Quereria Palas / credenciar-se a esposa de qualquer dos deuses, / ela, que obteve de seu pai o privilégio / de ser eternamente virgem, pois as núpcias / lhe repugnavam? Não procures disfarçar / a tua perversão atribuindo às deusas / tamanha insensatez. Pessoas ponderadas / jamais irão acreditar em tua história. / E quanto a Cípris, tu nos fazes rir, e muito, / Dizendo que ela foi com Páris ao palácio / De Menelau, como se adeusa, mesmo estando / Tranqüilamente em seu celestial assento, / Não tivesse poder para levar-te a Ílion / Com toda a cidade de Amiclas facilmente! / Meu filho era dotado de beleza rara / E foi teu próprio espírito que ao contemplá-lo / Criou a impressão de Cípris. As loucuras / De amor, que os homens consideram diferentes / E imputam a Afrodite, são iguais às outras. / A imagem de meu filho em sua roupa exótica, / Bordada de ouro fulgurante, transtornou-te / A alma; em Argos tua vida era medíocre; / Trocando Esparta pela rica terra frígia, / Por onde corre um rio de ouro, imaginavas / Que aqui teria bens em superabundância. / O palácio de Menelau / Já não bastava às tuas exigências de excessivo luxo 7 Na versão de Kury (EURÍPIDES, Medéia, 2001: vv. 1190-1208) Será que apenas para amargurar o pai Vou desgraçá-los, duplicando a minha dor? Isso não vou fazer! Adeus, meus planos... Não! Mas que sentimentos são estes? Vou tornar-me Alvo de escárnio, deixando meus inimigos Impunes? Não! Tenho de ousar! A covardia Abre-me a alma a pensamentos vacilantes. Ide para dentro de casa, filhos meus! Saem os filhos Quem não quiser presenciar o sacrifício , Mova-se! As minhas mãos terão bastante força! Ai!Ai! Nunca meu coração! Não faças isso! Deves deixá-los, infeliz! Poupa as crianças! Mesmo distantes serão a tua alegria. Não, pelos deuses da vingança dos infernos! 152 Jamais dirão de mim que eu entreguei meus filhos À sanha dos inimigos! Seja como for, Perecerão! Ora: se a morte é inevitável, Eu mesma, que lhes dei a vida, os matarei! 8 Tradução do original em inglês: This play deals with the worst that can happen to a city; Adrian Poole aptly called it “Euripides' Endgame”. It uses the events of the Trojan War, particularly the last hours before the ultimate firing of the ruins, when the men are already dead, the women waiting to be allocated to their new masters, and the victors preparing to sail home. The play was put on in 415 BC, when the possibility that a Greek city might be annihilated was not at all a remote one for the audience. Plataea, an allied city, hardly more than forty miles from Athens, had been utterly destroyed the year after it capitulated to the Peloponnesians in 427, and at Scione in Chalcidice in 421 and at Melos in 416 the Athenians themselves had put to death all the males of military age and enslaved the rest of the community. 9 Na versão de Kury (EURÍPEDES, As troianas, 2001, vv. 1647-680) HE CO HE CO HE 2° SC HE 1° SC HE 1° SC HE ... HE CO 10 Terra-mãe que nutriste meus filhos! Ai de nós! Ai! Meus filhos! Ouvi vossa mãe! Escutai o chamado, meus filhos! Teu lamento soturno os invoca Lá no mundo remoto dos mortos! aproximo do chão meus joelhos Doloridos e golpeio a terra Com as mãos antes fortes fechadas! Nós também, de joelhos no chão evocamos o fundo da terra os esposos que a guerra matou! Já nos levam... Quanta dor! Quantos gritos de dor! Seremos escravas... ... muito longe de nosso país! Meu rei Príamo, agora finado Sem sepulcro e sem um amigo Para perpetuar-te a memória, Não percebes a minha desgraça? Logo as cinzas que seguem as chamas Cobrirão inda quente as ruínas Do palácio inda ontem tão belo Mesmo o nome de nossa cidade Deixará de existir. Há destroços Crepitando por todos os lados! Tradução do original em inglês: The old proverbial sayings about the mutability of fortune take on new grimness when they are seen in the context of the destruction of a whole community and its culture, but Hecuba's have to be taken into account at the very end of the play, when she leads the women in a farewell ritual for the Trojan dead, beating the ground and calling out to children and husbands. The emphasis is all on loss and annihilation, but at least one 153 statement can be understood differently by an audience brought up on epic poetry. When the Chorus sing that the “name of the land will vanish” and “Troy no longer exists” (1322- 24) they are singing for an audience for whom Troy's name has survived. 154 5: PLATÃO E A EXPULSÃO DO POETA 5.1. Platonismus Nosso comentário sobre Platão vai seguir de forma bastante próxima o comentário de dois autores, o Jaeger de Paidéia e Paul Friedländer em Platon. Não existe concordância exata entre os autores: o imenso livro de Jaeger tem Platão como centro, e sua leitura parte do princípio de que toda cultura grega é manifestação do ideal de educação cujo maior representante seria exatamente Platão. Nesta leitura, a condenação de Platão à poesia se dá dentro de um espírito de agón, de uma competição pela primazia espiritual do mundo grego, em que o tipo específico de conhecimento filosófico afirma sua superioridade em relação ao conhecimento poético, trágico, especialmente. Segundo Jaeger As forças ordenadoras e normativas da alma, personificadas na filosofia, enfrentam o elemento pós-vivencial e imitativo que nela existe e do qual brota a poesia, como sendo-lhe simplesmente superiores, e exigem-lhe que abdique ou se submeta aos preceitos do logos. Do ponto de vista “moderno”, que encara a poesia como simples literatura, é difícil de compreender esta exigência, que parece uma ordem tirânica, uma usurpação de direitos alheios. Mas à luz da concepção grega da poesia como representante principal de toda paidéia, o debate entre a Filosofia e a poesia tem necessariamente de recrudescer no momento em que a Filosofia ganha consciência de si própria como paidéia e por sua vez reivindica para si o primado da educação. (JAEGER, 19995: 980) Deve-se notar que a referência ao “elemento pós-vivencial e imitativo” da poesia tem em mente o ambiente grego após a arte de Eurípides e Tucídides, autores que tornaram o comentário trágico sobre o homem a representação de um homem real, em que o caráter heróico e o pólo divino da arte trágica são bastante enfraquecidos em nome de uma busca por um homem imanente, aprisionado às forças das paixões e dos acontecimentos mais do 155 que às exigências do deus e do destino. Outra coisa que deveremos ter em mente também é que a afirmação de que o estatuto da poesia grega é distinto da moderna, como se aquela fosse infinitamente mais presente na cultura grega do que esta, é um argumento antropológico e quantitativo, e não qualitativo. Jaeger parte do princípio de que a poesia, tanto o texto poético quanto o recital, é a principal instituição educacional do mundo grego, e que este estatuto é distinto do que a poesia possui no mundo moderno. A percepção desta distinção está por trás, por exemplo, da leitura do jovem George Steiner sobre a tragédia, em A morte da tragédia (STEINER, 2006), mas não procura dar conta de que esta “simples literatura” alimentou todo o pensamento do século XIX, e que nesta perspectiva a exigência platônica tem de parecer necessariamente tirânica. O Platão de Paul Friedländer tem a mesma centralidade que o de Jaeger, mas a maneira como a relação da obra platônica com a mimese poética é construída é bem menos agonística. Em Friedländer a condenação platônica à poesia, uma questão de estatuto do conhecimento, de maneiras distintas de conhecer, é mediada pelo daímon erótico e pelo mito platônico. É uma condenação construída por várias mediações, mais do que condenação pura e simples. A imagem que Friedländer utiliza para entender este processo é a do olhar: na base da filosofia platônica estaria o esforço para superação do sensível, de enxergar com os olhos da alma e não com os do corpo. Referindo-se à República, que entende como o cumprimento do longo processo de construção da nova visão platônica, Friedländer diz que: Assim transcorre durante longo tempo a preparação, com o objetivo final nesta interdependência, a pura metafísica e a contemplação das idéias, enlaçando por fim a imagem acabada: a alma, pensada segundo o modelo do corpo, tem olhos como ele para ver, só que esses olhos estão enfocados nas formas eternas. (FRIEDLÄNDER, 1989, v. 1: 31)1 156 Ainda há a condenação à mimese poética, mas ela é entendida em um contexto em boa medida também poético, com esta condenação sendo entendida como a re-elaboração de um discurso sobre a realidade. Só que a realidade que os poetas vêm é o negativo da realidade do filósofo. A importância de Platão (e Sócrates) em um estudo sobre o estatuto do trágico no século XIX passa por compreender como o veto à poesia como forma válida de conhecimento foi construído por Platão, e como este veto foi entendido e trabalhado na filosofia e na filologia do período. Os textos básicos para isso são os capítulos II, III e X da República2, em que há a discussão da mimese como a maneira primordial de aprendizado da virtude, da “bondade” (areté), e a condenação da mimese específica da arte, com a equalização de pintura e poesia épica e trágica. Os diálogos Íon e Fedro serão também referências constantes para essa discussão. Naquele, há a primeira expressão da condenação platônica ao conhecimento obtido através da performance poética. É uma distinção que vamos ter de aprofundar, entre a poesia enquanto forma simbólica, enquanto conteúdo a ser apreendido através da recitação ou do texto, e a performance, a maneira como o conteúdo simbólico é “absorvido” pelo leitor/espectador. A condenação platônica à poesia conforme é entendida pelo momento em que nos detemos, passa pela crítica de ambos os estatutos, e por uma tentativa de separação entre a verdade possível e parcial (misturada com ilusões e mentiras em Platão) do conteúdo poético, e a maneira como este conteúdo é transmitido na performance e no texto do ator/recitador. O Fedro será o terceiro texto de referência para nossa discussão, porque marca o lugar complicado que a escrita possui na transmissão do conhecimento dentro da filosofia platônica. 157 5.2. Justiça e representação Antes de iniciarmos, seria interessante estabelecer alguns pressupostos da discussão platônica. A República trata da construção da politeia ideal, do governo melhor para a felicidade humana. Esta é uma discussão política, mas em sua base está a definição do significado da realidade: a cidade mais justa é aquela que promover a areté do cidadão, a virtude, ou a excelência, ou a bondade, ou seja, o melhor governo é aquele que consegue fazer com que seu cidadão viva mais de acordo com uma idéia de justiça e de verdade. Em Platão, isto significa necessariamente criar uma sociedade que constantemente dê meios a seus cidadãos de distinguirem o justo do injusto, a verdade da mentira. Na base da politeia está, então, o conhecimento da verdade. Toda instituição desta cidade deverá se estruturar ao redor das disciplinas necessárias para a obtenção desta verdade, ou seja, ao redor da disciplina filosófica. Uma cidade que se organize desta forma será necessariamente feliz, não em um sentido exterior, de prosperidade ou abundância, mas será feliz em um sentido mais próprio, de ação de acordo com a realidade profunda do mundo, para além da aparência e do engano. O que é apresentado e elencado na República, então, é o conjunto de ações que um governo deve realizar para que a areté se cumpra. Estas ações são a construção de instituições coerentes, devidamente justificadas filosoficamente: a melhor forma de governo, a melhor economia, as melhores ferramentas na educação, a melhor religião etc. Estas ações são também negativas: a proibição de certas práticas, de certos governos, de certos hábitos. É neste panorama que se insere a condenação de Platão à poesia: esta estaria em desacordo com a melhor politeia, e seria um dos maus-hábitos que poderia levá-la à ruína. 158 Uma das conclusões de Platão é da melhor forma de economia política da cidade, ou seja, a melhor forma de organizar a ação pública dos cidadãos, a função de cada parte da cidade na manutenção da areté. Na eutopia platônica, cada indivíduo ocupa uma determinada posição em cada um dos três estamentos da polis, sendo trabalhadores, guerreiros ou guardiões. A posição em cada estamento depende não de nascimento, hábito ou favor, mas da afinidade de cada um em relação ao valor essencial que guia cada nível, a temperança, a coragem e a sabedoria, que em conjunto formam a possibilidade de justiça. Cada indivíduo obedece às regras e aos limites de cada nível, o que impede a decadência e mantém a força da cidade. Como diz Sócrates: – Vamos! disse eu. Ouve-me e vê se faz sentido o que estou dizendo! Aquilo que, desde o início, quando fundávamos a cidade, estabelecemos que devíamos fazer o tempo todo é, parece-me, a justiça ou uma forma de justiça. Se estás bem lembrado, estabelecemos e muitas vezes dissemos que cada um devia ocupar-se com uma das tarefas relativas à cidade, aquela para a qual sua natureza é mais bem dotada. – Dissemos, sim. – E que cumprir a tarefa que é sua sem meter-se em muitas atividades é justiça, isso ouvimos de muitos outros e, e nós mesmos dissemos muitas vezes. –Dissemos, sim. – Pois bem! Disse eu. Eis, meu amigo, o que, de certa maneira, pode ser o que é a justiça:cada um cumprir a tarefa que é sua. (PLATÃO, 2006: IV, 433a,b)3 É importante recuperarmos esta divisão, porque, embora aparentemente ela não diga respeito a nossa discussão principal, na divisão dos estamentos da politeia há o desenho de como a ação pública é concebida por Platão. A função de cada indivíduo não é nunca arbitrária, e corresponde à verdade da alma de cada um. Fazer móveis não é simplesmente o trabalho de um carpinteiro, não é apenas a maneira como este trabalhador obtém seu sustento, nem é algo exterior a si. Ao contrário, o ser carpinteiro é a expressão da alma 159 deste indivíduo, ou da parte da alma na divisão entre apetite, razão e espírito, que nele é mais forte, sendo algo que se relaciona ontologicamente a sua identidade. Em uma sociedade sem distinções como a eutopia platônica, em que riqueza pessoal, laço familiar e agremiação política ou de qualquer outro tipo devem ser abolidas, toda identidade é sustentada pela função pública deste indivíduo na sociedade. Da mesma forma, o fabricar móveis não é apenas um gesto ou uma prática, mas é a maneira privilegiada deste sujeito lidar com o conhecimento, é sua maneira de construir a realidade, mais que isso, é o índice de a quanta realidade este indivíduo tem capacidade de ter acesso. Quando Platão estabelece que a prática mimética é conhecimento em terceiro grau, que a pintura da cadeira está mais distante que a própria cadeira, e esta mais distante que a imagem conceitual da cadeira em relação à forma primordial que serve de arquétipo para todas as cadeiras, uma das conseqüências é que o afastamento do poeta em relação à verdade não é algo superável, mas corresponde a sua própria natureza. Se o filósofo vê a realidade conforme ela é, e o artesão e o soldado a vêm parcialmente, o poeta a vê falsamente, e da mesma maneira que o ver do filósofo, do soldado e do artesão são eles próprios, o vício da visão do poeta torna-o também um elemento falso em uma sociedade que deve celebrar e promover a verdade. A mentira do poeta tem assim uma dimensão ética, e se este conta mentiras é porque sua alma não consegue mais que isso. A prática pública é o homem, porque a prática é a maneira de conhecer, e a maneira de conhecer é a única medida ética válida para uma sociedade fundada sobre a obtenção da verdade. A poesia não é apenas uma técnica, não é apenas um “dizer bonito”, mas é uma substância ética negativa em relação à filosofia, e o poeta o negativo do filósofo. 160 Esta diferença não é marcada de forma tão nítida de início. Ao fim do livro II temos a primeira condenação à poesia em bases práticas: certas passagens de Homero e dos trágicos representariam não a verdade do deus (que Platão identifica plenamente com uma divindade boa, plenamente “virtuosa”), mas sim uma divindade misturada a vícios de covardia e descontrole de si que pertencem à parte inferior da alma do homem, ligada aos apetites físicos, e não à divindade: – Ah! disse eu. O deus, já que é bom, não seria responsável por tudo, como muitos dizem, mas por poucas coisas em relação aos homens e por muitas não... É que temos menos bens que males e não devemos ter nenhum outro como causa; e, quanto aos males, devemos procurar outras causas, mas não o deus – Parece-me que é bem verdade o que está dizendo, disse. – Ah! Não podemos aceitar nem de Homero nem de outro poeta esse erro que cometem em relação aos deuses quando dizem que: duas grandes jarras jazem no limiar de Zeus cheias de sortes, uma de boas, a outra de más. (PLATÃO, 2006: II, 379d, e)4 O argumento avança de modo a identificar a mimese poética como uma forma de representação que privilegia exatamente esta parte inferior do ser humano, e, repetindo a argumentação já contida em Íon e no Fedro, afirmando que a mimese poética não oferece conhecimento da verdade, mas apenas de uma sombra de verdade, de um fantasma e aparência, não sendo um conhecimento distinto de que homens inferiores possuem, conforme ele desenvolve melhor no livro VII com a alegoria da caverna. Outro elemento importante do argumento de Platão contra a poesia neste livro é que o deus é uno e verdadeiro, que não falseia sua natureza ou age de forma a enganar os mortais, e que os poetas ao representarem-no como algo que engana o homem ou que assume outras formas 161 que não a sua própria, estariam novamente mentindo, por ignorância e necessária falsidade, sobre a natureza do divino: Ah! O deus é completamente simples em seus atos e palavras, ele próprio não se transforma e não engana aos outros, nem com aparições, nem com palavras, nem com envio de sinais, quer em vigília, quer sonhando. – É assim que também me parece, disse ele, quando tu falas. – Ah! Tu me concedes, disse que há uma segunda norma que se deve seguir ao falar a respeito dos deuses em narrativas e poemas? Que não se diga que, sendo magos, eles se transformam e nos seduzem com mentiras expressas em palavras ou em obras! – Concedo. – Ah! Embora louvemos muitas coisas em Homero, não elogiamos o sonho enviado por Zeus a Agamenão... [Ilíada 2, 1-34, em que Zeus envia um falso sonho a Agamemnon incentivando-o a entrar em combate para que os gregos corram perigo e percebam a necessidade de Aquiles] (PLATÃO, 2006: II, 383a)5 É importante marcar que inicialmente a condenação platônica à poesia não se refere à forma poética em si, e nem à maneira típica de transmissão destes conteúdos no mundo grego, através da recitação e do drama, mas sim a determinados conteúdos representados especialmente pela tragédia. Outros tipos de poesia e de arte, que representem conteúdos desejáveis pela politéia, seriam mantidos. Ou seja, o que é expulso da politéia platônica é um certo tipo de performer e um certo tipo de poesia, e não toda poesia e todo rapsodo. Como afirma Sócrates em República: – Será que devemos somente vigiar os poetas, obrigando-os a criar, no interior de seus poemas, a imagem do bom caráter, ou impedir que os componham em nossa cidade? Ou também aos outros artífices devemos vigiar e proibir que, em suas obras, criem esse mau hábito, intemperança, baixeza, indecência, quer nas imagens de seres vivos, quer nos edifícios, quer em outra obra de arte? Ou a quem não for capaz disso não devemos permitir que exerça sua arte em nossa cidade, para que nossos guardiões, nutridos no meio das imagens do vício, como numa pastagem má, a cada dia e de bocado em bocado, façam uma grande ceifa e dela se apascentando não acumulem, sem que o percebam, um grande mal em suas almas? (PLATÃO, 2006: III, 401,b)6 E 162 … e conceder que Homero é o melhor poeta e o primeiro entre os trágicos, mas saber que somente hinos aos deuses e encômios aos homens de bem devem ser admitidos na cidade. Se, porém, acolheres a sedutora musa na lírica ou na métrica, o prazer e a dor reinarão na cidade em vez da lei e do princípio que, entre nós, sempre foi tido como o melhor. (PLATÃO, 2006: X, 607a)7 Esta admissão de certos tipos de poesia e de certos conteúdos, devidamente vigiados e censurados pela administração da pólis, apontaria para uma gradação no argumento platônico, de que certa poesia seria boa e certa poesia má, que uma seria admissível, outra não. O que estaria em jogo, então, seria a condenação da poesia que não representa nem promove a areté. Esta condenação parcial corresponderia a um momento inicial do pensamento platônico, em que o mito poético ainda é um problema muito presente em sua obra. É nesta perspectiva que Paul Friedländer se refere a uma relação mais amistosa de Platão com a poesia: Para Platão, como intérprete do mundo, estas lendas haviam dado um fragmento de explicação do mundo – ho filomythos filósofos pós esti – el amigo de los mitos (filomythos) de algun modo es amigo de la sabiduria (filósofos) –, fragmentos de un gran mito medido , perdido e despedaçado através das voltas do tempo, que se trata de purificar, de enlaçar e de dar-lhe forma de novo. (FRIEDLÄNDER, 1989: 171)8 A mentira poética seria, nessa perspectiva, parcial, no sentido de que não representa toda a realidade. Mas seguindo o argumento platônico da necessidade da unidade e da simplicidade do Bem, esta gradação não se sustenta. Uma verdade parcial ou manchada por mentiras e inverdades já não é verdade, e a mentira parcial é mentira inteira, pois promove a variedade, a contradição, desfaz a unidade. 163 Após estabelecer, com a alegoria da caverna, a distinção entre o conhecer filosófico em relação aos outros conheceres, o cerne do caso de Platão contra a poesia é apresentado no livro X, quando estabelece a prática essencial da poesia, a representação e a concretização através da música e do verbo daquilo que vê, como um negativo da prática sã da filosofia. Esta condenação se dá em três bases. 5.3. O primeiro argumento contra a poesia: a ignorância do poeta O primeiro argumento se refere ao fundamento daquilo que é afirmado pelo artista mimético, isto é, o fato de que o poeta não possui o conhecimento da verdade; é simplesmente, ao contrário do homem que passou pela disciplina da filosofia, um dos habitantes da caverna, e que portanto aquilo que representa será necessariamente falso, apenas um fantasma da virtude e unidade cósmica que o filósofo consegue perceber e afirmar. Isto a princípio permitira a possibilidade de um poeta-filósofo, de um homem que, tendo possuído treinamento filosófico, poderia representar poeticamente a verdade. Esta possibilidade parece estar prevista quando mais adiante em seu argumento contra a poesia, Platão, na voz de Sócrates, indica a possibilidade de reconciliação e diz que: – Então, será justo que a façamos regressar do exílio depois de defender-se com um canto lírico ou com outro metro qualquer? – Sem dúvida. – Concederíamos também a quantos, entre todos os seus patronos, não são poetas, mas amantes da poesia, que digam em sua defesa, com um discurso sem métrica, que ela não só é agradável mas também útil em relação à cidade e à vida humana, e com boa vontade os ouviremos. É que o lucro será nosso, caso pareça não só agradável, mas útil também. (PLATÃO, 2006: X, 607d)9 164 Mas tal reconciliação ocorrerá sob a condição de que a poesia possa provar seu valor para a politéia, e não em seus próprios termos, mas a partir de uma crítica. Caso contrário: Enquanto, porém, não for capaz de defender-se, nós escutaremos o que ela diz, repetindo para nós mesmos, como numa cantilena, essa argumentação que apresentamos, tomando cuidado para não reincidir naquele amor infantil e vulgar. Sentimos, então, que não se deve ter verdadeiro interesse por tal poesia, como se ela atingisse a verdade e devesse ser levada a sério, mas, ao contrário, deve quem a ouve tomar cuidado e temer pela constituição que traz dentro de si e também acatar a respeito da poesia as normas que enunciamos. – Concordo em tudo, disse ele. – Grande, disse, é a peleja, meu caro Gláucon, grande e não do porte que se espera, a peleja cokm que se busca ser bom ou mau. Sendo assim, levado nem pelas honras, nem pelo dinheiro, nem por nenhum comando, nem pela poesia, vale a pena descuidar da justiça e das outras virtudes. (PLATÃO, 2006: X, 308a, b)10 O problema é que esta prova em retrospecto é impossível, pois, e aí vem a segunda causa de condenação de Platão à poesia, a parte boa da alma humana, a razão, aquela parte que permite ver e compreender a unidade e a verdade, cuja manutenção e proteção é a razão de existir da politeia, não interessam ao poeta enquanto poeta. 5.4. O segundo argumento: a prática da poesia é perniciosa Aqui a distinção entre poeta e filósofo ganha uma nova distância, em uma espécie de argumento circular. A visão poética, a do artista mimético, é distinta da do filósofo, pois enquanto este vê a verdade, o outro vê (e reproduz) ilusões, inverdades e fantasmas. Esta diferença não é solúvel por um ajuste, porque uma conformação do poeta à visão filosófica 165 o tornaria um filósofo, e não um poeta, o que mudaria também sua prática. A prática do poeta – o recital público visando o prazer da multidão, a representação sentimental do homem – é a própria natureza do poeta, e ao contrário do filósofo, que conforma sua performance verbal ao fim da filosofia, à descoberta, expressão e manutenção da areté, a performance do poeta é seu próprio fim enquanto poeta. Da mesma maneira que a natureza do sapateiro na economia da cidade é fazer sapatos, que a do carpinteiro é fazer móveis, a do poeta é despertar exatamente o universo sentimental do homem, relacionado a uma doença do espírito. Sócrates diz: – E a parte que se refere às recordações do sofrimento leva às lamentações e é incapaz de saciar-se delas? Não afirmaremos que ela é irracional, indolente e chegada à covardia? – Sim, afirmaremos. – Então, uma parte, a irascível, admite muitas e variadas imitações, mas a outra, o caráter sábio e sereno, o que é sempre semelhante a si mesmo, nem é fácil de imitar, nem se dá a conhecer rapidamente, sobretudo quando é imitado para uma multidão em festa e para gente de origem diversa, reunida num teatro. È que para eles se trata de uma imitação de uma experiência que lhes é estranha. – Seguramente. – É evidente que o poeta imitador não tem pendor para tal parte da alma, nem está de acordo com o feitio de sua sabedoria ser agradável a ela, se quer ter bom nome junto da maioria do povo, mas para o caráter irascível e volúvel que é mais fácil de imitar. (....) – ... Do mesmo modo, diremos que o poeta imitador cria uma constituição má dentro da alma de cada um, porque favorece o que ela tem de irracional e não discerne nem o maior nem o menor, mas, ora julga grandes, ora pequenas as mesmas coisas, criando imagens vazias, mantendo-se, porém, bem afastado da verdade. (PLATÃO, 2006: X, 604d,e-605a)11 A leitura específica de Jaeger desta passagem é bastante elucidativa de quanto seu Platão está ligado a uma espécie de dialética grega do espírito. O autor se refere que a base para a compreensão da República é o conceito de Estado em cada um (“a constituição que cada um traz dentro de si”). As práticas da politeia são essencialmente a maneira de se construir uma identidade entre o corpo espiritual, as três partes da alma platônica, e o corpo social, de tal modo que a excelência de espírito e de Estado se retro-construam: em um Estado justo, a arete política leva à arete espiritual, mas para que haja a primeira é necessário que 166 haja também a segunda. As leis são a mediação que permite a esta identidade ser mantida em bases sãs, sem falseamento ou engano, e um bom Estado será aquele em que as instituições sejam expressão do bom Espírito. E o bom Estado da alma é aquele em que a parte superior do espírito, a razão, comande e dirija a parte inferior, onde estão os apetites, através da mediação do ânimo. O poeta é um elemento de desordem nesta mediação, pois sua ação falseia a realidade, impede que o ciclo de consciência e de manifestação do conteúdo da consciência se dê em bons termos. Ele excita os apetites sensíveis e faz com que o ânimo os acompanhe, invertendo a relação de domínio de razão sobre as outras partes. Sua presença é tão insidiosa que arrisca a destruição tanto do Estado político quanto do Estado interior. Segundo Jaeger: O que ele censura ao poeta imitativo é evocar um Estado mau na alma de cada indivíduo, ao discursar ao gosto daquilo que nele há de irracional. Esta imagem é tirada da tão impugnada prática dos demagogos que adulam a multidão. O poeta torna a alma incapaz de distinguir o importante do não importante, pois as mesmas coisas representa-as às vezes como grandes, e, outras vezes, como pequenas, conforme o fim que tem em vista em cada caso. E é precisamente esta relatividade que prova que o poeta cria ídolos e não reconhece a verdade. (JAEGER, 1995: 986) Este seria o cerne da condenação de Platão aos poetas. É importante notar que o grande modelo de poesia à época de Platão é Eurípides, não só o mais popular, mas cada vez mais respeitado por uma Atenas cosmopolita. Embora os exemplos de mentiras poéticas que Platão elenca no livro II pertençam basicamente a Homero e Ésquilo, é provavelmente o fantasma de Eurípides que assombra sua República. É o espírito do perspectivismo patético de Eurípides que tem de ser exorcizado. É Paul Friedländer que pensa esta relação com a poesia em termos de uma influência. Segundo Freidländer, referindo-se à relação de Platão com a poesia tradicional através do mito: 167 Na última década de Eurípides – que na qualidade de criador e destruidor de mitos ao mesmo tempo inseriu as forças de dissolução nas raízes do mesmo mito – , trancorre a juvnetude de Platão. É bom lembrar-se que seu tio e modelo admirado foi Crítias, e dos seguidores de Eurípides é o próprio Crítias o que, no palco ateniense, mostra o mundo dos deuses como a descoberta venturosa de um homem astuto [referência ao fragmento de uma peça, o fragmento de Sísifo, atribuído a Crítias]. (FRIEDLÄNDER, 1989: 170)12 O centro da condenação do artista mimético passa em Platão pela figura específica que este membro da comunidade tem em sua experiência. Homero, considerado também como trágico, como o primeiro dos trágicos, é necessariamente o Homero dos recitais, em que a virtude guerreira é misturada ao páthos do sofrimento “infantil” e “feminino”. É o Homero do rapsodo Íon no diálogo de mesmo nome: Ìon: A prova que tu me dás é flagrande, Sócrates. Falar-te-ei sem subterfúgios. Com efeito, quando recito um passo patético, os meus olhos enchem-se de lágrimas; se é assustador e terrível, os cabelos eriçam-se-me e o coração bate-me mais depressa. (...) Sócrates: Sabes que vocês fazem que a maior parte dos espectadores experimente os mesmos sentimentos? Íon: Sei-o muito bem! Vejo-os do alto do estrado, cada vez que choram ou lançam olhares terríveis ou tremem com as minhas palavras. É necessário, com efeito, que os observe bem: se os fizer chorar, eu rirei quando receber o dinheiro, enquanto que, se rirem, chorarei eu ao perder o meu salário. . (Íon, 534c-e)13 Este é um diálogo anterior à República, mas que já contém o cerne do caso platônico contra a arte mimética: o poeta não conhece de fato, apenas representa inadequadamente aquilo que vê, para que outros também vejam o que o poeta criador deixou registrado. É preciso frisar que a esta altura da obra platônica ainda não há uma condenação categórica da arte mimética: esta só virá em um segundo momento, nos diálogos maduros de Platão. O interesse de Íon é apontar para a posição específica da poesia na obra platônica em um momento inicial, que irá se transformar na visão da República. O rapsodo é condenável, 168 assim como a pretensão propedêutica da poesia: esta não ensina, ao contrário do que se pensa tradicionalmente no mundo grego. Ninguém aprende a dirigir carruagens ouvindo/lendo Homero. Mas há em Íon a afirmação de que a performance do rapsodo, assim como o poeta criador, são inspirados pelo deus. Sua ação é comparável à de coribantes e àqueles dominados pelo êxtase dionisíaco. 5.5. Terceiro argumento: a imagem poética é perniciosa Este detalhe é importante, porque aponta para uma teoria do daimônico, que seria desenvolvida melhor em o Banquete. Se há ainda algo que Platão deva a uma visão trágica e poética é a concepção de que a mediação entre a aparência e a verdade, ou entre a zona de engano humana e o deus, se dá em termos daimônicos, através de uma intermediação daimônica que, comunicando forma e aparência, envolve a ambas e permite a visão clara. Segundo Freidländer, referendo a Banquete: É o pensamento ou a imagem do “demônico” como uma zona “entre” a superfície humana e a divina que, por sua situação intermédia, “enlaça o todo conjuntamente consigo mesma”. Diotima situa esse reino, no começo de seu mito de Eros, e o constrói como lugar de todo tráfico entre deuses e homens, para onde se situa toda arte da adivinhação e do sacerdotal, toda bruxaria e a magia...” (FRIEDLÄNDER, 1989: 56)14 A poesia, que em Íon ainda pertence possivelmente a esta zona intermediária, na altura dos textos maduros de Platão é excluída. Não é difícil entender o porque da expulsão da poesia desta zona de intermediação entre aparência e verdade, o porque de sua desqualificação como caminho para o conhecimento das formas. Seu germe está na teoria poética de Platão 169 em Íon: a ação do poeta é semelhante à de um ímã, ele transmite o entusiasmo do texto a sua platéia. Nesta projeção, o que está presente é a afirmação do sensível: são os sentimentos, e não o conhecimento, que o poeta transmite. Mas, em termos funcionais, da maneira de funcionar da ação do poeta, há a ausência de intermediação. A transmissão é feita como uma presença, ela “toma” o poeta e a platéia, não permitindo que um termo de afastamento entre no jogo. A imediatez da ação do poeta cria um problema sério em termos de visão das formas, de percepção das idéias, porque a falsidade do que é transmitido (e mesmo em Íon o conteúdo da poesia que o rapsodo transmite já é dotado de um tom de inverdade) não pode ser percebida. A platéia que é tomada pela presença poética não tem instrumentos para se defender, e se afasta da possibilidade de metaxy, de mediação racional entre idéia e aparência. Nós estamos acostumados a pensar sobre este processo como afastamento crítico, mas na filosofia platônica conforme foi pensada especialmente por Friedländer a partir do romantismo alemão, isto se relaciona a uma teoria da imagem mais do que a uma teoria do conceito. Neste panorama a idéia platônica não é simplesmente a espécie, o conceito que abarca todos os indivíduos; ela possui uma concretude imagística, um peso de presença que não é simplesmente lógico, mas também, através da mediação daimônica, sensível, e é mais monádica que conceitual. O exemplo dado por Friedländer para explicar a imagem/idéia platônica é da Urpflantz de Goethe, a planta arquetípica que serviria de forma essencial para todas as plantas. Em Goethe este arquétipo não é uma taxonomia, não é apenas um conjunto abstrato de características morfológicas, mas sim uma planta concreta, uma imagem de planta que o poeta teria encontrado em sua viagem à Itália. É o conceito “visto” concretamente, tornado presença, mas para que esta visão seja 170 verdadeira, para que o conceito visto seja de fato a forma e não a aparência, é preciso a mediação do elemento racional. Segundo Friedländer: E com efeito, para Platão, surge o mundo sucessivamente como idéia e aparência de forma completamente mais sutil, um laço mais forte devia transformar de novo esta oposição em unidade. Para ele a alma humana é um intermediário (metaxy) entre idéia e aparência, assim também a “doxa” como terceiro nível do mundo do conhecimento, um intermediário entre não-ser e ser, conduzida deste a aquele. Pois novamente a “dianoia”, a zona da ciência individual, está no meio, entre o puro conhecimento que se dirige ao reino das idéias e a mera opinião que o dirige à flutuante aparência. Sem a proporção dos elementos, sem a o harmônico sistema das formas de ser e conhecer, sem a “metaxy” da alma, sem a zona do “demônico”, se partem céu e terra entre si. (FRIEDLÄNDER, 1989: 58)15 O problema e a virulência da poesia para Platão está na maneira como ela complica a metaxy. Pois a idéia platônica, assim como a presença poéitca, é também um tipo de imagem, tem concretude, é referenciável. Só que é imagem que se revela através da mediação da parte superior da alma, a razão. A imagem poética, ao contrário, é presença não mediada, e por sua imediatez sensível não permite o discernimento entre aparência e idéia. Este é o cerne da terceira e principal crítica de Platão à poesia, e aqui se marca definitivamente o território e direito de cada zona, pois a terceira crítica de Platão ao poético não se refere apenas à performance, mas também à poesia enquanto processo criativo e enquanto forma simbólica. Segundo Platão na voz de Sócrates: – Não é essa, porém, a maior acusação que temos contra ela. Ser capaz de causar dano mesmo às pessoas de bem, com exceção de bem poucos, nisso é que está o maior perigo... – Como não, se isso é que ela faz? – Ouve e presta atenção! Os melhores entre nós, ao ouvir Homero ou outro poeta trágico imitando um herói que, tomado pela dor do luto, dispara uma grande tirada entremeada por gemidos ou canta e bate no peito, disso sabes muito bem, sentimos prazer e, esquecendo-nos de nós próprios, vamos atrás deles compartilhando de seus sentimentos e ainda, com muito empenho, louvamos como bom poeta principalmente que nos emociona a tal ponto. – Sei disso… como poderia deixar de saber? ... – Se considerasses que a parte da alma que estava sendo contida naquela ocasião, no momento dos infortúnios familiares, e sentia uma necessidade imperiosa de chorar e 171 lamentar-se até saciar-se, porque por sua natureza é afeita a esses desejos, é a que, naquele momento, os poetas satisfazem e alegram. O que em nós, porém, por natureza é o melhor, já que não recebeu, nem da razão nem do hábito, formação suficiente, diminui a vigilância sobre essa parte lamurienta, porque é apenas espectadora de sofrimentos alheios, e para ela, quando um outro que se diz homem de bem, inoportunamente dá vazão a seu luto, nada há de vergonhoso em aplaudi-lo e compadecer-se dele. Ao contrário, ela julga que terá um lucro, o prazer, e não admitiria ser privada dele, por desprezar o poema em seu todo. São muito poucos, penso eu, os que cuidam dos sofrimentos alheios necessariamente resulta num ganho para nós próprios. É que, para alguém que nutre sua compaixão com o sofrimento de outrem de modo que a torne forte, não será fácil contê-la nos seus. (PLATÃO, 2006: X, 605c-606b)16 O grande pecado da poesia seria que, por criar uma imagem que tem a aparência de realidade, esta impede que o processo racional de medida e avaliação possa perceber a falsidade ética daquilo que está sendo dito. Jaeger tem uma leitura bastante direta deste trecho da República: o veto final da filosofia à poesia se dá em termos éticos. Segundo Jaeger: ... o nosso ideal moral do Homem está em franca oposição com nossos sentimentos poéticos. A natural necessidade de chorarmos e de nos lamentarmos, que na vida sufocamos pela violência, é satisfeita pelo poeta e sentimo-la nele como um prazer. A parte verdadeiramente melhor de nosso ser, se estiver mal educada pela razão e pelo hábito, cede neste caso e abandona sua vigilante resistência para dar rédea solta à necessidade de se lamentar... A simpatia é na poesia trágica o que o sentimento do ridículo é na poesia cômica: a fonte da ação exercida no ânimo de quem ouve. Todos nos rendemos a este encanto, embora sejam poucos os que advertem a mudança que no seu próprio ser se opera em virtude do fortalecimento destes impulsos pela poesia. (JAEGER, 1995: 987-88) Algo que fica suposto no comentário de Jaeger é a diferença da visão platônica para a aristotélica, pois o mecanismo que Platão identifica como pernicioso, a capacidade que a poesia tem de afetar o sensível e nublar a razão, é muito próximo da catarse aristotélica. Apenas em Aristóteles há a suposição de que este mecanismo tenha um sentido médico e filosófico. Enquanto a “catarse” platônica funciona de maneira a nublar a razão fortalecendo o sensível, Aristóteles, partindo de um ponto de vista posterior ao platônico, 172 concebe a catarse como um mecanismo são, que, na verdade, ajuda a prática filosófica pois permite a purgação dos sentimentos excessivos, levando à medida e harmonizando razão e sensibilidade. Seguindo a trilha de Friedländer, o problema da maneira como a poesia afeta o homem não é apenas ético, nem se refere puramente a uma prática orgânica de purificação. Não é apenas que a poesia defenda coisas falsas e leve a falsas conclusões, nem que ela fortaleça a parte errada do organismo psíquico, mas há também um problema epistemológico: a poesia cria uma imagem que compete com a imagem filosófica, mas, ao contrário desta, que se constrói através da mediação racional, da ciência das medidas: a imagem poética não é mediável. É isto que ela possui de vicioso: o fato de não permitir a defesa do filósofo contra a imagem que se sobrepõe à sua, o perigo de ser mais efetiva que a imagem filosófica e de ser uma mentira com mais presença que a verdade conforme Platão a enxerga. 5.6. Ponto de fuga O último argumento de Platão contra a poesia estabelece ao mesmo tempo a continuidade e a cisão da literatura filosófica em relação à literatura criativa. É continuidade porque nasce de uma sensibilidade poética, de uma percepção da intensidade de uma presença poética, e é cisão, porque esta sensibilidade é negada em nome de uma outra forma de relação com o conhecimento e com a realidade. A seguir vamos tratar brevemente de como este cuidado platônico em relação à mimese está no centro de uma interpretação mais atual da obra do filósofo. 173 O problema central desta discussão é o estatuto do texto (e portanto da representação) na obra de Platão. No ponto mais extremo temos a teoria das doutrinas nãoescritas que chega até nós através de Giovanni Reale17. O argumento fundamental de Reale, baseado em um trecho do Fedro que alerta para que a escrita não tem a capacidade de manter o pensamento vivo e que destrói a memória, é que é necessário que se leia a filosofia platônica através da prática concreta de ensino na Academia. A obra escrita de Platão seria uma espécie de recurso mnemônico, um instrumento para avivar a memória e recuperar a raiz da discussão, mas aquilo que seria o conteúdo mesmo da doutrina platônica, possivelmente um conteúdo ligado à mística e à matemática pitagórica, não estaria presente nos textos, embora eles apontem para este conteúdo profundo. Este sentido mais complexo da obra platônica passa necessariamente por uma revisão da literatura platônica tendo em vista esta dimensão da oralidade. Um texto que parte de uma preocupação próxima é o Farmácia de Platão (DERRIDA, 1981), de Derrida. O mesmo texto, o Fedro, serve de base para o comentário de Derrida sobre a escrita em Platão. O que está em jogo em Derrida é relacionar este estatuto ao campo semântico do pharmacon, o veneno remédio, e tentar desvelar uma leitura possível de Platão que retrabalhe o sentido de sua obra. A hipótese básica é que a escrita em Platão (e o arcabouço retórico e poético que a escrita carrega consigo, especialmente a ironia) tem um lugar bastante problemático, não sendo encarada como plenamente adequada à disciplina filosófica. Por trás disto estaria uma identificação da escrita com aspectos femininos da ação discursiva, quando o discurso se obriga a atender a necessidades outras, estéticas e sensíveis, para além daquelas do direto discurso filosófico. 174 A complexidade da discussão não vai ser resgatada aqui, mas gostaríamos de apontar para um ponto intermediário na consideração de oralidade e escrita em Platão, que liga a leitura da condenação platônica à poesia assim como do estatuto da retórica e da parte da obra platônica que se refere a uma performance poética, às imagens, mitos, ironia, e outras estratégias discursivas que aproximam o texto platônico talvez não da poesia, que tem um lugar muito específico na cultura grega de sua época, mas da literatura em um sentido mais amplo, no sentido de uma ação discursiva criativa, de algo mediado pela imaginação. Este não era um problema menor para filólogos da geração de Friedländer e Jaeger, que vêm de um panorama cultural muito marcado pela referência ao pensamento filosófico alemão do século XIX. A prática comum de Friedländer, de tentar iluminar certas passagens do pensamento platônico com exemplos retirados de Goethe ou Schlegel, por exemplo – sua teoria da ironia socrática é uma teoria também da ironia em Schlegel, sua teoria da imagem/idéia platônica é uma forma de ler a imagem em Goethe, etc– aponta para a dificuldade de lidar com a condenação platônica à poesia. Nenhum autor dessa geração teve capacidade para efetuar um rompimento total com a filosofia platônica como vamos ver em Nietzsche, mas permanece sempre uma contradição quase insuperável conciliar uma leitura textual de Platão com a apresentação de sua filosofia. O texto platônico parece ser abordável por uma teoria literária, e na verdade não haver a possibilidade de propor plenamente que sua obra não seja em algum nível literatura conforme a de Goethe, Schiller ou Schlegel. Mas seu pensamento é contrário a isso. Neste panorama, o trabalho de Eric Havenlock (1903-1988), Preface to Plato, funciona como uma espécie de elo comunicativo entre a geração de Friedländer e as tentativas posteriores de entender o rompimento platônico com a poesia, como em Derrida ou Lacoue-Labarthe. A hipótese central de 175 Havelock, que vai alimentar toda sua obra e pesquisa, é que a literatura platônica representa uma mudança de paradigma entre uma cultura tradicional oral e uma cultura baseada na escrita. A introdução de seu livro resgata o problema da literariedade em Platão e o quanto ela contradiz seu veto à poesia: Em resumo: o alvo de Platão é precisamente aquelas qualidades que aplaudimos nele. Seu alcance, sua catolicidade, seu comando do registro emocional humano, sua intensidade e sinceridade, e seu poder de dizer coisas em nós mesmos que apenas ele pode revelar. E ainda assim para Platão tudo isso é um tipo de doença, e precisamos perguntar por quê. . (HAVENLOCK, 1963: 6)18 A discussão continua, estabelecendo que aquilo que Platão entendia por poesia é algo essencialmente distinto de nossa poesia, e isto em um sentido mais profundo do que aquele que Jaeger propõe. Não é apenas que a poesia do ator e do rapsodo tenham uma presença prática mais intensa, mas, mais que isso, elas são instituições de um tipo antigo de percepção, de uma cultura baseada na oralidade e na presença física daquele que discursa, uma cultura de audição e de espacialidade, e não da visão. A condenação de Platão se daria contra esta cultura oral. Nossa incompreensão da condenação platônica, especialmente quando o filósofo afirma do perigo que a presença poética tem sobre a alma, o que na verdade nós não conseguimos entender é uma experiência radicalmente distinta de conhecimento. A experiência de conhecimento oralizada exige um nível de identificação entre audiência e recitador que nos é estranho. O mecanismo é bastante simples, na descrição de Havenlock: o “texto” oral, para que seja a instituição educativa que é na Grécia, tem de ser referenciável, tem de estar vivo na memória, por assim dizer. Sem a possibilidade de um mapa de referência como é a escrita, a única possibilidade de retomar o texto é tê-lo internalizado, sabê-lo de cor. E a instituição que permite este grau de 176 conhecimento é exatamente o recital público, com a recriação do que está sendo descrito não apenas para o entendimento, mas para todos os sentidos. Uma récita de Homero como é descrita por Íon, em que a audiência chora junto do Rapsodo e este junto dos personagens, é necessária em uma cultura oral para que o texto seja fixado. Não basta apenas uma experiência mais intensa na relação com o texto para fixá-lo, mas deve ser mais presente também, pois é através da repetição constante que o texto é fixado. Neste sentido, o texto possui a vida, o corpo e a alma de quem o recebe, em termos de tempo, de presença e de identidade. No momento da récita não existe distanciamento entre rapsodo/ator e audiência: todos são a própria história contada. Segundo Havenlock sobre a apresentação poética: Ela se foca inicialmente não sobre o ato do artista, mas sobre seu poder de fazer sua audiência se identificar quase patologicamente com o conteúdo do que está dizendo. E assim quando Platão parece confundir o gênero épico com o dramático, o que ele está dizendo é que qualquer sentença poetizada precisa ser planejada e recitada de maneira a torná-la um tipo de drama dentro da alma de tanto o recitador quanto da audiência. (HAVENLOCK, 1963: 45)19 Neste panorama, a cultura oral dos recitais impede o afastamento necessário à liberdade por que Platão está lutando. Não é apenas que a cultura poética seja falsa, mas o problema básico é que ela é excessivamente presente, ela deixa muito pouco espaço para a individualidade. E é contra esta presença excessiva que Platão construiria seu caso. A obra platônica marcaria a passagem de uma cultura literária para uma cultura oral, e neste aspecto sua condenação à poesia é na verdade condenação à oralidade enquanto forma de transmissão e criação de conhecimento. O que Havenlock concebe é uma espécie de inversão de paradigma: Platão não seria o detrator da poesia, mas o defensor da nova forma de cultura, o primeiro defensor forte da literatura. Sua condenação à poesia não é 177 condenação à arte poética, nem à técnica literária, nem propriamente ao conteúdo e à forma de conhecimento poético, mediado pela imaginação e pela criatividade, mas antes uma defesa destes campos contra a força da cultura oral tradicional. Aqui temos uma espécie de quadratura do círculo, e a enésima reinvenção do conflito antigo entre literatura e filosofia. 1 Versão da tradução do original para o espanhol: Así transcurre durante longo tiempo la preparación, con el objetivo final en esta interdependencia, la pura metafísica y la contemplación de las ideas, enlazando internamente por fin la imagen acabada: el alma, pensada según el modelo del cuerpo, tiene ojos como él para ver, sólo que esos ojos están enfocados hacia las formas eternas. 2 Utilizamos a tradução de Anna Lia Amaral de Almeida Prado pela Martins Fontes (PLATÃO, 2006) para as citações em português, com a versão de Paul Shorey em inglês para cotização (PLATÃO, 1969, v5 e 6) 3 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): For what we laid down in the beginning as a universal requirement when we were founding our city, this I think, or some form of this, is justice. And what we did lay down, and often said, you recall, was that each one man must perform one social service in the state for which his nature is best adapted.” “Yes, we said that.” “And again that to do one's own business and not to be a busybody is justice, is a saying that we have heard from many and have often repeated ourselves.” “We have.” “This, then,” I said, “my friend, if taken in a certain sense appears to be justice, this principle of doing one's own business. 4 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): Neither, then, could God,” said I, “since he is good, be, as the multitude say, the cause of all things, but for mankind he is the cause of few things, but of many things not the cause. For good things are far fewer with us than evil, and for the good we must assume no other cause than God, but the cause of evil we must look for in other things and not in God.” “What you say seems to me most true,” he replied. “Then,” said I, “we must not accept from Homer or any other poet the folly of such error as this about the gods when he says“ Two urns stand on the floor of the palace of Zeus and are filled with Dooms he allots, one of blessings, the other of gifts that are evil 5 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): “From every point of view the divine and the divinity are free from falsehood.” “By all means.” “Then God is altogether simple and true in deed and word, and neither changes himself nor deceives others by visions or words or the sending of signs in waking or in dreams.” “I myself think so,” he said, “when I hear you say it.” “You concur then,” I said, “this as our second norm or canon for speech and poetry about the gods,—that they are neither wizards in shape-shifting nor do they mislead us by falsehoods in words or deed?” “I concur.” “Then, though there are many other things that we praise in Homer, this we will not applaud, the sending of the dream by Zeus on Agamemnon… 6 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): Is it, then, only the poets that we must supervise and compel to embody in their poems the semblance of the good character or else not write poetry among us, or must we keep watch over the other craftsmen, and forbid 178 them to represent the evil disposition, the licentious, the illiberal, the graceless, either in the likeness of living creatures or in buildings or in any other product of their art, on penalty, if unable to obey, of being forbidden to practice their art among us, that our guardians may not be bred among symbols of evil… 7 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): … and concede to them that Homer is the most poetic of poets and the first of tragedians, but we must know the truth, that we can admit no poetry into our city save only hymns to the gods and the praises of good men. For if you grant admission to the honeyed muse in lyric or epic, pleasure and pain will be lords of your city instead of law and that which shall from time to time have approved itself to the general reason as the best.” 8 Versão da tradução do original para o espanhol Para Platón, como intérprete del mundo, había sido dado en esas leyendas un fragmento de explicación del mundo – ho filomythos filósofos pós esti – el amigo de los mitos (filomythos) de alguna manera es amigo de la sabiduría (filósofos)–, fragmentos de un gran mito medido, perdido y troceado a través de las vueltas del teimpo, que se trata de purificar, de enlazar y de darle forma de nuevo. 9 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): “Then may she not justly return from this exile after she has pleaded her defence, whether in lyric or other measure?” “By all means.” “And we would allow her advocates who are not poets but lovers of poetry to plead her cause in prose without metre, and show that she is not only delightful but beneficial to orderly government and all the life of man. 10 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): “… so long as she is unable to make good her defence we shall chant over to ourselves as we listen the reasons that we have given as a counter-charm to her spell, to preserve us from slipping back into the childish loves of the multitude; for we have come to see that we must not take such poetry seriously as a serious thing that lays hold on truth, but that he who lends an ear to it must be on his guard fearing for the polity in his soul and must believe what we have said about poetry.” “By all means,” he said, “I concur.” “Yes, for great is the struggle,” I said, “dear Glaucon, a far greater contest than we think it, that determines whether a man prove good or bad, so that not the lure of honor or wealth or any office, no, nor of poetry either, should incite us to be careless of righteousness and all excellence.” 11 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): “And shall we not say that the part of us that leads us to dwell in memory on our suffering and impels us to lamentation, and cannot get enough of that sort of thing, is the irrational and idle part of us, the associate of cowardice?” “Yes, we will say that.” “And does not the fretful part of us present many and varied occasions for imitation, while the intelligent and temperate disposition, always remaining approximately the same, is neither easy to imitate nor to be understood when imitated, especially by a nondescript mob assembled in the theater? For the representation imitates a type that is alien to them.” “By all means.” “And is it not obvious that the nature of the mimetic poet is not related to this better part of the soul and his cunning is not framed to please it, if he is to win favor with the multitude, but is devoted to the fretful and complicated type of character because it is easy to imitate?” … we shall say that the mimetic poet sets up in each individual soul a vicious constitution by fashioning phantoms far removed from reality, and by currying favor with the senseless element hat cannot distinguish the greater from the less, but calls the same thing now one, now the other.” 179 12 Versão da tradução do original para o espanhol En la última década de Eurípides – que en calidad de creador y detruidor de mitos al mismo tiempo insertó las fuerzas de disolución en las raíces del mismo mito –, transcurre la juventud de Platón. Es bueno acordarse que su tío y admirado molde fue Crítias, y de que entre los seguidores de Eurípides es el proprio Crítias el que, desde la escena ateniense, muestra el mundo de los dioses como el venturoso hallazgo de un hombre astuto. 13 Utilizamos para a citação em português a tradução de Victor Jabouille (PLATÃO, 1988). Para o cotejo abaixo a tradução de W. R. M. Lamb (PLATÃO, 1925, v9). Disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . Ion: How vivid to me, Socrates, is this part of your proof! For I will tell you without reserve: when I relate a tale of woe, my eyes are filled with tears; and when it is of fear or awe, my hair stands on end with terror, and my heart leaps. (…) Socrates: And are you aware that you rhapsodes produce these same effects on most of the spectators also? Ion: Yes, very fully aware: for I look down upon them from the platform and see them at such moments crying and turning awestruck eyes upon me and yielding to the amazement of my tale. For I have to pay the closest attention to them; since, if I set them crying, I shall laugh myself because of the money I take, but if they laugh, I myself shall cry because of the money I lose. 14 Versão da tradução do original para o espanhol Es el pensamiento o la imagen de lo “demónico” como una zona “entre” la superficie humana y la divina que, por su situación intermedia, “enlaza el todo conjuntamente consigo mismo”. Diotima situa ese reino, al comiezo de su mito de Eros, y lo hace como lugar de todo tráfico entre dioses y hombres, para lo que está toda arte de la mántica y el sacerdotal, toda brujería y la magia...” 15 Versão da tradução do original para o espanhol Y en efecto, para Platón sale el mundo sucesivamente en idea y aparencia de forma completamente más sutil, un lazo tan fuerte debía cambiar de nuevo esta oposición en unidad. Así es para el un intermedio (metaxy) entre idea y aprencia es el alma humana, así la “doxa” como tercer grado del mundo del conocimiento, un intermedio entre no-ser y ser, conducida de éste a aquél. Pues de nuevo la “dianoia”, la zona de la ciencia individual, está en el medio, entre el puro conocimiento que se dirige a el reino de las ideas y la mera opinión que le dirige a la fluctuante aparencia. Sin la proporción de los elementos, sin el armónico sistema de las formas de ser y conocer, sin la “metaxy” del alma, sin la zona de lo “demónico”, se rompen cielo y tierra entre sí. 16 Na versão de Paul Shorey (PLATÃO, 1969, v5 e 6): “But we have not yet brought our chief accusation against it. Its power to corrupt, with rare exceptions, even the better sort is surely the chief cause for alarm.” “How could it be otherwise, if it really does that?” “ Listen and reflect. I think you know that the very best of us, when we hear Homer or some other of the makers of tragedy imitating one of the heroes who is in grief, and is delivering a long tirade in his lamentations or chanting and beating his breast, feel pleasure, and abandon ourselves and accompany the representation with sympathy and eagerness, and we praise as an excellent poet the one who most strongly affects us in this way.” “O yes,” said I, “if you would consider it in this way.” … “If you would reflect that the part of the soul that in the former case, in our own misfortunes, was forcibly restrained, and that has hungered for tears and a good cry and satisfaction, because it is its nature to desire these things, is the element in us that the poets satisfy and delight, and that the best element in our nature, since it has never been properly educated by reason or even by habit, then relaxes its guard over the plaintive 180 part, inasmuch as this is contemplating the woes of others and it is no shame to it to praise and pity another who, claiming to be a good man, abandons himself to excess in his grief; but it thinks this vicarious pleasure is so much clear gain, and would not consent to forfeit it by disdaining the poem altogether. That is, I think, because few are capable of reflecting that what we enjoy in others will inevitably react upon ourselves. For after feeding fat the emotion of pity there, it is not easy to restrain it in our own sufferings.” 17 cf. O segundo volume de REALE, Giovanni. História da filosofia antiga (6v). (trad Marcelo Perine). São Paulo: edições Loyola, 1993. 18 Tradução própria do original em inglês: In short, Plato’s target in the poet is precisely those qualities we appalud in him; his range, his catholicity, his command of the human emotional register, his intensity and sincerity, and his power to say things in ourselves that only he can say and only he can reveal. Yet to Plato all this is a kind of disease, and we have to ask why. 19 Tradução própria do original em inglês: It focuses initially not on the artist’s act but on his power to make his audience identify almost pathologically and certainly sympathetically with the content of what he is saying. And hence also when Plato seems to confuse the epic and the dramatic genres, what he is saying is that any poetized statement must be designed and recited in such a way as to make it a kind of drama within the soul both of the reciter and hence of the audience. 181 6: teorias da tragédia no idealismo alemão 6.1. Antecedentes da recepção da tragédia no idealismo alemão Neste capítulo tentaremos apresentar a recepção da tragédia pelo idealismo alemão. Isto significa estabelecer os termos da discussão, tentar perceber, por exemplo, como a teoria da tragédia que em Lessing ainda é um comentário à Arte poética de Aristóteles se torna em Hegel e em Hölderlin algo bastante distinto, já não uma teoria do efeito estético, mas uma ontologia. A discussão sobre o trágico é também um dos parâmetros que delimita uma filosofia do esclarecimento, em Lessing e Kant, para o idealismo que se afirma a partir da geração de Iena, com a décima carta de Cartas sobre dogmatismo e criticismo, de Schelling, sendo uma espécie de manifesto fundador da estética do idealismo. A seguir discutiremos a tragédia em Hegel. É preciso notar que há duas teorias fortes do trágico em Hegel, uma primeira nos capítulos V e VI da Fenomenologia do espírito, em que Édipo rei e Antígona são entendidos como manifestação do espírito no universo ético (e neste caso a discussão sobre o trágico está atada à discussão ética, é uma teoria de como o espírito surge no Estado antigo, na pólis grega), e um segundo momento, dez anos mais tarde, em que ao fim da quarta parte de seu Curso de estética Hegel estabelece uma teoria geral da tragédia. Neste caso, embora a discussão central ainda seja ética (como tudo o mais na obra de Hegel), já não se trata de entender a manifestação do espírito na polis, mas sim de teorizar a própria forma trágica, de entendê-la e de caracterizá-la de uma maneira mais específica. Não há propriamente discordância entre os dois momentos teóricos, mas a tragédia na 182 Fenomenologia do espírito é alguma coisa tão central que Hegel não se preocupa nem em tratá-la como uma forma artística, nem relacioná-la a uma teoria da catarse, o parâmetro para toda discussão sobre o trágico. Ao fim deste capítulos trataremos brevemente da tragédia em Hölderlin, especialmente de sua teoria do trágico, que é mais uma ontologia e uma teoria da linguagem que propriamente uma teoria da forma artística. A discussão sobre o trágico em Lessing no conjunto de reflexões que formam sua Dramaturgia de Hamburgo ainda é delimitada pela obra de Aristóteles, e é essencialmente um leitura sobre o sentido de compaixão e terror que a catarse trágica deve purificar. Este é um momento excepcional da formação de um pensamento (sobre o) trágico. Seu argumento é que o “terror” com que se traduz o phobos na Arte poética de Aristóteles deveria ser traduzido mais propriamente por “temor”, “medo”. Para Lessing, a possível confusão tradutória seria responsável pelos teatros modernos que tentaram reproduzir o teatro trágico terem cometido excessos, com obras que se afastaram do espírito original da tragédia. O que está em jogo em Lessing é qual a dívida dos contemporâneos para com a tragédia clássica, se uma fidelidade formal ou uma fidelidade espiritual. Esta é uma primeira aparição da distinção entre uma filosofia do trágico e o trágico enquanto forma literária, fundamental para o idealismo do século XIX em seu esforço sobre o pensamento estético. Lessing não renega completamente as regras de composição aristotélicas e suas conseqüências. No entanto, chama a atenção que estas regras nasceram de problemas práticos do palco e da sociedade grega, e que sua reprodução pura e simples em um palco moderno – ou, mais precisamente, em um palco alemão moderno – não poderia jamais apresentar a unidade orgânica entre o interesse do público e o representado. Esta crítica, 183 voltada especialmente ao classicismo francês que tenta emular o teatro trágico grego, tem um alcance mais amplo do que a problematização entre público e obra. O tema central da crítica de Lessing é a inadequação de traduzir o phobos aristotélico como “terror”, sendo mais adequado o termo “temor”. Para Lessing, compaixão e temor não seriam apenas sentimentos instrumentais, efeitos de uma performance cujo objetivo final seria a sua autodissolução na catarse para que o espectador, o sujeito afetado pela obra, pudesse atingir um meio-termo emocional, um reequilíbrio de sentimentos e paixões. Mais que isso, esse temor e compaixão, que Lessing liga ao termo filantropia correlato em Aristóteles (76ª jornada, carta de 22 de janeiro de 1768), seriam a própria essência do trágico. Esta “filantropia”, que Lessing estabelece como uma forma específica de sentimento, distinto da compaixão, na medida em que não é motivado pelo sensível, mas é sim amor ao humano em geral, sentimento moral de dever para com o próximo mais que o afeto pelo personagem que sofre, e que faz com que o espectador sinta piedade mesmo pelos vilões que estão para morrer, pelo criminoso e pelo celerado. Esta filantropia projeta a obra em uma dimensão que vai um pouco além da reflexão de Platão e Aristóteles sobre a tragédia clássica. Em ambos a poesia é entendida como essencialmente uma prática performática, mas de modo algum, especialmente em Platão, algo que corresponda a uma verdade ontológica do ser humano. O caráter “filantrópico” que Lessing atribui à forma trágica a tornaria um caminho para irmos além da preocupação específica com os personagens e fábulas representados em cena, e passarmos à preocupação com o próprio humano, indo do particular para o universal, do exemplo para o conceito. É também a maneira de relacionar o estético ao conhecimento, pois no filantrópico, na compaixão que a forma trágica desperta pelo herói que sofre, culpado ou não, surge o amor pelo humano. Segundo Lessing: 184 É exatamente esse amor, digo eu, que em nenhuma circunstância podemos perder inteiramente para com o nosso próximo, que, sob a cinza ... continua a sopitar inextinguível e como se esperasse uma lufada propícia de infortúnio, dor e perdição, para irromper numa labareda de compaixão, exatamente esse amor é que Aristóteles denomina sob o nome de filantropia. (LESSING, 1991: 64) Este amor não é essencialmente distinto do Eros platônico conforme apresentado em Banquete, é ainda a força daimônica que media a relação entre o universo ético e o homem singular, a ponte entre a razão do indivíduo e as idéias. Apenas este eros é filtrado pela visão sentimental e política do século XVIII, que o torna não uma força de espanto, um desejo de conhecimento e de bem, conforme Platão pensa, mas um desejo de afirmação de certos valores morais positivos que Lessing concebe como a base ética da tragédia. Nós retornaremos a este amor que é um dos termos fundamentais da discussão trágica em Hegel e Hölderlin, mas gostaríamos de indicar que na leitura de Lessing da filantropia aristotélica já há a tentativa de estabelecer a forma trágica não como um problema de recepção, não como uma obra que diga respeito apenas ao sensível, mas como uma forma que consegue penetrar no universo ético e dar acesso a uma realidade profunda, representar um bem moral, mesmo quando trata de vilões e celerados. Isto ainda não é a centralidade que a geração posterior a Lessing dará ao trágico, pois a construção do sentido do trágico em Lessing ainda estabelece que a obra de arte precisa se justificar moralmente, ela ainda está subordinada a uma função didática e moralizante, mesmo que esta função seja uma espécie de plano de fundo. Lessing ainda não chega à visão de Schiller de que a obra de arte é gratuita, é lugar do puro jogo entre sensibilidade e entendimento, na terminologia empregada por Kant em 185 sua Crítica da faculdade de juízo. Em sua concepção, a obra de arte ainda é funcional, ainda atende a um apelo didático, especificamente a defesa de um nacionalismo alemão, burguês e ilustrado, contra o modelo do absolutismo esclarecido francês. De novo, não estamos ainda diante da questão da liberdade humana, como em Schiller, e mais tarde no idealismo, mas apenas de uma liberdade política, circunscrita a uma determinada situação histórica concreta. Em Kant a beleza é gratuita, não se relaciona ao que o filósofo chama de perfeição, à justeza a algum fim que a tornaria apreensível pelo entendimento dentro do âmbito de uma razão prática. A beleza é gratuita e não pode construir entendimento. Uma das diferenças entre Lessing e Kant é que o último não supõe a catarse como um momento necessário para a apreensão do estético – e aqui estamos extrapolando a discussão de Lessing sobre o trágico para o belo e a obra de arte em geral, o que talvez seja autorizado por seu Laocoonte. A maneira de Kant pensar o belo estabelece que sua apreensão, de saída, é desinteressada, puramente contemplativa. O belo em Kant é o jogo livre entre gosto, afeto, e entendimento, sem que esta relação consiga em momento algum chegar ao conceito, portanto não tendo a potência de construir conhecimento. Esta neutralidade do belo afasta-o da tragédia, já que esta passa necessariamente pela discussão do interesse moral e da necessidade. Só pode ser belo aquilo que não tem uma finalidade, que não concerne ao julgamento, mas apenas ao campo relativo do afeto. O que a geração de Iena vai realizar contra Kant é o restabelecimento do sentimento do belo como um parâmetro legítimo para o conhecimento, como algo que diz respeito a uma manifestação legítima da verdade (do divino, do absoluto, da idéia) no mundo. De Kant é mantida a noção de que a 186 arte se relaciona de alguma maneira ao entendimento, de que no sentimento do belo o entendimento participa, e não apenas o gosto individual, mas contra Kant o idealismo supõe que haja uma substância apreensível por trás do sentimento do belo, que este possa através do parcial e do singular que lhe são específicos estabelecer o acesso ao universal. Segundo Gérard Bras em Hegel e a arte: As definições kantianas a esse respeito [sobre o belo] são bastantes conhecidas: o belo é o que agrada universalmente e sem conceito. Trata-se então menos de saber em que ele consiste do que de estudar o juízo pelo qual é enunciado, a maneira pela qual é dito. Seu mérito é, para Hegel, enunciar a co-penetração do espiritual e do sensível, do universal e do particular. Sabe-se que o juízo de gosto é, em Kant, nada menos que pessoal e relativo. Mas justamente Kant não chega, segundo Hegel, a pensar objetivamente essa co-penetração, uma vez que ela só existe fundada no juízo, isto é, no subjetivo. (BRAS, 1990: 19) O belo em Kant não tem uma dimensão ética necessária, e para uma filosofia idealista que identifica a substância ética, o que está por trás da ação concreta do homem quando este obedece a uma necessidade racional, será contra isto. Esta liberdade moral do belo será um dos pontos de divergência mais importantes entre o idealismo e a geração precedente. Não é que a obra de arte para os de Iena tenha de ser moralizadora em um sentido positivo, da lei e dos valores estabelecidos, já dados, mas sim que o sentimento do belo surge da percepção de uma substância ética (Hegel) ou ontológica (Schelling, Hölderlin) por trás da obra de arte. Lessing talvez concorde com a liberdade moral do belo, ou pelo menos supõe que um personagem bom esteticamente não tem de ser bom também moralmente, mas não conceberia a liberdade entre obra de arte e finalidade moral. Lessing possui a humana sabedoria de entender que aquilo que chamamos de belo não é desinteressado: não 187 independe, como pensa Kant, de seu entorno, nem é necessariamente uma questão de gosto individual, portanto indecidível para o entendimento, portanto incapaz de gerar conhecimento. Em Lessing o belo, ou pelo menos a obra de arte, parte privilegiada de seu universo, está articulado com condições e circunstâncias que o formam. Não tem uma origem, mas um nascimento, e sua apreensão não é uma constante, mas se transforma de acordo com a história e a sociedade, e, acima de tudo, as paixões humanas são um estágio necessário tanto na apreensão do próprio belo quanto na de seu “resto”, o conhecimento que aponta. O belo deve ser moral, deve atender a e dialogar com o entendimento. Daí a importância da tragédia e da catarse: liberar o entendimento da paixão, não para clinicamente purgar um desequilíbrio, como propõe Aristóteles, mas antes para permitir que a partir do novo equilíbrio atingido algum conhecimento possa ser obtido. Em Kant o jogo entre entendimento e sensibilidade, mediado pela imaginação, pela apresentação de objetos à contemplação, não consegue jamais fazer com que as intuições estéticas formem conceitos universalmente válidos. 6.2. O trágico em Schelling e o afastamento da teoria do efeito trágico Mas estes conceitos (im)possíveis serão a própria essência do trágico conforme a geração de Iena, a geração de Schelling, Hölderlin e Hegel, vai entendê-lo. A essência de 188 toda atividade humana também, de que a arte é o principal exemplo. O que há no idealismo é a valorização da obra de arte como instância mais importante para a manifestação do espírito humano. Já não apenas o jogo livre que prepara o advento da liberdade, como na leitura de Schiller, baseada em Kant, da obra de arte em A educação estética do homem. A obra de arte é para esta geração a manifestação já acabada do espírito, é na obra de arte e naquilo que ela suscita, a sensação estética de beleza, que o ser humano reconhece a grandeza de seu espírito, é através dela que supera a amnésia de sua grandeza moral e espiritual. Em termos teóricos isto significa um afastamento da teoria do efeito estético, da catarse aristotélica, favorecendo uma teoria do conflito trágico. A tragédia cessa de ser interpretada como uma questão de performance e de representação, e passa a ser pensada em termos de manifestação de um conteúdo ético, de uma verdade, de um conflito entre partes, acima de tudo como uma maneira de se pensar o espírito humano diante daquilo que lhe é estranho. Schelling, Hegel e Hölderlin trilham este caminho, possivelmente caracterizado de maneira mais direta em Hegel. Em seu caso, a estrutura trágica é a própria estrutura da dialética, do espírito encontrando sua alteridade negativa e sendo obrigado a suprassumi-la. Segundo Mark W. Roche: Muitos intérpretes da tragédia, começando já com Aristóteles, focam seu comentário sobre o efeito da tragédia, sobre sua recepção. Hegel, junto com Friedrich Hölderlin (1770-1843), Friedrich Schelling (1775-1854), e Peter Szondi (1929-1979), é um dos poucos na tradição a tomar um caminho diferente. Hegel foca na estrutura fulcral da tragédia. E assim o foco de Hegel sobre a estrutura da colisão trágica lhe dá um novo ângulo dos motivos tradicionais de medo e compaixão. Para Hegel, a audiência não deve temer o destino exterior, como com Aristóteles, mas a substância ética que, se violada, se voltará contra o herói. (ROCHE, 2006: 4, In DUNCAN, 2006)1 189 É Schelling que primeiro reconhece no estético esta dimensão ontológica. Em sua Filosofia da arte a teoria estética se afasta definitivamente das categorias aristotélicas de efeito e de representação para se tornar uma das partes mais importantes do pensamento filosófico. Não é só que a obra de arte possa representar uma verdade e ser algo mais que um exercício sensível, contra Platão e Aristóteles, nem que a sensibilidade tenha a capacidade de um entendimento tão válido quanto a razão, contra Kant. A obra de arte na verdade é a manifestação mais própria da idéia, é nela que as aporias e os limites do conhecimento humano se resolvem. Segundo Roberto Machado, comentando a idéia de beleza na obra de Schelling: A beleza consiste na manifestação de uma harmonia que dá a quem a contempla o sentimento de uma satisfação infinita. Mais ainda: é a solução de um antagonismo. O sentimento do belo é a expressão da satisfação de ver apreendido o infinito no âmago do finito. (MACHADO, 2006: 91) Esta cisão entre a visão kantiana e o idealismo que surge logo após o criticismo talvez tenha nas Cartas sobre dogmatismo e criticismo de Schelling seu melhor documento. É ao mesmo tempo a delimitação do afastamento em relação ao dogmatismo, à metafísica de Descartes e Spinoza, e ao criticismo, a filosofia de Kant. A preocupação de Schelling é discutir a necessidade de um Deus dotado de moralidade positiva, ou seja, de um Deus moralmente bom, e ao mesmo tempo afirmar a possibilidade de um eu que conheça a idéia, e não apenas seu fenômeno. A décima carta oferece, segundo Peter Szondi em Poesia e poética do idealismo alemão (SZONDI, 1975: 10-11), a primeira definição moderna de tragédia, o que vale dizer, a primeira vez em que uma teoria do trágico é algo além da reflexão sobre o efeito da catarse. A definição de Schelling nesta carta é importante porque 190 ao mesmo tempo que constrói a transição entre o racionalismo da ilustração e o sistema kantiano e o idealismo, estabelece os termos da discussão sobre o trágico no idealismo alemão. Segundo Schelling na última carta, a carta X: Muitas vezes se perguntou como a razão grega podia suportar as contradições de sua tragédia. Um mortal, destinado pela fatalidade a ser um criminoso, lutando ele mesmo contra a fatalidade, e contudo terrivelmente castigado pelo crime que era obra do destino! O fundamento dessa contradição, aquilo que a tornava suportável, estava em um nível mais profundo do que onde a procuraram, estava no conflito da liberdade humana com a potência do mundo objetivo, no qual o mortal, se aquela potência é uma potência superior (um fatum), tinha de necessariamente ser derrotado, e, contudo, porque não foi derrotado sem luta, tinha de ser punido por sua própria derrota. Que o criminoso, que apenas sucumbiu à potência superior do destino, fosse punido, era um reconhecimento da liberdade humana, uma honra que se prestava à liberdade. (SCHELLING, 1973: 208) Os termos de Schelling para definir o trágico (conflito entre eu e natureza, destino, liberdade), assim como a conclusão de Schelling, de que a derrota do ser humano no trágico era a afirmação de sua liberdade e portanto manifestação do espírito e do ideal, estão por trás tanto da dialética de Hegel, a expressão do conflito entre Espírito e alteridade, entre humanidade e Natureza, quanto da idéia do trágico em Hölderlin (que é na verdade uma ontologia) de que a única solução para a reconciliação com uma natureza e um divino que estão em uma distância infinita em relação ao homem é o conflito com esta natureza e este divino. A conclusão de Schelling sobre o sentido da tragédia na carta X, de que Liberdade e submissão, mesmo a tragédia grega não podia harmonizar. Somente um ser que fosse despojado da liberdade podia sucumbir ao destino. – Era um grande pensamento suportar voluntariamente mesmo a punição por um crime inevitável, para, desse modo, pela própria perda de sua liberdade, provar essa mesma liberdade e sucumbir fazendo ainda uma declaração de vontade livre. (SCHELLING, 1973: 208) 191 é uma daquelas afirmações que ressoam pelos pósteros, que exige ser pensada e emulada e que estabelece um ponto de referência para se discutir. O trágico representa o conflito de um eu livre e infinito (e que em Hegel vai se identificar com o absoluto) que se vê aniquilado, mas que na simples resistência a este aniquilamento, na afirmação de seus valores em relação ao mundo natural que tenta destruí-lo, ganha dignidade e amplia seu alcance, se iguala a este outro infinito, a natureza. A crença de Hegel de que a natureza, através do trabalho do Espírito, em uma longa trajetória de conflito e destruição, pode ser suprassumida na obra humana (na ação através do trabalho, da história, da arte, da religião), e que ela é na verdade a alteridade fundamental na busca do espírito pelo absoluto de si, e que no conflito entre Espírito e Natureza está a fundação do processo dialético que leva ao Espírito, se identifica com a leitura do trágico de Schelling. Segundo Peter Szondi em Poesia e poética do idealismo alemão: Na interpretação de Schelling o herói trágico sucumbe diante da “potência superior” do objetivo, é punido por ter sucumbido, e mesmo por ter aceitado o combate, e daí o valor positivo de sua atitude – esta vontade de liberdade que constitui a “essência do Eu” – se volta contra ele mesmo. A este processo pode-se chamar, com Hegel, dialético. Schelling, é verdade, tinha em vista a afirmação de uma liberdade adquirida com o anulamento, a possibilidade de uma ação puramente trágica lhe permaneceu estrangeira. (SZONDI, 1975: 11)2 Da mesma forma, o antitheos de Hölderlin, o combate entre o herói trágico e a divindade em que este sujeito necessariamente perece, mas, assim, através deste gesto simbólico, consegue atingir uma nova linguagem e representar o infinito, está relacionado a esta passagem de Schelling. 192 6.3. A tragédia em Hegel: a descrição formal no Curso de estética Ainda que já em Schelling a discussão sobre o efeito estético vá ser enfraquecida, o problema da catarse e do caráter mimético da obra de arte vai ainda acompanhar o pensamento do idealismo sobre a arte. É também o índice de uma cisão do pensamento idealista com a tradição de teoria estética desde Aristóteles, pois, na geração de Hegel, e especialmente nele, temos a exigência de um conceito de arte que não respeite nem as exigências moralizadoras e didáticas tradicionais, nem a exigência de identidade entre natureza e belo. No Curso de estética Hegel estabelece logo de início sua posição em relação à tradição aristotélica: o fim da arte, ou ao menos sua missão , não seria representar a natureza, mas sim manifestar o espírito. É importante chamarmos a atenção para uma questão conceitual, tentar entender que a arte, assim como, na verdade, os outros aspectos do pensamento humano, não são simplesmente uma maneira de representação em Hegel. A representação no pensamento hegeliano, ao menos a representação forte da obra de arte, da religião ou da filosofia, é algo mais que formalização: representar é manifestar um ideal, é exteriorizar a verdade de um processo e a verdade de uma idéia, é, finalmente, tornar o absoluto presente no mundo, atado à história e ação dos homens, e ao mesmo tempo dotar esta história de um conteúdo universal, de um sentido que vá além das circunstâncias particulares e singulares que uma obra qualquer tem presente. Assim, a substância da obra está sempre em si mesma, em sua forma e especificidade, mas está também fora de si mesma, no conteúdo conceitual que ela personifica. Não há a possibilidade em Hegel de 193 fazer a disjunção entre o sensível e o ideal, eles estão atados, um diz o outro. Segundo Gérard Bras em Hegel e a arte: Partir da Idéia para refletir sobre a arte, dizer que o Belo é Idéia, é portanto estabelecer a unidade conceitual do conjunto histórico das obras de arte e, ao mesmo tempo, conferir-lhe um sentido. É reconhecer que uma obra desprovida de significação é também desprovida de razão de ser e, em conseqüência, não existe efetivamente: nem idéia separada do mundo material, nem simples figura redutível a uma utilidade qualquer, a obra de arte é a unidade significante de uma forma sensível e de um conteúdo espiritual sob a dominância do conteúdo. (BRAS, 1990: 58) A visão hegeliana sobre a tragédia segue a mesma lógica da arte e de qualquer outra manifestação do espírito. No caso específico da tragédia, vamos abordar o comentário de Hegel a partir da perspectiva da catarse aristotélica, o parâmetro constante em todo comentário sobre o trágico. A leitura formal de Hegel sobre o trágico, em seu Curso de estética, é ao mesmo tempo um reforço e um afastamento do conceito de mimese tradicional. A representação da obra se afasta do conceito antigo porque não é a natureza, o mundo exterior, visual, do homem, que se representa, conforme é a representação em Aristóteles e Platão, e que fundamentou toda teoria estética até o idealismo. O que a arte representa é o Espírito, a Idéia, a matéria espiritual do ser humano em relação à ação do homem no mundo, ou seja, a maneira como a ação concreta do homem revela o absoluto do espírito, a força da individualidade se em harmonia com uma absoluto. É isto que é a substância ética, o grande mote da filosofia de Hegel. Segundo Hegel na primeira parte de seu Curso de estética: Pretendendo que a imitação constitua o fim da arte, que a arte consista, por conseguinte, numa fiel imitação do que já existe, coloca-se a lembrança na base da produção artística. Priva-se, assim, a arte da liberdade, do poder de exprimir o belo. O homem pode, decerto, 194 ter interesse em produzir aparências como a natureza produz formas. Mas não pode se tratar de um interesse puramente subjetivo em que o homem se limita a querer mostrar destreza e habilidade sem considerar o valor objetivo daquilo que é sua intenção de produzir. Ora, o valor de um produto provém do conteúdo, na medida em que este participa do espírito. Como imitador, o homem não ultrapassa os limites do natural, ao passo que o conteúdo deve ser de natureza espiritual. (HEGEL, 1996: 28-9) A referência à lembrança é importante, porque a arte em Hegel tem um lugar muito próximo da anamnese filosófica: ela é uma das instâncias em que é figurado, junto da religião e da filosofia, o conflito do espírito com a natureza, e assim o processo de aquisição de liberdade espiritual. Uma arte que seja mimética conforme a definição de Aristóteles, que represente apenas o sensível, se afasta de sua missão, que é o contrário disto, representar o conflito e a superação da natureza pelo homem, representar o supersensível através do sensível, o infinito através do finito, e assim permitir o acesso do homem ao absoluto, ao campo espiritual que é o conteúdo da obra humana. No pensamento hegeliano este campo espiritual se manifesta necessariamente através do sensível: da ação histórica, das paixões, dos desejos, é sempre figuração, mas uma figuração que possui a mesma matéria do que representa, é a própria matéria do que representa. Uma obra de arte aí não é algo que diz outra coisa e nisto se afasta do dito, como no pensamento platônico, mas é sim a própria voz do que diz, é a própria coisa se expressando. Isto não significa que não haja mediação entre a figuração e a idéia, mas sim que a figuração é a própria mediação. Segundo Hegel na quarta parte de seu Curso de estética: Por isso, podemos dizer, de modo geral, que o tema propriamente dito da tragédia originária é o divino; mas não o divino do modo como constitui o conteúdo da consciência religiosa como tal, e sim tal como penetra no mundo, no agir individual, mas que nesta efetividade não perde nem seu caráter substancial nem se vê dirigido ao que é oposto a si mesmo. Nesta Forma, a substância espiritual do querer e do realizar é o ético. Pois o ético, caso o apreendamos em sua consistência imediata e não apenas do ponto de vista da reflexão 195 subjetiva como o formalmente moral, é o divino em sua realidade mundana, o substancial, cujos lados, tanto particulares quanto essenciais, fornecem o conteúdo motor da ação verdadeiramente humana e no agir mesmo explicitam esta sua essência e a tornam efetiva. (HEGEL, 2004, v. 4:231) Entre as maneiras de figurar o espírito, entre as maneiras da idéia se manifestar, a obra de arte tem um lugar específico, distante da filosofia e da religião, mas não tem uma dignidade inferior a ambas. Antes de mais nada a obra de arte tem a capacidade de explicitar sensivelmente o espírito, de manifestar presença do infinito no finito, do Espírito na Natureza, da liberdade na necessidade. Este é um tema comum a todo pensamento do idealismo alemão, aquilo que indica a proximidade de Hegel em relação a Hölderlin e Schelling, por exemplo, a crença de que esta missão de representação do artístico, sempre tensa e paradoxal, é plenamente cumprida. Há em Hegel o otimismo típico de sua geração e transmitido a todo pensamento estético posterior, que acredita que a linguagem artística pode dar conta de representar o infinito, ainda que o mecanismo de representação seja imensamente complexo, marcado por vários processos de contradição. Ao contrário do pensamento alemão do período, e aqui está a marca da especificidade do pensamento de Hegel em relação a seus contemporâneos, a Natureza não é vista como identidade, o natural não é aquilo a que o homem deve retornar, mas antes aquilo que deve superar para que possa haver a manifestação do Espírito. Em termos hegelianos, a finalidade da arte, que é a manifestação do ideal, só pode ser cumprida através da superação (aufhebung) da natureza, de sua suprassunção na forma artística. A Natureza em Hegel é o elemento de contradição, de alteridade, que o pensamento formal deve suprassumir para retornar a si mesmo em novos termos e manifestar o ideal. 196 Aquilo que a filosofia da arte de Hegel confirma na visão estética tradicional é a importância da estrutura catártica para a apreensão da beleza. O prazer não estaria na representação em si, como em Aristóteles, nem em simplesmente ter a sensibilidade excitada, mas sim na maneira como esta representação consegue desvelar as razões por trás da ação representada. A definição do trágico em Hegel passa por uma releitura eticizante da catarse aristotélica. Em Hegel a catarse que surge da resolução do conflito trágico diz respeito à percepção do universal no particular, à confirmação da substância ética na reformulação da unilateralidade de cada pólo do conflito trágico. Se o conflito trágico se dá devido à impossibilidade de cada pólo do conflito perceber a alteridade e se transformar, a catarse surge como o momento de reconciliação entre estes dois pólos, entre uma lei divina e uma lei humana, mesmo que esta reconciliação seja mediada pela morte. Aqui Hegel se aproxima de Hölderlin, que vai encarar também a reconciliação entre divino e humano como o fim da tragédia. Se esta reconciliação é catastrófica, se ela envolve morte e dissolução, é porque o isolamento de cada pólo é aquilo que impede o reconhecimento da alteridade, portanto o gesto mais deletério em relação ao trabalho do espírito. O primeiro momento para a existência do trágico –e, no processo trágico, o trabalho do espírito– é a “descida” do divino ao mundano (movimento que em determinadas passagens da Fenomenologia é bastante próximo de uma queda teológica). A arte é um momento de tornar efetiva a presença do espírito, ou seja, de perceber este espírito não como um valor distante e cego, mas como algo a ser mediado pela experiência concreta da vida, um abandono da certeza cega para o teste da experiência e da oposição. A base do trágico é quando estes valores éticos absolutos, lei da cidade e lei da família, na Fenomenologia, são obrigados a se confrontarem e se reconhecerem. A falha no reconhecimento de sua 197 alteridade, seu isolamento unilateral em si mesmos e a impossibilidade de reconhecer a diversidade, é o que provoca o conflito trágico. Segundo Hegel no quarto volume de Curso de estética: Eu já mencionei anteriormente o fundamento universal da necessidade destes conflitos. A substância ética, como unidade concreta, é uma unidade de relações e potências diferenciadas, as quais, todavia, apenas em estado destituído de atividade, como deuses felizes, realizam a obra do espírito no gozo de uma vida imperturbada. Inversamente, porém, no conceito desta totalidade mesma reside igualmente a transformação de sua idealidade inicialmente ainda abstrata em efetividade real e aparição mundana. É por meio da natureza deste elemento que a mera diversidade, apreendida por caracteres individuais sobre o terreno de circunstâncias determinadas, deve transformar-se em oposição e colisão. Somente assim há seriedade verídica com aqueles deuses, que apenas no Olimpo e no céu da fantasia e da representação religiosa persistem em seu repouso e unidade pacíficos; mas se eles chegam efetivamente à vida, como pathos determinado de uma individualidade humana, [524] eles levam à culpa e à inocência, independentemente de toda legitimidade, por meio de sua particularidade determinada e oposição desta contra algo outro. (HEGEL, 2004, v. 4:237) A tragédia ocorre porque existe uma falha de reconhecimento, porque o trabalho do espírito, o aufhebung, é impossibilitado de se realizar. A catarse em Hegel corresponde ao segundo momento do processo trágico, quando os pólos isolados são obrigados a se enfrentarem e reconhecer que cada um tem substância ética. Deste reconhecimento surge a possibilidade de reconciliação e da retomada do trabalho do espírito. Nesta chave de leitura, a catarse é uma metáfora para o aufhebung, e vale talvez imaginar a hipótese de que a relação de precedência não é da filosofia hegeliana para a catarse, com a catarse como uma forma de aufhebung, mas sim com a catarse, a leitura de Hegel sobre a catarse e a tragédia desde muito cedo em sua trajetória, como inspiração para o aufhebung. É na retomada da catarse aristotélica que Hegel fornece sua definição mais acabada da forma trágica como reconciliação das polaridade éticas isoladas. Segundo Hegel, no quarto volume de seu Curso de estética: 198 O que por conseguinte é suprimido [aufgehoben] no desenlace trágico é apenas a particularidade unilateral, que não conseguiu se adaptar a esta harmonia e que na tragédia de seu agir, quando não pode abandonar a si mesma e seu propósito, se vê entregue, segundo toda sua totalidade, ao declínio ou pelo menos se vê forçada a resignar, quando disso é capaz, diante da realização de sua finalidade. A este respeito, Aristóteles, como é sabido, situou o efeito verídico da tragédia no fato de que ela deve suscitar e purificar o temor e a compaixão. (HEGEL, 2004, v. 4:237-8) Hegel continua, seguindo um percurso bastante próximo às anotações de janeiro de 1768 de Lessing em sua Dramaturgia de Hamburgo, estabelecendo os limites para o que deve ser entendido como temor e compaixão na tragédia. Não se trataria de purificar paixões puras, não é propriamente a miséria e o sofrimento que levam à catarse, mas sim este sofrimento como forma de representar o conflito e sua superação. A tragédia dramatizaria o afastamento do espírito de sua verdade e seu retorno, na resolução do conflito, à verdade do espírito, aos valores éticos absolutos que são sua natureza. Isto exige que em sua ação os personagens trágicos sejam plenamente responsáveis por aquilo que fazem. Não é trágico o acaso cego nem o simples arbítrio do divino, mas apenas o conflito consciente do herói contra os valores éticos que manifestam o absoluto. Apenas nesta responsabilização há a possibilidade de que a reconciliação que Hegel reconhece como o fim da tragédia tenha um sentido profundo, possa representar a vitória do absoluto sobre o particular. Esta posição de Hegel, bastante próxima ao antitheos de Hölderlin, ao combate passional do herói contra o divino, é o que o afasta também de Schelling. Se neste está em jogo a afirmação de um Eu absoluto sobre o destino e a contingência, em Hegel está em jogo a possibilidade de este Eu cumprir o trabalho do espírito, a aproximação e harmonização dos valores do indivíduo ao universal. Segundo Hegel, o efeito trágico não passa pelo pathos puro, mas sim por este pathos como confirmação e superação da substância ética de uma individualidade: 199 Um sofrimento verdadeiramente trágico, ao contrário, é apenas sentenciado, por sobre os indivíduos agentes, como conseqüência de seu próprio feito, tanto legitimado quanto cheio de culpa por meio de sua colisão, pelo qual eles também têm de responder como todo o seu eu [Selbst]. Acima de mero temor e da simpatia trágica está, por isso, o sentimento da reconciliação, que a tragédia garante por meio da visão da eterna justiça, que em seu imperar absoluto perpassa a legitimidade relativa dos fins e das paixões unilaterais, porque ela não pode tolerar que o conflito e a contradição das potências éticas, unas segundo o seu conceito, se impunham vitoriosas na efetividade e conquistem consistência. (HEGEL, 2004, v. 4:239) 6.4. O trágico em Hegel: A Fenomenologia do espírito O Curso de estética de Hegel fornece então uma definição da tragédia à luz de sua própria filosofia. A seguir vamos nos deter na presença de Édipo rei e Antígona na Fenomenologia do espírito, no modo como estas peças foram entendidas por Hegel como figurações do trabalho do espírito e que questões da filosofia hegeliana foram abordadas em relação a estas peças. A Fenomenologia do espírito é a obra fundamental do pensamento de Hegel, já que é neste livro que são introduzidas as visões centrais de Hegel. O aufhebung, a dialética do senhor e do escravo, o entendimento de que o absoluto se manifesta no mundo da imanência das ações e paixões humanas, estes todos são temas característicos de Hegel que são apresentados no livro. A Fenomenologia é publicada em 1807, cerca de dez anos antes dos cursos de estética ministrados por Hegel, e a presença da tragédia na obra tem uma chave distinta dos cursos. Se neste trabalho Hegel apresenta a reflexão sobre a tragédia como um momento da discussão sobre o estético, na Fenomenologia as duas peças de Sófocles são lidas no capítulo VI como uma maneira de ilustrar o próprio pensamento de Hegel. O sexto capítulo da Fenomenologia é possivelmente a discussão central da obra, 200 porque refere o surgimento do trabalho do espírito dentro da realidade coletiva e histórica, ou seja, como o espírito consegue manifestar sua essência absoluta em um ambiente em que o absoluto não é possível. Toda manifestação do espírito é a mediação entre absoluto e parcial, entre particular e universal, entre sensibilidade finita e razão infinita. Os dois termos nunca se separam, porque o pólo espiritual da relação só pode se manifestar no fenômeno, nos limites históricos e concretos da atividade humana. Mas, ato contínuo, na atividade humana há a possibilidade de recuperar pouco a pouco o universal. Apenas esta atividade humana deve ter a capacidade de surgir de uma harmonização de várias consciências. O eu em Hegel é a base do conhecimento apenas se consegue superar o próprio conforto e plenitude de ser uma consciência isolada e dar-se ao confronto com outras consciências, valores e ações, ou seja, de reconhecer que o sentido unilateral em que se dá seu gozo não é suficiente para garantir a verdade de sua ação. Esta talvez seja a grande contribuição de Hegel para a filosofia, o entendimento de que a verdade é adquirível apenas coletivamente. Em Hegel, seguindo a idéia romântica de que o povo é algo orgânico, como uma imensa mente que se manifesta em indivíduos singulares, o espírito é sempre a consciência de um povo. Através de um movimento contínuo de superação das contradições dentro desta mente coletiva que é o povo, há a possibilidade do singular ter compreensão cada vez mais profunda da substância ética absoluta que ele manifesta. Nas palavras de Hegel no capítulo VI das Fenomenologia do espírito: [parágrafo 441] O espírito é a vida ética de um povo, enquanto é a verdade imediata: o indivíduo que é um mundo. O espírito deve avançar até a consciência do que ele é imediatamente; deve suprassumir a bela vida ética, e atingir, através de uma série de figuras, o saber de si mesmo. São figuras, porém, que diferem das anteriores por serem os espíritos reais, efetividades propriamente ditas; e [serem] em vez de figuras apenas da consciência, figuras de um mundo. (HEGEL, 2002: 306) 201 Esta necessidade do indivíduo transcender o singular tem diferentes leituras na tradição filosófica que descende de Hegel. A tradição canônica entende a natureza relacional da consciência como um problema epistemológico, como uma questão da natureza e da possibilidade do conhecimento sobre a realidade. É o que está presente, por exemplo, no comentário de Jean Hyppolite sobre o caráter coletivo do conhecimento em Hegel. Segundo Hyppolite, em Gênesis e estrutura da Fenomenologia do espírito de Hegel: Portanto, o espírito aparece aqui como a experiência do cogitamus e não mais apenas do cogito. Supõe a superação das consciências singulares e, simultaneamente, a conservação de sua diversidade no seio da substância. É no coração da consciência singular que descobrimos sua relação com outras consciências singulares. Cada uma é para-si e ao mesmo tempo para outrem, cada uma exige o reconhecimento da outra para ser ela mesma e deve igualmente reconhecer a outra. (HYPPOLITE, 2003: 343) Esta necessidade da verdade ser uma construção coletiva é também o que estabelece a afinidade das teorias revolucionárias comunistas com o pensamento de Hegel, e que torna sua teoria uma teoria da história humana. De qualquer maneira, em Hegel a possibilidade de conhecimento tem dois pressupostos. O primeiro é a necessidade de confronto com a alteridade, do ser em si, alienado em seu gozo isolado, com os objetos exteriores a si mesmo, sua negatividade. O segundo pressuposto é que este processo é contínuo e se manifesta na história coletiva das obras humanas. É na história que se dá a construção do conhecimento, e é na instituição histórica que consegue manter de uma maneira harmoniosa o conflito entre consciências que se encontra a figura superior do pensamento de Hegel, o Estado de direito. É no Estado de direito que os indivíduos conseguem transcender sua própria sensibilidade e se confrontar com outros valores de uma forma construtiva. É neste 202 âmbito que Hegel utiliza as figuras de Édipo e de Antígona, como uma maneira de apresentar o surgimento do espírito na Grécia clássica, no Estado Ático. A utilização de Sófocles como ilustração visa a fornecer o esquema de construção, conflito e dissolução deste Estado. A cidade-estado grega é concebida por Hegel como a sobreposição entre lei divina e humana. O divino não tem nesta parte do trabalho o sentido específico do ideal, nem é uma lei necessariamente superior ao direito positivo da cidade. Na Fenomenologia a lei divina se refere à instância da família, que em Hegel tem a função específica de conceder sentido universal ao acontecimento da morte. A morte do indivíduo, em si desprovida de sentido universal, nos termos de Hegel um acontecimento vazio e que ameaça esvaziar o sentido da obra daquele que viveu porque retira este morto do ciclo de alteridade, torna-o um ser puro, fora da ação relacional, e, portanto pura passividade, que nem age sobre os outros nem pode impedir a ação dos outros sobre si, que é resgatado deste destino ao ser afastado da comunidade dos vivos através do ritual funerário. Quando a família enterra seu morto estabelece o afastamento do indivíduo morto em relação aos viventes, e protege-o da ação daqueles que ficam, preservando o sentido daquilo que o morto viveu. Segundo Hegel: [parágrafo 452] Acontece por isso que também o ser morto, o ser universal, se torne um [ser] retornado a si, um ser-para-si ou que a pura singularidade singular, carente de forças, seja elevada à individualidade universal. O morto, por ter liberado o seu ser do seu agir, ou do Uno negativo – é a singularidade vazia, apenas um passivo ser para Outro, abandonado a toda individualidade irracional inferior e às forças da matéria abstrata. Agora elas são mais poderosas que o morto: a primeira, em razão da vida que possui, e as outras, por causa de sua natureza negativa. A família afasta o morto desse agir que o profana, [o agir] dos desejos inconscientes e das essências abstratas; põe o seu agir no lugar [do agir deles] e faz o parente desposar o seio da terra, a individualidade elementar imperecível. Desse modo, torna-o sócio de uma comunidade que, antes, mantém subjugadas e prisioneiras as forças das matérias singulares e as vitalidades inferiores, que queriam desencadear-se contra o morto e destruí-lo. (HEGEL, 2002: 312-3) 203 O dever de enterro permite que o singular, que o indivíduo se proteja de ser tornado objeto vazio e puramente passivo. Nas palavras de Hegel, constitui “a lei divina perfeita, ou a ação ética positiva para com o Singular” (HEGEL, 2002: 313). O dever de enterro também insere o morto no universal, faz com que sua morte, que poderia se confundida com um sem sentido, torne-se uma última ação do morto, seu pulo limiar do singular para o universal. Acima de tudo a família resgata o morto da natureza, faz com que sua morte seja um trabalho do espírito e não uma contingência. Nas palavras de Jean Hyppolite: Sua morte é o trabalho de sua vida, seu vir-a-ser universal, mas tal morte aparece, no entanto, como uma contingência, um fato da natureza cuja significação espiritual não é aparente: é o papel da família, da lei divina, retirar a morte à natureza e dela fazer essencialmente uma “operação do espírito”. A função ética da família, tal como Hegel a considera aqui, é a de tornar a morte a seu encargo. (HYPPOLITE, 2003: 365) O conflito entre Creonte e Antígona se dá neste âmbito. Quando Antígona fala de um direito superior ao da cidade, é a este direito familiar que se refere, de enterrar o próprio morto, de dotar esta morte de um último sentido sem o qual o ser de Polinices se esvazia, torna-se não mais a matéria espiritual do humano, mas algo que pertence de novo à natureza, em um aniquilamento puro. Hegel reconhece a motivação de Antígona no amor fraternal, que em seu entender pertence a um tipo mais espiritualizado de amor, pois não está atado ao dever natural e biológico, como o amor entre pais e filhos ou o amor entre homem e mulher, que tem na procriação e no desejo formas de interesse. O amor fraternal é puro porque se aproxima da liberdade de escolha e para a confirmação de um eu que é livre. Antígona se reconhece em Polinices, este nela, sem a nota conflituosa que produz a 204 maturidade do eu com o mundo. E para este amor, que Hölderlin vai identificar como o fogo aórgico que domina o personagem trágico e o obriga agir respeitando este fogo e nada mais, a dimensão do agir de Polinices, sua traição a Tebas que motiva o veto a seu sepultamento, é irrelevante. Antígona não consegue aceitar a justiça do decreto de Creonte, nem este a justiça da exigência amorosa de Antígona. Há aqui a contradição impossível de ser superada no puro agir, porque estamos diante da oposição entre dois absolutos, ambos justos. Mas este conflito é também obra do espírito, é a conciliação do individual com o universal, pois no aniquilamento de Antígona há o restabelecimento da justiça da cidade ao mesmo tempo que a obrigação da cidade reconhecer sua alteridade, seu outro na lei divina da família. Mas esta conciliação só ocorre caso o agir da cidade e o agir de Antígona se efetivem plenamente: Antígona tem de se revoltar e ir contra Creonte, porque apenas em sua revolta se manifesta o direito divino do funeral; Antígona tem de ser punida e tem de ser culpada, porque sua culpa e punição manifestam a lei da comunidade. Nas palavras de George Steiner em seu Antigones: Inocência é irreconciliável com a ação humana, mas apenas na ação há identidade moral. Antígona é culpada. O edito de Creonte é uma punição política, para Antígona é um crime ontológico. A culpa de Polinices para com Tebas é totalmente irrelevante para o sentido existencial que nela tem seu singular, insubstituível ser. O Sein de seu irmão não pode, de maneira nenhuma, ser qualificado por seu Tun. A morte é precisamente o retorno da ação para o ser. Ao tomar sobre si a inevitável culpa da ação ao opor o feminino ontológico ao masculino-político, Antígona se coloca acima de Édipo: seu “crime” é plenamente consciente. (STEINER, 1984: 35)3 A morte de Antígona permite que ambos os sentidos, o da lei humana e o da lei divina, as duas instâncias que estruturam a cidade clássica, fiquem claros, e nesta efetivação chega-se a um novo equilíbrio, em que a lei humana suprassume a lei divina embora ainda mantenha 205 sua memória. A continuação do capítulo VI da Fenomenologia trata de como esta lei divina retorna com outras figuras e produz o declínio do Estado ático. A ilustração aqui já não é o momento trágico de Antígona, mas a corrupção e o interesse familiar que acabam solapando o direito humano e destroem a cidade. 6.5. O trágico em Hölderlin Nosso comentário sobre o trágico em Hölderlin se baseará na reflexão do autor sobre a forma trágica mais do que propriamente em sua obra poética. O objetivo será comparar a posição de Hölderlin com a de Hegel, buscando um campo de discussão comum para estabelecer os pontos de identidade e de distinção entre os dois autores. A reflexão sobre a tragédia em Hölderlin tem algumas especificidades que a tornam uma espécie de fulcro para todo pensamento trágico, pois ao mesmo tempo que a referência para aquilo que é dito pelo autor é todo o pensamento idealista, suas conclusões preparam o surgimento de um novo entendimento sobre o trágico. Aquilo que em Hölderlin é identidade com o comentário de Hegel (e Schelling), por exemplo a preocupação ética e a radical alteridade da natureza em relação ao homem, ilumina a obra de Hegel de modo a revelar problemas não tão óbvios imediatamente. Aquilo que se afasta, por exemplo, o desejo de Hölderlin de pensar a tragédia e a poesia de um modo geral como um problema de linguagem, um problema dos limites e possibilidades da linguagem para representar o absoluto, ressoa em todo o pensamento posterior, em autores como Nietzsche e Heidegger, ou no pensamento de Walter Benjamin sobre a linguagem e a representação. 206 Talvez a melhor maneira de iniciar a discussão seja apresentando a concepção de Hölderlin sobre a linguagem poética, o que vai nos preparar para entender como a tragédia é vista em sua obra. Segundo Hölderlin, no pequeno texto O modo de proceder do espírito poético, a linguagem poética surge do confronto apaixonado da interioridade do homem com a natureza, de sua reflexão sobre aquilo que é e seus limites de ação e de representação. Hölderlin afirma que: O produto dessa reflexão é a linguagem. Na medida em que o poeta se sente, de fato, em toda a sua vida interior e exterior, concebido pelo tom puro de sua sensação originária e que conquista uma circunvisão de seu mundo, que agora aparece tão cheio de novidade, tão desconhecido, a soma de todas as suas experiências, de seu saber, de sua intuição, de seu pensamento, arte e natureza, como se apresentam nele e fora dele, tudo lhe aparece como numa primeira vez e, por isso mesmo, de maneira inconcebida, indeterminada, diluída em vida e sonoridade da matéria. Nesse instante, é sobremaneira importante que ele não assuma nada como dado, que não parta de nada positivo, que arte e natureza, como ele anteriormente aprendeu a ver e conhecer, não falem antes que, para ele, se apresente uma linguagem. Ou seja, antes que o desconhecido e sem nome em seu mundo se torne conhecido e se deixe nomear quando ajustado à sua disposição e com ela considerado consonante. (HÖLDERLIN, 1994: 51) O que é descrito por Hölderlin é um tipo de relação não muito distinta da dialética hegeliana, com a mesma importância processual dada à alteridade e ao trabalho do negativo. É na oposição do espírito do indivíduo, em Hölderlin o universo infinito da interioridade, do pensamento e da sensibilidade, em relação à harmonia formal da natureza, que nasce a possibilidade de uma linguagem poética. O que vai distinguir Hölderlin de Hegel não é propriamente a dialética e o trabalho do negativo, em ambos o fundamento da possibilidade da verdade. Mas enquanto Hegel pensa que o aufhebung dá conta de reconciliar as oposições que estruturam o espírito, projetando a existência plena do espírito na matéria coletiva da história, Hölderlin ainda exige que esta reconciliação se dê de forma individual e marcada pela permanência simultânea dos opostos. É acima de tudo a 207 experiência de um indivíduo livre, cuja sensibilidade não é, como em Hegel, posta em uma relação de subjeção à necessidade, à matéria bruta dos acontecimentos. Ambas as dialéticas são libertárias, mas enquanto em Hegel a necessidade é uma espécie de professor tirânico do espírito em seu caminho em direção à liberdade humana, um professor que em sua ação sobre a comunidade dos homens os obriga a se repensarem e reconhecê-lo, em Hölderlin há a exigência de que o espírito possa se manifestar em uma individualidade liberada da contingência. Nisto Hölderlin concorda com a tradição idealista do indivíduo como núcleo da liberdade e do conhecimento. Esta distinção específica entre o pensamento dos dois, que estabelece, por exemplo, que Hegel enxergue a instância de cumprimento da liberdade humana na história e Hölderlin na arte, fica bastante clara no comentário de Hölderlin sobre o sentido da religião em Sobre a religião: Não é apenas por si mesmo e nem pelos objetos que o homem pode fazer a experiência de que, no mundo, há mais do que um curso mecânico, de que há um espírito, um deus. Essa experiência dá-se apenas numa relação mais viva com o que o cerca, para além das necessidades imediatas. Cada um teria, portanto, o seu próprio deus na medida em que possui a sua própria esfera de ação e de experiência, só havendo uma divindade comunitária na medida em que os demais possuem uma esfera comunitária em que agem e sofrem humanamente, isto é, para além das necessidades imediatas. (HÖLDERLIN, 1994: 68) Esta afirmação do valor da diferença, da necessidade de se manter o distinto da individualidade como a condição para uma história é uma posição nitidamente distante de como Hegel concebe o conhecimento humano. Lembremos que o aufhebung hegeliano promove a reconciliação de pólos negativos, entre individualidades, coletividades e grupos, através da destruição de uma parte da diferença entre os pólos ao mesmo tempo que mantém uma parte do contraditório ainda vivo na figuração nova que surge do processo. 208 Assim, no confronto entre Antígona e Creonte o elemento contraditório (a indiferença de Antígona em relação à substância ética, em relação à moralidade do agir que condenou seu irmão) é destruído na morte de Antígona. Mas a nova forma de lei que surge do confronto será obrigada a levar em consideração em sua moralidade parte da exigência daquilo que foi aniquilado, ou seja, será obrigada a pensar a letra da nova lei em relação ao direito familiar de retirar o morto da comunidade ética dos viventes e assim preservá-lo. A forma nova que surge do confronto é aufhebt em relação ao momento do próprio confronto, ela absorve em sua substância parte daquilo que foi obrigada a destruir, e assim se modifica. A consciência é exatamente o reconhecimento da parcialidade da primeira posição, seu repensar-se e modificar-se, tornando-se cada vez mais categórica, mais universal. Esta consciência é sempre retrospectiva, é sempre uma reflexão sobre aquilo que ocorreu, e apenas nesta instância temporal é que é possível uma linguagem para descrever a verdade. A melancolia de Walter Benjamin, por exemplo, se refere a esta impossibilidade de consciência presente. Assim, a linguagem em Hegel é uma maneira de recuperar o sentido do vivido, e a percepção atual é necessariamente pobre para dar conta do presente. O famoso exemplo do aqui e agora com que Hegel explica no início da Fenomenologia do espírito a incapacidade humana de dar conta da categoria através da linguagem se refere a este limite: dizemos sempre o que já passou, o que já não é, e apenas aceitando esta parcialidade de nosso saber podemos lenta e dolorosamente construí-lo verdadeiramente. Segundo Hegel: [parágrafo 95] Portanto a própria certeza sensível deve ser indagada: Que é o isto? Se o tomamos no duplo aspecto de seu ser, como agora e como aqui, a dialética que tem nele vai tomar uma forma tão inteligível quanto ele mesmo. À pergunta: que é o agora? 209 respondemos, por exemplo: o agora é a noite. Para tirar a prova da verdade dessa certeza sensível basta uma experiência simples. Anotamos por escrito essa verdade; uma verdade nada perde por ser anotada, nem tampouco porque a guardamos. Vejamos de novo, agora, neste meio-dia, a verdade anotada; devemos dizer, então, que se tornou vazia. (HEGEL, 2002: 87) O que Hölderlin exige da linguagem poética é a capacidade de superar o limite lógico da linguagem, que, de alguma maneira, ao dizer que “agora é noite” estejamos dizendo simultaneamente que “agora é meio-dia”, e que o elemento sensível da categoria, que ata o absoluto conceitual do agora à realidade sensível, à noite e ao meio-dia concretos, possa recuperar o absoluto do próprio agora. O que Hölderlin exige é uma linguagem –e um conhecimento– baseada não no que passou, no que se perdeu, no que se diluiu, mas sim fundamentada na manutenção da tensão da experiência. A linguagem em Hegel é sempre uma forma de tradução e registro desse trabalho do negativo, mas a instância em que se dá a mediação entre universal e sensível, entre o “agora “e o “agora é meio-dia” é a ação humana. É na ação que absoluto e particular se reconciliam, é na ação que sua oposição se manifesta e se resolve, cabendo à linguagem, à poesia e à arte, especialmente, registrar posteriormente e de forma parcial o vivido. Sempre há uma perda de integridade neste registro, pois ele ocorre após o aufhebung, após o instante em que o momento pleno da contradição fazia brilhar de maneira integral o sentido próprio de cada campo em conflito, após a conciliação. O que Hölderlin vai exigir da poesia e da linguagem é que elas possam não apenas registrar, mas mediar o conflito. Uma poesia que possa dizer o homem e dizer a natureza em seus próprios termos, dizer o momento em que sua alteridade, para Hölderlin uma alteridade entre dois absolutos, esteja presente de maneira simultânea e integral. Isto torna a 210 linguagem poética, e a poesia trágica como forma maior desta linguagem, essencialmente um exercício do paradoxo. Na linguagem artística o sentido pleno do vivido, sua tensão e grandeza, sua plenitude, são mantidos: a linguagem não dilui o sentido do evento – e o evento de fato é sempre negatividade entre homem e natureza, entre o homem e o divino. Este sentido que em Hegel se perde no registro, pois o registro do sentido ocorre após sua consumação na intensidade da ação, em Hölderlin pode ser mantido e referido de maneira direta pela poesia. Há aqui entre esses dois amigos a repetição do conflito entre poesia e filosofia, entre o veto da filosofia à possibilidade de conhecimento imediato que a poesia pretende. É claro que em Hegel este veto se estende a todo o saber humano, e não apenas à poesia, mas é esta possibilidade que Hölderlin exige. O desejo de Hölderlin por uma linguagem que cumpra plenamente a mediação, a conciliação dos absolutos do homem e da natureza precisa dar conta dos limites lógicos do simbólico, dar conta de que o agora será sempre um agora específico, por exemplo. A teoria da tragédia de Hölderlin é pensada para responder ao problema de que mecanismo simbólico pode permitir a expressão plena de dois absolutos no momento de seu conflito. Sua resposta é promover uma espécie de inversão de valores, em que o absoluto de uma presença, o absoluto do sentimento do divino, que não é representável pela linguagem por seus limites lógicos, possa ser figurado através da transformação da linguagem em um outro absoluto, por uma ausência, por uma falta de significação, pelo absoluto de um silêncio, de uma falha em comunicar, por uma traição do homem e do divino em dizerem um ao outro e promoverem sua comunhão. Nesta falha que produz o abismo infinito entre os dois pode ser representado outro infinito, o da reconciliação entre os dois, sua união 211 renovada. É assim que Hölderlin explica a tragédia no pequeno parágrafo O significado da tragédia: O significado das tragédias se deixa conceber mais facilmente no paradoxo. Na medida em que toda capacidade é justa e igualmente partilhada, tudo o que é originário manifesta-se não na força originária, mas, sobretudo, em sua fraqueza, de forma que a luz da vida e o aparecimento pertencem, própria e oportunamente, à fraqueza de cada todo. No trágico, o signo é, em si mesmo, insignificante, ineficaz, ao passo que o originário surge imediatamente. Em sentido próprio, o originário pode apenas aparecer em sua fraqueza. É quando o signo se coloca em sua insignificância = 0 que o originário, o fundo velado de toda natureza, pode se apresentar. Quando em sua doação mais fraca, a natureza se apresenta com propriedade, então o signo é = 0 quando se apresenta em sua doação mais fraca. (HÖLDERLIN, 1994: 63) Quando Hölderlin estabelece que a maneira de significar “o fundo velado de toda natureza” é o enfraquecimento do próprio signo, está propondo uma linguagem que de sua incapacidade estrutural e lógica de dizer o universal, da própria explicitação desta incapacidade, seja obrigada a se transcender. A linguagem consegue dizer de fato quando, obrigada a silenciar por não dar conta mais de dizer, é obrigada a um gesto extremo, seu próprio silêncio, a suspensão de sua ação, quando se torna alguma coisa além de linguagem e assim, paradoxalmente, significa. Este “além da linguagem”, “além do signo” na tragédia, cujo signo e linguagem é a ação do herói, é o momento limite do sacrifício. Peter Szondi interpeta assim esta passagem em Poesia e poética do idealismo alemão: Esta dialética segundo a qual o que é forte não pode aparecer a não ser como falho e necessitando de qualquer coisa falha para que sua força apareça, funda a necessidade da arte. Nele [Hölderlin] a natureza aparece não mais propriamente, mas mediada por um signo. Este signo, na tragédia, é o herói. Incapaz de fazer frente à potência da natureza, e anulado por ela, ele é “insignificante” e “ineficaz”. Mas, no momento da morte do herói trágico, quando o signo é igual a zero, a natureza se apresenta triunfante em seu dom mais forte e o originário é francamente desvelado. Hölderlin interpreta assim a tragédia como o sacrifício oferecido pelo homem à natureza para a conduzir a aparecer de maneira adequada. (SZONDI, 1976: 14)4 212 Estruturalmente a teoria do trágico de Hölderlin se aproxima da afirmação de Schelling de que na morte do herói trágico há a afirmação da liberdade de uma individualidade sobre o destino, a afirmação e ascensão do eu sobre o mundo. O mecanismo é muito próximo, mas o sentido do sacrifício trágico é distinto nos dois. O fato de este sacrifício ser na verdade uma maneira de promover a reconciliação do eu com o divino, de, na morte, promover o ressurgimento da natureza no mundo da cultura, do divino no mundano, aproxima também sua posição da de Hegel. Mas, ao contrário de Hegel, em que o mundo da natureza é que deve ser silenciado – o direito familiar, próximo do direito natural, que deve ser suprimido em nome do direito humano da polis –, o sacrifício trágico tem em Hölderlin a função de aproximar de novo o divino do humano, fazer com que o sentido pleno da natureza se revele. O silêncio da morte do herói é na verdade a concentração de sua linguagem, é a construção do signo do absoluto. Ao partir da significação para a insignificância, do dizer para o não dizer, Hölderlin concebe a superação do veto lógico à capacidade da linguagem de significar o absoluto. É um processo dialético em que o herói, enquanto signo, passa da ação e da presença concreta para a morte e a ausência, e ao se tornar esta grande alteridade que é o morto toca nesta outra grande alteridade que é o divino. O que sua teoria da tragédia também tem de dialético é conceber a relação do herói com a divindade como uma relação conflituosa, de luta agressiva entre duas potências de dignidade igual. A significação através do silêncio é o que Hölderlin chamou de infidelidade entre deus e homem. É este silêncio, esta infidelidade, que trai o destino comum de divino e humano de se reconciliarem, que é paradoxalmente o caminho de sua reconciliação. Nos termos de Hölderlin, o silêncio de deus e a traição do homem, a infidelidade mútua que faz com que o deus se retraia para 213 longe do mundo e que o homem o confronte exigindo sua presença, sua reunificação consigo, é a maneira específica com que as duas potências se relacionam. É segundo esta teoria que se dá tanto a escrita de seu Empédocles quanto sua tradução de Antígona, e é também a maneira como Hölderlin se situa na interpretação da Arte poética de Aristóteles. A seguir vamos tentar situar a maneira como Hölderlin lê a teoria aristotélica. A tragédia em Hölderlin seria o confronto de duas forças, o divino e o humano, o princípio de formalização e harmonia orgânico, presente na natureza, e o princípio de transbordamento da forma presente no homem, o aórgico5. Estes princípios, que no sacrifício trágico se reúnem e reconciliam, estão separados pelo abismo dos limites humanos: a linguagem, a vida concreta, os limites sensíveis. Enquanto o herói permanece dentro destes limites, que são a aceitação do retraimento do divino, mas que são também a alienação de sua natureza mais profunda, semelhante ao divino, há estabilidade. No momento em que o fogo aórgico se acende e o homem começa a desejar transcender estes limites, é que se dá a situação trágica. Esta pretensão de se igualar ao deus, o tema de sua tragédia Empédocles, é a maneira de Hölderlin interpretar a hybris, o crime da desmesura trágica. Segundo Hölderlin em seu Fundamento para Empédocles: A ode trágica tem início no fogo mais elevado. O espírito puro, a pura interioridade ultrapassou os seus limites. Não sustentou de maneira suficientemente comedida as ligações da vida, essas que em virtude de sua disposição interior tendem, necessária e inexoravelmente, ao contato, só que de forma desmesurada, como a consciência, a reflexão e a sensibilidade física. Da desmesura da interioridade surge, portanto, a discórdia que a ode trágica simula, desde o começo, a fim de apresentar o puro. Por um ato natural, ela então prossegue do extremo da diferença e da indigência até o extremo da indistinção, do puro, do supra-sensível, que parece não admitir nenhuma indigência. (HÖLDERLIN, 1994: 79) 214 É uma interioridade excepcionalmente poderosa que faz com que o herói trágico deseje encarar o deus. Só que este ato é vetado pela lei religiosa, é necessariamente desejo nefasto, sacrílego, em dois sentidos. É formalmente sacrílego porque vai contra a separação estrita entre homem e divino formalizada pela religião. É espiritualmente sacrílego porque o transbordamento aórgico é contrário à natureza do deus, à medida orgânica de harmonia. Mas, paradoxalmente, é no aórgico que o homem consegue acessar o universal, o categórico que o divino e a natureza representam. Há uma chave mística nesta construção de Hölderlin, uma espécie de gnosticismo, em que a queda do homem no mundo sensível só pode ser redimida através de seu mergulho no pecado, na desmesura. O crime em Hölderlin tem um sentido moral muito fraco, se referindo mais especificamente à traição do limite entre deus e homem. O pecado é a pretensão do homem ao divino, que em sua leitura passa pelo abandono do universo sensível, do afastamento do ritual religioso, por exemplo, ou o abandono do herói à comunidade dos homens. Segundo Hölderlin em Fundamento para Empédocles: Quanto mais infinita a interioridade, mais inexprimível, mais próxima ela se torna do nefas, tanto mais fria e rigorosamente a imagem deve distinguir o homem e o elemento por ele sentido a fim de manter a sensação em seus limites. Assim, quanto menos a imagem exprime, de forma imediata, a sensação, mais ela deve negar a forma e a matéria. (HÖLDERLIN, 1994: 81) O paradoxo é que este abandono do universo ético, da convivência com outros homens e a conformação a limites humanos devido à desmesura, à pretensão do herói de que sua humanidade não está nestes gestos sensíveis, mas em outra comunidade, junto ao divino, é aquilo que dá ao herói trágico o vislumbre da natureza do divino. Françoise Dastur em seu 215 comentário a Hölderlin em Hölderlin: tragédia e modernidade, identifica neste paradoxo, definitivamente longe da ética hegeliana, a maneira de Hölderlin pensar o problema moral da decisão trágica, pensar em como o herói age erradamente, e convicto em seu errar, apesar de ser um indivíduo elevado. Só que o erro trágico, a hamartía, seria um desvio apenas aparente: na verdade ele estabelece que a ação a que o herói responde dentro da tragédia é motivada por um sentido moral já categórico, já dentro do supra-sensível e do espírito absoluto. O herói desafia o divino e tenta subverter seu lugar na ordem do mundo porque sua ação não se dá dentro de uma lógica de recompensa e temor, de sujeição, mas sim dentro da lógica de liberdade absoluta que seu fogo aórgico exige. Segundo Dastur, Hölderlin, ao propor uma hamartía que seja erro apenas aparente, estaria pensando em termos de uma moralidade absoluta, supra-ética, que teria o imperativo categórico de Kant como referência: Em Kant, o imperativo é dito “categórico” porque incondicional, o que quer dizer, precisamente, que ele ordena, de forma imediata e absoluta, uma ação representada como boa em si e não boa como um meio para outra coisa. O imperativo só pode ser categórico porque não tem a forma de um contrato firmado com Deus, que garantiria uma recompensa à moralidade. (HÖLDERLIN, 1994: 186) É neste sentido que Hölderlin se refere a uma “retirada categórica” do divino, que exigiria do homem o confronto com o deus para seu retorno categórico. O afastamento do divino é necessário, porque esta é a maneira de significar sua presença, assim como o confronto do herói aórgico contra o deus também é necessário, porque é isto que exige sua essência semelhante à divina. Neste sentido, o herói aórgico participa mais da essência divina do que os sacerdotes, que podem na melhor das hipóteses reproduzir o desejo divino, a verdade do 216 deus, que é e não é a verdade do herói. É a verdade do herói porque seu fogo o eleva à altura do deus, ao universo supra-sensível daquilo que já não pertence ao fenômeno, mas ao universal, e não é a verdade do herói porque a distância entre homem e divino é intransponível. Eis, então, o conflito trágico. Neste âmbito, o herói se coloca necessariamente como antagonista do divino, como elemento que vai contra aquilo que é a natureza divina, o afastamento, mas que é obrigado a reconhecer que sua distância em relação ao deus é tão grande que mesmo este antagonismo não será considerado. O deus está ausente de fato, ele não se manifesta nem quando provocado. Segundo Dastur: Em Édipo rei e Antígona, Sófocles expõe a relação do homem com a retirada categórica do deus. Édipo é atheos – é o que diz o verso 661 da tragédia –, o que não quer dizer, de modo algum, ateu no sentido moderno dessa palavra, mas sim abandonado pelo deus que dele se retira e nem mesmo se dá ao trabalho de castigá-lo quando seu crime é descoberto. (HÖLDERLIN, 1994: 187) E, no entanto, a reconciliação entre as duas forças, entre o orgânico e o aórgico, é uma necessidade tão premente quanto o afastamento do divino e o combate do herói com o deus que se retira. O cerne do trágico estaria então na revelação da linguagem que permite esta conciliação, na maneira como deus e homem, cada um atendendo ao princípio que lhes cabe, conseguem encontrar uma linguagem que os religue e permita sua união. Este momento de revelação ocorre quando o conflito é mais intenso, quando deus e homem põem em xeque o lugar de cada um. Hölderlin localiza no surgimento do adivinho Tirésias nas tragédias de Édipo rei e Antígona. Tirésias surge para revelar que a pretensão humana não está de acordo com a verdade divina, que o lugar ético e político da existência humana não pode ser transcendido para um lugar teológico, de conhecimento do divino. Na leitura 217 de Hölderlin, a grande hamartía de Édipo não é seu parricídio e incesto, mas sim ter interpretado de forma desmesurada a sentença do oráculo que inicia a peça. O oráculo exige que o crime cometido contra Laio seja purificado, o que, segundo o lugar devido do homem na ordem do mundo, significaria cumprir os rituais e agir com justiça para com o povo da cidade. Mas Édipo interpreta a sentença, segundo sua natureza aórgica, como uma licença para seu desejo espiritual de saber mais e afirmar a capacidade de seu espírito em dominar o tempo e o passado, manifestar a verdade. O surgimento de Tirésias, que vem advertir o herói de que ele não deve desejar penetrar mais no mistério, não deve tentar descobrir a verdade para além daquilo que seja seu lugar como homem atado à comunidade dos viventes, faz com que surja o dissenso entre a dignidade que o deus reserva ao homem e aquela que o herói exige para si em sua desmesura, e que caso continue insistindo seu destino será o aniquilamento. A intervenção de Tirésias deixa clara para além de qualquer dúvida a distância entre a pretensão humana e a natureza divina, e nesta fissura criada na ordem do conhecimento surge o silêncio que separa deus e homem, a distância entre a linguagem de um e de outro. Surge também o momento de decisão trágica, quando o herói aórgico recusa acatar o desejo divino de que apague o fogo que o consome, a recusa do não saber, a recusa de sair do lugar de liberdade que seu espírito conquistou através do desejo de identidade com o divino. Diante da explicitação da distância e da descoberta pelo homem da verdade de si, é possível proceder à reconciliação. Esta reconciliação é a aniquilação que o próprio homem elege, seu abandono da comunidade dos vivos para entrar no ser puro dos mortos. Esta reconciliação é também aquilo que Hölderlin vai entender como catarse: da mesma forma que em Aristóteles compaixão e medo são purgados da alma através do despertar destas mesmas paixões, a separação infinita e a 218 incomunicabilidade entre humano e divino é purgada, é superada, através de sua explicitação. Deus e homem se unem na morte porque sua separação já é morte, esta é a linguagem que os une. E na imensidão de coragem e de liberdade que a decisão de se anular exige do eu ainda sensível, há o caminho para a união com o divino. Segundo Philippe Lacoue-Labarthe em seu ensaio A cesura do especulativo: A apresentação do trágico repousa, principalmente, sobre o fato de que o monstruoso, como o deus-e-homem se acasalam, e como, ilimitadamente, a potência da natureza e o recôndito do homem se tornam Um na fúria, se concebe por isso que o devir-um ilimitado se purifique por uma separação ilimitada. (LACOUE-LABARTHE, 2000: 204) Após a descoberta de que existe um absoluto de silêncio que os separa, deus e homem podem utilizar este silêncio como uma linguagem comum a ambos e se reconciliar. A representação desta reconciliação é a decisão de morte do herói após a descoberta do silêncio como a linguagem que liga deus e homem: na infidelidade mútua, na confirmação apaixonada da distância entre os dois pólos e na confirmação da verdade simultânea de cada pretensão, na aceitação da traição de deus ao homem quando se retira da realidade e do homem ao deus quando recusa o lugar que o deus lhe reservou na ordem do mundo. E esta descoberta é dita através do aniquilamento do herói, que confirma a ausência de deus (que não se manifesta na tragédia para punir) e de homem (que é obrigado a abandonar a comunidade dos homens e penetrar na comunidade dos mortos, e assim se afastar do sensível). Hölderlin, em suas Observações sobre Édipo, se refere a esta catarse como a forma de preservar a memória dos deuses: O drama semelhante a um processo de heresia, [tudo isso] em linguagem para um mundo em que, em meio à peste e à confusão de sentido e um espírito divinatório inflamado por 219 toda parte, ... o deus e o homem – para que o curso do mundo não tenha lacuna e não desapareça a memória dos celestiais – se comunicam na forma da infidelidade esquecedora de tudo, pois a infidelidade divina é o que há de melhor para lembrar. (HÖLDERLIN, 2008: 79) Esta catarse é também, e tão importante quanto isto, a retirada do homem da comunidade dos viventes, sua penetração no categórico quando aceita a morte. Segundo Hölderlin em seu Observações sobre Édipo: Nesse momento, o homem esquece de si e de deus, e se afasta, certamente de modo sagrado, como um traidor. No limite extremo do sofrimento só restam, de fato, as condições do tempo ou do espaço. (HÖLDERLIN, 2008: 79) 1 Tradução própria do original em inglês: Most interpreters of tragedy, beginning already with Aristotle, focus their accounts of tragedy on the effect of tragedy, on its reception. Hegel, along with Friedrich Hölderlin (1770-1843), Friedrich Schelling (17751854), and Peter Szondi (1929-1979), is one of the few figures in the tradition to take a different path. Hegel focuses on the core structure of tragedy. And yet Hegel’s focus on the structure of tragic collision gives him a new angle on the traditional motifs of fear and pity. For Hegel the audience is to fear not external fate, as with Aristotle, but the ethical substance which, if violated, will turn against the hero. 2 Versão própria da tradução ao francês: Dans l’interpretation de Schelling, le héros tragique cuccombe seulemant devant la “puissance supéurieure” de l’objèctif, il est puni pour avoir succombé, et meme pous avoir engage le combat, el ainsi le valeur positive dans son attitude – cette volonté de liberté que constitue “l’essence de Moi” – se retourne contre lui même. Ce processus, on peut, avec Hegel, l’appeler “dialectique”. Schelling, il est vrais, avait en vue l’affirmation d’une liberté acquire aux prix de l’anéantissement, la possibilité d’une action purement tragique que lui demeurant étrangère. 3 Tradução própria do original em inglês: Innocence is irreconciliable with human action, but only in action is there moral identity. Antigone is guilty. Creon’s edict is a political punishment, to Antigone it is an ontological crime. Polyneice’s guilt towards Thebes is totally irrelevant to her existencial sense of his singular, irreplaceable being. The Sein of her brother cannot, in any way, be qualified by his Tun. Death is precisely, the return from action into being. In taking upon herself the inevitable guilt of action, in opposing the feminine-ontological to the masculine-political, Antigone stands above Oedipus: her “crime” is fully conscious. 4 Versão própria da tradução ao francês: 220 Cette dialectique selon l’aquelle ce qui est fort ne peut de lui-même apparaître que comme faible et au besoin de quelque chose de faible pour que ça force apparaisse, fonde la necessité de l’art. En luis la nature apparaît non plus proprement, mais mediatisé par un signe. Ce signe, dans la tragédie, c’est l’héros. Incappable de faire échec à la puissance de la nature, et anéanti par elle, il est “insignifiant” et “sans effet”. Mais, au moment de la mort du héros tragique, lorsque le signe est égal à zero, la nature se présente triomphatrice dans son dons le plus fort et l’originel est franchement découvert. Hölderlin inteprète ainsi la tragédie comme le sacrifice offert par l’homme a la nature pour la conduire à apparaître de façon adequate. 5 Estes temos têm sinal invertido em relação aos princípios do apolíneo e do dionisíaco no Nascimento da tragédia de Nietzsche. Em Hölderlin a natureza manifesta o princípio formal apolíneo (orgânico em sua nomenclatura), e o homem o princípio informal dionisíaco (aórgico em Hölderlin). A discussão se dá também em outros termos, pois o juviniano e a natureza são espiritualizados, possuem um fundo metafísico que não está presente em Nietzsche. 221 CONCLUSÃO Ao longo deste trabalho tentamos demonstrar como um pensamento sobre a alteridade, que identificamos como a grande contribuição do pensamento idealista, se referiu constantemente à tragédia grega em sua formação. Autores como Schelling, Hegel e Hölderlin enxergaram na tragédia uma espécie de modelo, ou, mais exatamente, uma figuração, daquilo que eles identificaram como as questões mais urgentes do ser humano: a solidão de um eu que, embora reconheça em si grandeza, está isolado em si mesmo, em sua finitude e singularidade. Toda dialética é então este movimento em direção à alteridade, e seu alvo, seu fim, é que neste reconhecimento daquilo que está fora de si o indivíduo possa resolver seu anseio por comunhão e por superação de sua finitude. É da relação com o outro, da maneira como esta alteridade é reconhecida e processada, que surge a relevância da forma trágica para o idealismo. Porque reconhecer a alteridade geralmente passa por conflito e sofrimento, no mínimo porque o resultado deste reconhecimento é necessariamente a difícil transformação do mesmo em um outro. Segundo a fé do período este é um outro mais universal, que está mais próximo de sua própria individualidade e do absoluto que ele anseia. Aquilo que o idealismo percebeu no trágico foi a promessa de que no sofrimento haja sentido, de que no páthos haja a possibilidade de surgir um conhecimento mais puro sobre o indivíduo e aquilo que lhe é exterior, e que, de posse deste conhecimento seja possível se chegar ao absoluto, de que através da finitude seja possível tocar o infinito. 222 Em autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides a geração de Hegel reconheceu que este projeto havia sido cumprido, e que aquele conhecimento ansiado que levaria à reconciliação do homem particular com o universal, mesmo que através do sofrimento, já havia sido figurado na tragédia. Como uma hipótese impossível de ser comprovada, talvez possamos propor que a leitura intensiva do texto trágico, que levou a uma certa idéia do trágico, foi responsável por identificar de uma maneira tão direta a relação com a alteridade como uma relação de sofrimento e de colisão. Por outro lado, a tragédia para o idealismo é necessariamente um símbolo, a figuração particular de um universal, o que faz com que este pensamento em sua recepção se afaste da tradição aristotélica de entender a obra de arte trágica como uma obra que visa o efeito sensível e a torne uma outra coisa: a representação sensível de um drama espiritual. É deste lugar, em que Aristóteles é lido de uma maneira nova e em boa medida ignorado na teoria estética do idealismo, que surge a novidade da leitura idealista sobre o trágico. O entendimento do trágico como drama da reconciliação, a crença de que o herói trágico é culpado eticamente, mas que nesta culpa reside um dom redentor, a crença de que o herói trágico é uma figuração de um humano eterno, um personagem universal que representa um homem categórico, são conclusões a que o idealismo chega sobre o trágico. Se para Aristóteles o sofrimento do herói tem o sentido muito direto de purgar homeopaticamente as emoções da platéia, para o idealismo este sofrimento surge já entendido como uma forma autônoma em que a recepção pelo auditório é pouco importante, e como a linguagem dura que comunica indivíduo e absoluto. O aparato filológico de que nos utilizamos serve como uma maneira de mediar este discurso estritamente filosófico, de uma filosofia da arte, com as questões literárias mais concretas que interessam a um trabalho do campo da ciência da literatura. Os autores que 223 citamos com mais freqüência, como Jaeger, Lesky ou Bruno Snell, têm uma sensibilidade e um entendimento da obra de arte muito próximos ao do idealismo alemão, mas são historiadores da arte e da cultura e não filósofos, o que significa que seu discurso aponta para as questões mais estritamente literárias de realização e contextualização que devem estar presentes em um trabalho de crítica literária. A referência a estes autores serve para iluminar e mediar as conclusões da filosofia da arte do idealismo, tentando dar mais presença ao texto trágico propriamente dentro do universo de pensamento do idealismo. Nossa intenção e estratégia de leitura foi fazer com que este texto surgisse em paralelo ao texto filosófico, e assim permitir uma relação mais intensa entre os dois discursos, com a pretensão de que assim o diálogo ocorresse de uma maneira mais equilibrada, iluminando ao mesmo tempo as idéias e conceitos dos filósofos e a diferença e independência que a forma trágica possa manter diante deste discurso teórico, repetindo em um outro nível, menos urgente, digamos, a dialética que nos preocupamos em descrever. Mesmo que o plano deste estudo tenha sido a apresentação de uma leitura específica do trágico, na medida em que o próprio texto literário é resgatado enquanto texto literário há a possibilidade de perceber sua diferença. Nesta diferença reside talvez o motivo deste trabalho, que não chega a ser explicitado nem realizado, mas que foi um dos entornos de sua escrita, o divórcio entre discurso filosófico e discurso literário. Aquela afirmação no início da Teogonia de Hesíodo, quando a musa afirma que a poesia diz muitas mentiras disfarçadas de verdade, mas que às vezes diz verdades, é um credo tranqüilo para a prática da arte, uma espécie de reserva que permite ao discurso criativo ser menos responsável, e a partir desta irresponsabilidade legar, para além do prazer, algumas formas novas ao mundo. Esta capacidade, que 224 necessariamente lembra da transitoriedade dos valores e esforços do homem, é exatamente o que um discurso filosófico preocupado com aquilo que é permanente não pode aceitar. Este mundo aberto da poesia e da arte, em que a fantasia traz para dentro de um sistema de valores imagens novas, que com o tempo e a sorte podem adquirir permanência e modificar a realidade que as cerca, como uma ilusão que ganhe concretude qual os objetos de Tlöm no conto de Borges, sempre alerta para o quanto a existência do homem é cercada de incerteza e mutabilidade. O veto platônico passa, como nos referimos no capítulo cinco, por esta incapacidade de aceitar este jogo com os limites entre permanente e impermanente. A confusão que o literário causa entre verdade e aparência, entre valor e insignificância, não nos parece algo que possa ser plenamente processado por um discurso filosófico, mesmo após Nietzsche. Talvez se trate não de aceitar uma conciliação, que sempre estaria marcada por certos desenganos mútuos de ambas as partes, mas de permitir que o conflito se processe de uma forma produtiva. Quando o idealismo entende a arte concreta como algo a ser tratado por uma filosofia da arte, quando supõe que na grande obra de arte haja apenas verdades, e não verdades e mentiras, realiza um movimento no sentido contrário a isto. E nisto prepara sua própria crise, porque as mentiras da obra de arte têm um poder e uma vigência específica dentro de uma economia do desejo humano. E, no entanto, a promessa que o idealismo identificou na arte, a possibilidade de um conhecimento legítimo sobre o homem e, mais que isso, a possibilidade de liberdade e de contato com o infinito, modificaram a própria arte, inseriram em seu sistema o peso de uma responsabilidade que talvez ela teria recusado em um momento anterior. Para finalizar gostaríamos de refletir de uma forma mais livre sobre os limites do pensamento sobre o trágico no século XIX. Isto significa, talvez, pensar em como a base 225 deste pensamento, o desejo de superar a finitude e a solidão, se tornou um projeto praticamente irrealizável na modernidade. E isto poderá ser um bem, porque nos permite, através de uma longa corrente de idéias, pensar a liberdade humana e a possível conciliação do homem com seus demônios em termos mais modestos, mais próximos a uma realidade tão pouco espiritual como é a nossa, em que aquelas potências negativas no próprio idealismo, o corpo, a natureza, as vozes menores daquilo que não exige o infinito mas apenas algum tipo de presença, e que estão fadadas àquilo que é esquecimento e desaparição, possam ser ouvidas de uma maneira mais adequada. É o projeto de Walter Benjamin, provavelmente, e de Freud também, se pensarmos que a promessa da psicanálise não é nunca a felicidade, mas apenas uma lenta aceitação de um eu cheio de limites. E há uma certa consolação em poder deitar ao chão o fardo da eternidade, do infinito, da força luciferina que em um momento da modernidade incendiou o pensamento. Mas como aceitar de boa fé o abandono da promessa antiga, de que a potência do ser humano pode aproximálo de deuses, que sua solidão pode ser recompensada por êxtase e que o sofrimento, ao menos por um instante, conceda um sentido maior àquilo que é a vida? E eis o problema, pois, embora ao longo de muito tempo tenhamos tentado nos disciplinar a aceitar que os limites humanos não são conciliáveis, que todo conhecimento e toda experiência são parciais e que não há remédio para isto, ainda uma parte de nós busca a promessa. Tínhamos nos referido na introdução que a tragédia havia incutido um vírus no pensamento, a possibilidade de a linguagem não poder dizer o infinito, de que o representado seja sempre a parte fraca, transitória e fugaz do homem. Mas há um anticorpo no idealismo, a promessa de absoluto, que não consegue ser expurgada deste novo corpo do conhecimento. Diante desta promessa, do fascínio que ela exerce, da esperança que ela 226 produz, a consciência do limite acaba se tornando uma coisa fraca, no mínimo uma conquista sem brilho. Em momentos em que a lucidez é difícil, nos momentos duros em que os limites parecem ser pesados demais, o desejo pelo absoluto pode muito bem gerar monstros, que dificilmente podem ser contidos racionalmente. Daí a necessidade de integrar de novo a promessa do absoluto na consciência do limite. De tornar esta promessa algo que seja um elemento de tensão dentro de um pensamento que se acostumou demais a ficar preso em seu horizonte. Os frutos dessa possibilidade ainda não vieram, mas se são possíveis autores como Guimarães Rosa ou Bataille, que experimentaram com o infinito, cada um a seu modo, em um mundo sem espírito, há a indicação de que este é um projeto possível na arte, para além da arte, talvez. 227 BIBLIOGRAFIA ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Teoria Estética. (trad. Artur Mourão). Lisboa: edições 70,?. _______. Dialética do esclarecimento. trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro:Jorge Zahar, 1985. _______ . Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. 2ª ed. (trad. Luiz Eduardo Bicca). Rio de Janeiro: Ática, 1993. _______ . Notas de Literatura I. (trad. Jorge de Almeida). São Paulo: Duas Cidades; 34, 2003. _______ . Dialética negativa. (trad. Marco A. Casanova). Rio de Janeiro: Zahar, 2009. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2004. ARENDT, Hannah. Sobre a violência. (trad. André Duarte). Rio de Janeiro: Relume e Dumará, 1994. _______ . Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. (trad. José Rubens Siqueira). São Paulo: Companhia das Letras, 1999. ARISTÓFANES. As vespas; As aves; As rãs. (trad. Mário da Gama Kury).Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004. _______ . The frogs. (trad. Mathew Arnold) disponível em http://www.phaenex.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/phaenex/index ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. (trad. Jaime Bruna). São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1981. _______ .Poetics. In Aristotle in 23 Volumes. V.23. (trad. W.H. Fyfe). Cambridge; London: Harvard UnP; William Heinemann Ltd, 1932. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . 228 ARNOTT, Peter. Public and performance in greek theatre. New York: Routledge, 1989. AUERBACH, Erich. Mimesis: a repersentação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Perspectiva, 1998. AUERBACH, Erich. Ensaios de literatura ocidental. (org. Davi Arriguci Jr e Samuel Titan Jr.; trad. Samuel Titan jr. e José M. M. de Macedo). São Paulo: 34; 2 cidades, 2007. BACELAR, Agatha Pitombo. A liminaridade trágica em Ájax, de Sófocles. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004 BARKER, Francis. The culture of violence: essay on tragedy and history. Chicago: The University of Chicago, 1993. BEISER, Frederick C. The Cambridge companion to Hegel and nineteenth-century philosophy. Cambridge: Cambridge UnP, 2008. BELO, Fernando. Leituras de Aristóteles e de Nietzsche: a poética sobre a verdade e a mentira. Lisboa: Fundação Callouste Gulbenkian, 1994. BENJAMIN, Walter. Brecht: ensayos y conversaciones. Montevideo: Arca, 1970. ________ . Essais 1922-1934. (trad. Maurice de Gandillac) Paris, Denoël, 1971a. . Oeuvres. I. Mythe et violence. (trad. Maurice Gandillac)Paris: Danöel, 1971b. _______ . Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand. (trad. Philippe Lacoue-Labarthe e Anne-Marie Lang). Paris: Flamarion, 1976. . A origem do drama barroco alemão. (trad. Sergio Paulo Rouanet). São Paulo: Brasiliense, 1984. 229 _______ . Documentos de cultura, documentos de barbárie: escritos escolhidos, (trad. de Celeste H. M. Ribeiro de Souza et al) São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1986 . Magia e Técnica, Arte e Política. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras Escolhidas v. 1) BHABHA, Homi. The Location of Culture. Londres: Routledge, 1994. BLOCH, Ernest. O princípio esperança. 3 v. Rio de Janeiro: EdUERJ; Contraponto, 2005-6. BLOOM, Harold. Angústia da influência: uma teoria da poesia. 2 ed. (trad Marcos Santarrita). Rio de Janeiro: Imago, 2002. BRAS, Gérard. Hegel e a arte, uma apresentação à estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. BUFORD, Bill. Entre os vândalos. A multidão e a sedução da violência. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia e política. Trad. Paulo Neves. São Paulo:Cosac & Naify, 2004. CORNFORD, Frances MacDonald. Thucidides Mythistoricus. London: Edward Arnold, 1907. COURTINE, Jean-François. A tragédia e o tempo da história. (trad. Heloisa B. S. Rocha) São Paulo: 34, 2006. COUTINHO, Eduardo F.(Org.) Fronteiras imaginadas: cultura nacional/teoria internacional. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. DERRIDA, Jacques. Dissemination. (trad. Barbara Johnson) London; Chicago: The Athlone; Un of Chicago, 1981. 230 _______ . Adeus a Emmanuel Lévinas. (trad Fábio e Eva Landa) São Paulo: Perspectiva, 2004. DIAS, Ângela Maria & GLENADEL, Paula (org.) Estéticas da Crueldade. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004. EASTERLING, P. E. (org). The Cambridge companion to greek tragedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ELIAS, Norbert. O processo civilizador. 2 v. Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. ÉSQUILO, SÓFOCLES, EURÍPIDES. Prometeu acorrentado, Ájax, Alceste. (trad. Mário da Gama Kury) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. ÉSQUILO, SÓFOCLES, EURÍPIDES. Os persas; Electra; Hécuba. (trad. Mário da Gama Kury) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. EURÍPIDES; SÓFOCLES. Electras. (trad. Trajano Vieira) São Paulo: Ateliê, 2009. ÉSQUILO. The tragedies os Aeschylus. (trad. R. Potter) London: Oxford, 1812. _______ . Aeschylus. 2v. (trad. Weir Smyth) Cambridge:.Harvard UnP: 1926. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . _______ . Oréstia: Agamêmnon, Coéforas, Eumênides. (trad. Mário da Gama Kury). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. EURÍPIDES. The nineteen plays and fragments of Euripides. (trad. Michael Woodhull). London, 1809. _______ . The Plays of Euripides (trad. E. P. Coleridge). London: George Bell and Sons, 1891. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . 231 _______ . Electra. (trad. E. P. Coleridge) In OATES, Whitney; O’NEILL, Eugene orgs 2v. New York: Random House, 1938. (2.v) disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . _______ . Ifigênia em Áulis; As fenícias; As bacantes. (trad. Mário da Gama Kury) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. _______ . Euripides (trad. David Kovacs). Cambridge: Harvard UnP, 1994. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . _______ . Medéia, Hipólito, As troianas. (trad. Mário da Gama Kury) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. _______ . Duas tragédias: Hécuba e As troianas. (trad. Chrsitian Werner) São Paulo:Martins Fontes, 2004. _______ . Medeia. (trad. Trajano Vieira) São Paulo: 34, 2010. FICHTE, Johann Gottlieb; SCHELLING, Friedrich von. Escritos filosóficos. (coleção Os pensadores v. 26; trad. Rubens Rodrigues Torres Filho). São Paulo: Abril cultural, 1973. FITZGERALD, Michael; SALZANI, Carlo (orgs). Colloquy: text, theory, critique. n° 16. Melbourne: Monash University, 2008. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Curso no Collège de France (19751976). Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. _______. História da loucura. (trad. José T. C. Netto) São Paulo: Perspectiva, 2000. . A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2006.. FREUD, Sigmund. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1948. 2 v. 232 FRIEDLÄNDER, Paul. Platon. (2v) (trad. S. Gonzáles Escudero) Madrid: Tecnos, 1989. GIRARD, René. Violence and the sacred. Baltimore/London: John Hopkins, 1977. _____________ . El chivo expiatorio. (trad. Joaquín Jordá) Barcelona: Anagrama, 1986. ____________ . Things hidden since the foundation of the world. (trad. Stephen Bann, Michael Metteer) Stanford: Stanford UnP, 1987. HAUSER, Arnold. Maneirismo. (trad. J. Guinsburg e Magda França). São Paulo: Perspectiva, 1993. HAVENLOCK, Eric A. Preface to Plato. Harvard: Belknap Press, 1963. HEGEL, G. W. F. Curso de estética: o belo na arte. (1ª e 2ª partes do Curso de estética). (trad. Orlando Vitorino) São Paulo: Martins Fontes, 1996. _______ . Filosofia da história. (trad. Maria Rodrigues e Hans Harden). 2. ed. Brasília: EdUnB, 1999. _______ . Cursos de estética. 4v. (trad. Marco Aurélio Werle e Oliver Tolle). São Paulo: EdUSP, 2001-4. _______ . Fenomenologia do Espírito. 7. ed. rev. Trad. Paulo Meneses, com a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: USF, 2002. HESÍODO. Teogonia. (trad. Jaa Torrano). São Paulo: Martins Fontes, 2006. HÖLDERLIN, Friedrich; DASTUR, Françoise. Reflexões, seguidas de “Hölderlin, tragédia da modernidade de Françoise Dartur”. (trad. Márcia C. De Sá Cavalcante e Antonio Abranches) Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. HÖLDERLIN, Friedrich; BEAUFRET, Jean. Notas sobre Édipo, Notas sobre Antígona; Hölderlin e Sófocles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 233 HÖLDERLIN, Friedrich. A morte de Empédocles. (trad. Marise Moassab Curioni) São Paulo: Iluminuras, 2008. HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. (trad. J. P. Monteiro). São Paulo: Perspectiva, 2004. HYPPOLITE, Jean. Gênese e estrutura da Fenomenologia do espírito de Hegel. (trad. Sílvio Rosa Filho et al) 2.ed. São Paulo: Discurso, 2003. JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995. KANT, Immanuel. A paz eterna e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1988. _____________ . Crítica da faculdade do juízo. (trad. Valério Rohden e António Marques) . Rio de Janeiro: Forense Universiaria, 2002. _____________ . Crítica da razão prática. (trad. Valério Rohden)São Paulo: Martins Fontes, 2002. KAYSER, Wolfgang. O grotesco. (trad. J. Guinsburg). São Paulo: Perspectiva, ?. KITTO, H. D. F. A tragédia grega.2 v. (trad. José M. C. Castro) Coimbra: Arménio Amado, 1990. KNOX, Bernard. Édipo em Tebas. São Paulo: Perspectiva, 2002. LACOUE-LABARTHE, Philippe. A imitação dos modernos. Ensaios sobre arte e filosofia. (org e trad Virgínia de Araújo Figueiredoo e João Camillo Penna). São’ Paulo: Paz e Terra, 2000. LEBRUN, Gérard. O avesso da dialética: Hegel à luz de Nietzsche. (trad. Renato Janine Ribeiro). São Paulo: Companhia das letras, 1988. 234 LESKY, Albin. História da literatura grega. (trad. Manuel Losa) Lisboa: Fundalção Callouste Gulbenkian, 1995. LESKY, Albin. A tragédia grega. (trad. J. Guinsburg, Geraldo G. de Souza e Alberto Gerzik). São Paulo: Perspectiva, 2006. LESSING, Gotthold Ephraim. De teatro e litertura . (seleta de Hamburgisches Daramaturgie) (trad. J. Guinsburg). São Paulo: EPU, 1991. LEVINAS, Emmanuel. El tiempo y el otro. Barcelona: Paidós Ibérica, 1993. . Ética e infinito. Lisboa: Edições 70, 2000. LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. . L’ âme et les formes. Paris: Gallimard, 1974. MACHADO, Roberto. O nascimento da trágico de Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. MAIRE, Gaston. Platão. (trad. Rui Pacheco). Lisboa: edições 70, ?. MALHADAS, Daisi. Tragédia grega: o mito em cena. São Paulo: Ateliê, 2003. MENESES, Paulo. Hegel e a fenomenologia do espírito. Jorge ahar: Rio de Janeiro, 2003. MARCUSE, Herbert. Razão e revolução: Hegel e o advento da teoria social. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. MURRAY, Gilbert. Esquilo, el creador de la tragedia. (trad. Leon Mirlas). Buenos Aires, México: EPASA–CALPE Argentina, 1943. 235 NANCY, Jean-Luc. Corpus. (trad. Tomás Maia). Lisboa: Vega, 2000. NASIO, J. D. Cinco lições sobre a teoria de Jaques Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. _________ . Lições sobre os sete conceitos fundamentais da psicanálise. São Paulo: Jorge Zahar, 1993. NIETZSCHE, Friederich. O nascimento da tragédia, ou hlenismo e pessimismo. (trad. J. Guinsburg) São Paulo: Companhia das letras, 1992. _______ . Genealogia da moral: uma polêmica. (trad. Paulo César de Souza). São Paulo: Companhia das Letras, 1998. _______ . Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. (trad. Paulo César de Souza). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. . A visão dionisíaca do mundo. (trad. Marcos S. P. Fernandes e Maria dos Santos Souza) São Paulo:Martins Fontes, 2005. NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 5, ed. São Paulo: Atica, 2000. PEREIRA, Aires M. R. R. A Mousiké: das origens ao drama de Eurípides. Lisboa: Fundação Callouste Gulbenkian, 2001. PUCHEU, Alberto. Pelo colorido, para além do cinzento. Rio de Janeiro: Azougue; FAPERJ: 2007. PLATÃO. Plato in Twelve Volumes. (trad. W. R. M. Lamb) Cambridge; London: Harvard UnP; William Heinemann, 1925. Disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . _______ . The Republic (translated with introduction and notes by F. M. Cornford) . (trad. F. M. Cornford) London: Oxford UnP, 1941. 236 _______ . Plato in Twelve Volumes (trad. Paul Shorey). Cambridge; London: Harvard UnP; William Heinemann, 1969. Disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . _______ . Diálogos: Fedro; Cartas; O primeiro Alcibíades. (trad. Carlos Alberto Nunes). Belém: UFPA, 1975. _______ . Íon. (trad. Victor Jabouille) Lisboa: Inquérito, 1988. ______ . O Banquete; Apologia de Sócrates. (trad, Carlos Alberto Nunes). Belém: UFPA, 2001. _______ . A República. (trad Anna L. De Almeida Prado) São Paulo: Martins Fontes, 2006. REALE, Giovanni. História da filosofia antiga (6v). (trad Marcelo Perine). São Paulo: Loyola, 1993. REINHARDT, Karl. Sófocles. (trad. Oliver Tolle) Brasília: EdUNB, 2007. RIBEIRO, Maria Aparecida. Catarse e sublimação: a violência conservadora. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1980. ROCHE, Mark C. Introduction to Hegel’s Theory of Tragedy. In DUNCAN, John (editor). Phaenex: journal of existencial and phaenomenological theory and culture. v1, n2, 2006. University of Windsor, 2006. (p.11-20) disponível em http://www.phaenex.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/phaenex/index ROSENFIELD, Kathrin H. Sófocles e Antígona. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. ROUANET, Sérgio Paulo. Teoria crítica e psicanálise. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1998. ROMILY, Jacqueline de. A tragédia grega. (trad. Ivo Martinazzo) Brasília, EDUNB, 1998. 237 RUTHERFORD, R. B. The art of Plato. Cambridge: Harvard UnP, 1995. SAID, Edward . Cultura e imperialismo. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. . Cultura e política. Trad. Luis Bernardo Pericás. Org. Emir Sader. São Paulo: Boitempo, 2003. SCARRY, Elaine. The body in pain: the making and unmaking of the world. Oxford: Oxford UnP, 1985. SELIGMANN-SILVA, Márcio, NESTROVSKI, Arthur. Catástrofe e representação: ensaios. São Paulo: Escrita, 2000. SCHILLER, Friedrich. Teoria da tragédia.(trad. Flavio Meurer) São Paulo: EPU, 1992. _______. A educação estética do homem. (trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki). São Paulo: Iluminuras, 2002. _______ . Fragementos das preleções sobre estética do semestre de inverno de 1792-93 recolhidos por C. F. Michaelis. (trad. João Ricardo Barbosa) Belo Horizionte: UFMG, 2003. SCHWARZ, Roberto. Seqüências brasileiras: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. SHEPER-HUGHES, Nancy. Death without weeping: the violence in everyday life in Brazil. Berkeley: Un. of California Press, 1992. SNELL, Bruno. A cultura grega e as origens do pensamento europeu. (trad. Pérola de Carvalho) São Paulo: Perspectiva, 2009 SÓFOCLES. The Trachiniae of Sophocles. (Trad. Richard Jebb). Cambridge: Cambridge UnP, 1892. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . 238 _______ . The Electra of Sophocles. (Trad. Richard Jebb). Cambridge: Cambridge UnP, 1894a. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . ______ . Oedipus at Colonus of Sophocles. (Trad. Richard Jebb). Cambridge: Cambridge UnP, 1894b. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . ______ . The Philoctetes of Sophocles. (Trad. Richard Jebb). Cambridge: Cambridge UnP, 1898. disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ . _______ . Filoctetes. (trad. José Ribeiro Ferreira). Coimbra: Fundação Callouste Gulbenkian; JNICT, 1977. _______ . As traquínias. (trad. Maria do Céu Z. Fialho) Brasília: EdUNB, 1996. _______ . Édipo rei de Sófocles. (trad. Trajano Vieira). São Paulo: FAPESP; Perspectiva, 2001. _______. A trilogia tebana. (trad. Mário da Gama Kury) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. _______ . Édipo em Colono de Sófocles. (trad. Trajano Vieira) São Paulo: Perspectiva, 2005. _______ . Filoctetes. (trad. Trajano Vieira) São Paulo: 34, 2009a. _______ . Édipo rei de Sófocles. (trad. Trajano Vieira) São Paulo: Perspectiva, 2009b. _______ . Antígone de Sófocles. (trad. Trajano Vieira) São Paulo: Perspectiva, 2009c. SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. STEINER, George. Antigones. New York: Oxford UnP, 1984. STEINER, George. A morte da tragédia. (trad. Isa Kopelman). São Paulo: Perspectiva, 2006. 239 SZONDI, Peter. Poésie e poétique de l’idéalisme allemand. (trad Jean Bollack et al) Paris: éditions de minuit, 1975 _______ . Teoria do drama moderno (1880-1950) . (trad. Luiz Sérgio Repa) São Paulo: Cosac & Naify, 2001. _______ . Teoria do drama burguês (séc. XVII) . (trd. Luiz Sérgio Repa) São Paulo: Cosac & Naify, 200?. _______ . Ensaio sobre o trágico. (trad. Pedro Süssekind). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. TAYLOR, Charles. As fontes do self: a construção da identidade moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral, Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Loyola, 1997. TUCÍDIDES. History of the Peloponnesian War. (trad. Benjamin Jowett). Oxford: Clarendon Press, 1881 VERNANT, Jean-Pierre. Mito e religião na Grécia antiga. (trad. Joana A. D. Melo) São Paulo: Martins Fontes, 2006. VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga I e II. (vários tradutores) São Paulo: Perspectiva, 1999. WYLES, Mike. Tragedy in Athens: performance stage and theatrical meaning. Cambridge: Cambridge UnP, 1997. 240
Download