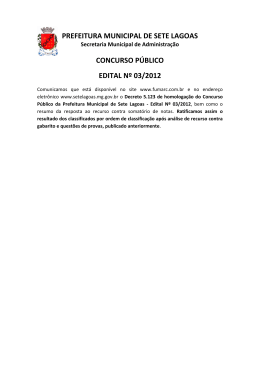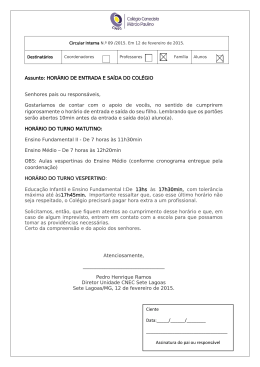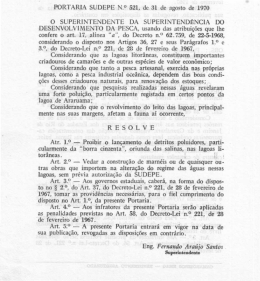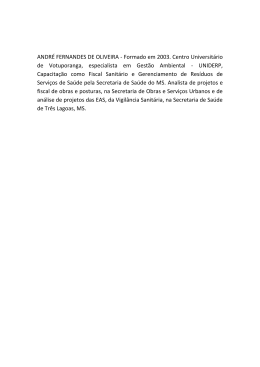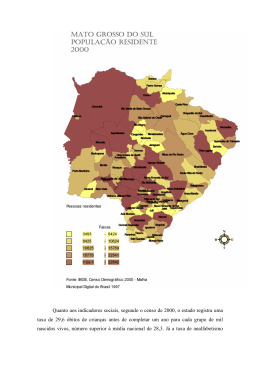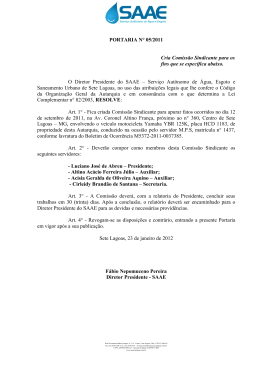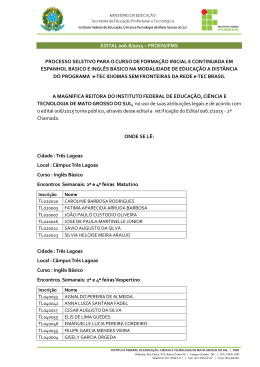m Copyright © 2004 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas — Fundação Educacional Monsenhor Messias Todos os direitos reservados; nenhuma parte desta revista poderá ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os meios empregados, sem autorização por escrito. Fundação Educacional Monsenhor Messias Presidente do Conselho Diretor: Paulo Rogério Campolina Paiva Vice-Presidente do Conselho Diretor: Milton Antônio Chaves Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas Diretor: Hélio Diniz Peixoto Vice-Diretor: Cézar de Faria Pereira Coordenadora Pedagógica: Regina de Souza Borato Maestria — Revista de Educação, Ciências e Letras Conselho Editorial Francisco A. Coutinho Marcos Antônio Barbosa Lima Sérgio Antônio Silva (Coordenador) Simone Farias Pereira Valdemar Carlos de Deus Projeto Gráfico Sérgio Antônio Silva Capa e Editoração Fabrício Castello Branco Coelho Impressão e Acabamento Gráfica FEMM Tiragem 500 exemplares Os conceitos emitidos em artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Solicita-se permuta / Exchange issues / On demande échange Endereço para Correspondência Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas Av. Marechal Castelo Branco, 2765 Bairro Santo Antônio Sete Lagoas — MG 35701-242 maestria Revista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas maestria Sete Lagoas n. 2 176 p. jan./dez. 2004 Sumário Editorial 7 Artigos A festa afro-brasileira Gérard Police Tradução: Sérgio da Mata 11 O lugar e a cidade no mundo contemporâneo1 Adriana Ferreira de Melo Cássio Eduardo Viana Hissa 25 Teatro Redenção: memórias e destino Dalton Antônio de Avelar Andrade 41 Serra da Mesa — GO: a paisagem e o patrimônio arqueológico de um povo Soraia Maria de Andrade 67 Todos vivemos tomando nota, à espreita de nós mesmos: Contribuições para uma história da infância entre nós Júnia Sales Pereira 75 Michel Foucault e os limites da representação: a história e o homem Adilson Xavier da Silva 89 Um passo de letra Lucia Castello Branco 99 Antropofagia, tradição e tradução Jair Rodrigues de Aguiar Júnior 109 A memória do saber, da dor, da vida e da morte em romances e outras narrativas matemáticas Leni Nobre de Oliveira 121 O uso de expressões idiomáticas em textos publicitários Aderlande Pereira Ferraz Kariny Cristina de Souza 143 Conhecimento prévio: fator determinante da leitura e da produção de textos dissertativos Imíramis Fernandes da Cruz 155 A dimensão afetiva da sala de aula língua estrangeira (LE) Vanessa de Assis Araujo 161 Opinião Viewpoint: the value of science and science communication Rogério Parentoni Martins Francisco Ângelo Coutinho Thomas M. Lewinsohn 169 Editorial Lançamos o segundo número de Maestria mantendo a sua principal característica, que é — dada a presença de cinco diferentes cursos na faculdade que a fomenta — a divulgação do conhecimento acadêmico tomando a multiplicidade e a diversidade como valores, como formas possíveis de organização dos saberes que nos circulam. Neste número, além de artigos de professores e de uma aluna da própria Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas, contamos com a colaboração de autores vinculados a outras instituições de ensino superior, do Brasil e também do exterior. Assim, Maestria dá mais um importante passo, em direção à troca com outros pesquisadores e centros de saber. Além disso, a presença desses novos colaboradores traduz uma certa confiança em nossa publicação, o que muito nos deixa gratos. Porém, o que mais ainda nos satisfaz são os textos em si, tanto os daqui, quanto os vindos de fora, pois eles trazem, cada qual a seu modo, aquilo que as pesquisas têm de melhor: um olhar inédito sobre as questões propostas. E será esta a marca de Maestria: a afirmação do novo, a aposta na radicalidade do pensamento. Pois, se buscamos o saber, devemos nos arriscar, devemos dar um passo além — além do óbvio, além do sentido comum que muitas vezes nos quer aprisionar — para, aí sim, alcançarmos o fulgor da revelação, o brilho da descoberta. Esperamos que nossos leitores possam também dar esse passo, que busquem, nos ensaios que compõem este volume, os rastros que suas letras nos deixam, os passos que nos convidam a seguir, os laços que nos incitam a fazer ou a desfazer. Sigamos, então, juntos, nesta festa do saber, que, em última instância, é a mesma festa da vida. O Conselho Editorial Artigos A festa afro-brasileira Gérard Police * Tradução: Sérgio da Mata ** Le monde a une faim terrible de fête. François-André Isambert “O negro adora fazer festa, e não sabe fazer muito além disso. Ele tem o ritmo na pele e a dança no sangue. Ele não passa, todavia, de uma criança que só pensa em se divertir. As brincadeiras se revestem freqüentemente de certa lubricidade ou de feitiçaria; e no fim das contas nada daquilo constitui um conjunto digno de ser elevado ao estatuto de cultura.” Esses estereótipos racistas se devem muito à visão colonial de uma festa negra unívoca, reduzida aos tambores — o batuque no contexto brasileiro — e advém da incapacidade de perceber os diferentes sentidos de festas “outras”. Os comportamentos afro-brasileiros, traduzidos em termos ocidentais, se inscrevem na classificação dos povos ditos selvagens, segundo quadros mentais e códigos cujo resultado é desnaturar a cultura do outro e transformar o essencial em superficial. Estes a priori muito dificilmente aceitam ver emergir, de um magma tido como primitivo, arcaico ou infantil, uma cultura, uma filosofia, uma ontologia.1 Quanto aos autores das manifestações culturais afro-brasileiras, eles não têm necessariamente consciência do porquê e do como de seu comportamento. As festas, divertimentos e cerimônias se realizam e se perpetuam “porque é assim”, “porque é desse modo que sempre se fez”. O porquê original se perdeu, e nem mesmo é colocado, salvo com a renovação da africanidade deste último quarto de século XX. Permanecem gestos, cantos repetidos e transmitidos de uma geração à outra, desde sempre. A festa é ao mesmo tempo causa e con- maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 * Universidade das Antilhas e da Guiana. Doutor em Civilização Brasileira pela Universidade de Rennes 2, e membro do “Groupe d’Études et de Recherches en Etudes Créolophones et Francophones” (GEREC-F). O texto aqui publicado constitui o primeiro capítulo de seu livro La fête noire au Brésil. L’afro-brésilien et ses doubles. Paris: L’Harmattan, 1996. ** Professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas. Doutor em História pela Universidade de Colônia. 1 “O espírito da festa (...), mais que uma simples instituição social, é uma encarnação real de uma ontologia. [Faz-se necessário] reconhecer na festa uma instituição original responsável por tornar compatíveis, ordenar e equilibrar as aspirações, baseadas na constituição sensitivo-imaginária do homem, à existência total que, simultaneamente, é (seguindo a expressão heideggeriana: uma ‘ekxistência’), uma saída de si, uma abertura para aquilo que nos engloba. (...) A festa (...), onde se manifestam os fantasmas individuais à procura daquilo que transcende a ordem da sociedade imanente e que podemos denominar, por uma provisória comodidade, o sagrado. (...) [Há que] reconhecer na festa um fenômeno único, alimentado por uma 11 “Uma vez que visa uma reintegração total do homem no mundo sagrado, a princípio a festa pressupõe uma inversão do cotidiano, uma ruptura profunda com a ordem das atividades sociais e das preocupações mundanas que elas implicam” (Wunenburger, 1977, p.56). seqüência; e as múltiplas razões que a justificam são tiradas do registro do cotidiano: se divertir, se distrair, beber e comer, se sentir importante, se vestir de outra forma, se distinguir, se dissimular, dançar, tocar música, se encontrar entre amigos. E contudo... As festas são os momentos e os espaços onde se manifestam plenamente a identidade e o ser afro-brasileiro. Nos espaços livres fora do mundo do trabalho floresce soberbamente uma cultura afro-brasileira,2 da qual o carnaval é apenas a parte mais fascinante. Por que, pergunta-se muito, essa pulsão aparentemente absurda de se esgotar para fazer a festa, de dilapidar suas parcas economias — segundo um ponto de vista racional — quando se está já sem um tostão e exaurido pelo trabalho cotidiano?3 A despesa suntuosa do carnaval, para tomar apenas o exemplo mais significativo, é na realidade um dom, traduzindo e exprimindo nobreza e poder. O luxo diante do público é também um desafio, e implica uma “retribuição”. O que está em jogo é mais que um bem material. É um reconhecimento. A afirmação luxuosa e ostentatória pretende impor ao espectador/dignitário uma compensação sob forma de respeito e consideração. Revestindo-se dos atributos da nobreza e da realeza, impõe-se ao público um poder de fato; pelo dom e pelos gastos suntuosos exige-se, em troca, o reconhecimento. Em comparação, o mundo do trabalho, rude, opressor e raramente valorizador, não pode constituir a razão de ser e de viver do afro-brasileiro. Ele não permite adquirir estatuto social e respeitabilidade; ele não modifica a condição de inferioridade social. O contraste é flagrante entre as atividades ligadas ao trabalho, à produção, à subsistência e às leis econômicas; e as atividades ligadas ao mundo da festa. Umas aparecem relegadas a zonas sombrias, destituídas de sentido e interesse. Outras se afirmam e se projetam com brilho.4 Tudo se passa como se se distinguisse, de um lado, uma estrutura do mundo (dita real) à qual se atribui apenas parco valor — um tipo de realidade fugidia que não se toma e apreende como “exterior” — e, de um outro lado, espaços ou bolhas de “realidade” recriadas no âmbito da realidade objetiva, ou nas suas 12 maestria intenção religiosa do homem, que o afasta de si mesmo e dos constrangimentos de toda ordem imanente inserindo esta busca, com o mínimo de conflito, no tecido da vida cotidiana” (Wunenburger, 1977, p.11). 2 “A festa aparece como um momento de suspensão do tempo e do trabalho” (Wunenburger, 1977, p.96). 3 “As festas parecem preencher por toda a parte uma função análoga. Elas constituem uma ruptura na obrigação do trabalho, uma libertação das limitações e das sujeições da condição do homem: é o momento em que se vive o mito, o sonho. Existe-se num tempo, num estado, em que a única obrigação é despender e despender-se a si mesmo” (Caillois, 1950, p.166). 4 margens, mas condensando o essencial para a sobrevivência do ser humano, sob forma de representações, jogos, divertimentos, cuja função primeira, oculta, seria dar um sentido ao “ser-no-mundo” afro-brasileiro. O homem negro não se diverte por natureza.5 Constróise um sentido da existência fundado sobre sua herança ancestral, sob forma de dramas tradicionais e espetáculos inscritos nestas singularidades chamadas festas. O tempo da festa, para o afro-brasileiro, se opõe aos intervalos entre as festas, aos períodos de expectativa, aos momentos mortos, aos hiatos cronológicos, aos momentos desprovidos de significação, ao tempo vazio que é o da sociedade real, objetiva, laboriosa, estratificada em classes, onde a menor vantagem é sempre o resultado de uma conquista e de uma luta contra a exclusão. Segundo esta inversão de perspectiva, então a festa é mais importante que o tempo vazio; ela está repleta de uma substância que o mundo do cotidiano não possui. A festa é como uma aproximação do real, ou a manifestação do real em si mesmo, mas de um outro real. Assim, a festa negra se reveste do sagrado. 5 “Tornar-se um outro, identificar-se com um personagem imaginário, não constitui, como se diz, um ato psicológico, mas a revelação ou o reencontro de uma evidência que coloca em questão todo um sistema cultural e restabelece por algum tempo a proximidade do homem com a natureza, e que nós recusamos com todas as nossas forças” (Duvignaud, 1991, p.219). O caos e a ordem Segundo Roger Caillois6 o fundamento e função da festa é retornar simbolicamente ao “caos original”, a fim de “recomeçar a criação do mundo”. “A festa se apresenta como uma atualização dos primeiros tempos do universo, da Urzeit7, da era original”. Ela é “o caos reencontrado e moldado de novo”, ela “restabelece o tempo da licença criadora, aquela que precede e engendra a ordem, a forma e o interdito (as três noções são ligadas e se opõem conjuntamente àquela do caos)”. Ela é, enfim, “fator de aliança. Os observadores reconheceram nela o laço social por excelência, aquele que assegura antes de tudo a coesão dos grupos que ele reúne periodicamente. Ele une-os na alegria e no delírio” (Caillois, 1950, p. 136, 148, 149, 238). Aliás muitos rituais de iniciação de sociedades ditas “primitivas”, colocando em cena morte e maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 6 As análises de Roger Caillois — clássicas e controvertidas — são, aqui, apenas um ponto de partida. A festa é um domínio muito vasto e complexo para que ousemos empreender uma inventariação de todas as definições e comentários que ela suscita, e ainda de debatê-las. 7 Em alemão no original: “tempo primitivo”, “tempo primordial” (NT). 13 “O desaparecimento do regime de consciência mítico no contato com os europeus, muito freqüentemente reduziu as populações primitivas a uma espécie de miséria simultaneamente fisiológica e espiritual. Daí uma mortalidade maciça (...), uma espécie de supressão da vontade de viver. O indígena parece encontrar-se num estado de resistência reduzida diante dos agentes patogênicos ou das usuais dificuldades de sua vida. (...) O nativo acha-se brutalmente destituído de tudo aquilo que ele havia engajado de si na paisagem ritual de sua existência. Doravante, seu lugar está perdido. A desagregação do espaço vital privou-o de todas as suas garantias. Sua agonia faz parte de uma agonia objetiva da realidade mítica. Ele definha porque sua própria razão de ser está definitivamente morta. (...) Só uma nova ontologia pode substituir uma ontologia em processo de desagregação” (Gusdorf, 1984, p.199-201). ressurreição, por meio da passagem por um “monstro”, para serem devorados e renascer, são relatadas por etnólogos e historiadores das religiões.8 A viagem dos escravos nos navios negreiros apresentava analogias cruéis com tais crenças. O renascimento se efetuava então num universo anormal, sem relação com aquilo que havia, até então, constituído o único mundo concebível. O Brasil era uma aberração, um erro, uma impossibilidade que impunha, contudo (e dolorosamente) sua existência. Tentar negar este mundo, opondo-lhe outras representações adequadas àquilo que deveria ser o mundo, era um ato ontológico: estar nas cerimônias onde os mitos eram vividos significava renascer do lado certo do universo. No candomblé, ou qualquer outra cerimônia religiosa de origem africana, a cerimônia faz retornar a um outro lugar e remontar a um outro tempo, um illo tempore.9 A nostalgia das origens era, pois, periodicamente apaziguada pela comunicação assim estabelecida. Ela se via arrefecida pela presença e a força dos mitos e rituais, fazendo presente um mundo onde o afro-brasileiro se encontrava e se identificava, e permitia resistir ao vazio que conduz à morte.10 Portugueses e brasileiros conservaram a palavra que designa a apatia mortal que diminuía seus lucros, fazendo perecer seus escravos sem razão aparente: o banzo, manifestação visível mas incompreensível do vazio ontológico no qual ficava mergulhado o africano desenraizado e deportado. O cotidiano do povo negro brasileiro não é, de seu ponto de vista, uma ordem necessária e legítima, aceita pelo conjunto de seus membros como indispensável à coesão global. O negro não assume, não reivindica, não aceita como seu o mundo no qual ele se encontra. Assim, a festa será, de fato, a expressão de uma relação com a ordem, mas no sentido de negar uma ordem estabelecida insuportável, de reordenar o mundo segundo leis menos injustas, ou pelo menos de conhecer um estado do mundo primordial, onde a injustiça ainda não está instituída e irreversível. A situação de servidão e de inferioridade é percebida como desordem do mundo que é preciso tentar reformar. Tendo sido subvertida a ordem do 14 maestria 8 “O neófito é introduzido em uma casa que simboliza o corpo do monstro. É ali que ele escuta a voz lúgubre de Ngakola, é ali que ele é açoitado e submetido a torturas; pois lhe é dito que ele ‘entrou agora no ventre de Ngakola’ e que está sendo digerido” (Eliade, 1963, p.131). 9 Ver os textos de Mircea Eliade. 10 mundo na nova situação imposta ao povo negro, as práticas festivas e os rituais teriam por objetivo reencontrar, restaurando-a simbolicamente, a antiga e justa ordem. A festa afro-brasileira aspira à criação de um “além” onde pretende-se viver provisória e episodicamente, num tempo e num espaço festivos ou míticos, destacados do contingente ou da história, mais reais do ponto de vista dos atores no âmbito da festa — ruptura na trama deste mundo. O real objetivo é sem dúvida menos verdadeiro que aquele que se manifesta nos mitos do candomblé. A função da festa, além da abolição momentânea dos valores ou sua inversão, é a expressão de aspectos mítico-rituais. As energias da comunidade negra são assim colocadas a serviço de representações míticas. O objeto do desejo da festa afro-brasileira é a ordem; e é nisto que ela parece se distinguir radicalmente da festa-transgressão, da festa-caos; é nisto que ela particulariza e afirma a diferença social dos afro-brasileiros. A sua especificidade dá testemunho de sua situação e de sua demanda sob uma tripla forma: no plano mítico, ou até mesmo ontológico, de um lado, pela recriação de uma nova ordem do mundo às margens da ordem vigente; no plano social, por outro lado, numa tentativa de conformidade e respeito em relação à ordem social iníqua na qual — paradoxalmente — se aspira integrar; e num plano por assim dizer intermediário, mas que se evidencia a partir disso que aparecerá melhor sob a forma do transe e de estados secundários ou “a-estruturais”, a saber, o poder e a glória efêmera, dos quais o carnaval e o candomblé oferecem os quadros mais apropriados, e a dissolução paradoxal do ser social. A festa consiste em renovar o mundo impregnando-o de energia e em se metamorfosear individualmente, tanto no carnaval como no candomblé e no folclore. A recriação do mundo nas religiões afro-brasileiras é homóloga ao processo da ordem carnavalesca afro-brasileira. “O retorno simbólico ao caos é indispensável para toda nova criação” (Eliade, 1957, p.104). A festa é, sem dúvida, “ruptura coletiva da ordem quotidiana”. Mas o caos é instaurado pela sociedade branca. As festas públicas são decididas pela maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 15 classe e pela cultura dominantes. Os afro-brasileiros não estão autorizados a quebrar periodicamente a harmonia social; eles não estão autorizados a controlar as formas destes momentos de ruptura. Restam, assim, apenas duas vias: a festa clandestina, dissimulada, oculta, disfarçada, portanto eventualmente reprimida; ou a festa pública, onde eles podem se inserir na desordem social — ou a interrupção momentânea das atividades diárias — para instaurar, provisoriamente, sua ordem. Então eles podem, nestes espaços reservados, entregar-se à festa comum, mesmo se o motor e as causas são diferentes. Mas se a festa é explosão ou ruptura interferindo na continuidade e na monotonia, ela adquire tanto mais força num contexto onde o cotidiano é penoso e opressor. Quando o cotidiano é visceralmente rejeitado ou negado, de vez que incompatível com o ser, o período de festa se transforma na única realidade digna de ser vivida, sob formas teatralizadas, nas aparências, por meio de atributos exteriores que são, num primeiro momento, apenas jogos simbólicos. Na medida em que o afro-brasileiro não comanda as transgressões festivas, mas aproveita as rupturas que elas abrem no tecido social, ele pode desenvolver seus próprios valores, suas motivações, obsessões e fantasmas nestes espaços particulares dissociados do contexto festivo global. Pois a desordem criada pela festa não lhe permite de forma alguma assumir abertamente atitudes em oposição àquelas do cotidiano: não há inversão de valores. Rejeitados para a margem dos jogos sociais, os afro-brasileiros são proibidos de usar máscaras. Eles só podem reconstituir uma mitologia sob forma de um jogo de cena festivo e ganhar assim o direito de afirmar sua coexistência de grupo, de clã, face aos demais. O negro permanece negro; o branco não lhe permite inverter os papéis. Ele empreende então, por si próprio, a operação desta inversão, desta transgressão, de forma alusiva ou metafórica. Os escravos do Brasil não se tornavam jamais, concretamente, mestres efêmeros como nos paradigmáticos carnavais antigos, mas o eram apenas no quadro de manifestações particulares que a festa global autorizava. O carnaval é, todavia, um período privilegiado. Participar dele é, pois, indispensável. Ele se torna um ato 16 maestria quase religioso. A nova criação daí decorrente é uma ordem onde o negro está virtualmente no topo da sociedade. Desde que os desfiles se afirmaram historicamente como a principal festividade carnavalesca, os afro-brasileiros os vivenciam simultaneamente como manifestação simbólica do caos (a ordem social é subvertida) e como criação de uma ordem, de estruturas, de hierarquias, de uma organização. “O carnaval é a coisa mais bem organizada”, teria dito o Barão do Rio Branco. Com efeito, ele não consiste somente em abolir a ordem antiga e tudo soterrar no caos. Ele consiste também em reconstruir. O tempo do carnaval é o único onde o afro-brasileiro pode edificar, muito provisoriamente, um mundo diferente e efêmero. E esta organização não é apenas simbólica mas engajada concretamente nas engrenagens da sociedade. As manifestações mais tipicamente negras do carnaval a partir do fim do século são todas sinônimas de ordem e de organização; e culminam, sob uma forma acabada, nas Escolas de Samba. A transgressão interdita Embora as manifestações da festa sejam freqüentemente interpretadas como sacrílegas e destruidoras de um tempo original, a fim de melhor regenerar o mundo, elas são entre os afro-brasileiros exclusivamente positivas ou criadoras. Não há nada para destruir, mas sim tudo a construir. Elas não podem ser sacrílegas. Por isso a festa negra não é orgiástica, nem inversão dos valores: na verdade ela é educada, regrada, se mantém organizada. Ela não pretende influenciar a sociedade. Paradoxalmente, a ordem repressiva e injusta nunca é explicitamente negada ou profanada. Para os afrobrasileiros, a festa não é transgressão das proibições, nem ultrapassar os limites. Ela é, indireta e secundariamente, transgressão das regras sociais colocando provisoriamente em primeiro plano aqueles que normalmente deviam se contentar com papéis secundários. Os códigos e normas dominantes não devem ser violados quando se faz preciso, antes de tudo, conquistá-los. A maior transgressão, que seria a inversão da maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 17 11 “Ascender a esta iconosfera tornou-se desejável. (...) Eis aí uma tentação para as culturas que nunca observaram a si mesmas: freqüentemente, a alternativa a isso é a extinção. (...) As desdenhadas minorias da África ou Ásia reivindicam o direito de se mostrarem, isto é, de existir. Os etnólogos as tinham colocado em museus, e agora elas reivindicam o olhar universal, apesar de ilusório” (Duvignaud, 1991, p.255). 18 hierarquia social mestre/escravo (branco/negro), não é percebida como um objetivo social ou histórico. O caráter de transgressão e de excesso da festa, a orgia, são interditos. No carnaval a ordem social não é subvertida. A festa afro-brasileira, mesmo não sendo contestação no primeiro nível, tornou-se contestadora a partir dos anos 1970, assumindo explicitamente, como um desafio feito explicitamente aos brancos, as túnicas, as tranças e as batucadas da cultura afro de Salvador da Bahia. Seria necessário acrescentar que a recuperação não perdurou e que a africanidade provocadora, hoje, já está extremamente mediatizada e comercializada? O conflito entre as posturas sócio-política e lúdico-musical nos militantes reflete duas tendências que visam a busca de uma identidade e de um ser no mundo. Uns se conformam aos modelos ocidentais racionalistas, neo-marxistas; outros se remetem às tradições já mediatizadas. A mediatização é o prolongamento último, a etapa atual da busca identitária que caracteriza o ser afro-brasileiro. A minoria ávida de reconhecimento descobre a “iconosfera”, substituta dos antigos mitos, novo universo de mitos catódicos, avatar da festa.11 Mas nos dois casos, em última instância subscreve-se o modelo cultural dominante, e desempenha-se para a sociedade branca o papel do “crioulo” purificado, aceito, reconhecido e avalizado por esta mesma sociedade branca. O negro não escapa de seu papel de ator. Festa e espaços Se situar-se num lugar significa criá-lo, os deportados, os escravos, deviam enfrentar o dilema de consagrar, por sua simples presença, a terra dos brancos — eles (tanto quanto seus deuses) não tinham escolha — e de consagrá-la sem se apropriar dela. Donde a criação e a sacralização de enclaves podendo escapar ao domínio do caos (a sociedade branca). Os terreiros — os locais dos cultos afro-brasileiros — são estes espaços rituais de criação de um mundo que se estende bem mais no plano humano que topográfico. Se não pode apossar- maestria se da terra, pelo menos é permitida a consagração de momentos e de espaços onde é preservado o essencial: o laço com o além, o céu, os deuses, por meio dos mitos. A urbanização de populações culturalmente marginalizadas no fim do século XIX marca a transformação de uma mentalidade mítica — sobrevivendo por vezes nos quilombos12 — num repertório de elementos culturais integráveis à sociedade urbana. A cultura afro-brasileira tradicional se funde no molde da cultura dominante. Na cidade, os afrobrasileiros podem mais facilmente lutar contra o esquecimento. A memória coletiva, as tradições, os conhecimentos sobrevivem melhor no sentido de que são melhor revividos, realimentados e recarregados de energia. O indivíduo urbano também é espectador. É necessário um público para todos estes espetáculos que são as cerimônias e as festas. A sociedade teatral permite aos afro-brasileiros investir nela suas tradições ancestrais. Notemos aliás que o período pós-abolicionista (a abolição da escravidão foi decretada em 1888) marca uma forma de regressão, pois a ideologia dominante coloca em prática a rejeição e a exclusão racistas até então confundidas com a condição de escravo. A entrada do Brasil no concerto das nações civilizadas não pode ser atrapalhada pela nódoa negra, problema ocultado até então. A evolução social e econômica, a importância crescente do meio urbano em relação à sociedade rural, as transformações que acompanham a entrada do Brasil no século XX, colocam em crise um tipo de modus vivendi herdado da época colonial, onde o arcaísmo da sociedade curiosamente tinha oferecido aos negros e aos mulatos livres — o Conde de Gobineau se surpreendeu ao encontrá-los na corte do Imperador Pedro II — raras aberturas, permitindo paradoxalmente em alguns domínios uma ascensão social real. Porque era sobre os escravos que caía todo o peso dos preconceitos, a cor sendo menos uma tara que a origem servil. O fim dessa época fecha novamente, para um punhado de felizes eleitos, portas que se entreabrirão, mais tarde, apenas sob a pressão do campo musical — expressão urbana de uma classe negra acima dos sub- maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 12 O autor publicou recentemente um livro sobre o assunto: Gérard Police. Quilombos dos Palmares. Lectures sur un marronage brésilien. Guyane: Ibis Rouge, 2003 (NT). 19 proletários e ex-escravos — destilando parcimoniosamente algumas tímidas promoções individuais. Aberturas que se manifestarão também na utilização do carnaval como afirmação de uma respeitabilidade negra; na promoção dos candomblés ao estatuto de objeto de ciência, sua emergência como fatos sociais, e o novo olhar colocado sobre eles. A contrario, e como prova, a permanência, a estagnação ou decadência das formas ditas folclóricas no campo. Este período, marcado pelo fim da escravidão e pela questão da integração do negro no novo modelo de sociedade de trabalho livre, vê esboçarem-se para os afro-brasileiros maiores possibilidades de expressão através de suas festividades baseadas nas representações. Eles tentarão penetrar nos modelos existentes oferecidos pela sociedade branca. A ideologia dominante possibilita pouco a pouco a emergência de suas manifestações através da afirmação nacionalista e patriótica: havia muito tempo que ao indígena era reservado esse papel, mas os fatos impuseram o negro. O samba rural se civiliza em música negra urbana — que só assumirá o nome samba bem mais tarde —, ela mesma arrebatada nas engrenagens comerciais, pelos lançamentos em disco: o batuque “primitivo”, a macumba “selvagem”, cedem lugar ao candomblé civilizado e suntuoso; os rituais e os terreiros se tornam centros de integração, centros culturais, centros terapêuticos; os desfiles para-religiosos dos ranchos e outros grupos se amplificam em carnaval-espetáculo. A “mania de procissão” é sem dúvida um dado universal (Heers, 1983, p.60). É surpreendente constatar como as descrições dos desfiles carnavalescos medievais apresentam aspectos semelhantes às congadas brasileiras, com Reis, Embaixadas, etc. Há quase homologia entre os espetáculos e procissões do fim da Idade Média, com seus carros e seus temas, e os desfiles carnavalescos brasileiros. Quanto aos “triunfos” da Itália da Renascença, eles parecem anunciar os atuais desfiles faraônicos do Rio. Para além das épocas e dos lugares, o desfile é demonstração de poder. No Brasil os desfiles carnavalescos foram brancos durante muito tempo; são as grandes sociedades e, 20 maestria em menor medida, os ranchos. Mas a estrutura segundo a qual elas se desenvolvem é retomada pelos afro-brasileiros. Há neste comportamento de imitação o desejo de se identificar com a sociedade, de assimilar os seus valores e de encontrar, nela, reconhecimento e identidade; e de afirmar um embrião de poder. Além disso o carnaval obedece à antiga topografia dos princípios místicos — o bem no centro, o mal na periferia. As manifestações musicais e coreográficas vindas da periferia (favelas e bairros populares) invadem a avenida, o centro, a sociedade branca. Ao mesmo tempo, este centro se torna cena processional (“passarela”) do carnaval. Os terreiros (que se visa transformar, por meio dos rituais afro-brasileiros, de território “outro” e estrangeiro em cosmos organizado e morada), relegados na origem à periferia, se viram cada vez mais próximos do centro em função da expansão urbana. Na impossibilidade de englobar um território irredutivelmente “outro”, somente pequenos espaços podem ser devolvidos à ordem mítica. Estes espaços são conquistados e ordenados religiosamente nos cultos afro-brasileiros. Eles o são de forma profana no carnaval e no folclore, embora neste contexto as fronteiras sejam fluidas e móveis, e que a dicotomia sagrado/profano perca sua irredutibilidade.13 Para os afro-brasileiros, ocupar a rua com um objetivo distinto do de nela trabalhar é um desafio e uma etapa no caminho da identificação e da integração, um desejo de se assimilar, de se “civilizar”. A imitação dos brancos é sem dúvida zombaria, sátira e ironia, mas também e sobretudo desejo de identificação e de compensação. O mundo branco não é rejeitado, já que se copia suas estruturas; ele é investido de formas de representação tradicionais saídas do mais profundo da cultura ancestral. A festa primitiva pode ter sobrevivido sob forma de retalhos (“o folclore é aquilo que melhor resiste ao tempo”)14 e se lhe extraem os elementos que podem se inscrever no quadro oferecido pela sociedade branca, enquanto as manifestações não exploráveis publicamente permanecem limitadas ao meio afro-brasileiro, se deixam ver menos, mantêm-se privadas. Paradoxalmente, a festa de rua, confrontando maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 13 “As festas oscilam entre dois pólos, a cerimônia e a festividade. Em algumas delas é a amplidão do ritual que as distingue dos ritos cotidianos. Em outras é a densidade da festividade que as separa do simples divertimento. O divertimento não é essencial à cerimônia em geral, e viceversa, as festas que se situam entre a pura cerimônia e o simples divertimento parecem pertencer a um gênero misto. (...) Esta mistura é também paradoxo, ambiguidade: toda festa, parece, se refere a um objeto sagrado ou ‘sacralizado’, e deseja manter comportamentos profanos” (Isambert, 1982, p.155, 157). 14 (Heers, 1983, p.27). 21 15 Uma cena do filme Tenda dos Milagres [de 1977, dirigido por Nelson Pereira dos Santos (NT)] mostra de forma explícita e surpreendente esta divisão casa/rua e alto/baixo, quando a família do coronel assiste com desgosto à passagem de um afoxé sob sua sacada. 22 o negro à recusa da sociedade branca de transportar ao cotidiano social o que é momentaneamente autorizado, reacende e conserva especificidades culturais das quais os portadores e autores visavam, talvez, apenas se desembaraçar. A rua — “lugar de espetáculo por excelência, certamente experimentada como o ‘grande e verdadeiro teatro’ por alguns” (Demarcy, 1973, p.86, 227) — é assim o palco de acontecimentos ligados ao desenvolvimento da sociedade urbana. Mecanismos complexos operam ali: é um território ambíguo. Extremamente variada segundo o calendário, sua ocupação se confunde com a noção de espaço dedicado ora ao sagrado ora ao profano, ora às elites ora ao vulgus. Na grande manifestação festiva (e sobretudo carnavalesca), a periferia certamente invade o Centro — mas apenas o domínio público, as ruas e praças. A rua é o pólo negativo (o povo, os negros) enquanto a casa é o pólo positivo (a burguesia branca). De um lado a desordem, a anarquia; de outro a ordem, o poder. O branco pode descer à rua, mas o negro não pode galgar o mundo tutelado pelos brancos. A cidade se torna teatro: as casas são os camarotes ou as arquibancadas; a platéia é representada pelos curiosos que assistem; o palco é a rua ou a praça, sob poder dos foliões — os atores da folia festiva.15 Mas uma clivagem suplementar perpassa a festa: o mundo dos foliões não é homogêneo. De um lado a sociedade branca se entrega à desordem, à derrisão, à impureza. De outro, o povo negro está à procura de uma ordem, de uma organização, de uma respeitabilidade. Em suma, cada um representa seu oposto estereotipado. No século XX o espetáculo de rua e os dramas festivos dos afro-brasileiros fornecem ao país um novo modelo, permitindo-lhes se identificar. Para uma parte da população urbana a identificação com o carnaval negro significou uma forma de inversão maior: subscrever uma festa que emana da escória da sociedade era uma antítese poderosa à ideologia e aos comportamentos corretos e estabelecidos. Tornar-se negro/sambista era um processo autenticamente carnavalesco porque ela consistia em vestir os atributos da marginalização e da inferioridade. Fugindo à ordem e à rotina brancas ou café- maestria com-leite dos desfiles ritmados pelas marchas, o Brasil popular bem educado e quase pequeno-burguês deixava-se mergulhar periodicamente na lama negra, como antigamente nos batuques, como na macumba. Mas já não é tempo de parar de apreender o conjunto destes aspectos por meio dos esquemas cuidadosamente traçados dos binômios caos/ordem, exclusão/integração? A festa e o transe não são dissociáveis. Os estados “secundários”, os estados “outros”, os estados “a-estruturais”16 do ser humano são suscitados e cultivados por si mesmos, em um submerso liberado de toda finalidade religiosa ou social, e aspirando a desligar provisoriamente o homem de toda sobredeterminação social ou estrutural. Se num primeiro movimento a festa significa a reconstrução necessária de papéis sociais, num movimento talvez paralelo e simultâneo o papel social tão cara e duramente conquistado é objeto de uma anulação no a-estrutural: “esta vontade comum tende à dissolução dos papéis sociais e dos eus encerrados na funcionalidade social. O cenário do transe desemboca na dissolução momentânea da vida social organizada” (Duvignaud, 1977, p.42). 16 Ver Duvignaud (1991) e, em especial, Duvignaud (1977). Referências CAILLOIS, Roger. L’homme et le sacré. Paris: Gallimard, 1950. DEMARCY, Richard. Eléments d’une sociologie du spectacle. Paris: UGE, 1973. DUVIGNAUD, Jean. Le don du rien. Essai d’anthropologie de la fête. Paris: Stock, 1977. DUVIGNAUD, Jean. Fêtes et civilizations. Arles: Actes Sud, 1991. ELIADE, Mircea. Mythes, rêves et mystères. Paris: Gallimard, 1957. ELIADE, Mircea. Aspects du mythe. Paris: Gallimard, 1963. GUSDORF, Georges. Mythe et métaphysique. Paris: Flammarion, 1984. HEERS, Jacques. Fête des fous et carnaval. Paris: Fayard, 1983. maestria Sete Lagoas n.2 p. 11-24 jan./dez. 2004 23 ISAMBERT, François-André. Le sens du sacré. Fête et religion populaire. Paris: Les Editions de Minuit, 1982. WUNENBURGER, Jean-Jacques. La fête, de jeu et le sacré. Paris: J. P. Delarge Editions Universitaires, 1977. m 24 maestria O lugar e a cidade no mundo contemporâneo 1 Adriana Ferreira de Melo * Cássio Eduardo Viana Hissa ** Resumo À imagem de um palimpsesto, a cidade pode ser pensada como uma superposição de grafias espaciais distintas, que vão se acumulando ao longo do tempo. Desse modo, uma organização espacial vai se inscrevendo * Mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais; Especialista em Turismo e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais; Graduada em Letras pela UFMG. ** Professor do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. à outra, revestindo, com seu peculiar tecido de cobertura, as anteriores. Nesse processo, cidades e lugares podem ser compreendidos como vítimas de supressão ou de constantes e contínuas transformações. Entretanto, tais tecidos de recobrimento, delicados e resistentes ao mesmo tempo, são freqüentemente esgarçados, deixando entrever tanto as linhas que, em sua força, resistem ao apagamento, traços de grafias mais antigas, quanto as novas linhas que se desenham no tecido. Na reflexão sobre as cidades e os lugares, esse esgarçamento das camadas de grafias que compõem o palimp- 1 Reescrita de texto intitulado provisoriamente "O lugar e a cidade: conceitos do mundo contemporâneo", de mesma autoria, que constitui coletânea de ensaios em processo de organização por Cássio Eduardo Viana Hissa. sesto urbano permite o contato de superfícies mais antigas com as mais contemporâneas. Palavras-chave: cidades e lugares; superfícies; contemporaneidade; homogeneização; diversidade. Abstract Using the image of palimpsests, the city can be thought as a superimposition of diferent spacial writings which accumulate as time goes by. One form of spacial organization will thus be inscribed on the previous form, covering it with its own peculiar material. In this process, the cities on the places can be understood as the victims of supression or constant and continuous tranformations. However, this material (cloth), which is delicate and resistant but also frequently frayed, giving us a glimpse of the strength of previous lines that resist the erasure, traces of older writings and of new lines that are drawn on the cloth. In their considerations on the maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 25 cities and places, this fraying of the layers of writings which make up the urban palimpsest allows the contact of older surfaces with the more contemporary ones. Keywords: cities and places; surfaces; contemporaneousness; standartization and diversity. 1 Introdução No mapa, a cidade é um ponto. A representação não tem a intenção de capturar a essência do objeto, mas a de localizá-lo. Está lá, marcado na cartografia, o ponto que representa a localização da cidade em relação ao território mais amplo no qual ela se insere. Para além do ponto, a vida na cidade é efervescente. Não há como representá-la de uma única forma, diante das infinitas possibilidades de representação. Os lugares também são pontos. Eles podem ser compreendidos, inclusive, como um conjunto de pontos nos interiores da cidade. Entretanto, os lugares não são exclusivamente urbanos — a despeito da magnitude assumida pelos níveis de urbanização — e tampouco podem ser lidos exclusivamente como pontos passíveis de interpretação, assim, por inteiro, em sua complexa natureza. Embora de natureza distinta, a cidade e o lugar permitem abordagens teóricas interpenetrantes. Pode-se pensar que a cidade assuma a condição de lugar. Além disso, nos interiores da cidade, pode ser imaginada uma profusão de lugares, cada qual com sua relativa particularidade, marcada pela identidade dos indivíduos e dos grupos. Entretanto, nem todos os lugares são cidades. Existem diversas possibilidades de compreender a cidade, classificá-la, conceituá-la. A cidade resiste às padronizações conceituais homogeneizantes em função de suas particularidades. Não há um modelo interpretativo que possa atender às diversas possibilidades de existência da cidade. Entretanto, pode-se dizer que a cidade pressupõe um conjunto, menos ou mais articulado, de funções ou de papéis. 26 maestria Quando se imagina o espaço total, cidades e lugares estão conectados por meio de redes progressivamente mais sofisticadas. No conjunto de subespaços, “[...] somente o subespaço urbano tem as condições requeridas (o aparelho terciário) para manter relações com os demais subespaços”. (SANTOS, 1988, p.112). Entretanto, a cidade não existe apenas a partir dessas condições e do dinamismo urbano. A cidade é o desejo do homem, que adquire formas, desenhos, caminhos de superfície e subterrâneos, intensos de vida cultural. A despeito da antigüidade do fenômeno urbano — para que se remeta à imagem que a cidade oferece como resistência à sua conceituação —, as possibilidades de realização da cidade não estão esgotadas: Como já se passaram mais de cinco mil anos para chegar mesmo a uma compreensão parcial da natureza e do drama da cidade, talvez seja necessário um período ainda mais longo para exaurir as suas potencialidades ainda não realizadas (MUMFORD, 1998, p. 9). As cidades são os homens e a espacialidade encontrada pelas sociedades no mundo de dimensão urbana. As dificuldades de compreensão da cidade, da sua natureza e dos seus dramas são do mesmo caráter das que se referem ao próprio homem. O mesmo pode ser dito sobre as realizações futuras da cidade, que são as dos homens. É certo que podem existir fortes relações de identidade entre os homens e a cidade. Entretanto, a cidade não se apresenta, por inteiro, para os homens da cidade. A cidade não é acessível a todos. Assim, não existiria, para os indivíduos que experimentam a cidade, uma cidade inteira. Existiriam trechos e fragmentos de cidade, escritos no tecido urbano, com os quais os grupos e os indivíduos estabelecem relações de identidade. Existem, portanto, cidades interiores, riscadas e desenhadas pelos indivíduos que escrevem, cada um com a sua vivência, a sua própria cidade. Do mesmo modo, pode-se referir às cidades dos grupos sociais, dos guetos, das tribos urbanas. Nesses termos, estaríamos focalizando os lugares nas maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 27 cidades e sublinhando o papel deles na constituição das identidades citadinas. Milton Santos nos fornece uma imagem de cidade a partir da importância da vida dos lugares. Na ocasião, ele se referia à necessária construção de uma nova política: “[...] a política dos de baixo, constituída a partir das suas visões de mundo e dos lugares” (Santos, 2003, p.132-133). O geógrafo, naquele momento, se referia ao papel dos pobres na construção do presente e, simultaneamente, do futuro: A política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por todos, pobres e não pobres; e é alimentada pela simples necessidade de continuar existindo. Nos lugares, uma e outra se encontram e se confundem, daí a presença simultânea de comportamentos contraditórios, alimentados pela ideologia de consumo (SANTOS, 2003, p.133). A cidade, que se dissemina por meio das redes para o espaço total, é repleta de lugares, feitos de identidade, de vivências e de experiências. Os conceitos, assim, já se confundem. Como compreender as cidades e os lugares a partir dos fluxos intensos e diversificados que sugerem a emergência de novos conceitos, como, por exemplo, o da própria supressão dos lugares, o da compressão do espaço pelo tempo? Haveria, assim, na contemporaneidade, uma superfície de fluxos capazes de padronizar a história das culturas, das particularidades, das identidades, da diversidade? Como pensar, sob a referência da contemporaneidade, as diversas superfícies feitas de história que parecem se desmanchar frente ao poder dos fluxos contemporâneos? 2 Palimpsestos: superfícies plenas e esgarçamentos David Harvey nos apresenta uma imagem de cidade contemporânea: tal como um palimpsesto, a cidade seria uma superposição de camadas espaciais distintas, que vão se acumulando ao longo do tempo: O pós-modernismo cultiva [...] um conceito do tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, um “palimpsesto” 28 maestria de formas passadas superpostas umas às outras e uma “colagem” de usos correntes, muitos dos quais podem ser efêmeros. (HARVEY, 1992, p. 69.) Essa imagem não serve, entretanto, apenas, para a compreensão da cidade contemporânea: trata-se da imagem da história dos homens, grafada, pela cultura, nos territórios em que se desenvolvem as relações sociais, espaços da vida dos homens. Não apenas a cidade, mas também todo o território poderia ser compreendido a partir dessa imagem, na contemporaneidade, mais carregada de grafias diversas e, portanto, mais suscetível à diversidade de leituras em sua complexa legibilidade. A história é grafada nesse espaço, terreno fértil de permanentes escritas. A imagem do palimpsesto sugere a existência de um texto primitivo, de origem, que teria sido raspado para dar lugar a outro. A história é história sobre história, escrita sobre escrita, espaço sobre espaço. O espaço pode ser interpretado, portanto, como uma superposição de grafias, de natureza social, feita de superfícies complexas, já que não se consegue apagar completamente as grafias anteriores. Tal como num palimpsesto, as “novas” grafias se mesclam às anteriores, ou a traços de grafias anteriores que resistem ao processo histórico de “raspagem”, dando origem a uma superfície de complexa legibilidade, acumulada que se encontra de grafemas e grafias do passado e do presente. A imagem de um palimpsesto não deve sugerir a idéia de supressão completa, mas a de “acúmulo incompleto” das várias grafias dos homens ao longo de sua história. Freqüentemente utilizada para a compreensão dos lugares e das cidades, a imagem do palimpsesto costuma ser associada à idéia de supressão. Nessas circunstâncias, grafias anteriores seriam apagadas, suprimidas, cedendo lugar às mais contemporâneas. Tratase de uma imagem imprecisa: não há, de fato, uma supressão da memória das superfícies anteriores, assim como, nem sempre, há uma supressão completa das superfícies antigas. Lugares antigos e contemporâneos podem constituir o mesmo ambiente de superfícies que se tocam. Cidades antigas — na verdade, trechos de superfícies mais antigas da cidade —, maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 29 grafadas com os traços culturais do passado, comunicam-se — através de traçados de uma arquitetura sofisticada — com superfícies modernas, contemporâneas. Desse modo, a cidade contemporânea é feita de superfícies complexas esgarçadas, que deixam entrever e atravessar, por suas fissuras, grafias de vários tempos, dispondo, lado a lado, presente e passado. Não há uma película de recobrimento completo, capaz de padronizar a história e os lugares da forma como, muitas vezes, se imagina. Trata-se, portanto, da manifestação da complexidade, de difícil captura pelo olhar que busca a padronização. Mas afinal o que é a cidade, com suas camadas de história acumuladas, umas sobre as outras, com os seus esgarçamentos, suas fissuras e suas superfícies repletas de armadilhas? O que é a cidade? A cidade não é o seu traçado sob a forma de tabuleiro de xadrez. A cidade não é o seu sítio, constituído de vales interrompidos por colinas de declives acentuados. O conjunto de edificações, recortado por ruas e avenidas, também não é a cidade. O pesado fluxo de veículos automotivos, o intenso comércio no centro nevrálgico, completamente interrompido ao final da noite, o barulho das fábricas e a fumaça das chaminés, os odores do aterro sanitário e os perfumes dos shopping centers também não são a cidade. A circulação das pessoas, com os seus medos e sonhos, no adensamento das tardes quentes, não é a cidade. Mas, afinal, o que é a cidade e como compreendê-la? A cidade é a vida de relações de todas essas coisas. Como submeter tudo isso, que cresce, a uma ordem superior, alheia ao movimento? (HISSA, 2000, p. 10). Como submeter a complexidade dessas questões a interpretações carentes de subjetividade, repletas do sonho científico racional feito de padrões e modelos? A cidade é a manifestação do território da vida, feita do homem e de seus interiores sem resposta. A cidade é uma resposta física, também, mas, sempre, uma resposta repleta de interrogações e de ambigüidades. A imagem das plenas e compactas superfícies nos remete à idéia de relativo controle sobre o que se apresenta diante dos olhos. Tudo emerge como possibilidade de controle. Entretanto, como um reflexo da própria natureza da 30 maestria história e do espaço, todas as superfícies são esgarçadas. Por suas fissuras, se entrevêem e atravessam camadas de história, lidas através de universos de tempos que se comunicam. Passado, presente e futuro não se desenvolvem no mesmo ritmo e, tampouco, se inscrevem, no espaço, na ordem que os olhos da cultura e da arte da ciência desejam. O espaço dos lugares é feito de superfícies comunicantes, moventes, atravessadas pela própria dinâmica da história da vida dos homens. Não há uma superfície compacta, feita de uma só história, de uma escrita apenas, como se fosse uma película em si mesma a que nada se referisse. Os lugares são ambientes modelados pela história que os atravessa, feita da vida dos homens que, nos lugares, se realiza e se realizou. Não há lugares feitos de uma só superfície, de uma só história, feita apenas do presente. As grafias dos lugares são cunhadas pela sua história, transcriada para o seu espaço e, também, para a sua superfície visível. Lugares e cidades são feitos de nomes, de significados fabricados pela história dos homens. Não há uma cidade, um lugar que não seja feito de seu nome. O contrário disso é a negação da existência da vida dos lugares. Os lugares são produtos da existência — feita dos homens, do seu trabalho, da sua arte e dos significados que encaminham a cada objeto, a cada ser, a cada movimento. Por isso, os lugares são também, o nome que os representa. A supressão do nome implica o ocultamento da história, da identidade, a extinção de uma tessitura de vida, o distanciamento do significado que se dá ao pequeno pedaço de mundo. A literatura de Guimarães Rosa nos auxilia: Perto de lá tem vila grande — que se chamou Alegres — o senhor vá ver. Hoje, mudou de nome, mudaram. Todos os nomes eles vão se alterando. É em senhas. São Romão todo não se chamou de primeiro Vila Risonha? O Cedro e o Bagre não perderam o ser? O Tabuleiro-Grande? Como é que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu, devia ser sagrado (ROSA, 1976, p. 35). Perder o ser! Poderá haver algo que sirva melhor de maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 31 referência para o que se discute neste texto? A supressão dos lugares, das cidades ou de qualquer uma de suas superfícies grafadas, não se daria a não ser pela erradicação do seu nome, do seu significado e do que ele representa para a vida dos homens, condenados também à supressão, ao esquecimento. Diante disso, em que termos se poderia refletir sobre as possibilidades, já tão discutidas, da supressão dos lugares pelo tempo? A supressão dos lugares assumiria o mesmo significado da supressão do seu tempo, da sua história e do seu nome. Considera-se que uma organização espacial — feita de superfícies — vá se inscrevendo à outra, a partir de fatos históricos, como, por exemplo, o processo de urbanização caótico gerado pela industrialização, o desenvolvimento tecnológico e econômico e a globalização. Se as cidades e os lugares podem ser, também, originários desses processos produtores de películas de cobertura, como não reconhecer, na mais contemporânea das grafias, a anterior? Todas elas são comunicantes e processuais, resultado da história que as produz. Pensar na possibilidade de apagamento de uma inscrição por outra é reduzir a história ao relógio e o espaço à aparência ensimesmada dos objetos. Não há uma superfície sem esgarçamentos, que deixa de pôr à mostra a memória e as diferentes grafias dos seres. 3 Sobre os lugares, cidades e regiões: ainda sobre palimpsestos Talvez compreendidos como vítimas das constantes e contínuas metamorfoses que sofreram e sofrem, as cidades e os lugares são, inevitavelmente, condenados, também, à transformação. Trata-se de uma observação pertinente aos vários campos da vasta literatura que aborda a problemática urbana e as questões teóricas e empíricas que envolvem a questão dos lugares. Não seriam, entretanto, os lugares e as cidades, eles mesmos, condutores e produtos de um mesmo processo? O que são os lugares e as cidades senão a própria vida que neles se instaura? O que são as suas transformações e qual é a sua 32 maestria natureza? Como não pensar tais transformações como produtos dos próprios lugares, das próprias cidades? Os lugares se transformam porque estão conectados ao mundo — feito de lugares, de cidades e das suas redes. As metamorfoses são o reflexo do próprio dinamismo histórico-espacial. Todas elas são dotadas do significado que se concede aos lugares e às cidades — feitos do mundo — e, de modo algum, estão alheias à vida dos homens. Os homens, sim, em uma grande maioria, podem estar alheios, excluídos da possibilidade de compreensão dos processos, privados do entendimento do que significa a vida do mundo das cidades e dos lugares. Ecléia Bosi (1998) nos mostra a importância dos idosos na reconstituição da história das cidades e, por que não dizer, dos lugares e do mundo. Guardados nas vivências mnemônicas dos velhos, e revelados em depoimentos, lá estão os antigos lugares e os acontecimentos nele vivenciados — a casa, o bairro, algumas ruas, a escola, o centro, os jardins — espaços afetivos e compartilhados num tempo específico, que, por meio da memória, nos abrem a possibilidade de acesso às primeiras inscrições do palimpsesto urbano. Travessias feitas de reminiscências, memória. É claro que o lugar não é necessariamente urbano, nem tampouco rural. Restaurantes de beira de estrada, por exemplo, podem ter um significado especial para um grupo social específico. Assim, o lugar pode ser entendido como um centro de significações para a fundação de identidades individuais e coletivas. A supressão dos lugares — compreendida como a oclusão de sua memória — implica a erradicação dessas identidades, dos valores atribuídos aos lugares pelos indivíduos e pelas comunidades. Os lugares são os homens que, aos lugares e a si mesmos, atribuem significados e valores. Além das identidades desenvolvidas a partir dos lugares, pode-se refletir sobre contextos bem mais amplos. A região: redes de cidades feitas de conexões horizontais; redes de lugares, cada qual com o seu pedaço de mundo; imagem de espaço para além da cidade, feito de territórios e de fluxos de todos os tipos. O Brasil pode ser um exemplo de processo histórico de estruturação de superfícies regionais. maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 33 Até os anos 40, a economia brasileira era caracterizada pela precária integração regional: regiões que pouco se comunicavam, cidades que pouco dialogavam. Não havia fortes ligações entre as economias regionais, já que a produção, no âmbito da economia, estava prioritariamente voltada para o mercado externo. Desse modo, não havia, ainda, um mercado nacional integrado e, portanto, uma divisão inter-regional do trabalho. Só a partir dos anos 50, com o surto de industrialização do Sudeste, essa situação se alterou. Passaram a surgir trocas entre as economias regionais, configurando um primeiro momento de integração nacional. Uma imagem de superfície nacional, então, se inicia, num processo embrionário de desenvolvimento, maquete de superfície, quase artesanal, película esgarçada de nação, feita de dutos articulares e de fluxos interrompidos. Como quis Guimarães Rosa (1976), “mar de territórios”, feitos de conexões incompletas e de fissuras a partir das quais emergem, permanentemente, os espaços-tempo, as identidades: cidades, lugares. Regiões produtoras de bens primários, como Nordeste e Sul, passaram a fornecer seus produtos para o Sudeste e a comprar produtos industrializados dessa região. Verifica-se, então, o surgimento de uma divisão inter-regional do trabalho no Brasil. O Sudeste, que até antes da industrialização dispunha de uma estrutura produtiva voltada para a agricultura, transfere essa tarefa para as regiões Sul e Nordeste, passando a se ocupar mais especificamente da produção e fornecimento de produtos industrializados. Ocorre, então, o que Francisco de Oliveira denomina de “substituição de uma economia nacional formada por várias economias regionais para uma economia localizada em diversas partes do território nacional”. (OLIVEIRA, 1977, p.55). O que parece sugerir a integração, entretanto, termina por construir mais fortemente a imagem do que não é homogêneo. Superfícies eivadas de fissuras, de onde emergem picos e ondulações: o processo de integração é revelador de intensas desigualdades regionais. Assim como se ousou pensar na supressão dos lugares e dos territórios, na compressão do espaço — como se ele fosse feito exclusivamente de geometrias e de distâncias euclidianas 34 maestria marcadas por coordenadas, distâncias superadas pelos ambientes virtuais e pelas eletrônicas — a negação da região, um produto de reflexão do mesmo caráter, assume o significado de supressão da história. Nessas circunstâncias, a negação da região implica a negação das identidades, dos valores e das culturas regionais. Refletindo sobre a região, Milton Santos nos traz informações conceituais e históricas: No decorrer da história das civilizações, as regiões foram configurando-se por meio de processos orgânicos, expressos através da territorialidade absoluta de um grupo, onde prevaleciam suas características de identidade, exclusividade e limites, devidas à única presença desse grupo, sem outra mediação. A diferença entre áreas se devia a essa relação direta com o entorno. Podemos dizer que, então, a solidariedade característica da região ocorria, quase que exclusivamente, em função dos arranjos locais. Mas a velocidade das transformações mundiais deste século, aceleradas vertiginosamente no após-guerra, fizeram com que a configuração regional do passado desmoronasse (SANTOS, 1996, p.196). Isso jamais, entretanto, poderia resultar na imagem de extinção das superfícies regionais, na supressão da região. Ao contrário: enquanto alguns preferem afirmar o fim do espaço (AUGÉ, 1994; BENKO, 2002), outros, munidos de argumentos consistentes, observam: “[...] já que o espaço se torna mundial, o ecúmeno se redefine, com a extensão a todo ele do fenômeno de região” (SANTOS, 1996, p.196). Milton Santos ainda sublinha fortemente: “As regiões são o suporte e a condição de relações globais que de outra forma não se realizariam”. (SANTOS, 1996, p.196). O autor fala da universalidade de um fenômeno: o da região. A rapidez dos processos, que, inclusive, se dão em escala mundial, faz com que a imagem de região pareça frágil, etérea, volátil. O geógrafo observa, então, que a região assume “um nível de complexidade jamais visto pelo homem” (SANTOS, 1996, p.197). Não se sabe em que pensou o autor, mas uma imagem pode se juntar à sua reflexão. A velocidade dos ritmos globais, digitais, eletrônicos, assim como a diversidade de fluxos de todos os tipos que se sobrepõem a um acúmulo de informações que maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 35 não encontram qualquer possibilidade de plotagem, a instantaneidade e a simultaneidade de processos, constituem, no conjunto, uma superfície que recobre o espaço das regiões, das cidades, dos lugares. A imagem poderia ser de intenso movimento e homogeneização. Entretanto, toda superfície é passível de esgarçamentos e fissuras através dos quais se entrevêem superfícies de diversidade, diferenças, exclusão, história do espaço feito de lugares, cidades e regiões. 4 Considerações finais: sobre a última camada do palimpsesto O mundo não existe, senão como uma abstração: a vida dos homens acontece, de fato, nos lugares, nas cidades, predominantemente no ambiente urbano. É o que deseja nos dizer Milton Santos (1994). Coberto por uma película global, o mundo parece emergir por meio de processos contemporâneos predominantemente associados à globalização da economia. Tudo parece sucumbir à referida dinâmica e não são poucas as interpretações que procuram compreender os lugares como subordinados ao processo de padronização ou de homogeneização. Tais interpretações, alicerçadas no saber acerca das transformações experimentadas pelo mundo dos lugares, são enaltecidas por um discurso hegemônico como extraordinárias, porque capazes, entre muitas proezas, de suprimir as fronteiras do tempo e do espaço. Diante da comunicação verbal e visual em tempo real, a aproximação dos lugares, dos indivíduos, das populações e, hipoteticamente, a elevação do padrão de vida pela facilidade de acesso aos produtos, cria-se a imagem da globalização total a partir, apenas, da globalização econômica. Como se o mundo pudesse se tornar acessível a todos. Tal discurso constrói um mundo fictício, o mundo como fábula, como nos mostra Milton Santos (2003), ocultando a perversidade da globalização tal qual ela se apresenta de fato, que resulta no abandono da solidariedade, da educação e da saúde, na degradação ambiental e na ampliação do 36 maestria desemprego e das desigualdades sociais. A escrita mais recente da superfície do mundo, a mais contemporânea camada desse suposto palimpsesto, a despeito de mundial, é predominantemente citadina. A cidade — globalizada pela unificação ou integração dos mercados, que passam a regular a vida social, no lugar do Estado — torna-se líder do processo de inovação econômica e tecnológica. Surgem as chamadas metrópoles mundiais e os tecnopólos, responsáveis, graças aos seus avançados meios de comunicação, por divulgar ao mundo o seu fabuloso modelo de desenvolvimento e comportamento social. Desse modo, a superfície mais contemporânea de mundo é atravessada pela emergência da distinção entre os lugares — pelas evidentes desigualdades, das inesgotáveis diferenças que recusam a idéia de homogeneização. Mesmo a partir da imagem das superfícies mundiais esgarçadas, que deixam entrever e atravessar, por suas camadas, grafias de tempos e de comportamentos distintos, desenvolve-se a idéia de ameaça aos lugares: no mundo contemporâneo eles estariam diluídos, fragmentados, subordinados às forças da globalização. O lugar, assim, metamorfoseiase, de forma muito rápida, parecendo resistir integralmente apenas a partir de vivências mnemônicas. Atacado pela globalização, parece tornar-se apenas mercadoria, assim como a cidade e a região, muitos deles se organizando para vender uma imagem capaz de seduzir a ordem global como espaços nitidamente propícios ao investimento, ao consumo, ao lazer e à qualidade de vida. Se essa ordem, marcada pela internacionalização da economia e interdependência das diferentes economias nacionais, tenta integrar as cidades às redes nacionais e transnacionais, como pensar na integridade e na identidade cultural dos lugares, das cidades e das regiões no mundo contemporâneo? Imagina-se que as respostas mais fecundas, também feitas de muitas dúvidas e de interrogações, encontram-se na própria imagem fornecida pela camada mais contemporânea que recobre o mundo, especialmente feita de economia e que, de modo algum, entretanto, recobre tudo. O mundo não pode maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 37 ser reduzido, apenas, à dinâmica do capital. A vida é feita de vários significados passíveis de identificação nos lugares e nas cidades, feitas de diferenças que emergem e esgarçam o fino tecido dessa superfície de mundo. Mesmo do ponto de vista da globalização econômica, não se sustenta a leitura da unificação e da integração dos mercados que originaria uma superfície homogênea, feita de processos padronizadores. Na “prática”, essa interpretação é claramente insustentável, não apenas pelas intensas diferenças históricas entre as nações, regiões, cidades e lugares, mas também pela evidência de que, na lógica de acumulação de capitais, os recursos do ambiente se esgotariam se o desenvolvimento dos países ricos fosse padronizado, no mundo, a partir da emergência da riqueza dos atuais países pobres. A leitura do mundo, feita desses processos, aponta a inclusão de poucos e a exclusão da maioria. A padronização do mundo, a uniformização de valores e comportamentos conduzindo ao pensamento único, ameaça a identidade das culturas local, regional, nacional, decretando a morte da tradição e provocando graves conflitos entre as classes sociais. Milton Santos nos fala da esquizofrenia do espaço, do território e do lugar, uma vez que apenas parte deles acolhe as imposições da nova ordem da globalização, enquanto que a outra parte, constituída pelo aumento do contingente dos excluídos e marginalizados, produzido por essa mesma ordem, funciona como núcleos de resistência a essa racionalidade hegemônica. Muito mais do que permite a leitura convencional da globalização, o papel do lugar é determinante, frente aos processos contemporâneos associados à globalização da economia. Os lugares e as cidades, não importando muito aqui a distinção entre os dois pequenos universos feitos de mundo, produzem, junto à busca da sobrevivência, um “pragmatismo mesclado à emoção” (SANTOS, 2003, p.114). O lugar “não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite ao mesmo tempo, a reavaliação de heranças e a indagação sobre o presente e o futuro” (SANTOS, 2003, p.114). Desse modo, o lugar pode fazer, como progressivamente faz, surgir uma 38 maestria nova cidadania que insurge contra o processo de globalização, a partir da afirmação do seu espaço de identidade, funcionando, portanto, como um limite às perversidades da globalização e, conforme observava Milton Santos (2003), substituindo o pensamento único pela consciência universal. Para que isso aconteça, Milton Santos observa que basta que se completem as duas mutações, para ele já em gestação neste nosso tempo: a mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana. Essa última torna-se o grande desafio, a condição essencial para que um novo mundo, construído de uma nova película feita de consciência, cidadania e solidariedade, não se constitua apenas de uma contínua esperança. Referências AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994. BENKO, Georges. Geografia de lugar nenhum ou hiperglobalização: breve exame do mundo pós-moderno. In: SANTOS, Milton et al. (Org.). Território: globalização e fragmentação. São Paulo: HUCITEC/Annablume, 2002. p. 247-250. BOSI, Ecléia. Memória e sociedade: lembrança de velho. 5.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1992. HISSA, Cássio Eduardo Viana. Geografia urbana e planejamento. Caderno de Geografia, Belo Horizonte, PUC MINAS, v. 10, n. 14, p. 5-12, 1º sem. 2000. MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. OLIVEIRA, Francisco de. A economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: Graal, 1977. ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 10. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 10. ed. São Paulo: Record, 2003. maestria Sete Lagoas n.2 p. 25-40 jan./dez. 2004 39 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo: HUCITEC, 1996. SANTOS, Milton. O mundo não existe. Veja, Rio de Janeiro, Ano 27, n. 46, p. 7-10, 16 nov. 1994. Entrevista concedida a Dorrit Harazim. SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. São Paulo: HUCITEC, 1988. m 40 maestria Teatro Redenção: memórias e destino Dalton Antônio de Avelar Andrade * * Professor do curso de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas. Resumo O artigo trata do Teatro Redenção, patrimônio arquitetônico e histórico da cidade de Sete Lagoas e propriedade atual da Fundação Educacional Monsenhor Messias (FEMM). A intenção é aglutinar dados, leituras e interpretações que possibilitem visibilidade e discussão sobre o tema. A FEMM tem se mobilizado para incorporar esse capital cultural à sua própria história, e adquirir centralidade no espaço social setelagoano. Palavras-chave: patrimônio; memória; centralidade da cultura na gestão urbana. Abstract This article is about Redenção Theater, architectural and historical patrimony of the city of Sete Lagoas, and presently owned by Fundação Educacional Monsenhor Messias (FEMM). Its intention is to gather facts and interpretations that would make possible visibility and discussion on the theme. FEMM has been mobilizing to incorporate that cultural capital to its own history, and to acquire central feature in the social setelagoano space. Keywords: patrimony; memory; central feature of the culture in the urban and symbolic administration; history of the cities. Otília Arantes, num trabalho sobre o papel atual da cultura na gestão urbana, cria um termo: “ponto ótimo de crise”. O patrimônio, a cultura e a identidade de um lugar, quando ameaçados, geram uma reação e reorganização. (ARANTES, 2000, p.11). Mas em meio a uma grande escala de perdas, não há por parte do poder público ou da sociedade local nenhu- maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 41 ma grande intenção de resgate e defesa do patrimônio comum. A revista Exame, ed. 650, de 3/12/1997, rotulou-nos de deserto cultural; e o termo tornou-se um signo. Cataguases recebeu a maior pontuação do IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) em 2003 e, não sendo cidade histórica, marcou 23,80 pontos na administração de seu espaço identitário. Para que observemos a diferença que faz uma boa política cultural, Sete Lagoas marcou apenas 2,7 pontos. As notícias veiculadas no jornal Sete Dias nos dias 19 e 26 de março, sobre o patrimônio da cidade e os repasses financeiros obrigatórios para a cultura, atestam o vigoroso processo de desertificação cultural a que continuamos sujeitos. A Secretaria Municipal de Cultura conseguiu listar apenas 5 pontos de conservação, sendo que 2 são as lagoas Paulino e da Boa Vista. Os outros três são o Casarão, o Museu Municipal, e o Museu Ferroviário. O secretário da pasta justificou que o município tem outras prioridades, como educação, saúde e promoção social. Nesse aparente descaso disfarça-se a ideologia oficial da política setelagoana. Expliquemos. Já me referi à centralidade da cultura na gestão das cidades. A preservação do patrimônio, além da arrecadação de ICMS, significa também uma tendência do capital financeiro. As empresas e as elites impõem seus símbolos nas áreas centrais, requalificam-nas e demonstram sua liderança. A cidade, além da valorização dos espaços públicos tem a possibilidade de novas frentes dinâmicas. Lazer, esporte e turismo são partes dessa questão. Há mesmo aqui em Sete Lagoas uma demanda reprimida, dadas suas condições peculiares e o pouco investimento acumulado. O Teatro Redenção se encaixa nos aspectos citados. As empresas em Sete Lagoas são em sua maioria de capital externo à realidade local; e nenhuma delas tem representação no centro, ou interesses na questão simbólica. São periféricas, interessam-se apenas pelo espaço periférico, onde se aloja a mão-de-obra e a infra-estrutura, para a reprodução do capital e o rápido escoamento das mercadorias. Há aquelas que desejariam até não serem vistas, como o gusa e seu gigantesco raio de ação. O espaço do capital aqui tornou-se 42 maestria muito superior ao espaço da sociedade. Uma enorme dificuldade para a vivência social é o resultado; não à toa foi batizada de Deserto Cultural a cidade de Sete Lagoas. Junto com a urbanização acelerada nos anos 70, operou-se uma ruptura e uma transformação política. As elites tradicionais perdem espaço e uma prática populista, habitualmente autoritária e irresponsável, gera nova tradição. Criados os currais eleitorais, onde se estocam a mão-de-obra e a massa dos eleitores, a reprodução do poder abriu mão de vez das construções de identidade, do melhoramento do espaço público e da vida cultural da cidade. Mas o projeto industrial fordista dá sinais de fraqueza; e um retorno ao território urbano e suas tradições se tornam cada vez mais necessários. A desindustrialização e o desemprego imporão novos rumos. Logicamente, uma política cultural, geradora de signos, da preservação do patrimônio e gestão do espaço público, se coloca como séria alternativa para o espaço setelagoano, mesmo que muito pouco tenha sido feito nas últimas décadas. Em 29 de junho de 1901, foi inaugurado o Teatro Redenção, na rua Silva Jardim, antiga Rua dos Prazeres, atual Monsenhor Messias. Essa frase é cabalística. Primeiro a data de pedra, dia de São Pedro, principal justificativa do prédio estar ainda de pé, diante do descaso e do abandono dos últimos 17 anos. Depois, que é chamado de “teatro”, sua função nos primeiros 16 anos apenas. O prédio abrigou a prefeitura de 1920 até 1959; e sua memória poderia estar ligada à vida política, mas prevaleceu o mito do teatro remoto, em que a elite política e econômica da pequena cidade atuou como atriz. Se é verdade que, como sugere Jorge Luis Borges, somos ao mesmo tempo e a cada instante aquilo que já fomos e aquilo que um dia seremos, pode acontecer nesse caso a desejada síntese. O prédio também marcou época como a Escola de Música Lia Salgado, com aulas de balé clássico e jazz, durante praticamente vinte anos; até 1986, quando por precariedade das condições, já sob administração da FEMM, foi desativado e abandonado. Muitas gerações setelagoanas, então, viveram esse patrimônio. maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 43 O Redenção foi teatro, prefeitura, delegacia de ensino, biblioteca da FEMM e, por fim, a Escola de Música Lia Salgado. Este conservatório de dança e música participou do último período de vigor urbano da cidade, o footing dos anos 80. Depois disso o prédio ganhou o suporte do abandono, em plena rua central. A rua Monsenhor Messias tem como homônima a Fundação Educacional, dona do prédio, por obra do ex-prefeito Afrânio Avelar, que o cedeu para constituir o patrimônio inicial da faculdade, em 16 de junho de 1967. (LANZA, 1967, p.132). A revitalização do Redenção envolve todos os signos supracitados. Para a FEMM representa um elemento dentro da comunidade; e dada a vocação pública do prédio, a possibilidade de desenvolvimento simbólico no recesso do deserto cultural. Em 1901 já havia chegado a ferrovia (1896); e seus signos de modernidade afirmavam-se pela cidade. A elite, que comumente interessar-se-ia nessa hora mais na manutenção de um estado de espírito tradicional, incorpora grupos artísticos, o que parece ser original; e só pode ser explicado pelo pouco tamanho e alguma vocação da cidade em entreter-se. O teatro e as festas religiosas são as principais diversões públicas da época. A presença dos homens do poder local no Redenção pode, contudo, significar uma intencionalidade, um propósito, o de demonstrar uma maioridade intelectual e o desejo de controlar as transformações em marcha na então minúscula Sete Lagoas. No resgate dessa história há grandes lacunas, as dificuldades inatas ao ponto da discussão histórica da cidade e também os limites do pesquisador em descobrir e revelar novas pistas. Mas esperamos que seja útil no sentido de circular as informações de que dispomos. Os textos do historiador Joaquim Dias Drummond, que viveu o teatro, são as principais fontes encontradas sobre o tema; e serão reproduzidos pelo aspecto in loco, para dispô-los a novas leituras e interpretações, por quem aqui se aventurar. Destaco que os livros e memórias escritos ao final do século XIX e início do XX, na região, mostram atividade teatral em festas de fazenda, casamentos, atividades cívicas, 44 maestria como uma ação costumeira. O teatro mais antigo do Brasil é a Casa da Ópera, em Ouro Preto, de 1770; e o Teatro de Sabará, de 1819, casa que enviou grupos artísticos a Sete Lagoas e influenciou nossa história. A proximidade desses centros, os contatos e estradas de comércio pela freguesia de Sete Lagoas podem ter predisposto a cidade a um convívio mais emancipado de idéias e costumes. Na sessão da Quarta Câmara Municipal de Sete Lagoas, em 27/07/1885, o vereador José João da Silveira Drummond, que encabeça a lista de vereadores, presidente da Câmara em questão, pede subvenção provisória para o Teatro Municipal, em construção. (DRUMMOND, 1977, p.28). É, em termos cronológicos, a primeira vez que se fala na construção de um teatro em Sete Lagoas. A capela da Serra de Santa Helena é de 1852, o Cruzeiro de 1857, inaugurando a peregrinação à Santa Helena. A Festa do Divino aconteceu pela primeira vez em 1865 (FERNANDINO JUNIOR1, 1954, p.35). Não havia ainda uma casa de espetáculos — e talvez não fosse necessária, em tão pequeno lugar. Sete Lagoas só atinge 8 mil habitantes após 1906, com a contratação em massa para as oficinas ferroviárias. O teatro de Sabará era considerado uma das mais arrojadas obras arquitetônicas do estado, onde estrelava no último decênio do século XIX a Companhia Dramática de Augusto Fernal, que apresentou aqui em Sete Lagoas, em palco improvisado, a peça “O Fantasma Branco”, precedida de grande sucesso. Segundo Joaquim Dias Drummond, esse é o primeiro momento do teatro na terra dos lagos. Estréia, digamos, profissional, já que nas “Reminiscências de um médico”, de João Antônio de Avellar, bem mais antigo que Drummond, há bons casos de apresentações amadoras. Joaquim Drummond2 nos relata esse momento: 1 FERNANDINO JUNIOR, João, Prof. Revivendo a história de Sete Lagoas. Revista Acaiaca, Belo Horizonte, n.65, p.33-39, ago. 1954. 2 DRUMMOND, Joaquim Dias. Mensagem, Sete Lagoas, 14 jan. 1958. No último decênio do século passado a cidade se alvoroçara na expectativa de inédito acontecimento! Precedida de retumbante cartaz, pelos sucessos alcançados no histórico teatro de Sabará, considerado naquela época como uma das mais arrojadas obras arquitetônicas do Estado, aqui chegaria maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 45 a grande Companhia Dramática de Augusto Fernal. Na falta de um teatro apropriado para as suas representações, os nossos “empresários” voltaram suas vistas para o antigo rancho do sobrado da Praça Tiradentes, único recurso de que poderiam dispor para acolher os artistas famosos. Adaptá-lo para o desempenho de tão alta função foi obra de um momento. O velho rancho se viu, de uma hora para outra, guindado às honras de Teatro Municipal. Afinal, quem vinha nos visitar era uma grande companhia e para tão ilustres hóspedes todos os sacrifícios seriam poucos. Improvisado espaçoso palco que tomava toda a largura do rancho, foi armado imponente cenário que deslumbrava pela magnificência de sua decoração. Na platéia, cadeiras de todos tipos, obtidas por empréstimo, dos moradores da terra, alinhavam-se com enormes bancos toscos que ainda constituíam o único mobiliário de muita gente boa. Tais pormenores pouco importariam uma vez que a casa lotada faria desaparecer, em parte, o grotesco dessa improvisada instalação. O luxo com que os espectadores se dispunham a comparecer, supriria, certamente, alguns senões que pudessem ser observados, por olhares menos discretos. As roupas eram fartas e predominância do elemento feminino far-se-ia notar. As modistas se afogavam num dilúvio de fazendas finas no afã de preparar as “toilettes” mais em moda, naquela época. Um imperativo dominava todas as suas clientes: — a mulher setelagoana teria que se apresentar à altura das ilustres damas de Sabará, em tão notável acontecimento. Os clássicos espartilhos sairiam de suas caixas para adelgaçar muitas cinturas e aprumar outros tantos bustos, já em decadência. Os corpetes, recamados de vidrilho justapostos com gosto e arte, completariam a indumentária feminina, destacada aqui e ali pela arrogância das mangas de tufos. Quanto aos sapatos, poucas se preocupavam, porque então, tal complemento do vestiário, não gozavam das prerrogativas de serem vistos, com facilidade. Os homens, por sua vez, não queriam ficar para trás. Velhas sobrecasacas e fraques debruados foram tirados da morgue de naftalina e expostos a um banho de sol reparador. As camisas brancas, de peito duro, brilhavam ao sol, em meio a uma infinidade de punhos e colarinhos, engomados a rigor. Lindas gravatas plaston se destacariam, sob bem talhados coletes filetados com transparentes brancos, de seda. Enfim, eles não se apresentariam em dissonância com suas enfatuadas caras-metades. 46 maestria As jovens, nem se fala, foi um corre-corre para as lojas de modas, em busca de um leque mais flexível ou de um perfume mais inebriante. Não dispunham de baton nem rouge, mas usavam e abusavam do pó de arroz. Chegou, afinal a noite do maior espetáculo da terra! Cavalheiros, circunspectos, de braços dados com respeitáveis matronas, transpunham os portões do rancho, empertigados, solenes, como se estivessem galgando as escadarias do Municipal, no Rio. Os jovens trocavam olhares e sorrisos discretos, procurando na platéia pontos mais estratégicos para continuarem com a sinfonia do amor platônico. O que não podiam expressar, num tete-a-tete, diziam, pelo código dos leques, transmitindo mensagens de esperanças... Toda a platéia vivia o seu grande momento. No ar, um perfume suave de flores, ornamentando lindas cabecinhas de cabelos fartos, ou um colo palpitante de emoções. Pequena orquestra, recrutada às pressas, entre velhos cultores da boa música, tenta a execução de uma sinfonia vibrante. Abre-se o pano de boca. Os olhares convergem para o palco. E sobre uma platéia em “suspense”, desenrolam-se lances de “O Fantasma Branco”... Aplausos vibrantes e prolongados obrigam os artistas a virem a ribalta e muitas flores caem sobre eles, como o final de uma apoteose. Augusto Fernal plantara, naquela noite memorável, a primeira semente do teatro em nossa terra. Segundo Drummond, a apresentação do grupo de Augusto Fernal, na última década do século XIX, desencadeou o ímpeto de jovens como José Belisário Viana, João Fernandino Jr. e Fernando Pinto de Azevedo, que fundam, influenciados pela apresentação de Fernal, o Grupo Dramático “João Caetano”, sociedade de atores amadores, e se lançam à empreitada de construir um teatro na cidade. Faziam ensaios e angariavam fundos que permitissem a construção do teatro. Uma imprecisão quanto às datas foi apresentada, no relato de uma reunião da Quarta Câmara, em 1885, que pede subvenções provisórias para a construção de um teatro em andamento, evidenciando certa confusão nas diferentes referências deixadas por Drummond. Dando crédito maior para o registro maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 47 3 DRUMMOND, Joaquim Dias. Mensagem, Sete Lagoas, 21 jan. 1958. 48 da Câmara dos Vereadores podemos concluir que há a idéia da construção de um teatro em Sete Lagoas anterior a Fernal. Isso também é sugerido, como citado acima, nas memórias de João Antônio de Avellar, “Reminiscências de um médico” (1985), que cita algumas peças montadas em palcos improvisados, principalmente nas fazendas ao redor. São impagáveis as comédias em que as peças se tornam, graças ao improviso e ao imprevisto, que dão certa cor à remota cidade. Avellar se revelaria um roteirista, fruto de uma mente moderna, imaginativa e dos casos interessantes e engraçados acontecidos na sua vivência de médico pelo interior, do convívio alegre e cerimonioso da vida rural, em volta das fazendas cheias de escravos, das festas de aniversário e da existência do próprio teatro Redenção, que inaugura uma dinâmica na cidade. O seu livro de memórias deixa muito boa impressão, mas consta que morreu desiludido de tudo e de todos (DRUMMOND, 1977, p.108). O desgosto vem certamente do desgaste da vida política, das picuinhas ligadas às disputas do poder, que o levaram mesmo à renúncia da presidência da Câmara, no ano de 1910. A presença de João Fernandino Jr., na apresentação de Fernal, evidencia que reunir músicos para o evento não foi tarefa difícil, como sugere Drummond. O músico é o caçula de uma família que, por décadas, manteve pequena orquestra com apresentações públicas às margens da lagoa Paulino, mais exatamente no prédio do Grupo Escolar, onde antes existiu a casa dos Fernandinos, ainda hoje sinônimo de musicalidade em Sete Lagoas. Drummond quer marcar uma oficialidade, ou mesmo se colocar na posição de testemunha ocular da história do Teatro Redenção, graças à reedição dos fatos, feita por ele em 1958. Mas é em parte refutado pelos escritos de Avellar, morto em 1914, memórias lançadas em 1985, em parte por escritos dele mesmo e, por fim, pela análise dos fatos. Voltemos a mais uma série de acontecimentos narrados por Drummond3: Augusto Fernal deixara em nossa terra um traço marcante de sua personalidade artística. O seu “Fantasma Branco” provocou muitas noites de insônia e permaneceu, por longos maestria meses, como assunto obrigatório de todas as rodas. Velhos e moços comentavam o sucesso de sua temporada e não faltou quem se animasse a enfrentar a difícil arte de Thalia, organizando um grupo de comediantes, tendo à frente os jovens José Belisário Viana, João Fernandino Jr. e Fernando Pinto de Azevedo. A estes uniram-se outros mais e fundaram o Grupo Dramático “João Caetano”, em homenagem ao maior ator nacional daqueles tempos. Simultaneamente com os ensaios prolongados de autênticos dramalhões, então muito em moda, cuidava o Grupo de amealhar recursos que lhe permitissem a construção de nosso teatro. A fama de Sabará corria mundo e nós não podíamos vender a nossa farinha por menos. Roma não foi feita em um dia. É muito conhecido o episódio da libertação de uma escrava, torturada por seu mercador, mediante cotização popular, encabeçada pelo Dr. João Antônio de Avellar. Tão generosas foram as contribuições que, com o saldo apurado, os seus promotores resolveram adquirir o velho rancho de tropas, pouso forçado dos que então faziam o ignominioso comércio. O acontecimento marcou época e com ele o nosso povo escrevia uma das poucas páginas que ilustram a nossa história. Para o local do rancho voltaram às atenções dos moços que capitaneavam o “João Caetano” e o terreno foi cedido ao Grupo, graciosamente, para a execução do plano que havia arquitetado. Apenas uma simples ressalva fizeram os autores da concessão: que se denominasse “Redenção” o teatro que se propunha a construir. Assim ficaria perpetuada na memória de nossa gente, a nobreza do gesto daqueles setelagoanos que tiveram em tão alta conta a dignidade do ser humano. Daí a origem do Teatro Redenção, hoje transformado em sede do Governo Municipal. Construído por iniciativa do Grupo Dramático “João Caetano”, foi por este cedido à municipalidade, com a condição de ser o referido Grupo indenizado das despesas que fizera. Mas, essa indenização jamais se fez, segundo afirmou-nos de uma feita, o sr. Fernando Pinto de Azevedo, mais tarde confirmado pelo Sr. José Belisário Viana, já residente em Pedro Leopoldo. Vendendo como compramos, esperamos que a história ratifique ou retifique esse acontecimento. Voltemos à evolução do nosso teatro, que é o que mais nos interessa, no momento. Em 1908, integravam o grupo “João Caetano”, além de seus fundadores, Fernando Pinto e Fernandino Jr., os irmão estes, Antônio e Raimundo Fernandino, João Antônio de Avelar Andrade e sua irmã Maria das Dores (Dorica), Antônio Augusto Camões, Galdino maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 49 Moura, Sérgio Lages e sua irmã Nashica Lages. A estes elementos aliavam-se, nos períodos de férias escolares, os estudantes João Alcides de Avelar e João Batista Campos. De preferência, o Grupo levava à cena peças do Dr. Avelar, como “Os homônimos”, “O lobisomem”, “Acabamento de Capina”, e outras, de acentuado sabor popular. Fernandino Júnior, cioso da direção que imprimia a seu Grupo, não admitia a intromissão de estranhos, pois nós mesmos fomos “barrados” quando tentamos escalar a sua intransponível muralha. Nós havíamos regressado do Estado do Espírito Santo em 1902. Éramos portanto, estranhos àquele meio em que ele pontificava com a sua arte. Conformados com o insucesso da nossa investida, os nossos pendores pela arte não se arrefeceram. Com surpresa para a pequenina cidade, surgiu então o Grupo Dramático “Melanciense”, encabeçado por Américo Esteves Rodrigues e seus filhos, Januário e Ricardo. Engrossavam o elenco os irmãos Sulfumiro e Alzira de Freitas, a Srta. Raimunda Franco e Ataíde Murce. A este Grupo nos filiamos. Os ensaios eram feitos em residências particulares. O Grupo “João Caetano” relutava em nos ceder o Teatro. O imóvel era dele, diziam seus diretores. E só depois de muita luta, graças à intervenção diplomática do Sr. José Andrade (Zé Lodô), conseguimos estabelecer com os nossos ferrenhos rivais um “modus vivendi”. Penetrávamos, afinal, no Teatro que não era nosso [...]. Demonstrou-se o porquê do nome do Grupo Dramático João Caetano e do Teatro Redenção, história essa bem conhecida na cidade. O brasão que simboliza a cidade tem mesmo um elo de corrente quebrado, simbolizando o evento. Falemos mais um pouco dessa alegoria, que novamente ameaça tornar-se um símbolo. João Antônio de Avellar caminhava pela antiga Rua dos Prazeres (atual Monsenhor Messias — a rua passa a chamar-se Silva Jardim em 1893, e não temos a data precisa do evento que envolve o protagonista) e ao passar frente a um terreno vago, ouviu o gemer de uma escrava, ameaçada de ser separada do seu filho, vendidos a senhores diferentes, de localidades diversas. João Alcides Avelar4, filho do protagonista, narra a cena: Aproximou-se do sinistro vendedor e sopitando a custo sua indignação pelo repelente tráfico, inteirou-se, comovido, dos lamentos da pobre mãe preta. Indagou do preço que o mercador exigia pela venda da pobre escrava e lembrou-se que, 50 maestria pela Lei do Ventre Livre, o filho não poderia ser vendido e separado de sua mãe. Sabedor do preço, aliás não pequeno, assumiu com ele o compromisso de comprá-la e de levar-lhe o dinheiro dentro de 24 horas. Dali saiu a procurar seu pai, o Cel. João Antônio; e com ele e alguns amigos e parentes obteve a importância necessária à compra da escrava mãe. No dia seguinte realizava-se a compra, o tanganhão recebia o preço da venda e no mesmo local, na presença de vários setelagoanos, a mãe preta recebia das mãos de meu pai sua carta de alforria, sendo encaminhada, como empregada, à humanitária família. A narrativa de João Alcides não revela mais claramente a cotização popular, nem se as contribuições foram generosas a ponto de os envolvidos no levante terem resolvido comprar o velho rancho de tropas onde se fazia o comércio de escravos, local que futuramente seria o teatro. O comércio de escravos buscou certamente outro lugar. A lei do Ventre Livre (28/09/1871) não estava em boas condições de ser cumprida, como pode-se observar; e a escravidão ainda longe de acabar. Há documentos, inclusive, no Cartório do 2o Ofício de Notas, na rua Duque de Caxias, 35, que mostram posse de escravos do nosso libertador, o Dr. Avellar. Um fato digno de nota acontece em relação aos nomes citados por Drummond: vários deles foram imortalizados nos logradouros públicos, a despeito das mudanças impetradas pela enxurrada de vereadores ao longo dos tempos. Ao invés de conflitos políticos entre forças conservadoras, habitualmente agrárias, e forças modernizantes, normalmente surgidas com a chegada da ferrovia, as elites locais agrupavam-se no teatro, assumiam o papel de atores, na minúscula cidade. Isso reflete certamente um espírito progressista, ou menores dificuldades com a implantação de um novo estado de coisas. João Avellar, membro fundador do primeiro grupo teatral, é o homem público mais vezes à frente do executivo municipal em Sete Lagoas. É vereador suplente na Quarta Câmara, líder da Quinta e Sexta, período compreendido entre 1881 e 1896, líder da Nona Câmara (1901-1904), e ainda mais uma vez na Undécima Câmara, de 1908. Médico formado no Rio de Janeiro, republicano, foi o responsável pela mudança do traje- maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 51 to da ferrovia, já em obras, pelo Planalto Interno de Minas, por Sete Lagoas, e também por uma nomenclatura de ruas com personagens e propagandistas da república. Um personagem decisivo, planejador de várias transformações progressistas ocorridas na cidade e, ao mesmo tempo, filho de coronel e representante de uma oligarquia local. É possível que a natureza de registro colonial, no controle de estradas, espaço estratégico que Sete Lagoas sempre teve, contribuísse com uma maior circulação de idéias e ter gerado cultura, num lugar pouco politizado. Mas a chegada dos ferroviários representa forçosamente uma diferença, uma ruptura com a antiga ordem. Há uma mudança substancial no perfil dos trabalhadores, assalariados, com outra noção de hierarquia, mais burocrática e mais independente que a dos antigos trabalhadores rurais. O teatro pode ter servido para transmudar a velha elite e reforçar seu domínio, por meio da cultura, já que as lideranças ferroviárias são convidadas ao teatro; e não há registros de lutas ferroviárias na cidade. Há conflitos políticos relatados, mas parecem ser disputas dentro da própria elite, pelo uso da máquina pública e contra seus pares mais fracos e passíveis de domínio, ou das composições resultantes das mudanças drásticas ocorridas na história do país. O teatro começa a ser construído, acreditamos, antes de 1885, podendo haver dúvidas sobre a data da apresentação de Fernal, tida como na última década do XIX. João Antônio de Avellar passou boa parte de sua vida no poder, principalmente durante a construção do teatro, e também da ferrovia, com o quais esteve diretamente envolvido. De frente aos esforços e trunfos obtidos, a construção do teatro seguia adiante, quando desabou e perdeu todo o material, no ano de 1891. Segundo as fontes, o teatro já estava em construção há mais de 6 anos, revelando a morosidade e a falta de recursos da época, de uma forma até pouco explicável. Mais provável que haja alguma falha sobre as datas. A reconstrução começa no ano de 1892 (AVELAR, s.n.t.) com o Dr. Avellar no seu 2o mandato consecutivo como presidente da Câmara. Consta que doou todo o seu ordenado para a obra, além de contribuir com outras quantias. Não deve 52 maestria ter sido muita coisa — pois vivia da medicina e de empréstimos financeiros, como um parente dele recentemente me informou, algo que não posso comprovar; mas pela veracidade de outros fatos narrados, e pela memória histórica desenvolvida por eles, é pelo menos digno de nota. A obra de reconstrução foi entregue a uma comissão. Novamente extrema morosidade, gastando as obras 9 anos a partir daí ao seu término. Evidente que uma obra do porte do Teatro Redenção não duraria tanto tempo; e mesmo com o apoio da Prefeitura, não prosseguiu em ritmo normal. Contudo, a obra ficou firme e apresentável, o tempo o demonstra, na rua Monsenhor Messias, há mais de um século. O teatro é de um pavimento, o estilo é eclético, e as portas davam entrada direta no salão. Um biombo de madeira ou um compartimento de entrada seria fundamental, ao estilo das igrejas coloniais. Os camarotes existiram nas paredes laterais, em dois pavimentos. As cadeiras eram de palhinha, a platéia e o palco confortáveis, de bom tamanho. A área do palco hoje estaria fora do prédio, ocupado por barracas do Mercadão Municipal, ao fundo. A iluminação feita por lampiões, de carbureto ou querosene.5 O pano de boca do palco era uma vista da Lagoa Paulino, com aterro estreito e o cais de madeira da época; pequenas e afastadas casinhas, escondidas algumas entre as árvores dos quintais que a circundavam, numa tela de João Fernandino Jr., premiado artista setelagoano. O impacto de tal paisagem num ambiente fechado, com móveis de madeira, faz com que se discuta até hoje sobre essa pintura, seu paradeiro, ou mais certamente, seu fim. Finalmente, no dia 29/06/1901, numa noite de festa, notificada em vários registros, inaugurou-se o Teatro Redenção. Os dois pavimentos dos camarotes laterais e todo o prédio ficaram completamente lotados. A ferrovia já estava inaugurada desde 1896, e todos os elementos representativos de Sete Lagoas e região ali estavam. Fernandino Jr., pintor do cenário, maestro, regia a Banda dos Irmãos Fernandino. No momento exato da inauguração, quando é levantado o pano de boca, encontraram-se no palco maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 5 MIRANDA, Manoel Pires de. Entrevista concedida em 1991. 53 6 AVELAR, João Alcides de. O teatro Redenção. Revista Acaiaca, Belo Horizonte, n.65, p.77-79, ago.1954. 7 RAPOSO FILHO, José. Entrevista concedida em 1991. 8 MIRANDA, Manoel Pires de. Entrevista concedida em 10 jul. 1991. 54 em torno de uma mesa, autoridades e vereadores, entre eles João Antônio de Avellar. Relembrou a libertação da escrava mãe, naquele mesmo lugar, e que em memória a essa ocorrência, ficara resolvido que se chamasse aquela casa de diversões de Teatro Redenção, que entre aplausos declarou inaugurado.6 Hino Nacional, com os Irmãos Fernandino. Discursos e, afinal, uma representação teatral, que não foi registrada nos documentos existentes. A inauguração repercute bem, data memorável da cidade na época, e a casa surge como opção de diversão pública dos arredores. O episódio é dos elementos mais constitutivos da antiga identidade setelagoana, uma cultura urbana, uma cidade aprazível, emoldurada por belezas naturais. Tal glamour e inclinação urbana declinariam decisivamente a partir da chegada da indústria do gusa, no fim dos anos 60. A Sete Lagoas do Teatro Redenção está em seu primeiro ciclo econômico, da cana de açúcar, do milho, dos produtos suínos, dos tropeiros, das toras de madeira para Nova Lima, economia típica dos lugares de abastecimento das Minas. A política é do coronel, de “muita fartura e pouco dinheiro” 7, apesar de percebermos a inclinação moderna do pequeno lugar, a iniciativa transformadora de seus principais líderes, representados no Teatro, aglutinador. “O certo é que quando falava tem teatro aí, pintava gente destas beirinhas fazendinhas todas, vinha aquele horror de cavalo e encostava na maria preta (mato) ali onde é hoje o posto”.8 É tempo dos grupos cênicos, dos atores, das luzes da ribalta. Não poderia representar, contudo, um espetáculo maior que o trem, as oficinas ferroviárias; mas na literatura da cidade, assim é. O teatro tem um fator ideológico histórico. Drummond cita a formação de um novo grupo dramático, com um nome bem local, o “Melanciense”, do qual era integrante, decidido a lutar para entrar em cena com o rival “João Caetano”, herdeiro dono do Teatro, que não permitia a inclusão de novos elementos. Melanciense provavelmente vem do córrego Melancia, referência histórica da cidade, córrego ainda limpo, onde já existiu uma companhia têxtil no século XIX. maestria Como dissemos em nossa última crônica: à diplomacia do Zé Loló ficamos a dever o que os nossos reiterados esforços não conseguiram alcançar. Ele era secretário do Agente Executivo Municipal e isto lhe dava uma parcela de autoridade. O Teatro passou a ser um bem comum dos dois grupos dramáticos que porfiavam em proporcionar a Sete Lagoas bons espetáculos. As récitas se sucediam alternadamente e pouco a pouco foi engrossando, de cada lado, o número de torcedores. A rivalidade era grande e os choques de opiniões criavam clima propício para discussões acaloradas. Os componentes de um grupo, para assistirem aos espetáculos do outro, disputavam as primeiras filas de cadeiras e, de lápis em punho, anotavam as gafes que ocorriam durante as representações para depois comentá-las com sarcasmo. A crítica era severa e aos rivais não se perdoava o menor deslize. Isto, porém, longe de levar o desânimo das hostes adversárias, constituía um estímulo de recíproco proveito. O teatro evoluía. Os ensaios constituíam verdadeiras aulas práticas de dicção, de atitudes, de festos. Boa escola, indiscutivelmente. Alguns amadores já se compraziam em imitar autênticos atores raspando os bigodes e deixando crescer fartas cabeleiras, esmeradamente tratadas. Contudo, faltava-nos alguma cousa. No futebol, jamais poderá haver progresso de técnico, se o time não tiver um treinador competente. No teatro de amadores, sucedia o mesmo. Um ensaiador hábil era, por isso mesmo, disputado a bom preço. Isto compreendeu logo o grupo “Melanciense” que conseguiu por intermédio de um amigo de Santa Luzia, o concurso do velho e grande ator português, Antônio Palhares. A nova rebentou como uma bomba de retenção, no campo de nossos adversários. Subestimavam o valor de tal cooperação. O ator Palhares, diziam era demasiado velho e certamente não daria no couro. Queriam ver o que de novo poderíamos apresentar. Surdos a tais clamores, ensaiamos, discretamente, peças de grandes montagens, como “Os milagres de Santo Antônio”, “José do Telhado” e “Gaspar, o Serralheiro”, deles participando com retumbante sucesso, o grande ator Palhares. Seria desnecessário acrescentar que, a essa altura dos acontecimentos, a rivalidade atingia seu ponto máximo. Previmos, desde logo, que a reação não se fazia esperar. O Grupo “João Caetano” iniciou os ensaios do notável drama — “O Poder do Ouro”. A propaganda foi feita em grande estilo. O Teatro superlotou. Platéia, literalmente cheia. Camarotes e torrinhas, apinhados. Nós, do “Melanciense”, lá estávamos nas primeiras filas. Grandes e pequenos acorreram maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 55 ao Teatro. Autêntica noite de gala. A ansiedade aumentava de momento a momento. Executada a sinfonia que precedia os grandes espetáculos, o pano de boca foi levantado, lentamente. Naquela época ainda não se usavam as cortinas de fácil manejo. O nosso pano, para se manter bem estendido, tinha guarnecido, na parte inferior, um cano de ferro de uma polegada. Pesava, de fato. Na peça, o João Andrade representava o papel de ferrenho adversário do Galdino Moura, interpretando outro personagem. Odiavam-se mutuamente. O encontro, entre ambos seria fatal, e realmente foi. Após acirrada troca de desaforos, o João fuzilou o Galdino, a queima roupa. Queda bem ensaiada. O Galdino cambaleia, avança, retrocede e cai estatelado no tablado. Estava morto! A platéia aplaude delirantemente os amadores e o pano desce como um raio. Galdino que “morrera” de costas, percebe a iminência do perigo e levanta-se, de um salto. É que, ao cair fizera-o sem pensar no rumo do cano de ferro. Este particular não fora previsto, nos ensaios prolongados. Um gargalhada estrepitosa pôs fim ao grande espetáculo. O morto ressuscitara! 9 DRUMMOND, Joaquim Dias. Mensagem, Sete Lagoas, 18 jan. 1958. 56 E o “Melanciense”? Bem, o nosso dia também chegaria [...]9 Novamente, figuras que são nomes de ruas conhecidas, líderes da comunidade se batendo na ribalta — como se fosse o âmbito indicado para as disputas políticas e ideológicas. O próprio Joaquim Drummond foi um homem conservador, de aparência grave, mas com ocupações modernas, como alfaiate, coletor das rendas municipais, tipógrafo, e finalmente funcionário do Banco Agrícola, considerado o primeiro banco privado do país, constituído em Sete Lagoas. Sua família detinha propriedades na principal área da cidade de então, em volta da matriz de Santo Antônio e na praça Tiradentes (antiga praça do Comércio), onde havia um casario colonial. A evolução do teatro, a rivalidade entre os grupos, o aceno do público, eram elementos que influíram no cotidiano da cidade. Os atores tornaram-se figuras exóticas, diferenciadas nas ruas: passam a raspar o bigode típico dos homens, e deixam crescer o cabelo. Como amadores, continuavam nas suas funções dentro da vida secular da cidade, como o próprio João Avelar e João Fernandino Jr., do “João Caetano” e Drummond, do “Melanciense”. maestria No 4o relato de Drummond, toma-se consciência do cano que dá peso ao pano de boca do cenário. De tal episódio, João Avellar fez os versos: “De toda a população / seja hoje o objetivo / ir à noite ao Redenção / Para ver o morto vivo”. (AVELLAR, 1985, p.168). “O Poder do Ouro”, teria constituído o ponto máximo da trajetória artística do “João Caetano” se o cano de ferro não tivesse ameaçado a integridade física do Galdino Moura. O susto fora enorme. Ante o perigo iminente de um impacto de imprevisíveis consequências, nenhum “defunto” o aguentaria, por maior que fosse o seu amor à arte. O Galdino andou muito bem. O poder do ferro jamais poderia suplantar “o poder do ouro”, privando tragicamente o ‘João Caetano’ de uma das suas mais promissoras revelações. O Galdino iria longe, no culto de uma arte que começava a projetar alguns valores em nossa terra. Os dias foram-se passando, lentamente, e os comentários em torno da “ressurreição” diminuindo no mesmo ritmo. A expectativa voltava-se para o próximo espetáculo do “Melanciense”, cujos ensaios prosseguiam animados, de portas fechadas. O ator Palhares esmerava-se no apresto das últimas providências. “Os milagres de Santo Antônio” era peça de grande montagem e, por isso mesmo, exigia o concurso de outros amadores que não figuravam no nosso conjunto artístico. O recrutamento fora feito com o cuidado exigido pelas nossas responsabilidades. Esteves, o galã da companhia estava soberbo, no seu complicado e difícil papel de Lúcifer. Alzira de Freitas, deslumbrante na sua encarnação do Anjo Gabriel, José Meireles fazia uma “ponta” como se diz em linguagem teatral, mas tinha a sua responsabilidade definida: velava pela integridade moral da ingênua, confiada a sua guarda. Como quase todos os brasileiros, valorizava o produto nacional. Tomava a sua “providência”, em doses homeopáticas, mas gostava dela. No dia do espetáculo ele se excedera em sua libações, mas, jamais poderíamos supor que viesse a comprometer o desempenho da peça, em seu conjunto. A aparição de Lúcifer, cuspido inopinadamente de um alçapão acionado da muque, era precedida de forte estrondo e o gênio do mal surgia, envolto em uma nuvem de fumo e de fogo. Em tal momento, o Meireles, que velava pela sorte da donzela, teria que dar um grito estarrecedor e fugir apavorado, propiciando a entrada triunfal do Anjo Gabriel. Mas, o Meireles não se assustou com a barulhenta aparição de Lúcifer. Tirou uma linha nele. Bamboleante, caminhou em maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 57 sua direção e, batendo-lhe nas costas, disse-lhe, com a voz arrastada: — Olá, seu diabo, como vão as comidas lá pelo inferno? Foi a conta. Lúcifer estranhou aquela camaradagem e agarrando o Meireles pelo cós das calças o retirou de cena, aos trambolhões. A platéia delirou, pensando que aquilo era da peça. Nós suávamos frio, por detrás dos bastidores. O “João Caetano” exultava com o nosso insucesso. Estava vingado! Em clubes de amadores, sempre houve e sempre haverá dessas cousas. São inevitáveis. Só não as perdoam os amantes da mesma arte, desde que militem em campos opostos. Os “melancienses” não podiam sair à rua, sem que ouvissem, a cada passo, o cumprimento escarninho: — Olá seu diabo, como vão as comidas... aquilo já nos enchia, mas com X maiúsculo, como dizia um velho torcedor do Metalusina. 10 DRUMMOND, Joaquim Dias. Mensagem, Sete Lagoas, 04 fev. 1958. Com o correr do tempo, esponja mágica que limpa o quadro negro da vida, tudo foi sendo esquecido e os clubes entraram em decadência. Américo Esteves e os filhos mudaram-se para Belo Horizonte. Alzira de Freitas casara-se com Ataíde Murce. Deixou de ser o anjo Gabriel para ser o anjo do seu lar. Sulfumiro de Freitas foi buscar em Montes Claros aquele que seria a sua fiel “cara-metade”. Nós que participamos ativamente dessas lutas de competições, sem ódios ou rancores, continuamos a nossa caminhada então ao lado de João Andrade, únicos remanescentes das duas agremiações que marcaram uma época feliz de nossa terra. Não fomos dos melhores, mas conservamos sempre acesa a flama do entusiasmo que passamos às novas gerações. 10 Joaquim Drummond relata duas apresentações no Teatro Redenção, uma do “João Caetano” e outra do rival “Melanciense”, reveladoras do amadorismo dos grupos, mas não desmerecedores do aplauso do público, ou da importância da manutenção da vida artística da cidade. São os únicos relatos de peças encontrados pelo trabalho, dentro desse período. O historiador Drummond vai também apontar o fim dos dois grupos que deram vida ao Teatro Redenção, dissolvidos pela mecânica da vida, limitados em sua existência, possivelmente pela demora ocorrida na construção no teatro, que durou quase o mesmo tempo de sua existência. Vamos mais uma vez ao relato do historiador, para assistirmos ao final dos grupos. 58 maestria O “João Caetano” e o “Melanciense” depuseram, afinal as armas do bom combate, em que se empenharam com tanto ardor, com tanto entusiasmo. De suas cinzas evoluíam tênues espirais de fumaça que se perdiam, sopradas pelo vento do indiferentismo. O campo ficar juncado de recordações, umas agradáveis, outras decepcionantes, mas todas a atestarem que a luta não tinha sido em vão, e que delas renasceriam, mais cedo ou mais tarde, novas inspirações. Quem semeia com fé não pode duvidar do êxito da messe. E, realmente, assim aconteceu. Como fogos fátuos, de fulgurações transitórias, depois daquela peleja que projetou tantos “bravos”, surgiram e desapareceram vários grupos. Sob a direção de Januário Esteves, tivemos o grupo Dramático “Artur Azevedo”, do qual participamos ativamente. Entre outras peças, por nós encenadas, destaca-se o drama “Deus e a Natureza”, apresentado à platéia setelagoana, em um festival artístico, em homenagem ao Dr. João de Avelar. O Teatro fora artisticamente ornamentado e o espetáculo abrilhantado com o concurso de três bandas de música, dirigidas, respectivamente, por Fernandino Jr., Alexandre Lanza e Elídio Soares. Mais tarde, de parceria com João Andrade, fundamos o Grêmio Dramático “Dr. Avelar”, estreando com a peça “O Advogado da Honra”, complementando o espetáculo com a comédia “Os homônimos” de autoria do patrono do novo grêmio. Tomaram parte na representação, os amadores João Andrade, Joaquim Drummond, Ataíde Murce, José Franco, Sérgio Lages, Juquita Drummond, Sião Campolina, Raul Brandão, Alzira Murce e Aída Raposo. Como vêem, a flama continua acesa. Desse novo conjunto já participava o João Andrade e outros elementos do extinto “João Caetano”. Alguma operárias do 6o Depósito da Central, tendo à frente José da Silva Júnior, Marco Péres Dorina Faccio, Marina Peres, Nair Murce, Artur Amaral e outros, fundaram o Grêmio Dramático “Guerra Junqueiro” que por sua vez, proporcionou bons espetáculos ao público de nossa terra. Em certa época, teve como ensaiador um desses figurões de grande fachada e poucos conhecimentos. Convencido como ele só, fomos, de uma feita, convidados pelo Zezinho Silva para dirigir uma contenda. O ensaiador insistia para que determinado amador pronunciasse o vocábulo inexorável mudando-lhe a pronúncia para “inechorável”. Foi um Deus nos acuda. Aos nossos argumentos, ele retrucava com ênfase: “inechorável” é aquilo que não se chora!... Está certo! Saímos desalentados do Teatro, nós que deles nos beneficiamos, para a limagem de nossas arestas. maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 59 A personalidade do prof. Carlos Gois começava a se firmar como um dos mais autorizados autores contemporâneos. Distinguia-se como gramático e como escritor de notável saber, sendo suas obras disputadas no mercado livreiro como os melhores tomos de ensinamento. A elas nos atiramos com a avidez do pescador de pérolas. O curso elementar não satisfazia a nossa sede de conhecimentos. Lembramo-nos então de prestar modesta homenagem aquele que conseguiria dissipar, em parte as trevas em que nos debatíamos. Fundamos o Grêmio Dramático “Carlos Gois”. Para a estréia, convidamos o homenageado, que acolheu o nosso convite, com proverbial cavalheirismo. Recepcionado e hospedado como convinha, à noite compareceu ao Teatro ocupando o camarote que lhe destinamos, caprichosamente ornamentado. Como fecho do festival, subiria à cena sua consagrada peça “Ensinai a Ler”. Mudado o cenário, alertamos a atenção dos intérpretes. Mas por azar nosso, o amador que desempenharia o papel de marido depravado de ébrio inveterado, estava realmente naquele estado. Lamentável situação! Não havia tempo a perder. Mudamos de roupas, caracterizamo-nos às pressas e lá fomos nós desempenhar um papel que não era o nosso. Não podemos afirmar que nos saímos bem. O certo é que, em cena aberta, recebemos entusiástica saudação daquele que tentamos homenagear. 11 DRUMMOND, Joaquim Dias. Mensagem, 11 fev. 1958. A platéia de pé, aplaudia freneticamente o homenageado que assim recebia merecida consagração do povo de nossa terra. E com esse espetáculo, nós púnhamos um ponto final na nossa atribulada vida de “artistas”.11 Cândido Azeredo, diretor do Grupo Escolar de Sete Lagoas, vindo da mesma Sabará de Augusto Fernal, também promoveu apresentações teatrais, de caráter infantil, no Teatro Redenção, na época que desfilavam ainda os principais grupos existentes. Cândido Azeredo, avô do político Renato Azeredo, sendo este pai do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo, promoveu bailados e comédias com os alunos do grupo Arthur Bernardes, em sua maioria para fundos beneficientes da igreja de Santo Antônio. Uma das apresentações de que se tem registro foi o musical “Os Estados”, onde cada ator infantil representava um estado, com vestimenta, música e letras típicos. Teatros de escola são típicos. Em 21 de agosto de 1914, morre Dr. João Antônio de 60 maestria Avellar, médico, escritor, ator, principal articulador do teatro, membro do “João Caetano”, e chefe político mais vezes à frente do governo municipal. Perde o teatro seu mais importante apoio. No último texto de Drummond, vimos a participação de ferroviárias, classe trabalhadora principal da cidade, que marca presença na trama. Os galpões ferroviários são inaugurados em 1906, com um número expressivo de trabalhadores, iniciando-se com 400 operários, até ultrapassar o número mil. Seguramente é a que permite os trunfos urbanos da cidade, a massa operária assalariada, com seu dinheiro certo para o comércio. No bairro da Boa Vista concentram-se os ferroviários; daí a intensa sociabilidade pública. Apesar das largas ruas e boas casas, quebrarão os aspectos de segregação, impostos pelo excessivo tráfico de trens e por uma mentalidade social preconceituosa. O âmbito do trabalho sempre foi problemático na cidade. Os aparelhos da escravidão, em grande quantidade no museu, passam a impressão de que o problema é antigo. Os ferroviários não foram utilizados para composições políticas mais progressivas, contra algum estado de coisas mais retrógrado. Uma greve nos anos 50 foi única, impulsionada pelo momento político nacional e pela verve demagógica de João Herculino. Não se articulou como classe, em momento algum da nossa história — mesmo sendo a categoria principal e decisiva da cidade até meados do século XX. A questão é até que ponto uma elite com um pé no escravismo, numa cidade cercada de elementos rurais, aceitou uma transição acelerada para um ambiente de trabalho assalariado — e qual o efeito de ter sido ela mesma a protagonista dos eventos culturais. Os grupos do primeiro momento do teatro, principais responsáveis pela sua existência e respiração, como o é de fato o “João Caetano”, extinguiram-se, com alguns de seus componentes ainda participando de outros grupos. Mas não há nesses mais a força suficiente para se manter o teatro, o que fez com que a casa se sobrecarregasse de dívidas. A inauguração do Cine-Teatro Meridiano, nos anos 10 (na sua primeira versão) é outro marco de valor na história maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 61 12 O LEQUE, Sete Lagoas, n. 18, 25 jan. 1917. local, casa de espetáculos de maiores recursos técnicos e financeiros, administrada pela propriedade privada, contra o perfil dúbio do Redenção; e que trará os artistas famosos do país à cidade, principalmente após sua reinauguração em 1937. É também o primeiro cinema de Sete Lagoas. Sua existência relega o Redenção, casa exclusiva para teatro, ao segundo plano. A estrutura do Cine Meridiano é tal que, em 25 de janeiro de 1917, anuncia-se para a terça gorda do carnaval, um baile à fantasia nas dependências do cinema.12 A morte de João Avellar, a extinção dos grupos primitivos, a inauguração de outra casa de espetáculos de maiores recursos técnicos e financeiros esvaziam o “Redenção” de seu caráter peculiar. As apresentações foram se rareando, ao contrário das dívidas, crescentes. No dia 19/11/1916, dia da Bandeira, ocorrera movimentada programação em discursos e desfile público das escolas, com a presença de Carlos Goes, professor e autor reconhecido na época. Foi dedicado a ele o nome do último grupo dramático da era Redenção, sendo aproveitada sua presença tanto para o ensejo público quanto o teatro, conforme nos conta o jornal “O Leque”, na mesma edição no 18, de 25 de janeiro de 1917. “À noite ouvimos no Redenção, mais uma vez, o Sr .Queiroga, que saudou o Dr. Goes, em nome do Grêmio Dramático Dr. Carlos Goes. Este, respondendo, agradeceu, em carinhosas palavras.” Anunciava-se, na mesma data, no Cine Meridiano: Depois de uma longa temporada de exibições dos melhores filmes da atualidade, eis que se anuncia nesta tão conceituada casa de diversões, onde se reúne o que Sete Lagoas tem de mais selecto, uma nova série de intermináveis sucessos, no palco, pela Troupe Telles Menezes, atualmente melhorada com novos elementos vindos da capital, elementos esses que, vieram especialmente para deliciar os habituês desse querido cinema. Agora, com os programas de linha, e a troupe extraordinariamente melhorada, composta dos artistas: Herculano Carvalho, Telles de Meneses, Edgard Teixeira, Anna Carvalho e Bartyra Rocha, vamos ter noites de arte e de alegria. 62 maestria Hoje, por esta excelente pleiade de artista subirá à cena a espirituosa comédia em 3 atos — A sogra. Convidamos para assistir ao ensaio desta comédia; ficamos verdadeiramente entusiasmados com o belo desempenho dado pelos artistas, destacando-se a mui gentil senhorita Bartyra Rocha.13 13 O LEQUE, Sete Lagoas, n. 16, 25 nov. 1916. O Teatro Redenção, em festa pelo patrono do seu último grupo teatral, tem na mesma data concorrência pública de um grupo cênico profissional; e numa casa de espetáculos considerada superior. O jornal “O leque” no 11, dá grande espaço ao Cine Meridiano, que se autoconclama conceituada casa, com o que Sete Lagoas tem de mais selecto, convidando para um espetáculo profissional; e uma nota pequena sobre o acontecimento no Redenção. A propaganda é feita com vigor nas demais edições observadas, com “programação seleta”, mas aberta a todo o público, que comparece. O cinema incorpora-se ao dia-a-dia da cidade nas primeiras décadas do século XX. Apesar da sofisticação decantada, a sociedade é modesta; há muitos elementos rurais, mas conta com os ferroviários, que estabelecem no início do século rara concentração assalariada, possibilitam vida comercial e público urbano considerável. O Teatro Redenção, que representa manifestação de cultura original em Sete Lagoas, fruto da luta de amadores, vêse, no final dos anos 10, em desleixo. A imprensa o omite; injustificável aos nossos olhos, pelo seu valor histórico e artístico e pelos nomes locais empenhados. Revela que a cidade e seus interesses mudaram. O Teatro já não é a única nem a melhor opção; e estava com seus dias contados. Os espetáculos no Teatro a partir de 1917 vão se rareando e distanciando da natureza inicial. Vai ser mais aproveitado para peças infantis, espetáculos beneficentes e até luta livre. A falência da casa é iminente, como de certa forma, a da cultura político-teatral setelagoana que o Redenção representava, à qual atribuímos importância política. A continuidade de grupos teatrais na cidade, com figuras sociais de destaque, comerciantes letrados, pouco teria a ver com o Redenção, como re- maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 63 velou em entrevista, Gisélia Araújo Costa, atriz do Grêmio Teatral Fernandino Jr., que atuou nos anos 50. Ela nos esclarece que participou de um grupo de músicos, cômicos, e atores, onde o Redenção não era uma referência. Ela própria destacou-se em festinhas de escola, e foi chamada a participar do grupo, após a liberação dos pais, coisa difícil e espinhosa de se conseguir, provavelmente mais do que no tempo do Redenção, onde havia mais mulheres, respaldadas pela presença dos poderosos na cena teatral. A Rádio Cultura e seu auditório, na rua Emílio Vasconcelos (Presidente Roosevelt), foi outro espaço gerador de artistas locais, alguns com sucesso como Mauro Faccio Gonçalves e Manoelita Lustosa. Nos tempos atuais, pouco se pode perceber disso. O ator Carlos Lagoeiro, de passagem pela cidade, em entrevista ao jornal Sete Dias (setembro/1993), cita dificuldades específicas: “É preciso criar uma base para que as artes floresçam. Os artistas vivem as mesmas dificuldades da minha época. É um absurdo; já deveriam estar em melhores condições.” As últimas notícias do Redenção: 27 de janeiro de 1917: Conforme noticiamos, realizou-se sábado, 27, no teatro Redenção, festival infantil promovido pelo Sr Euclides Passos e auxiliado por diversas senhoritas de nossa melhor sociedade. Tudo concorreu para o brilhantismo da festa: o bom desempenho pelas meninas, a fina assistência, a orquestra e, sobretudo, o fim nobilíssimo a que se destinava — em benefício do Hospital Nossa Senhora das Graças. 14 O LEQUE, Sete Lagoas, n. 19, 01 fev. 1917. Outra: Siao Campolina, do Grupo Dramático Dr Avelar, praticou no Redenção a luta livre, ganhando uma e perdendo duas, uma delas para um concorrente de Esmeraldas.14 E em 30/08/1920, a sociedade “João Caetano”, ou o que restou dela, “grupo fundador e proprietário do teatro, transferiu-o ao município, durante a gestão do prefeito Dr. Alonso Marques (na verdade vice-presidente da Câmara); e o teatro foi adaptado para ser sede do governo municipal, sendo construído um anexo, um pequeno pavilhão ao fundo 64 maestria e aí instalado o centro telefônico”15. A gripe espanhola levou o poder público a demolir a antiga casa de Câmara e Cela, situada no adro da igreja de Santo Antônio, e a ocupar o prédio do Teatro. Joaquim Drummond notifica, no 2o texto, que a indenização pretendida por tal transferência não ocorre. Ficou de bom tamanho para a prefeitura, que arrebata o prédio como forma de pagamento das dívidas contraídas pelo teatro, lucrando com o valor do imóvel e principalmente em ter lugar para funcionar o poder municipal. Finalizam também as ambigüidades sobre o Teatro, que começa como obra pública, depois é transferida a um grupo particular que tem pessoas públicas (como João Avellar) e por fim retorna, não só ao poder público, mas transformado na própria prefeitura. A história do prédio continua, como prefeitura, delegacia de ensino, biblioteca da FEMM, escola de música Lia Salgado e, atualmente, uma ruína de quase 20 anos. A Escola de Música Lia Salgado, é um capítulo à parte; durante dezenove anos (1968-1986), iniciou adolescentes e pré-adolescentes em balé, jazz e instrumentos musicais. A Escola, de ampla memória na cidade, assim como sua diretora Myralda Roque, encerrou suas atividades pela má conservação do prédio, já sob propriedade da FEMM. Ele está oculto atrás de um ponto de ônibus e oferece um banco involuntário, um antigo cocho para plantas. Conhecido depois de tudo isso como Teatro Redenção, está em debate para ocupar a vaga deixada por si próprio, praticamente único espaço possível para a cena cultural na rua principal da cidade. A FEMM coordena agora uma discussão sobre o assunto. A prefeitura, paradoxalmente à sua inércia em relação ao patrimônio público, disputa-o com a instituição. Com sua conhecida vocação para o empreguismo e assistencialismo, praticado em todas as repartições, condenaria de vez o uso do prédio. maestria Sete Lagoas n.2 p. 41-66 jan./dez. 2004 15 Carlinhos Carvoeiro. Sete Dias, 01 out. 1993. 65 Referências AVELLAR, João Antônio de. Reminiscências de um médico. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1985. AVELLAR, Lúcia Victória. O teatro Redenção e dr. Avelar. s.n.t. ARANTES, Otília. Uma estratégia fatal: a cultura nas novas gestões urbanas. In: ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 11-74. CORGOZINHO, Batistina. Nas linhas da modernidade. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 2003. DRUMMOND, Joaquim Dias. O passado compassado de Sete Lagoas. Sete Lagoas: Prefeitura Municipal, 1977. LANZA, Jovelino. História de Sete Lagoas: subsídios. Belo Horizonte: Sion, 1967. Edição comemorativa do primeiro centenário de Sete Lagoas. MENSAGEM. Sete Lagoas: Sociedade Boa Imprensa, 1958. Semanal. O LEQUE. Sete Lagoas, 1916-1917. REVISTA ACAIACA. Belo Horizonte: Acaiaca, n.65, ago. 1954. Número especial. SETE DIAS. Sete Lagoas, 29 nov.1991 — Semanal. VIEIRA NETO, Moisés. Zacarias, o embaixador de Sete Lagoas. s.n.t. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 13.ed. São Paulo: Pioneira, 1999. p 28-51. m 66 maestria Serra da Mesa — GO: a paisagem e o patrimônio arqueológico de um povo Soraia Maria de Andrade * Resumo * Doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo — USP. Professora do curso de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas. O artigo trata do resultado da nossa pesquisa desenvolvida no interior de Goiás, na área inundada pela represa de Serra da Mesa, cujo patrimônio histórico-arqueológico foi resgatado antes da inundação da área. Por se tratar de uma área muito extensa, diversos sítios arqueológicos foram detectados, ocorrendo o seu salvamento para se evitar uma perda maior, uma vez que todo patrimônio arqueológico, ao ser resgatado, perde a contextualização e a sua ligação com a paisagem. No caso de Serra da Mesa, a própria paisagem foi perdida, ao ser substituída por um espelho d’água de cerca de 1800 km2. Palavras-chave: paisagem; sítios arqueológicos; patrimônio; represa e barragem. Resumen El artigo trata sobre el resultado de nuestra investigación desarrollada en el interior de Goiás, en la área que fue inundada por el embalse de Serra da Mesa, cuyo patrimonio histórico-arqueológico fue rescatado antes de la inundación de la área. Tratándose de una área muy extensa, diversos sitios arqueológicos fueron detectados, intentando salvarlo para evitarse una pérdida mayor, una vez que todo patrimonio aqueológico al ser rescatado pierde la contextualización y su relación com el paisage. En el caso de Serra da Mesa, el proprio paisage fue perdido al ser sustituido por un espejo de agua de unos 1800 km2. Palabras-clave: paisage; sitios arqueológicos; patrimonio; embalse e presa. maestria Sete Lagoas n.2 p. 67-74 jan./dez. 2004 67 Poucos assuntos têm despertado tanto a atenção da mídia e da comunidade em geral quanto as questões referentes à preservação dos patrimônios ambientais e culturais. Recentemente, com a perda de um dos edifícios do centro histórico de Ouro Preto, devido a um incêndio, a questão da dificuldade de gestão do nosso patrimônio voltou às manchetes dos principais órgãos da imprensa nacional. Tal preocupação é patente na medida em que ela remete a uma preocupação cada vez maior com a qualidade de vida e com a preservação de nossa identidade cultural para as gerações futuras. Não existe sociedade sem cultura, nem cultura sem memória. Buscando uma reflexão maior sobre o tema, desenvolvemos uma pesquisa que resultou em nossa tese de doutorado nos anos de 98 a 2002. O trabalho foi desenvolvido partindo de nossa própria experiência como pesquisadora, em um programa de recuperação do patrimônio histórico arqueológico realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em convênio com Furnas Centrais Elétricas S.A., onde se procedeu ao levantamento e ao salvamento de diversos sítios arqueológicos. Ocorre que tais sítios se localizavam na área em que foi erguida uma barragem no curso do rio Tocantins, ao norte de Goiás, para viabilizar a construção da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, cuja represa resultou em um lago de cerca de 1.784 km2. A referida área abrange, parcialmente, oito municípios daquele estado: Niquelândia, Minaçu, Uruaçu, Campinorte, Campinaçu, Colinas do Sul, Barro Alto e São Luis do Norte. As características da área da pesquisa foram determinantes para o desenvolvimento do projeto: trata-se de uma área eminentemente rural (não ocorreu inundação de nenhum perímetro urbano nos oito municípios atingidos), distante dos principais centros urbanos do país e cuja ocupação histórica está ligada ao ciclo do ouro em Goiás. De acordo com a nossa visão, não existe uma definição precisa sobre o que seja patrimônio cultural: de fato, o patrimônio cultural de um povo ou nação pode se estender por uma infinidade de objetos ou lugares, bens móveis ou 68 maestria imóveis e mesmo conhecimentos, cultura popular, música, dança etc. No entanto, é de se considerar que o patrimônio cultural está sempre ligado ao passado; e só se busca identificálo na medida em que se procura construir a própria identidade, que foi ou está sendo construída ao longo do tempo. É por isso que a busca da identidade é fato cada vez mais marcante nas sociedades modernas. No Brasil, patrimônio histórico e artístico já foi sinônimo de patrimônio cultural — denominação dada pelo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No entanto, a expressão patrimônio cultural é bem mais ampla, porque inclui tanto o aspecto histórico quanto o ecológico. A despeito dos esforços do SPHAN e do seu sucessor, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a depredação dos bens patrimoniais e culturais no Brasil é uma questão preocupante, sobretudo quando somos detentores de um acervo vastíssimo, muitos deles considerados Patrimônio da Humanidade. Assim, diante do perigo constante da destruição — parcial ou total, reversível ou não — faz-se necessário elaborar leis e mecanismos que efetivamente resguardem e perpetuem o nosso patrimônio cultural e ambiental para que as gerações futuras também tenham acesso a ele. Na região em estudo, o trabalho de salvamento concentrou-se nos sítios arqueológicos históricos. De maneira geral, define-se e distingue-se o patrimônio cultural pré-histórico do patrimônio histórico de acordo com a antigüidade dos vestígios em questão. Embora possa haver divergências quanto aos períodos analisados, de acordo com cada pesquisa o mais comum é considerar-se, para o continente americano, o período pré-histórico como sendo aquele correspondente à fase anterior à influência européia, ou seja, quando o território era ocupado apenas pelos grupos indígenas pré-coloniais; e o período histórico, como sendo aquele após o descobrimento. Assim, a importância deste nosso trabalho é a de resgatar a memória e a cultura de uma determinada área, cujos vestígios estariam permanentemente perdidos após a formação do lago da represa de Serra da Mesa. Assim, buscou-se maestria Sete Lagoas n.2 p. 67-74 jan./dez. 2004 69 resgatar os vestígios que possibilitassem perpetuar as marcas da ocupação histórica naquela região. Obviamente, é de se considerar que não se pode compreender uma cultura que já não está presente a não ser a partir de suas próprias expressões materiais (sejam elas sob a forma de artefatos, objetos de arte, conhecimentos adquiridos etc.). Deve-se levar em consideração, porém, que esses bens materiais só são significativos porque estão permeados de relações sociais, de significados e de simbologias. Na região em estudo não foi encontrada grande variedade de objetos ou artefatos, embora tenham sido muitos os sítios arqueológicos pesquisados. Tal fato se explica por se tratar de uma sociedade basicamente rural e pobre do ponto de vista material. Mesmo aquela parcela da sociedade que era considerada abastada tinha pouca expressividade material, inclusive pela escassa gama de opções oferecida pela época e pela localização interiorana — fato de grande relevância para o período em questão, quando os meios de transporte se limitavam ao lombo dos burros tropeiros. Dessa forma, mesmo antes de iniciarem-se os trabalhos de escavações, já não havia grandes expectativas de encontrar vestígios de objetos finos, faianças ou objetos de uso cotidiano comuns aos grandes centros urbanos da época. Há que se considerar também que muito embora os vestígios arqueológicos no Brasil possam ser considerados modestos, do ponto de vista material, de maneira geral todos os povos que foram objeto de colonização por parte de nações ditas “mais civilizadas” sofreram um processo de anulação das manifestações indígenas. De qualquer forma não é a quantidade de vestígios de uma sociedade que a torna mais ou menos importante, nem mesmo a sua excepcionalidade, por si só. O elemento primordial é que esses bens têm como característica fundamental o fato de estarem vinculados a um determinado momento da história do Brasil, estando, portanto, articulados à memória de determinados grupos que, em seu conjunto, são constituintes da sociedade brasileira. Aprendendo a valorizar tais vestígios, mesmo quando considerados pouco expressivos se compa- 70 maestria rados a vestígios de outras sociedades, estaremos constituindo uma sociedade mais compromissada com a preservação, portanto capaz de valorizar o seu passado e a sua cultura material. No caso de Serra da Mesa, a pesquisa fazia-se urgente devido à iminência de destruição em que os sítios se encontravam. A construção da usina hidrelétrica implicou uma mudança drástica na paisagem. A represa submergiu áreas anteriormente ocupadas por fazendas, sítios, estradas, rios, pontes, vales e outros, substituindo antigas paisagens por um espelho d’água de centenas de quilômetros de extensão. Como a usina hidrelétrica de Serra da Mesa era um projeto definitivo, com um cronograma de execução pronto e em andamento, o salvamento do patrimônio tornava-se urgente, o que ficou patente no número de sítios arqueológicos encontrados: a prospecção definiu um total de 210 ocorrências de vestígios arqueológicos, que foram reduzidos a um total de 177 sítios efetivamente submetidos aos trabalhos de salvamento. Para facilitar o trabalho de análise posterior, os sítios pesquisados foram agrupados de acordo com as seguintes categorias: • Fazendas: todos os conjuntos formados pela propriedade territorial, juntamente com os elementos que possibilitem a permanência humana e o desenvolvimento das atividades econômicas para as quais a unidade produtora está voltada. Nessa categoria foram encontrados fragmentos de habitações e de outros elementos construtivos, típicos de unidades produtoras rurais, tais como currais (de pedras e de madeiras), monjolos, moinhos, pocilgas e canais para abastecimento de água. • Sítios de mineração: nesta categoria está agrupada uma variedade muito grande de unidades, consideradas como vestígios de atividades mineradoras, denominadas lavras. De acordo com os elementos encontrados na região, pôde-se verificar que essas lavras poderiam se caracterizar como empreendimentos de porte variado, levados a cabo por uma só pessoa; por um pequeno grupo de indivíduos; ou ainda, por algumas dezenas ou centenas de escravos. Apresentam elementos significativos como canais, aterros, açudes, sedimento revirado e lavado etc. maestria Sete Lagoas n.2 p. 67-74 jan./dez. 2004 71 • Cemitérios: os cemitérios antigos da região apresentam características peculiares: geralmente não se constituem como áreas de destaque paisagístico; são manifestações culturais de aspecto modesto e sóbrio, sem construções ou adereços — muitas vezes identificados apenas por algumas cruzes de madeira, sobretudo se já estiverem abandonados. • Presídios: durante o período colonial, denominavamse presídios os postos avançados do poder público colonial, que eram geralmente locais fortificados e que possuíam um regimento militar e um comando específico. A sua função era primordialmente a de funcionar como um entreposto de fiscalização das atividades econômicas, procurando coibir o contrabando de riquezas — sobretudo o ouro —, a contenção de ataques indígenas aos aldeamentos e também como ponto de apoio às atividades agropastoris e ao povoamento em geral. Alguns presídios existiram na região, mas só nos foi possível identificar os vestígios de um deles: o Presídio de Santa Bárbara. • Núcleos urbanos: no interior de Goiás, um grande número de vilas e aldeias surgiu no período colonial em função da atividade mineradora. No entanto, com o esgotamento da produção aurífera, a maioria desses núcleos entrou em decadência, levando muitos deles a desaparecer. Na região de Serra da Mesa puderam ser identificados os vestígios e ruínas de Água Quente, Cocal, Traíras e Santa Rita. Esta última ainda apresentando um belíssimo conjunto de vestígios de construções em pedra, um cemitério e uma capela. • Diversos: foram catalogados nesta categoria aqueles sítios cujos vestígios não eram suficientes para definir a sua função de forma precisa; ou então vestígios muito peculiares, que não se encaixaram nas demais categorias. É o caso, por exemplo, dos vestígios de uma estrada calçada com lajes, de diversos fornos para queimar telhas, os vestígios dos portos etc. Assim, pode-se concluir que um empreendimento do porte do de Serra da Mesa, não há como ser efetivado sem incorrer em impactos ambientais e patrimoniais. No entanto, não se pode negar que o empreendimento trouxe benefícios para a região onde está inserido. O estudo do acervo cultural histórico regional é uma prova concreta disso. Dificilmente, 72 maestria em outras circunstâncias, teria sido possível empreender um trabalho tão grandioso do ponto de vista da abrangência espacial e do ponto de vista contextual. Há que se ressaltar também que a análise da ocupação e do povoamento de Goiás, a coleta de dados e de cultura material e a perspectiva de se reinserir junto à população local os vestígios ali encontrados não teria sido possível sem o apoio e o financiamento de Furnas. Espera-se que em Serra da Mesa o passado seja mantido vivo na memória da comunidade, representando até mesmo um motivo de orgulho para as gerações futuras. Para tanto, faz-se necessário criar, pela educação, mecanismos que repassem às novas gerações as informações adequadas sobre o tema, num esforço conjunto de técnicos e autoridades públicas. Para nós, na região em estudo, a educação é o caminho que levará a comunidade local a aprender a valorizar o seu passado, bem como as expressões materiais que dele se originam. Os bens culturais resgatados em Serra da Mesa pertencem por direito àquela comunidade, mas são também, antes de tudo, uma parte da história do país, e como tal devem ser valorizados. É preciso crer que as gerações futuras saibam cuidar melhor desse patrimônio natural e cultural do que a atual sociedade tem feito até então. Legar a eles condições para tanto é um dever; e uma forma de fazê-lo é divulgando esse patrimônio, vestígio de um passado que também é o de todos os brasileiros. Não é aconselhável que Serra da Mesa fique relegada ao esquecimento; o ideal é que seja mais divulgada e mais pesquisada, pois conhecendo melhor o passado será possível construir-se um futuro melhor. Ainda se faz necessário incentivar ações positivas, que possam contribuir para a formação de cidadãos cônscios de seus deveres, aptos a exercerem seus direitos e, ainda, capazes de se orgulhar de suas origens. No Brasil, torna-se muito comum a preocupação em se dissimular sentimentos positivos em relação ao próprio país. No entanto, cabe lembrar que grandes nomes da cultura e da história nacionais eram pessoas que sempre souberam expressar tais sentimentos, a despeito das dificuldades que o país sempre enfrentou. A crítica é sem- maestria Sete Lagoas n.2 p. 67-74 jan./dez. 2004 73 pre bem vinda, quando positiva e esclarecedora. Buscar pontos negativos dentro da sociedade (pretérita ou atual) é sempre tarefa fácil. Mas não é suficiente. Se não se buscarem os caminhos da mudança, serão sempre discurso vazio. Referências AB’SABER, Azis. Ambiente e culturas: equilíbrio e ruptura no espaço geográfico ora chamado de Brasil. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 22, p. 236-253, 1987. ANDRADE, Manuel Correia. Formação territorial do Brasil. In: CHRISTOFOLETTI et alli (coord.). Geografia e meio ambiente no Brasil. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec, 1995. p. 163-180. ANDRADE, Soraia M. O Patrimônio Histórico Arqueológico de Serra da Mesa: a construção de uma nova paisagem. Tese de doutorado, USP, 2002. DE DECCA, Edgar S. Memória e cidadania. In: CUNHA, Maria Clementina Pereira (Org.). O direito à memória. São Paulo: Prefeitura Municipal, 1992, p. 129-136. MAGALHÃES, Aloísio. Bens culturais: instrumento para um desenvolvimento harmonioso. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 20, p. 40-44, 1984. RODRIGUES, Arlete M. A questão ambiental e a re(descoberta) do espaço: uma nova sociedade/natureza? Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, n. 12, p. 89-122, 1998. SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Hucitec, 1997. VELHO, Gilberto. Antropologia e patrimônio cultural. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n.20, p. 37-39, 1984. m 74 maestria Todos vivemos tomando nota, à espreita de nós mesmos1: Contribuições para uma história da infância entre nós 1 Júnia Sales Pereira * Resumo NERUDA, 1977. * Professora dos cursos de História e Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas. Professora das FPL. Doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Este artigo pretende apresentar, de forma preliminar, contribuições para o estudo do tempo da infância na perspectiva da história, indicando algumas reflexões sobre educação infantil. Palavras-chave: história; infância; tempos de vida. Abstract This article intends to present, preliminarily, contributions for the study of the time of infancy in the perspective of History, indicating some reflections on infantile education. Keywords: History; infancy; infantile education. A criança é um constructo cultural, uma imagem gratificante de que os adultos necessitam para sustentar suas próprias identidades. A infância constitui a diferença, a partir da qual os adultos se definem. É vista como um tempo de inocência, um tempo que se refere a um mundo de fantasia, no qual as realidades dolorosas e as coerções sociais da cultura adulta não mais existem. A infância tem menos a ver com as experiências vividas pelas crianças (porque também elas estão sujeitas às ameaças de nosso mundo social) do que com as crenças dos adultos. SPIGEL, 1998, p. 110 apud BUJES, 2002, p.13. maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 75 1 Da palavra à morte Diz a tradição em país Iorubá que se uma mulher dá à luz uma série de crianças nati-mortas ou mortas em pouca idade não se trata de nascimento de várias crianças, mas, antes, da mesma criança que nasce para morrer várias vezes (VERGER, 1983, p.138-158.). Trata-se, então, da vinda ao mundo do mesmo ser chamado àbikú (nascer-morrer), que vem ao mundo por um período curto para, logo a seguir, retornar ao seu verdadeiro mundo, o lugar dos mortos, ou céu, ou òrun. A mãe, nesse caso, é nomeada por awomawu, ou “aquela que põe filhos no mundo para a morte”. Essa concepção envolve rituais e práticas sociais que visam a enganar os mortos (que chamam pelo retorno do àbikú) e pretendem manter o recém-nato na convivência do mundo dos vivos. Não faltam, então, a utilização de plantas, a ingestão de alimentos, cerimônias, vestimentas e ungüentos especialmente preparados para garantia dessa permanência. Os nomes dados aos Àbikú também são bons indicativos das precauções para com a possibilidade de seu retorno, como, por exemplo, Dúrósnmí ou “fica para me enterrar” ou, ainda, kókúmó ou “não morras mais”. É comum vermos entre nós quem não se dê conta de que a nossa sociedade também produz artefatos culturais e explicações próprias para os fenômenos vividos diante do nascimento. Podemos estudar nossa sociedade desnaturalizando práticas e idéias; e entendendo melhor seus traços e suas escolhas cotidianas. As nossas formas de nomear são reveladoras: infância, criança, pequenino, menino... são todas informadas por percepções sobre o tempo de nossa origem. O infante é, para alguns, aquele que não fala e que deverá atingir a fala, à semelhança dos seus. Ou, ainda, o infante seria inumano e o desafio da sociedade seria conseguir com que todos alcançassem a sua humanidade (ou, talvez, a nossa humanidade adulta); criança, “em criação”, ser incompleto, parcial. Mais que um jogo de palavras, essas idéias são 76 maestria pequenos sinais de como a linguagem pode ser percebida em sua estreita ligação com a história e com idéias no tempo, nesse caso, com a história da educação infantil2. As práticas de cura do umbigo da criança (“a cura do umbigo protege a criança de seres maléficos”), o enterro do umbigo (“enterre o umbigo de seu filho aos pés de uma roseira branca e cuide dela para que o menino seja protegido ou, ainda, para que não enlouqueça”), os rituais de batismo em tenra idade (“cuidado, pois, se o menino morrer, ele morrerá pagão”)... teríamos uma lista de práticas e concepções vigentes em nosso imaginário social que nos ajuda a pensar o poder da experiência cultural e a força exercida pelos sujeitos de nosso convívio sobre práticas de cuidado com a infância. Quem são nossos filhos senão aquilo que projetamos de nós? Desde a escolha dos nomes às roupas com que os vestimos ou, ainda, às brincadeiras que valorizamos, estamos em diálogo com valores que herdamos e com projeções nossas para os herdeiros, sobreviventes a nós. Seria o adulto, então, nesse sentido (e somente nele), não mais do que o espelho em que se mirar, o final de um processo evolutivo de alcance da humanidade pretendida? Em sociedades como a nossa, o recém-nascido é singularizado, tem identidade própria e costuma receber nomes relacionados ao legado pretendido — alguns, os nomes dos pais, dos avós, de parentes queridos, outros, ainda, nomes que sugerem um retorno, como “Renato”. Quando nati-morto, é enterrado no cemitério daqueles que morreram — e, portanto, viveram. Paradoxalmente, o nati-morto coloca a humanidade adulta ocidental diante do dilema da interrupção da vida, antes mesmo da socialização — seria, então, humano? — uma quase vida abortada “na passagem entre os dois mundos”, o exato momento do parto. A lógica cristã contribui para singularizar a criança transfigurando-a em anjo, pequeno anjo, indício de pureza original. Ariès encontrou, em Roma, na Igreja de Sta. Maria in Trastevere, uma assunção da Virgem do início do século XV que mostra a sua alma sob a forma de uma criança enrolada em cueiros, nos braços de Cristo, sinal, para o autor, de que a alma maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 2 Educação Infantil, expressão discutida, em perspectiva historiográfica, por Kulmann Jr., 1998. O autor chama a atenção para o fato de que a investigação sobre a história da educação infantil polarizou, durante décadas, a educação infantil à assistência à infância e associou práticas de assistência a uma sub-valorização de aspectos educativos (o que levou educadores a achar que os cuidados deveriam ser sobrepujados por ideais educativos, confundidos, muitas vezes, com práticas escolarizantes). Diferentemente, o autor chama a atenção para a dupla dimensão da educação infantil (presente na LDB e na Constituição de 1988), qual seja, o educar e o cuidar. Reafirma o critério para classificação de educação infantil, demarcando a idade de 0 a 6 anos e o tempo de formação àquele que antecede à escolarização formal. Ainda para o autor, a polarização entre “assistencial” e “educacional” opõe a função de guarda e proteção à função educativa, como se ambas fossem incompatíveis e contribui para hierarquizá-las, com nítida superioridade da educação sobre a assistência. Ver, também: VIVARTA, 2003. 77 3 Para o interessado em história da infância, também caberia uma interrogação a respeito da adequação do padrão explicativo, tal como proposto por Ariès, para o brasileiro. Todas as formas de percepção indicadas pelo autor, em seu estudo pioneiro sobre infância e família na história, foram inspiradas nos processos vivenciados pela Europa burguesa, iluminista e urbana. Olhando para a história do Brasil e seu percurso, percebemos uma trajetória histórica singular, padrões familiares próprios e outras formas de viver em sociedade. Não há como ignorar que a nossa história foi marcada pelo colonialismo, pela escravidão, pela regionalização e desigualdade. Nossas perguntas, então, sobre a infância e sua história, não podem ignorar o que entre nós se concebeu e, inclusive, como são experienciadas atualmente, por exemplo, idéias de família, de vida em sociedade e formas de conceber a vida, a educação e a morte infantil. (ARIÈS, 1981). 4 Talvez uma das temáticas que mais tenha interessado aos historiadores e cientistas sociais seja o tempo. A título de iniciação e a partir do recorte do tempo como experiência de vida, ver: BOSI, 1992; ELIAS, 1998 e TEIXEIRA, 1999. 5 Há inúmeros trabalhos sobre o tempo da juventude e, de forma semelhante ao 78 é descrita com a mesma inocência invejável da criança, sendo o cueiro signo de sua condição inocente. (ARIÈS, 1981, p.xviii). Philippe Ariès ensina-nos que, na Europa Moderna3, a infância ganha esse estatuto quando o processo de escolarização se inicia e demarca o espaço entre o mundo adulto (composto por letrados) e o mundo infantil (iletrado, preparatório para o mundo adulto). Ariès sugere que a infância, como tempo diferenciado de vida, teria surgido como uma antecâmara para o mundo do trabalho, das letras e das responsabilidades. Paralelamente a essa mudança, uma idéia sobre infância seria difundida na Europa, também em decorrência da emergência da vida privada e da construção de um ideal de vida familiar permanente, estável e duradoura. O prolongamento da vida, inclusive com a elevação da expectativa de vida no Velho Mundo, também seria outro fator favorável à consecução de uma imagem da infância como tempo específico: se a morte poderia ser evitada e, portanto, a vida prolongada, seria possível dividir a vida em estágios, fases, sendo a infância, pois, um desses momentos específicos. Decorre disso, talvez, um dos mais poderosos mecanismos de explicação da teleologia das gerações: o adulto seria o ápice de um processo iniciado na infância, configurando-se um painel de desenvolvimento humano com nítida hierarquização dos tempos de vida, chamados, então, de idades, fases ou mesmo etapas4. Chamo a atenção para o fato de que essas classificações comumente reproduzem o pressuposto de que a humanidade somente se realiza na adultez, sendo o período da infância [e da juventude5] uma preparação — uma antecâmara — para essa realização. Além disso, a discussão sobre o que se considera tempo da infância remete-nos ao antigo debate entre as tênues fronteiras entre os conceitos de cultura e natureza. Herdeiros do romantismo, percebemos a criança como pura e boa em sua natureza original, ainda não “contaminada” pelos desvios da sociedade. Mais um dos paradoxos que passamos a enfrentar: a conciliação do ideal de pureza e ternura infantis, conseqüentemente associando-se o tempo da infância ao momento original do “não saber” e a projeção de maestria um ideal de formação para a humanidade transubstanciado em planos de educação da infância e projetos institucionais de preparação para a vida adulta, “humanizada”. O que seria esta humanização senão o cultivo das virtudes originais, in natura? Esse paradoxo é minimamente resolvido, na tradição humanista, na sua versão rousseauneana de preparação para o contrato, para a vida em coletividade e em partilha. Seríamos então, educados, nessa tradição, para a aquisição da capacidade de negociação e de busca do bem comum, ideais a que os adultos, supostamente, então já deveriam ter alcançado. Que ideais podemos aferir hoje para perceber o que é ser infante e criança entre nós, levando-se em conta os planos de centros de educação infantil? Qual o sentido de cuidar e de educar a infância? Como protegemos nossas crianças do risco da morte, não aquela morte Iorubá, do eterno retorno, mas, antes, da interdição de sua “fala infante”? Como faremos para que a escola moderna seja cada vez mais aquela que possibilita o ato da expressão e esteja aberta à reciprocidade, firmando-se como centro de desenvolvimento de habilidades falantes e comunicativas6? Qual o sentido, então, de uma educação sem diálogo, aquela em que o professor — “aquele que professa” — não concede lugar ao in-fans, àquele que ainda não fala? Como poderemos acreditar que o aprendizado da fala — com todas as potencialidades dessa ação humana — passe essencialmente pela escuta, pela cópia e pela recepção? Mais uma vez, o entendimento de nossa sociedade, como produto de nossas escolhas, pode elucidar como se idealiza o processo educativo entre nós. Importante nos apercebermos que uma parte de nossos saberes foram adquiridos nos grupos familiares e de vizinhança, por meio, principalmente, da expressão oral (SANTOS, 2002); ainda crianças, fomos retirados de nossos lares para sermos educados e para obtermos habilitações profissionais, afastados dos lares para nos ligarmos àqueles que educam, responsáveis pela perpetuação do conhecimento erudito e letrado de nossa tradição7. Essa opção não pode ignorar, contudo, que boa parte dos maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 que estamos discutindo, às formas sociais de conceber, viver e caracterizar juventude, adolescência, puberdade, bem como as de conceber, viver e caracterizar a velhice, a maturidade e a terceira idade, discussões que, embora afins ao que se propõe, não serão enfrentadas nos limites desse artigo. 6 Boa parte da literatura sobre arquitetura e rituais escolares foi influenciada no Brasil pela leitura da obra de Michel Foucault, 2002. Nessa perspectiva, ficam muito ressaltados os atributos enclausurantes e disciplinadores dos corpos e das mentalidades, intenções educativas que, embora ainda persistentes em muitos ambientes institucionais, não nortearam a construção do presente artigo. Aliás, embora em diálogo com a tradição foucaultiana, entendo que as intenções educativas e as situações produzidas em ambientes de educação não podem ser explicadas em sua complexidade por essa perspectiva, que pouca atenção concede às formas inventivas e criadoras, a despeito de todo aparato docilizante. 7 No final dos anos 80, um grupo de pesquisadores norte-americanos e japoneses estabelecem uma parceria para avaliar influências da 79 cultura nas práticas de educação infantil em cada sociedade. Perceberam que os padrões de educação de escola de educação infantil em cada sociedade são muito influenciados por aquilo que os adultos dessas sociedades acreditam que será o futuro das crianças, tanto nas próximas séries, quanto na vida adulta. A pesquisa apresenta reflexões a respeito da influência da valorização da auto-suficiência e da independência nas práticas educativas de escolas infantis norte-americanas e da sensibilidade e da interdependência grupal nas práticas educativas de escolas infantis japonesas. Esse pequeno exemplo é indicativo de que a escola não pode ser estudada como instituição fixa, nem mesmo como uma ilha em relação à sociedade em que se insere. Os estudos sobre práticas educativas na história não podem prescindir, pois, de um entendimento de como funciona a sociedade e em que medida a escola, nessa sociedade, é influenciada por seus valores, ao mesmo tempo que os modifica. (COLE, COLE, 2001, p. 475). Ver, entre outros: PETITAT, 1994. processos educativos em várias comunidades do Brasil (sejam elas urbanas ou rurais) se realizaram (e ainda se realizam) pela da cultura oral, que a aprendizagem ocorre em todos os ambientes em que nos inserimos e que a educação — como processo de formação humana — ocorre desde que viemos ao mundo, pelas mãos de comadres, parteiras ou médicos. Então, esse pequeno artigo é um convite à reflexão sobre contribuições da história ao entendimento da educação da infância, educação em que o adulto abre-se ao ato comunicativo, percebendo voz, gesto e formas de comunicação infantis. Percebendo, também, que cuidar e educar talvez possam ser menos ligados à condução da criança ao tempo adulto (que tempo seria esse?) e mais à noção de mútua experiência, em que a criança, ainda sobrevivente, é revificada no ato educativo. Consiste, como afirmou Jorge Larrosa, em dar a palavra: “aquele que dá a palavra fica despossuído de toda soberania, porque as palavras que dá não são nem suas próprias palavras, nem as palavras sobre as quais ele poderia exercer alguma sorte de domínio, nem as palavras nas quais ele ainda estaria, de algum modo, presente.” (LARROSA, 2001, p.291). É um convite, também, a que a criança sobrevivente em nós possa potencializar aquela vivente no outro, aprendendo a professar, diante dela, os valores de um mundo em que as crianças não nascem para morrer e em que os educadores se formam para serem pontes de acesso à palavra imprevista. É um convite, ainda, a que entendamos o ideal de infância vigente entre nós como uma opção histórica, difusora de uma linguagem que é prática de fala fecundada pela criação e pela inventividade cultural própria ao nosso tempo. 2 Brasil e sua infância “Gostaria que não apertasse tanto” disse o Arganaz, que estava sentado ao seu lado. “Mal posso respirar”. “Nada posso fazer”, disse Alice humilde. “Estou crescendo”. 80 maestria “Você não tem o direito de crescer aqui”, disse o Arganaz. “Não diga tolices”, disse Alice mais ousadamente, “bem sabe que você também está crescendo”. CARROLL, 2001, p. 152-153. É bem recente a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o é a instituição de Conselhos Tutelares e a criação de ONGs especificamente voltadas para o cuidado com a infância brasileira. Não tem mais de trinta anos a institucionalização dos direitos da infância e, com isso, a institucionalização de aparatos oficiais para o atendimento da criança vítima de trabalhos forçados, violência doméstica e prostituição. Muitos pesquisadores, especialmente no século XX, começam a olhar para a infância brasileira e sua história. Quem são as crianças brasileiras? Como fazer uma história da infância brasileira? Que contribuições a história tem a dar para a escrita de uma história da Educação Infantil? Essas perguntas nos remetem, numa primeira aproximação, a fontes para a história da infância no Brasil: testamentos, diários de viagem, brinquedos, obras de arte, berços, mamadeiras, chupetas e roupas, cantigas de ninar, fotografias, dados de instituições, estatísticas oficiais, testemunhos orais e registros de profissionais. A criança está em toda parte, desde que tenhamos olhos para vê-la. Faz parte dessa sensibilidade o saber ver através de registros que, na maior parte das vezes, foram constituídos numa dinâmica em que o tempo da infância não era percebido, nem reconhecido e, muitas vezes, engendrado por escritas e representações adultas. Além disso, sabemos hoje que cada época valorizou profissionais especialmente eleitos para cuidar do que seria uma educabilidade da infância. No Brasil, por exemplo, os educadores e médicos nem sempre tiveram a autoridade social para cuidarem da infância. Vale lembrar que as famílias (entendidas aqui como grupos de convívio) realizaram práticas e engendraram noções sobre cuidados com a infância, des- maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 81 Ver: MARCÍLIO, 1998; VENÂNCIO, 1999; VEIGA & FARIA, 1999. de aquelas que justificavam o infanticídio e o abandono àquelas que reclamavam por proteção e educação humanizadora. Não podemos esquecer, também, que o binômio mãefilho foi influente recurso de mobilização de um ideal de maternidade, calcado na idéia de amor incondicional e de doação permanente (BADINTER, 1985). O mito do amor materno funcionou, no país, para promoção de posturas protetivas diante da infância, o que, muitas vezes, contribuiu para gerar idéias e práticas supervalorativas da função da mãe no desenvolvimento sócio-afetivo dos filhos, comprometendo, quando não impedindo, suas experiências sociais. Tudo isso nos coloca diante do desafio de, para estudar histórias da infância no Brasil, começarmos a nos perguntar melhor e mais atentamente sobre: Como nos constituímos Brasil? Como estabelecemos padrões de comportamento? Que critérios validamos para estabelecimento dos cuidados (ou ausência deles) com a nossa infância? Há que se entender, também, que a escrita da história não é neutra e a seleção de objetos e temáticas é validada por comunidades de análise da produção histórica. A escrita da história do Brasil não pode ser entendida sem que olhemos para o que se validou como história e como fonte na trajetória da escrita da história entre nós. No século XX, surgiram estudos sobre a ludicidade, a vida cotidiana de crianças e grupos etários, os processos de escolarização, as percepções de mundo e de tempo, a intuição e a imaginação, a aprendizagem8, as diferentes formas de viver, alimentar, brincar, estar, nascer e morrer no Brasil contemporâneo. A historiografia sobre a infância no Brasil tornou-se mais substantiva, infelizmente, devido a estudos sobre o abandono, maus tratos e mortalidade infantil, com pesquisas pioneiras sobre crianças abandonadas em Rodas de Expostos, crianças trabalhadoras e, mais recentemente, sobre a desnutrição infantil e caminhos da exclusão e da vitimização da infância em situações de trabalho e prostituição9. Muitos vestígios, antes meros sobreviventes, despertam hoje o interesse de pesquisadores da infância e narrativas 82 maestria 8 Estudos produzidos sobretudo por influência das escolas francesas e soviéticas, principalmente a partir das reflexões sobre aspectos pedagógicos e educativos dos tempos da infância através da leitura de obras de Jean Piaget e Vygotsky, discussão não pretendida nos limites deste artigo. 9 orais. Pegadas, desenhos, esculturas, arquitetura de instituições escolares e prontuários médicos são somente exemplos dessa renovação documental. Sinal não apenas de que os historiadores passaram a trabalhar com novas fontes, mas, sobretudo, de que passaram a perceber que a história, como experiência no tempo, faz-se nos embates cotidianos, na própria dinâmica do vivido e que ela (a história) é, antes de tudo, fruição. Dá-se muitas vezes à revelia dos mecanismos e códigos da linguagem escrita, comumente vertida em documentos textuais. A história da infância e de sua educabilidade no Brasil é um campo de possibilidades que convida profissionais de diferentes campos do conhecimento ao exercício do olhar investigativo. Esse campo de pesquisa e ação indica sobretudo o quanto ainda precisamos morrer, no sentido de que nos diz Jorge Larrosa: “Mas quando a educação se relaciona com o porvir, quando ela tem a ver não com a fabricação, mas com o nascimento, não com o projeto, mas com a fecundidade, o educador é alguém atravessado pela finitude e pela ausência, é alguém que aceita sua própria morte, a morte de si mesmo e de qualquer forma de propriedade.” (LARROSA, 2001, p. 293). Referências ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981. BADINTER, Elizabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. BOSI, Alfredo. O tempo e os tempos. In: NOVAES, Adauto (org.). Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras/ Secretaria Municipal de Cultura,1992. BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Infância e maquinarias. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. CARROL, Lewis. Alice no país das maravilhas. Porto Alegre: L&PM, 2001. maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 83 COLE, Michael; COLE, Sheila R. Variações culturais na educação pré-escolar. In: O desenvolvimento da criança e do adolescente. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 475. ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. FOUCAULT, Michael. Vigiar e punir; história da violência nas prisões. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. KULMANN JR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 2001. LARROSA, Jorge. Dar a palavra; notas para uma dialógica da transmissão. In: LARROSA, Jorge; SKLIAR, Carlos (orgs). Habitantes de Babel; políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 281-296. MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da infância abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998. NERUDA, Pablo. Memorial da ilha negra; donde nasce a chuva. Rio de Janeiro: Salamandra, 1977. PETITAT, André. Produção da escola/produção da sociedade: análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente. Porto Alegre: Artmed, 1994. SANTOS, Luís Carlos dos. O relativismo cultural e o processo educativo: a antropologia social no contexto das ciências sociais. Sumário, Oeiras, n. 4, 2002. TEIXEIRA, Inês de Castro. O tempo no registro da experiência. Cadernos de Ciências Sociais. Belo Horizonte, Departamento do Sociologia da Puc Minas, v.6, n.9, ago. 1999, p. 43-53. VEIGA, Cynthia Greive; FARIA, Luciano Mendes de. Infância no sótão. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias abandonadas: assistência à criança de camadas populares no Rio de Janeiro e em Salvador — séculos XVIII e XIX. Campinas, SP: Papirus, 1999. VERGER, Pierre. A sociedade Egbé òrum dos Àbikú, as crianças nascem para morrer várias vezes. Afro-Ásia, Salvador, n, 14, p. 138-158, 1983. VIVARTA, Veet (coord.). Cidadania antes dos 7 anos: a educação infantil e os meios de comunicação. São Paulo: Cortez, 2003 (Série Mídia e comunicação social, v. 2). 84 maestria Para saber mais DALBEN, Ângela Freitas (coord). Educação infantil: o desafio da oferta pública. Belo Horizonte: GAME/FaE/UFMG, 2002. EISENSTADT, S. N. De geração a geração. São Paulo: Perspectiva, 1976. FARIA, Ana Lùcia Goulart; DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias (orgs.). Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças. Campinas: Autores Associados, 2002. FIGUEIREDO, Luciano. Barrocas famílias: vida familiar em Minas Gerais no século XVIII. São Paulo: Hucitec, 1997. FREITAS, Marcos Cezar de (org). História social da infância no Brasil. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez/USF, 2001. FREITAS, Marcos César de; KUHLMANN JR, Moysés (orgs). Os intelectuais na história da infância. São Paulo: Cortez, 2002. KRAMER, Sônia. LEITE, Maria Isabel (orgs). Infância e produção cultural. Campinas: Papirus, 1998. GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In: ARIÈS, Philippe (org). História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p.311-328. GONDRA, José Gonçalves (org). História, infância e escolarização. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002. ______. Homo hygienicus: educação, higiene e reinvenção do homem. Cadernos CEDES, 59, Educação pela higiene: histórias de muitas cruzadas. São Paulo: Cortez; Campinas, CEDES, abr. 2003, p. 25-38. KOHAN, Walter Omar; KENNEDY, David (orgs). Filosofia e infância: possibilidades de um encontro. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. LAUWE, Marie-José CH de. Um outro mundo: a infância. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1991. LEVIN, Esteban. A infância em cena: constituição do sujeito e desenvolvimento psicomotor. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. LOPES, Eliane Marta; FARIA FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cynthia Greive (orgs). 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 85 PRIORE, Mary Del Priore (org). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991. ______. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. ______ História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2002. RIZZINI, Irmã; FONSECA, Maria Tereza. Bibliografia sobre a história da criança no Brasil. Marília: UNESP, 2001. STEIBERG, Shirley R. KINCHELOE, Joe L. (orgs). Cultura infantil: a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. TEDRUS, Dora M. de Almeida Souza. A relação adulto criança: um estudo antropológico em creches e escolinhas de Campinas. Campinas: Centro de Memória Unicamp, 1998. 10 Versão adaptada do Guia de Fontes em Educação Infantil (Fundação Orsa, Cortez e Unesco). Ver: www.fundacaoorsa.org.br Sites10 ACB — Ação comunitária do Brasil — São Paulo — http://www.crianca-as.org.br ANPEd — Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação — http://www.anped.org.br ASBREI — Associação Brasileira de Educação Infantil — www.technetrj.com.br/asbrei Associação Brasileira de Brinquedotecas — http://www.brinquedotecas.com.br Associação Obra do Berço — www.cidadania.net/obradoberco Centro de Estudos Escola da Vila — http://www.vila.com.br CIESPI — Centro Internacional de Estudos e pesquisas sobre a infância — http://www.ciespi.org.br Fórum Paulista de Educação Infantil — http://www.educacaoinfantil.org Fórum Abrinq pelos direitos da Criança e do Adolescente — http://www.fundabrinq.org.br Fundação Carlos Chagas — http://www.fcc.org.br [Projetos: 86 maestria Historiografia da Educação Infantil: temas e Tendências e Currículo e propostas pedagógicas para a Educação Infantil, coordenados pelo Prof. Moysés Kulmann Júnior] Fundação Orsa Criança e Vida — http://www.fundacaoorsa. org.br GEEMPA — Grupo de Estudos sobre educação, metodologia de pesquisa e ação — http://www.plu-in.com.br/~geempa IPA — Associação brasileira pelo direito de brincar http://www.ipa.org.br LABRIMP — Laboratório de Brinquedos e materiais pedagógicos http://www.fe.usp.br/laboratorios/labrimp MIEIB — Movimento interfóruns de Educação Infantil no Brasil — e-mail [email protected] Ministério da Educação — MEC — Coordenação Geral de Educação Infantil — http://www.mec.gov.br MLPC — Movimento de Luta Pró creches (BH) — http://www.mlpcreches.hpg.ig.com.br OMEP/Brasil — Organização mundial para a Educação PréEscolar — http://www.omep.org.br UNESCO — Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura — http://www.unesco.org.br UNICEF — Fundo das Nações Unidas para a infância — http://www.unicef.org.br m maestria Sete Lagoas n.2 p. 75-87 jan./dez. 2004 87 Michel Foucault e os limites da representação: a história e o homem Adilson Xavier da Silva * * Mestre em Filosofia — FAFICH / UFMG. Doutorando em Filosofia — IFCS / UFRJ e Professor da FCHPL / FAMIG. Resumo O artigo tem como objetivo explicitar na obra de Michel Foucault, As palavras e as coisas, os limites da representação: a história e o homem. Palavras-chave: episteme; representação; história; homem. Abstract The article intends to discuss, in Michel Foucault’s Les mots et les choses (1966), the limits of the representation: the history and the man. Keywords: episteme; representation; history; man. 1 Introdução Michel Foucault, na sua obra As palavras e as coisas, fornece-nos uma certa historiografia operativa, tendo em vista três grandes desenvolvimentos a partir da história das idéias na Europa: Renascimento, Classicismo e Modernidade (século XVI, séculos XVII e XVIII e século XIX, respectivamente). Esses três grandes desenvolvimentos, Michel Foucault aborda-os em três epistemes. No Renascimento essa episteme é caracterizada fundamentalmente pela semelhança, onde o pensamento era visto pelo prisma de uma cosmologia do mundo na qual as coisas poderiam ser compreendidas e ordenadas fisiologicamente, segundo as relações de analogia: “porque no grande livro da natureza cada sinal remete para outros sinais” (HABERMAS, 1990, p.243). No Classicismo, como em suas exigências da Ordem ocorrem profundas transformações, o discurso rompe os laços que o unem às coisas. Aqui os sinais são perceptivos, ou meros ídolos enganadores, maestria Sete Lagoas n.2 p. 89-98 jan./dez. 2004 89 eles simplesmente configuram como auxílios para o sujeito que conhece e ao mesmo tempo possa revelar a verdadeira realidade. Na modernidade, essa episteme é consagrada no domínio do tempo e da história; e ao mesmo tempo é nessa disposição epistemológica da modernidade que aparece o homem, como subjetividade finita. Sabemos que na modernidade o homem se libertou das garras de si mesmo, quando descobriu que não se encontrava nem no centro da criação nem no meio do espaço; e nem talvez no começo ou no fim das coisas. Mas se o homem não é mais o soberano do mundo, se ele não reina no centro da criação, o que fazer com as ciências humanas, que desejam ser intermediárias do saber? A resposta é o próprio fracasso e a fragmentação do homem no mundo. A nova ordem é desmascarar essa disposição epistemológica da modernidade. A modernidade começou com essa idéia espantosa, enigmática, de que o Ser é soberano mesmo estando o homem escravizado, um ser cuja finitude possibilitou tomar o lugar de Deus. A episteme clássica é uma ciência geral da ordem que pode definir-se como o sistema articulado de uma mathesis (ordem das naturezas simples), uma taxonomia (ordem das naturezas complexas) e uma análise genética (ordem de constituição das ordens). No sistema moderno, a história é o modo de ser de tudo o que nos é dado na experiência, é o incontornável do nosso pensamento. Esse espaço renovado tem permitido o nascimento dos saberes que são agora familiares a todos nós e que chamamos, desde o século XIX, de Filologia, Biologia e Economia política. Esses novos saberes, constituídos por linguagem, vida e produção, constituem as novas positividades estudadas por Bopp, Cuvier e Ricardo. Tais positividades não tinham ainda se definido porque, no século anterior, um progresso da racionalidade agregado ao feliz descobrimento de novos temas culturais, não saímos da idade pré-histórica — explicação doxológica a que não podemos nos conformar. Foi um acontecimento fundamental, radical, da cultura ocidental que, no começo do século XIX desbaratou a possibilidade do saber clássico e constituiu outra nova, que agora nos envolve: a idade da História. 90 maestria Para Michel Foucault a constituição das novas ciências positivas, a aparição da literatura sobre a literatura, o redescobrimento da filosofia sobre seu próprio devir, a emergência da história, são outros tantos signos deste acontecimento fundamental que outros campos abriram para revelar as aporias do conhecimento. Acontecimento que no nível em que os conhecimentos se arraigam em sua positividade, concerne à relação da representação com o representado. As coisas e as representações se separam e deixam de ter um espaço de ordem comum, o ser mesmo do representado sai fora da representação. Na episteme moderna aparece, então, a possibilidade de uma filosofia transcendental, justamente porque as sínteses das representações já não podem confinar-se ao espaço mesmo das representações. 2 Os limites da representação: a história e o homem As palavras e as coisas, de Michel Foucault, não é uma obra de leitura fácil, ela oferece uma leitura original da História das idéias na Europa, desde o século XVI ao XIX, como uma nova metodologia, que o autor designa sob o conceito de Arqueologia. Ora, o conceito de arqueologia se revela como algo mais do que simples metodologia, mesmo revolucionária. Essa arqueologia é tributária de uma filosofia ou, com mais precisão, de uma teoria da linguagem. A arqueologia se dirige ao espaço geral do saber, a suas configurações e o modo de ser das coisas que apareçam nelas, define sistemas de simultaneidade, assim como a série das mutações necessárias e suficientes para circunscrever o solo de uma nova positividade. Nos últimos anos do século XVIII, uma nova ruptura substituiu a episteme clássica por outra, que é agora a nossa. Essa ruptura profunda nos separa para sempre da ordem clássica. No século XIX o espaço geral do saber já não é o das identidades e das diferenças; agora, é o das analogias e das sucessões. É a idade da história, é “esta história que, progressivamente, imporá as suas leis à análise da produção, dos seres maestria Sete Lagoas n.2 p. 89-98 jan./dez. 2004 91 organizados e, enfim, dos grupos lingüísticos” (FOUCAULT, 1981, p.233). Portanto, a história dará lugar às organizações analógicas, da mesma maneira que a ordem abria o caminho das identidades e das diferenças sucessivas. Nesse sentido, é no final do século XIX que a história é inventada para substituir a ordem das coisas. Pouco nos importa que o mito articulatório se baseie em Sade ou Cervantes. Pois esse mito não está destinado a ocultar a ruptura inesperada e enigmática que separa a época clássica do novo espaço epistemológico do século XIX, como a “que separa os círculos de Paracelso da ordem Cartesiana” (FOUCAULT, 1981, p.231). Essas rupturas simétricas são curiosas, pelo menos em dois pontos de vista. Em primeiro lugar, não se pode eliminar a historicidade por fragmentos; é preciso tomá-la toda ou não tomá-la. Se não se quer ver, no período de 1640 a 1790, as transformações e as contradições que se comprimem em 150 anos e três estratos, reduzidos finalmente a um estrato, é óbvio que logo não se poderá captar em continuidade que seja inteligível, a 1830, a partir do quadro clássico. As descontinuidades são sempre enigmáticas. Portanto, o que fazer? A noção de espaço epistemológico em Michel Foucault implica uma descontinuidade em que a racionalidade e a história não podem alojar-se. Esse sentido de alojamento implica uma falta, segundo a concepção da arquitetura — que é a arqueologia do presente; isto é, ou renuncia-se à história ou renuncia-se à estrutura, ou renuncia-se ao sistema ou à razão. Em segundo lugar, essas rupturas são encontradas estranhamente no passado para preparar aquela que a nova filosofia quer realizar no seu trabalho científico contemporâneo. Podemos acreditar que Michel Foucault tenta uma historiografia quando, no capítulo VII d’As palavras e as coisas, trata de dissipar um pouco o enigma da ruptura com a ajuda de mediações. Para desvelar essas mediações Michel Foucault recorre a Adam Smith, que introduz a noção de trabalho como medida do valor; a Bopp, que faz um estudo da língua como uma realidade autônoma e ao mesmo tempo histórica; a Kant, que possibilitou uma filosofia transcendental, em que 92 maestria o sujeito “representante tem de se tornar objeto para ver com clareza no processo problemático da representação” (HABERMAS, 1990, p.245). É claro que a correspondência entre autores diversos, enunciados em um resumo esquemático, é mais desconcertante que ilustrativo. É necessário, pois, buscar seu fundamento último nas figuras do saber das quais eles participam; e que constituem a novidade radical da época do homem: as figuras do homem e da história. Já que para Michel Foucault não existia na época clássica a figura do homem e da história. Por que não existia história na época clássica? Certamente não é porque faltam historiadores e nem está ausente da cultura o interesse pelo passado. Mas é porque está subordinada à idéia de natureza humana, cujo conhecimento é acessível a uma análise que pode elucidar todos os seus elementos segundo a ordem da representação. O que a história apresenta na sucessão dos acontecimentos não é simplesmente o conteúdo de uma natureza humana, pensada primeiro fora do tempo com toda a riqueza de sua essência; ou seja, a história é radicalmente secundária em relação à idéia de natureza humana; e por isso não existia como figura autônoma, como fundamento de conhecimentos originais. A história que surge no final do século XVIII como uma força radicalmente nova, que domina o saber, é a que mostra, na sucessão temporal, o surgimento de conteúdos absolutamente novos, que não são somente irredutíveis à essência de uma natureza humana, mas também à origem a um questionamento do homem. O que Michel Foucault rejeita não é a história como realidade, mas essa história-mito a que se recorre como explicante universal quando é ela que apela e exige a explicação. No pensamento clássico, aquele para quem a representação existe e que nela se representa a si mesmo, aí se recolhendo por imagem ou reflexo, aquele que trama todos os fios entrecruzados da ‘representação em quadro’, este jamais se encontra lá presente: o homem. Para Michel Foucault, “antes do fim do século XVIII, o homem não existia” (FOUCAULT, 1981, p. 342, 325, 362). maestria Sete Lagoas n.2 p. 89-98 jan./dez. 2004 93 É muito interessante essa afirmativa de Michel Foucault, que, se não permite ao homem entrar, pela primeira vez, no campo do saber ocidental, pelo menos elucida o seu campo epistemológico. O homem é uma figura recente, uma invenção de dois séculos que agora reaparece como uma nova forma. O conhecimento do homem não corresponde de modo algum àquela busca mais antiga, pois ele “envelheceu tão depressa que facilmente se imaginou que ele esperava na sombra, durante milênios, o momento de iluminação em que seria enfim conhecido” (FOUCAULT, 1981, p.324). É certo que as ciências naturais “tratam do homem como de uma espécie ou de um gênero: a discussão sobre o problema das raças, no século XVIII, o testemunha” (FOUCAULT, 1981, p.324). Enquanto, na gramática e na economia, “utilizavam noções como as de necessidade, de desejo ou de memória e de imaginação” (FOUCAULT, 1981, p.325). Não existia na época clássica uma consciência epistemológica do homem como tal. A episteme clássica se articula segundo linhas que de modo algum isolam um domínio próprio e específico do homem. E se se insistir ainda, se se objetar que nenhuma época, porém, concedeu tanto à natureza humana, deu-lhe estatuto mais estável, mais definido, melhor ofertado no discurso — poderse-á responder dizendo que o próprio conceito de natureza humana e a maneira como ele funcionava excluíam uma ciência clássica. (FOUCAULT, 1981, p.325) Com efeito, o pensamento clássico, simbolizado por Las meninas de Velázquez, descritas no primeiro capítulo d’As palavras e as coisas, entra aí como símbolo do jogo entre a dicotomia do sujeito-objeto, que invisivelmente se vai gravando na face oculta da vida; não aparecem o homem e o sujeito da representação. Porque o espetáculo que o pintor observa é em certo sentido duas vezes invisível; ele não está representado no espaço do próprio quadro e se “situa precisamente nesse ponto cego, nesse esconderijo essencial em que o nosso olhar se subtrai a nós mesmos no momento em que olhamos” (FOUCAULT, 1981, p.18). A episteme clássica não tem necessidade do homem e exclui algo que foi uma ciência do 94 maestria homem. Enquanto na episteme moderna, o que faz surgir essa criatura muito recente, objeto para um saber e sujeito que conhece e, ao mesmo tempo, permitiu — de acordo com sua disposição singular — que a história natural se reconheça como Biologia, a análise das riquezas em Economia e a reflexão sobre a linguagem em Filologia, esses novos domínios fizeram surgir as ciências humanas. Esses novos domínios — biologia, economia e filologia — fizeram surgir o homem. O homem, cuja aparição estava ligada por modificações no saber, superava seu caso particular; agora só é possível arqueologicamente, quando se fizer uma análise da finitude, isto é, a idade da história. O homem que se torna presente na autoconsciência deve empreender a tarefa sobre-humana de estabelecer uma ordem das coisas, no momento em que toma consciência da sua existência simultaneamente como autônoma e como finita. (HABERMAS, 1990, p.245) Redescobrindo a finitude na interrogação da origem, o pensamento moderno remonta o grande quadrilátero que começou a se desenhar quando toda a episteme ocidental se abalou no fim do século XVIII: o liame das positividades com a finitude, a reduplicação do empírico no transcendental, a relação perpétua do cogito com o impensado, o distanciamento e o retorno da origem, definem para nós o modo de ser do homem. É na análise desse modo de ser (e não mais a da representação) que, desde o século XIX, a reflexão busca assentar filosoficamente a possibilidade do saber (FOUCAULT, 1981, p.351). A história é o a priori histórico que serve de solo quase evidente a nosso pensamento e às ciências humanas. Pois de nenhum modo é uma necessidade de todo o saber. Michel Foucault nos mostra necessidades internas à episteme, situando a totalidade dessas necessidades internas numa contingência radical. A redistribuição geral que provocou a existência da episteme moderna se dissolve: a idade do homem, a idade da história e das ciências humanas. Por meio dessa redistribuição Michel Foucault acreditou ter fechado o círculo da idade epis- maestria Sete Lagoas n.2 p. 89-98 jan./dez. 2004 95 temológica. Para o nosso arqueólogo do saber, a filosofia contemporânea aloja-se no homem e por isso caímos no sono antropológico. Assim, o fim do homem é uma condição necessária para um retorno do conhecimento das filosofias. Em nossos dias, pensar no homem é pensar no vazio do “homem desaparecido”. Michel Foucault nos faz uma advertência. A todos os que pretendem ainda falar do homem, de seu reino ou de sua liberação, a todos os que formulam ainda questões sobre o que é o homem em sua essência, a todos os que pretendem partir dele para ter acesso à verdade, a todos os que, em contrapartida, reconduzem todo conhecimento às verdades do próprio homem, a todos os que não querem formalizar sem antropolegizar, que não querem mitologizar sem desmitificar, que não querem pensar um imediatamente pensar que é o homem quem pensa, a todas essas formas de reflexão canhestras e distorcidas, só se pode opor um riso filosófico — isto é, de certo modo, silencioso. (FOUCAULT, 1981, p. 359). Agora só nos resta começar novamente, retornar num eterno retorno de nós mesmos. 3 Conclusão Para Michel Foucault o homem é uma invenção recente. Entenda-se por isso o sujeito da cultura enquanto mestre de sua linguagem. É muito interessante a proximidade de Michel Foucault com Lacan em relação a uma certa teoria da linguagem. A idéia central de Lacan é que o sujeito da fala não é o eu em qualquer das acepções que possamos tomá-lo: lógica, gramatical, psicológica ou transcendental. O eu é um “fenômeno da linguagem, uma aparição sua e não seu centro ou órgão de apropriação” (FOUCAULT, 1981, p. xv). Assim, o homem foi o beneficiário desta ignorância da realidade da linguagem como transcendência e da não vigência da mesma linguagem enquanto representação, como o era na idade clássica. Por isso, a verdade é dita pelo conjunto dos fenômenos culturais, 96 maestria permanecendo os participantes neles, fora dela. Uma coisa em todo o caso é certa. Fala-nos Michel Foucault que “o homem não é o mais velho problema nem o mais constante que se tenha colocado ao saber humano” (FOUCAULT, 1981, p.403). Se tomarmos uma cronologia relativamente curta e um recorte geográfico restrito — a cultura européia desde o século XVI —, podemos estar seguros de que o homem é aí uma invenção recente. Michel Foucault escreve: Não foi em torno dele e de seus segredos que, por muito tempo, o saber rondou. De fato, dentre todas as mutações que afetaram o saber das coisas e de sua ordem, o saber das identidades, das diferenças, dos caracteres, das equivalências, das palavras — em suma, em meio a todos os episódios dessa profunda história do Mesmo —, somente um, aquele que começou há um século e meio e que talvez esteja em via de se encerrar, deixou aparecer a figura do Homem. (FOUCAULT, 1981, p.403). E Michel Foucault continua: “E isso não constitui liberação de uma velha inquietude, passagem à consciência luminosa de uma preocupação milenar, acesso à objetividade do que, durante muito tempo, ficara preso em crenças ou em filosofias.” (FOUCAULT, 1981, p.403-404). Há uma mudança nas disposições fundamentais do saber. Nesse sentido, o homem é uma invenção recente e ao mesmo tempo anuncia o seu fim. Se o homem tem apenas cerca de dois séculos, como Michel Foucault nos mostra, é exatamente porque é nessa mesma data que anunciou a morte de Deus. O homem não teve um lugar privilegiado. Ele não se apresentou, de certa forma, como um lugar seguro das novas positividades. Fora com Nietzsche, quando este mostrou que a morte de Deus não é a afirmação, mas o desaparecimento do homem, que o homem e Deus mantenham estreitas relações de parentesco e ao mesmo tempo, “são irmãos gêmeos e pai e filho um do outro, que Deus estando morto o homem não pode deixar de desaparecer ao mesmo tempo”. (FOUCAULT, 1973, p.5). Quando o homem começa a pensar em si, ele descobre que maestria Sete Lagoas n.2 p. 89-98 jan./dez. 2004 97 não tem um valor que possa pensar por ele; isto é, quando o homem recria-se à sua semelhança, ele descobre que o seu modelo já não é mais seu; e quando ele consegue, Deus morre e o homem verifica que o seu modelo é vazio. O que nos deixa mais confusos em tudo isso é que o homem talvez não seja mais do que um rosto de areia e que desvanece na procura de si mesmo. Ou, em todo caso, se não é na escolha entre essas novas positividades que procuramos uma nova episteme, totalmente diferente das que conhecemos. Ou fazer uma reflexão crítica sem sairmos no pensamento de sobrevôo no interior da nossa sociedade — que atualmente se apresenta como reveladora do mundo de desvelar as atividades da nossa existência, isto é, buscar as novas formas da nossa subjetividade. O enigma da história é o enigma do homem. Referências D’ALLONNES, O.R. Analisis de Michel Foucault. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo, 1970. DOMINGUES, I. O grau zero do conhecimento: o problema da fundamentação das ciências Humanas. Belo Horizonte: Loyola,1991. FOUCAULT, M. O filósofo está falando: pense. Estado de Minas, Belo Horizonte, p.5, 30 de maio 1973. FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1981. HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. MAGALHÃES, T. C. Da arqueologia do saber ao ensaio filosófico: a problemática de uma ontologia do presente em Foucault. Síntese — Nova Fase, Belo Horizonte, v.15, n. 40, p.59-83, 1987. 98 maestria Um passo de letra Lucia Castello Branco * O que aprendi com Teresa? Que a ressurreição não é um acto de potência divina, mas a suprema manifestação do amor. Dar a vida não chega, não é um acorde consonante com a substância. Ressuscitar, sim, é o acorde perfeito. Maria Gabriela Llansol * Escritora, autora de A Falta (Record, 1997), Nunca mais (Record, 2001) e A branca dor da escrita (7Letras, 2003), entre outros. Professora de Literaturas Portuguesa e Brasileira na UFMG. Resumo Partindo da noção lacaniana de escrita como efeito de discurso, o texto pretende desenvolver a noção de letra — tanto do ponto de vista da literatura quanto da psicanálise — na dupla vertente do pas-de-sens: como o não sentido que é também passo de sentido. Dessa maneira o escrito, definido por Lacan como um pas-à-lire, exige uma leitura para além do não sentido, uma leitura que faça, ela também, o seu passo de sentido. Palavras-chave: escrita; letra; tradução; sentido; ressurreição. Abstract Departing from the lacanian notion of writing as an effect of discourse, this text intends to develop the notion of letter — from the points of view of both literature and psychoanalysis — through the double meaning of pas-de-sense: the absence of meaning which is also a step (pas) of meaning. Thus, writing, which Lacan has defined as pas-à-lire, demands a kind of reading which goes beyond such absence of meaning, a kind of reading itself able to take a step of meaning. Keywords: writing; letter; translation; meaning; resurrection maestria Sete Lagoas n.2 p. 99-108 jan./dez. 2004 99 Permitam-me evocar aqui o amor, a vida, a morte e a ressurreição para tentar introduzir um breve passo na discussão acerca da escrita e de suas articulações com a teoria e a clínica psicanalíticas. Sabemos o quanto as noções de escrita, de escrito e de escritura, já presentes de maneira subliminar nos textos de Freud, ganham relevo no ensino de Lacan, e o quanto essas noções, às vezes imprecisamente lançadas, às vezes apressadamente confundidas, vão fazer parte de um certo pensamento da psicanálise na contemporaneidade. A noção de escrita, mesmo que confusamente formulada por aqueles que dela se utilizam, aparece, de uma maneira ou de outra, articulada à noção de letra, que vem adquirindo o estatuto de conceito produtor de avanços não só no campo dos estudos psicanalíticos como no dos estudos literários. O que pretendemos aqui, neste breve passo, não é nos determos nas diversas nuances que os conceitos de letra e de escrita foram tomando ao longo do ensino de Lacan, mas o de apurarmos, a partir de uma formulação de Lacan acerca da escrita, a noção de letra como pas de sens: como o não sentido que confina justamente com o passo de sentido. Refiro-me precisamente à formulação que se encontra na lição “A função do escrito”, do Seminário 20, quando Lacan afirma: “Tudo o que é escrito parte do fato de que será para sempre impossível escrever como tal a relação sexual. É daí que há um certo efeito de discurso que se chama a escrita.” (LACAN, 1985, p.49). Tomemos, a partir dessa formulação de Lacan, a escrita como efeito de discurso. Mesmo que possamos escutar aí que o “efeito” é também “fato de” (“a escrita é fato de discurso”), ou ainda “é feito de” (“a escrita é feita de discurso”), como o próprio Lacan gosta de fazer deslizar, por associação, o significante “efeito”, no decorrer de todo esse seminário. Ora, o que é um efeito? É o “resultado”, é o “produto de uma causa”, o Aurélio nos informa, mas é também uma “realização”, um “fim”, um “destino”, uma “eficácia”. Tomemos, então, este arranjo: a escrita é um resultado eficaz de discurso. E, se tomamos a operação dos discursos como uma operação 100 maestria lógica, como o quer Lacan, talvez possamos pensar nesse resultado também como resto. Cabe, então, uma primeira indagação: como é possível àquilo que é resto, que é resultado de uma operação que, não raro, subtrai, ser capaz de alguma eficácia? Em outras palavras: como é possível que a escrita — se tomada em sua dimensão não exatamente de discurso, mas de efeito de discurso — produza laço social? “Alguns escritores são apavorados. Têm medo de escrever. O que contou no meu caso foi nunca ter tido medo desse medo. Fiz livros incompreensíveis e foram lidos [...] Escrever, essa foi a única coisa que habitou minha vida e que a encantou. Eu o fiz. A escrita não me abandonou nunca” (DURAS, 1994, p.33, 15), declara, entre perplexa e maravilhada, Marguerite Duras. Arrisquemos, então, uma hipótese: a de que a alguns escritores, àqueles que não têm medo desse medo, é dada chance de, pelo arranjo de letras que constitui a escrita, promover um pas de sens. Às vezes um verdadeiro passo de sentido, que reescreve todo o sentido de uma escrita e de uma vida. Às vezes um passo largo demais, largo demais para as pernas do sujeito. De toda maneira, é de um pas-au-délà (de um passo além) que se trata quando nos arriscamos no campo das letras.1 Pois é também como pas-à-lire, como não-a-ler e, no entanto, passo-aler, que um escrito nos convoca. (LACAN, 1985, p.38-52). 1 A esse respeito, ver BLANCHOT, Maurice. Le pas au-délà. Primeiro passo: não se escreve para o outro Tomemos, então, uma outra formulação acerca da escrita, ou, mais exatamente, da escritura, tal como nos oferece Roland Barthes: Saber que não se escreve para o outro, saber que as coisas que vou escrever não me farão nunca amado por aquele que amo, saber que a escritura não compensa nada, não sublima nada, que ela está precisamente aí onde você não está — é o começo da escritura. (BARTHES, 1994, p.93). maestria Sete Lagoas n.2 p. 99-108 jan./dez. 2004 101 Curiosamente, se aqui é o discurso que é visado — tratase de uma citação extraída justamente do livro Fragmentos de um discurso amoroso — é a escrita o que se apresenta. E apresenta-se em sua intransitividade, como aliás já se apresentara em outro dos textos do autor: “Escrever, verbo intransitivo?”. (BARTHES, 1988, p.309-309). Porque, como assinala Barthes, da mesma forma que não se escreve sobre, não se escreve para. É este, sabemos, um dos princípios da escrita literária, o mesmo que teria levado Walter Benjamin a afirmar, nas primeiras linhas de “A tarefa do tradutor”, que “nenhum poema dirige-se ao leitor, nenhum quadro ao espectador, nenhuma sinfonia aos ouvintes.” (BENJAMIN, 2001, p.189). Mas, se a escrita literária não se escreve para, isso não significa dizer que ela, enquanto efeito de discurso, não possa vir a produzir laços, laços sociais, laços de letra. Um dos laços mais eficazes que essa escrita pode produzir — é Benjamin quem nos diz — consiste justamente na tradução. Pois a tradução é o que permite a pervivência, a sobrevivência do original (überleben, forleben): Nelas [nas traduções], a vida do original alcança, de maneira constantemente renovada, seu mais tardio e vasto desdobramento. Enquanto desdobramento de uma peculiar vida elevada, esse desdobramento é determinado por uma finalidade peculiar e elevada. Vida e finalidade: seu nexo, aparentemente mais tangível, mas que praticamente se subtrai ao conhecimento, é descoberto apenas onde aquele fim, para o qual convergem todas as finalidades da vida, deixa de ser, por sua vez, buscado na sua própria esfera, para ser procurado numa esfera mais elevada. Todas as manifestações finalistas da vida, bem como sua finalidade em geral, não são conformes, em última instância, às finalidades da vida, mas à expressão de sua essência, à exposição de seu significado. Assim, finalmente, a tradução tende a expressar o mais íntimo relacionamento das línguas entre si. (BENJAMIN, 2001, p.195). Nesse magnífico texto de 1923, Benjamin, contemporâneo de Freud, nos faz pensar que a escrita — expandida e elevada por um de seus efeitos, a tradução — pode vir a produzir, por meio laços de letra, lastros de vida (de sobre vida ou de perviver) 102 maestria de que a história é testemunha. Afinal, como observa o autor, os lastros de vida não devem ser pensados a partir da natureza, mas da história. Ou, em outras palavras, trata-se de “compreender toda a vida natural a partir dessa vida mais vasta que é a história”. Por isso Benjamin nos interroga: “E não será ao menos a continuação da vida das obras incomparavelmente mais fácil de reconhecer do que a vida das criaturas?” (BENJAMIN, 2001, p.193). Estamos, pois, pouco a pouco, adentrando o espaço em que a epígrafe deste texto nos situa: espaço da letra e do amor e de uma vida além morte — sobre vida, perviver. Ou, nas palavras de Maria Gabriela Llansol: ressurreição. Pois a idéia de tradução como “ato de amor” não é estranha também a Walter Benjamin: Tal como os cacos de um vaso, para se poderem reajustar, têm de encaixar uns nos outros nos mais pequenos pormenores, embora não precisem de ser iguais, assim também a tradução, em vez de querer assemelhar-se ao sentido original, deve antes configurar-se, num acto de amor e em todos os pormenores, de acordo com o modo de querer dizer desse original, na língua da tradução, para assim tornar ambos, original e tradução, reconhecíveis como fragmentos de uma língua maior, tal como os cacos são os fragmentos do vaso inteiro. (BENJAMIN, s.d.) A imagem da tradução como ânfora — recomposição amorosa das letras-cacos do original — não se afasta de todo da imagem da construção analítica como uma reconstituição arqueológica, que vamos encontrar em Freud. (FREUD, 1976b, p.291-308). Além disso, é Lacan quem nos fornece, no Seminário 20, uma concepção da letra que a aproxima do amor, na medida em que ambos são tomados como suplências diante da inexistência da relação sexual. (MANDIL, 1997, p.103-117). A partir daí, a escrita, pensada no campo do suplemento — como arranjo de letras e enquanto efeito de discurso — pode ser aproximada do amor. Mas esse amor é preciso que o pensemos de maneira distinta da fusão amorosa que se lê em “nós dois somos um só”, como observa Lacan, para que o concebamos também na dimensão da intransitividade. Ou, mais precisamente, na dimensão do que Maria Gabriela Llansol desig- maestria Sete Lagoas n.2 p. 99-108 jan./dez. 2004 103 2 LACAN, Jacques. Op. cit. p. 98: Deus e o gozo d'A Mulher. Diz Lacan: “Fazer o amor, como o nome o indica, é poesia.” nará como a melhor forma do amor: aquela “que se abre para fora de si mesma”, o “amor ímpar”. (LLANSOL, 1993, p.110). Como forma “para fora de si mesma”, a escrita é capaz de lançar-se ao amor, ou de “fazer o amor”. E quando faz o amor, observa Lacan, é poesia.2 Segundo passo: monstruosa literalidade Todo o texto de Benjamin parece convergir para o ponto em que a tradução tocará no intraduzível. Trata-se da referência a Hoelderlin e a suas monstruosas traduções, que constituíram os últimos trabalhos do poeta, coincidindo com sua entrada definitiva na loucura. O que se assinala acerca dessas traduções (e que seria motivo de deboche por seus colegas na época) é justamente o “não sentido” em que elas desembocam por excesso de literalidade. Assim, metáforas como “a cor escura da púrpura”, significando “estar sombrio, mergulhado em reflexões”, eram traduzidas por Hoelderlin como “purpurejar”, remetendo ao vermelho-púrpura e não a seu sentido figurado. Por essa razão, essa traduções provocavam o riso de Hegel e Schelling, seus contemporâneos, seja quando o consideravam “um dos mais burlescos 'produtos' do pedantismo”, seja quando teciam comentários do tipo de “se Sófocles tivesse falado a seus atenienses de maneira tão desgraciosa, emperrada e tão pouco grega, como é pouco alemã esta tradução, seus ouvintes teriam abandonado às carreiras o teatro”. (CAMPOS, 1977, p.94). Curiosamente, como observa Haroldo de Campos, “as mesmas traduções que o Oitocentos alemão tachou de monstruosas pela voz de seus escritores mais representativos e conhecidos, o século 20 iria ressuscitar como marcos modelares do seu gênero”. (CAMPOS, 1977, p.96). E aqui então estamos diante do pas de sens efetuado por Hoelderlin: o que o século XIX tomaria como o “sem sentido” seria considerado, um século depois, como um avanço, como um passo de sentido. É Benjamin quem localiza com precisão essa confluên- 104 maestria cia do não sentido com o passo de sentido. Diz ele, em “A Tarefa do tradutor”: Nelas [nas traduções hoelderlinianas] a harmonia das línguas é tão profunda que o sentido é apenas tangido pela linguagem como uma harpa eólia pelo vento. As traduções de Hoelderlin são protótipos do gênero. Elas estão, mesmo para as mais perfeitas traduções de seus textos originais, como o protótipo para o tipo[...]. Por isso mesmo, ronda-as aquele imenso perigo primordial de toda tradução: os portais de uma linguagem tão ampliada e tão completamente dominada ameaçam abater-se e emurar o tradutor no silêncio. As traduções de Sófocles foram a última obra de Hoelderlin. Nelas o sentido rola de abismo em abismo até quase perder-se nas insondáveis profundezas da linguagem. (BENJAMIN, citado por CAMPOS, 1977, p.95). Ocorre que, se Hoelderlin se perdeu na loucura — o passo de sentido foi largo demais para suas pernas —, suas traduções não se perderam. O século XX iria ressuscitar essas monstruosas traduções como marcos modelares de seu gênero. Esse breve apólogo hoelderliniano talvez nos permita então retornar à escrita — e à tradução como uma forma privilegiada de escrita: a da ressurreição dos textos — como um suplemento, como um efeito de discurso que é capaz, na radicalidade mesma da prática da letra — radicalidade do pas de sens — produzir não apenas o “não sentido”, mas um suplemento de sentido, um “a mais de sentido”. Ora, à psicanálise, esse “a mais de sentido” deve interessar tanto quanto à literatura. Pois não se trata de retornar a um sentido primeiro e último que residiria nas palavras e, por transparência, nas coisas. Trata-se antes de avançar em direção ao que Benjamin vai chamar de “pura língua”, esse ponto impossível de reconciliação das línguas em que letra e sentido componham, por fim, um só algarismo, como na álgebra do poema. Ou, nas palavras de Derrida, trata-se de atingir esse ponto virtual em que, “num único algarismo, o poema (aprendê-lo de cor) sela juntamente o sentido e a letra, como num ritmo espaçando o tempo.” (DERRIDA, 2003, p.9). maestria Sete Lagoas n.2 p. 99-108 jan./dez. 2004 105 Terceiro passo: ir mais além O que Hoelderlin nos transmite, com seu passo decidido de letra, é a convicção de que “não há na terra uma medida”. E que com ela vem a “única 'responsabilidade' do poeta, ir mais além”. (LOPES, 2001, p.11). É também chamado por um “mais além” que Freud escreve um dos trabalhos que lhe permite avançar, de maneira decisiva, no campo da teoria psicanalítica. Em “Além do princípio do prazer”, veremos, com rara humildade, o autor se deixar levar por um além do próprio pensamento — o apensamento de sua escrita —, chegando mesmo, ao final do texto, a depor suas armas. Após fazer o “além do princípio do prazer” ser empurrado, sucessivas vezes, para um “além” do próprio texto, Freud termina por concluir, ao fim do trecho VII: O princípio de prazer parece, na realidade, servir às pulsões de morte. É verdade que mantém guarda sobre os estímulos provindos de fora, que são encarados como perigos por ambos os tipos de pulsões, mas se acha mais especialmente em guarda contra os aumentos de estimulação provindos de dentro, que tornariam mais difícil a tarefa de viver. Isso, por sua vez, levanta uma infinidade de outras questões, para as quais, no presente, não podemos encontrar resposta. Temos de ser pacientes e encontrar novos métodos e ocasiões de pesquisa. Devemos estar prontos, também, para abandonar um caminho que estivemos seguindo por certo tempo, se parecer que ele não leva a qualquer bom fim. Somente os crentes, que exigem que a ciência seja um substituto para o catecismo que abandonaram, culparão um investigador por desenvolver ou mesmo transformar suas concepções. Podemos confortar-nos também, pelos lentos avanços de nosso conhecimento científico, com as palavras do poeta: Ao que não podemos chegar voando, temos de chegar manquejando [...] O Livro diz-nos que não é pecado claudicar. (FREUD, 1976b, p.85). Numa clara alusão a Édipo, o de pés inchados, que, em sua cegueira, é guiado em Colona por Ismênia e Antígona, 106 maestria “bengalas de sua velhice”, Freud claudica, mas ousa o seu pas de sens. E, na perplexidade de um não sentido — “a vida só quer morrer” —, é como se o ouvíssemos, com Édipo, indagar: “Será que é no momento em que não sou nada que me torno um homem?” (LACAN, 1987). Mas à letra, sabemos, não basta o não sentido. É preciso fazê-la avançar um pouco além, um pouco mais. Mesmo claudicando, se um passo de letra se arrisca, ele ousará tocar o sentido, ainda que longinquamente, como uma harpa eólia tangida pelo vento. E assim, poderemos, quem sabe, assistir ao que Benjamin chamaria, de maneira quase alucinada, de “reconciliação das línguas”. Ou talvez assim possamos, em um passoa-ler, avançar em direção ao que, num movimento de “ir mais além”, Lacan escreveu: Uma ascese da escritura [...] não me parece produzir senão algo de coerente, pelas razões que já enunciei, não me parece poder ser adotada a não ser indo ao encontro deste está escrito impossível, a partir do qual irá instaurar-se, talvez, um dia, a relação sexual. (LACAN, 1986, p.32). O fato é que, enquanto efeito de discurso, a escrita pode ser entendida também como seu além. E é nesse além que um passo de letra pode, finalmente, desembocar. Assim, no que esse passo tem de não sentido, ele pode constituir também um avanço de sentido. E aí cabe ao psicanalista, talvez, reconciliarse com o poeta: fazendo de uma operação de letras — o matema — um só algarismo, que sela juntamente o sentido e a letra: o poema. Afinal, “rico em méritos, é no entanto poeticamente que o homem habita nesta terra”,3 Por isso, dar a vida não basta. Tampouco a morte. Ressuscitar, sim, é o acorde perfeito. 3 HÖLDERLIN, Friedrich. In Lieblihce bläue... In: HÖLDERLIN, Friedrich; COSTA, Daniel. Pelo infinito. Lisboa: Vendaval, 2001. p. 16. Referências BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. 4 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994. maestria Sete Lagoas n.2 p. 99-108 jan./dez. 2004 107 BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense, 1988. BENJAMIN, Walter. A tarefa: renúncia do tradutor. In: HEIDERMANN, Werner. Clássicos da teoria da tradução. Santa Catarina: UFSC/Núcleo de Tradução, 2001. v. 1. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. Tradução de João Barrento. (Inédita). CAMPOS, Haroldo de. A palavra vermelha de Hoelderlin. In: CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1977. DERRIDA, Jacques. Che cos'`e la poesia? Coimbra: Angelus Novus, 2003. DURAS, Marguerite. Escrever. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. FREUD, Sigmund. ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1976. v. 23. FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In: FREUD, Sigmund. ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1976. HÖLDERLIN, Friedrich; COSTA, Daniel. Pelo infinito. Lisboa: Vendaval, 2001. LACAN, Jacques. O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. LACAN, Jacques. O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. LACAN, Jacques. Lituraterra. Che vuoi? Porto Alegre, Cooperativa Cultural Jacques Lacan, n. 1, v. 1, 1986. p. 32. LLANSOL, Maria Gabriela. A escrita sem impostura. Entrevista. In: BRANCO, Lucia Castello. Encontros com escritoras portuguesas. Boletim do CESP, Bel Horizonte, v. 14, n. 16, jul./dez., 1993. p. 110. LOPES, Silvina Rodrigues. Prefácio In: HÖLDERLIN, Friedrich; COSTA, Daniel. Pelo infinito. Lisboa: Vendaval, 2001. MANDIL, Ram. Para que serve a escrita? In: ALMEIDA, Maria Inês de (org.). Para que serve a escrita? São Paulo: EDUC, 1997. m 108 maestria Antropofagia, tradição e tradução Jair Rodrigues de Aguiar Júnior * * Psicólogo; mestrando em Literatura Brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Resumo Comentário sobre o conceito oswaldiano de antropofagia e articulação deste aos de tradição e tradução, buscando analisar como os escritores modernistas Oswald e Mário de Andrade interpelaram criticamente o relacionamento da tradição cultural brasileira com a cultura estrangeira e situar a tradução como uma estratégia de leitura antropofágica. Palavras-chave: antropofagia; tradição; tradução; cultura; cânone; atitude crítica. Abstract This work is a comment on the oswaldian concept of anthropophagy, seeking an articulation of such concept to those of tradition and translation. It also tries to analyze how the modernist writers Oswald and Mário de Andrade critically related Brazilian cultural tradition to the foreign culture and situate translation as a strategy of anthropophagic reading. Keywords: anthropophagy; tradition; translation; culture; canon; critical attitude. A construção do conceito de antropofagia de Oswald de Andrade possibilitou-lhe, através do uso dessa ferramenta teórica, levantar toda uma crítica à aceitação passiva do brasileiro a alguns elementos importados de uma parcela da cultura européia, que se julgava detentora de certos saberes (artísticos, literários, filosóficos, etc.) sob os quais os países mais jovens (como no caso do Brasil) se colocariam numa posição de influenciáveis, devendo sempre um tributo à matriz e não construindo um conhecimento a partir de suas raízes históricas que pudesse ser exportado para o restante do mundo. maestria Sete Lagoas n.2 p. 109-119 jan./dez. 2004 109 Com a antropofagia, Oswald de Andrade voltou-se para o âmago de nossa cultura, resgatando em seus traços mais característicos a devoração, o canibalismo e o ritual antropofágico. Comentando o sentido dessa expressão e o alcance teórico e prático que Oswald procurou lhe dar, o crítico Benedito Nunes (1970, p.xxvi) argumentará: Como símbolo da devoração, a Antropofagia é a um tempo, metáfora, diagnóstica e terapêutica: metáfora orgânica, inspirada na cerimônia guerreira da imolação pelos tupis do inimigo valente apressado em combate, englobando tudo quanto deveríamos repudiar, assimilar e superar para a conquista de nossa autonomia intelectual; diagnóstico da sociedade brasileira como sociedade traumatizada pela repressão colonizadora que lhe condicionou o crescimento, e cujo modelo terá sido a repressão da própria antropofagia ritual pelos Jesuítas, e terapêutica, por meio dessa reação violenta e sistemática, contra os mecanismos sociais e políticos, os hábitos intelectuais, as manifestações literárias e artísticas, que, até a primeira década do século XX, fizeram do trauma repressivo, de que a Catequese constituiria a causa exemplar, uma instância censora, um Superego coletivo. Tal vocábulo portará, pois, um sentido etnográfico (remetendo às sociedades primitivas e seu espírito guerreiro e valente) e outro histórico (dirigindo-se contra os colonizadores e os interditos e tabus da sociedade brasileira), assim como irá propor uma reação violenta contra a sociedade européia e, mais especificamente, contra a exploração político-econômica e a difusão dos valores cristãos aos países colonizados como o Brasil. O Manifesto antropófago, escrito por Oswald de Andrade e lançado na Revista de Antropofagia em maio de 1928, lançou os principais roteiros de um projeto filosófico e cultural inspirado na devoração antropofágica, resgatada pelo autor do ritual primitivo de canibalismo indígena, particularmente dos índios Tupis que habitavam o Brasil antes da sua descoberta. Escrito num estilo de linguagem não sistemático e telegráfico o Manifesto misturará, em seus aforismos, “numa só torrente de imagens e conceitos, a provocação polêmica à proposição teórica, a piada às idéias, a irreverência à intuição histórica, o gracejo à intuição filosófica”. (NUNES, 1970, p.xxv). 110 maestria Elaborado através de referências teóricas vindas de campos distintos mas que, de certa forma, se entrecortam — como a filosofia, a psicanálise, a antropologia e a sociologia — e estéticas — como o dadaísmo e o cubismo —, o Manifesto levantará uma crítica radical da cultura brasileira por sua submissão histórica em termos intelectuais, econômicos e políticos ao etnocentrismo europeu, lançando a palavra antropofagia “Contra todas as catequeses [...] e Contra todos os importadores de consciência enlatada”. (ANDRADE, 1970, p.13-14). Reivindicando um outro tipo de humanismo, fundado na nossa ancestralidade, o Manifesto tomará posição: “Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos humanos”. (ANDRADE, 1970, p.14). Construído pelo viés de um discurso que se afasta da lógica, assim como da retórica clássica, lançando mais intuições do que propostas “consistentes” e “bem fundamentadas” e, em alguns trechos, beirando ao ufanismo, o Manifesto antropófago dirigir-se-á “Contra o mundo reversível e as idéias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas interiores”. (ANDRADE, 1970, p.15). Tal projeto se recusará a ver o indivíduo como vítima; e procurará valorizar a dinâmica do pensamento e suas conquistas interiores, buscando acabar com o seu complexo de inferioridade diante do sistema. A sociedade patriarcal com seus códigos de conduta moral e tabus também será atacada por Oswald, que proporá “A transfiguração do Tabu em totem.”(ANDRADE, 1970, p.17). O antropofagismo se colocará, portanto, como um ato de devoração crítica de toda uma tradição cultural que será deglutida, rejeitada ou assimilada e transformada em outra coisa e, ao se misturar ao nosso próprio caldo cultural, não será mais o que era antes, mas se transformará em algo novo. Desta forma, o antropofagismo será abertura para o Outro, incluindo aí tanto o diálogo do primitivismo com o futurismo, quanto o cotejamento de certos traços de tradições antigas com o contemporâneo. maestria Sete Lagoas n.2 p. 109-119 jan./dez. 2004 111 No livro O lúdico e as projeções do mundo barroco I: uma linguagem, a dos cortes, uma consciência a dos luces, o poeta Affonso Ávila, referindo-se à tradição na arte, irá afirmar que “a arte nova, a literatura nova têm a obrigação de saber que toda criação, não obstante a sua modernidade, a sua novidade, está apoiada sempre numa linha de tradição, elemento dinâmico a mover e impulsionar o processo estético”. (ÁVILA, 1994, p.36-37). Como podemos perceber, de acordo com o autor, é toda uma dinâmica da tradição que dará mobilidade e impulsão ao processo estético, sendo que o ato de criar não surge do nada, sem nenhuma referência, como se a elaboração de uma obra literária moderna, ou mesmo antiga, fosse completamente desvinculada no tempo de outras obras. No entanto, não há uma única maneira de concebermos a tradição, assim como esta não se inscreve em apenas uma linha de pensamento. Para o nosso propósito, procuraremos entender melhor como os escritores modernistas Oswald e Mário de Andrade interpretaram e interpelaram criticamente uma certa tradição fundada na idéia de cânone (mesmo que para isso apoiados em outra) e como foram buscar, nas raízes primitivas de nossa cultura, o revigoramento de uma tradição mais funda e vital, uma vez que não domesticada pelos valores cristãos europeus. Em sua dissertação de mestrado sobre Ciência da devoração: Roteiros da nacionalidade na antropofagia oswaldiana, Adriano Bitarães Netto irá precisar duas questões fundamentais abrangidas pela teoria antropofágica oswaldiana nos anos vinte; são elas: “como construir uma tradição cultural legítima no país e como se relacionar com a tradição estrangeira”. (BITARÃES NETTO, 2002, p.9). Sobre esses aspectos, o autor irá assinalar “o duplo olhar antropofágico” que se voltará para o resgate das tradições do país e, ao mesmo tempo, não se fechará dogmaticamente para as discussões estéticas da vanguarda européia. Segundo Bitarães Netto (2002, p.9): A Antropofagia constituiu-se, assim, a partir de um duplo olhar: um para dentro do país, outro para fora — um preocupava-se em resgatar o folclore, as comidas típicas e as variantes lingüísticas, além de evidenciar as questões de ordem estru- 112 maestria tural da nação, tais como a miscigenação, o sincretismo e as doenças que assolavam o Brasil no início do século; o outro, instigado com as discussões estéticas divulgadas pelas vanguardas européias, observava as ousadias dos impressionistas, dadaístas, cubistas e surrealistas para, posteriormente, reelaborá-las dentro de um projeto nacional. A partir da obra de autores que podemos considerar críticos da cultura e da tradição filosófica como, entre outros, Nietzsche, Freud e Marx e de uma arte de vanguarda que já se interessava por esses mesmos autores, buscando no primitivo e no inconsciente novos elementos e formas de expressão que provocassem ruptura com toda uma concepção de tradição já cristalizada, para daí buscar o novo, Oswald de Andrade procurou [...] resolver o impasse da proximidade e diferença com a cultura estrangeira. Segundo ele, assim como o canibal, o brasileiro deveria devorar o estrangeiro e absorver, a partir desse gesto crítico, o que fosse de interesse para o organismo nacional. Isso significa que por um lado a arte nacional reconhece o seu vínculo com a produção estrangeira, mas, por outro, ela evidencia o seu gesto parricida e independente. (BITARÃES NETTO, 2002, p.11). Devorando antropofagicamente o estrangeiro, o artista brasileiro deveria assimilar, numa postura aberta e não dogmática, aquilo que pudesse servir para a reconstrução de um organismo social e cultural doente, buscando sua independência do colonialismo europeu por meio de uma posição de insubmissão e de afirmação de sua nacionalidade. A escritora Leyla Perrone-Moisés, ao comentar a função crítica do antropofagismo oswaldiano, afirmará que “Há [...] na devoração antropofágica, uma seleção como nos processos da intertextualidade. Ao mesmo tempo que o Manifesto antropófago diz: ‘Só me interessa o que não é meu’, diz também: ‘Contra os importadores de consciência enlatada’”. (PERRONE-MOYSÉS, 1990, p.96). Tal atitude é seletiva quanto ao que será assimilado da tradição, pois, do mesmo modo que na elaboração de um texto, nem tudo é aproveitado, absorvido, digerido e transformado no ritual antropófago. E, no que diz respeito à relação do modernismo com a tradição, a autora irá maestria Sete Lagoas n.2 p. 109-119 jan./dez. 2004 113 dizer que quanto a esta “Oswald propõe uma história sincrônica, que nos liberta de dívidas para com o passado europeu: ‘Contra as histórias do homem que começa no Cabo Finisterra. O mundo não datado. Não rubricado. Sem Napoleão. Sem César’(Manifesto antropófago).” (PERRONE-MOISÉS, 1990, p.96). Sobre a questão do relacionamento da tradição cultural brasileira com a cultura estrangeira, o poeta e crítico literário Haroldo de Campos, no texto “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”, salientará a “necessidade de pensar, a partir da antropofagia Oswaldiana, o nacional em relacionamento dialógico e dialético com o universal” (CAMPOS, 1992, p.234). O autor de Galáxias definirá a antropofagia de Oswald como o pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliadora do “bom selvagem” [...], mas segundo o ponto de vista desabusado do “mau selvagem”, devorador de brancos, antropófago. Ela não envolve uma submissão (uma catequese), mas, uma transculturação; melhor ainda, uma “transvaloração”: uma visão crítica da história como função negativa (no sentido de Nietzsche), capaz tanto de apropriação como de expropriação, desierarquização, desconstrução. Todo passado que nos é “outro” merece ser negado. Vale dizer: merece ser comido, devorado. (CAMPOS, 1992, p.234-235). A máquina devoradora antropofágica, inspirada nos índios antropófagos, canibais que devoravam, entre os seus oponentes, apenas os mais valentes guerreiros, com o intuito não somente de comê-los, mas fundamentalmente de assimilar as suas grandes qualidades — como valentia, coragem etc. — é, para Haroldo de Campos, um pensamento desabusado e não submisso ao legado cultural universal, uma vez que ela o devora mas fazendo-o passar pelo filtro da crítica, assimila-o e negao; em síntese, opera no seu núcleo digestivo uma desconstrução dos valores de nossa cultura re-criando, a partir de seus próprios elementos digeridos e para além destes, os seus próprios valores, passado e história; elaborando, no sentido nietzschiano do termo, uma transvaloração de todos os valores. 114 maestria O antropofagismo oswaldiano, colocando-se na contracorrente de toda uma tradição milenar fundada no platonismo e forjada nos conceitos de idéia e aparência, em que já está implícita a questão do original e da cópia, é subversivo — no sentido de nos permitir olhar para o nacionalismo e pensá-lo de um lugar outro, fora dos complexos de inferioridade com relação à cultura européia e sem cairmos numa visão retrógrada e xenofóbica de buscarmos uma cultura autenticamente nacional, sem considerarmos o que se produz em outros países. Daí a necessidade de se pensar a diferença, o nacionalismo como movimento dialógico da diferença (e não como unção platônica da origem e rasoura acomodatícia do mesmo): o des-caráter, ao invés do caráter; a ruptura, em lugar do traçado linear; a historiografia como gráfico sísmico da fragmentação eversiva, antes do que como homologação tautológica do homogêneo. Uma recusa da metáfora substancialista da evolução natural, gradualista, harmoniosa. Uma nova idéia da tradição (antitradição), a operar como contravolução, como contracorrente oposta ao cânon prestigiado e glorioso. (CAMPOS, 1992, p.237). Recusando, portanto, os modelos intelectuais consagrados e as interpretações de cunho substancialista e evolutivista, a antropofagia irá fazer o caminho inverso, valorizando o fato de se pensar a diferença, buscando as lacunas da história e cunhando nas rupturas de nossa cultura uma nova idéia de tradição; sustentando, assim, seu projeto de forma subversiva, na contracorrente de uma tradição engessada pelo conservadorismo. Uma forma de buscar os elementos de nosso passado cultural, que já haviam se perdido nos vãos de nossa própria história, se deu pela tradução de textos dos primórdios do Brasil, o que teve uma importância decisiva para a construção de nosso modernismo, pois: A tradução e a veiculação dos textos dos primeiros cronistas que retrataram o Brasil foi um dos grandes projetos dentro do Modernismo brasileiro. Vistos como uma bibliografia indispensável para a constituição da nacionalidade brasileira, os escritos passaram a ser recuperados em dois aspectos: o arqueo- maestria Sete Lagoas n.2 p. 109-119 jan./dez. 2004 115 lógico (buscando para o Brasil uma documentação legítima de sua história) e o intertextual (daí as constantes referências a tais autores nas obras modernistas) (BITARÃES NETTO, 2002, p.41). Com o modernismo e a nacionalidade brasileira sendo recuperados nos seus aspectos arqueológico e intertextual, escritores como Mário e Oswald de Andrade e artistas como Tarsila do Amaral e Cícero Dias passaram a abordar as questões sociais, políticas e econômicas brasileiras buscando mostrar, caricatural e satiricamente, nossa dependência para com a cultura européia; mas também, por outro lado, mostrando um povo alegre, aberto, receptivo para o alheio e criativo. Textos como Macunaíma, de Mário de Andrade, misturaram a pesquisa antropológica sobre nosso folclore e nossa mitologia indígena com a ficção e, trabalhando no intertexto com o real e o ficcional, criaram personagens como o que dá título ao livro, um “herói sem nenhum caráter”. Relatando o que lhe interessou em Macunaíma, Mário afirmará que foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entidade nacional dos brasileiros. Ora depois de pelejar muito verifiquei uma coisa que parece certa: o brasileiro não tem caráter.[...] O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria nem consciência tradicional. [...] Este livro [Macunaíma] afinal não passa duma antologia do folclore brasileiro. Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a fauna e flora geográficas. Assim desregionalizava o mais possível a criação ao mesmo tempo que conseguia o mérito de conceber literariamente o Brasil como entidade homogênea — um conceito étnico nacional e geográfico.(ANDRADE citado por CAMPOS, 1992, p.171-172). A busca — por meio de elementos historiográficos, arqueológicos, antropológicos, geográficos — de um conceito étnico da nacionalidade brasileira foi o modo pelo qual Mário tentou traduzir não somente o caráter ou o não caráter do brasileiro, mas o enigma do que é ou de como se formou a cultura brasileira, ou do que é o povo brasileiro — estudado pelo viés dos traços que este traz das culturas indígena, européia e negra, mas talvez, e fundamentalmente, por uma análise con- 116 maestria duzida por Mário pela negativa, buscando entender o que nos falta, ou seja: civilização própria e consciência tradicional. A escritora Susana Kampff Lages trabalhou, em algumas páginas do seu livro Walter Benjamin: Tradução e Melancolia, em uma abordagem sobre o lugar da antropofagia como estratégia de leitura e apropriação da tradição. Em sua definição sobre ato de traduzir, Kampff Lages “inclui um questionamento sobre o lugar das obras literárias dentro de uma determinada tradição cultural e sua relação com outras obras que as precederam ou mesmo suas contemporâneas.” (LAGES, 2002, p.88). Sendo assim, saber o lugar que a obra ocupa dentro de uma tradição cultural e situar a relação desta com outras obras no tempo e na história (não entendidos, no caso, num sentido linear, mas com as rupturas e fragmentações que esses conceitos implicam) é determinante para se estabelecer parâmetros na realização de uma tradução crítica e não submetida ao contexto cultural de onde foram produzidos os textos. A atitude e a radicalidade do conceito de antropofagia, relacionadas à questão da tradução, possibilitarão, por esta via, uma releitura ativa e seletiva dos textos literários, no sentido de estes serem digeridos e assimilados dentro de um contexto outro, ou seja, pertencente às nossas próprias questões, assim como aos nossos interesses e objetivos culturais e não aos que lhes são externos. Segundo Kampff Lages, a importância do conceito de antropofagia reflete sobretudo uma atitude diante da tradição poética tanto brasileira quanto universal, que não se deixa mais definir nos termos tradicionais de “influência””, no sentido de uma assimilação passiva de elementos externos. Trata-se de um processo de violenta apropriação, que se constitui a partir de uma releitura conscientemente seletiva do substrato literário passado e contemporâneo. (LAGES, 2002, p.90). Uma atitude de apropriação do texto alheio não pode estar submetida passivamente à tradição e, para tanto, requer uma estratégia de leitura rigorosa e com o devido distanciamento crítico desta. A tradução, como um ato de devoração antropofágico, implica até mesmo uma certa violência ou rup- maestria Sete Lagoas n.2 p. 109-119 jan./dez. 2004 117 tura com o que já foi, a priori, estabelecido, sendo um dos elementos primordiais para que se faça uma releitura não submetida passivamente a certas opiniões consensuais a respeito das obras mas, pelo contrário, que produza, a partir do substrato literário estudado, um movimento de aproximações e distanciamentos, não se deixando aprisionar ideológica ou dogmaticamente e, assim, criando um outro contexto, onde o ato de traduzir produza novos referenciais. Sendo assim, Do ponto de vista cultura brasileira, [...] a imagem da apropriação textual como ato de canibalismo representa o contrário do que ele pode representar dentro das culturas ditas hegemônicas: a liberação de um cânone assimilado acriticamente ao longo da história literária — o oposto (complementar?) do etnocentrismo domesticador das culturas angloamericana ou européia (LAGES, 2002, p.93). O efeito dessa concepção de tradução vinculada ao ato canibalista, provocaria, portanto, uma ruptura com a história literária, liberando-nos dos cânones acriticamente assimilados, assim como do etnocentrismo anglo-americano ou europeu. Referências ÁVILA, Afonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco I: uma linguagem a dos cortes, uma consciência a dos luces. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1994. 244p. ANDRADE, Oswald. Obras completas — 6: do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972. 228p. BITARÃES NETO, Adriano Ciência da devoração: roteiros da nacionalidade na antropofagia oswaldiana. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Letras, 2002. 137p. CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem e outras metas. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 314p. LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin: tradução e melancolia. São Paulo: Edusp, 2002. 258p. 118 maestria NUNES, Benedito. Antropofagia ao alcance de todos. In: ANDRADE, Oswald de. Obras completas — 6: do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972. p.xi - liii. PERRONE-MOISÉS. Leyla. Literatura comparada, intertexto e antropofagia. In: ______.Flores da escrivaninha: ensaios. São Paulo: Companhia das letras, 1990. p.91-99. m maestria Sete Lagoas n.2 p. 109-119 jan./dez. 2004 119 A memória do saber, da dor, da vida e da morte em romances e outras narrativas matemáticas Leni Nobre de Oliveira * Para o matemático Frederico, que incitou-me com os livros metamatemáticos e com as excentricidades da matemática, enquanto seduzia-me com MPB. * Licenciada em Letras (Português/Inglês e suas literaturas) pela UFV. Especialista em Literatura Brasileira pela PUC-Minas. Mestre em Teoria da Literatura pela UFMG. Doutoranda em Literatura Comparada pela UFMG. Pesquisadora sobre processos de canonização pela FAPEMIG. A beleza de um teorema matemático depende muito da sua seriedade, como também na poesia a beleza de um verso pode depender, até certo ponto, da significação das idéias que contém. A matemática não é uma disciplina contemplativa, mas criativa; ninguém pode tirar muito consolo dela quando perdeu o poder ou o ensejo de criar. G. H. Hardy Resumo O saber humano, artificialmente confinado em suas áreas departamentais, extrapola essas barreiras limítrofes e, como é próprio de sua constituição e de sua essência desde sua prática pelos povos antigos, interpenetra-se nas várias áreas consideradas delimitadas, o que provoca a transmigração e a transmutação dos “saberes”. Tendo como partida a leitura dos romances e vários livros metamatemáticos de vários autores, tentamos compreender a memória de matemáticos e sobre matemáticos, bem como as reflexões sobre essa ciência deixadas em obras de ficção e relatos. Este texto enfoca a importância da associação da leitura de literatura com as maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 121 outras áreas de conhecimento por meio da intertextualidade e da transdisciplinaridade; e confirma a importância da leitura de ficção como instrumento de reflexão entre os homens e como experimentação da realidade. Palavras-chave: transdisciplinaridade; interdisciplinaridade; matemática; literatura; operadores reticulares; memória do saber; saber articulado. Abstract Human Knowledge, artificially circumscribed into department areas of knowledge, has extended the frontiers and enclosed the delimited areas since its practice by the ancients. This causes the transmigration and the transmutation of Knowledge. Using metamathematical romances and other narratives that include this theme, we try to understand the memory of and about mathematicians, as well as the reflection about this science, which is found in fiction and reports. This work analyses the relevance of the association between literature and other ways of Knowledge, using intertextuality in fiction as a way of reflection among human beings and as an experimentation of reality. Keywords: transdisciplinarity; interdisciplinarity; mathematics; literature; reticular operators; memory of knowledge; articulated knowledge. Confinado em suas áreas disciplinares e departamentais, percebemos o reconhecimento de que o saber humano extrapola as barreiras limítrofes disciplinares e departamentais e, como é próprio de sua constituição e de sua essência desde sua prática pelos povos antigos, interpenetra-se nas várias áreas consideradas delimitadas, o que provoca a transmigração e a transmutação dos “saberes”. Essa transmigração do saber é tão evidente que a USP lançou um novo curso de graduação batizado como Humanidades, cujo objetivo é oferecer uma graduação interdisciplinar que possa formar “poliglotas culturais”. E a transmutação também é um elemento em pauta, já que os cursos são mutantes. Uma das sete teses 122 maestria que explicam os seus principais objetivos e norteiam a forma como ele deve ser constituído é que seja um curso experimental, flexível, podendo mudar constantemente. (GIRARDI, 2003, p.36). Antecipando essa perspectiva, em 1999 a UFMG oficializou uma prática que se instalara no modo de pensar sobre o conhecimento e sua prática. Criou o IEAT — Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. Tendo por missão a promoção da transdisciplinaridade e por foco não a reorganização pedagógica das disciplinas, mas a pesquisa, o IEAT buscará apoio, em vista de provocar sua inflexão, nas práticas e nas elaborações interdisciplinares já em curso na Universidade, assim como procurará favorecer a emergência e implantação de grupos e projetos transdisciplinares. (DOMINGUES, 2001, p.10). Tais posturas possibilitam pensar que a memória do saber age de forma rizomática, como num modelo darwiniano de evolução, em que o agir e o pensar humanos são ramificações em cadeia. E os vários objetos de uso humanos, sejam eles naturais ou artificiais(incluindo aí o próprio corpo humano) parecem-nos resultados de uma evolução arquivada na memória coletiva de forma transcendental. Um dos usos culturais humanos que nos chamam à atenção é a literatura, por seu poder transculturador e transmigrador do conhecimento. Considerada perniciosa por Platão em sua República, pela sua incapacidade de representar de forma adequada o mundo das idéias, sendo um dos mais precários simulacros, é exatamente ela, a literatura, que propicia o discurso de Platão, a construção e simulação de sua cidade ideal, construída no diálogo e na narrativa. Toda a cidade (a república) e o discurso com que ele a elabora são simulacros, porque representados pelo signo lingüístico (a littera) de forma alegórica (ficcional), em que situações eram simuladas pelo discurso literário, para que ele pudesse construir outro discurso, o filosófico. A simulação do mundo por meio do signo lingüístico é uma das atribuições dadas à literatura no seu sentido restrito, e é por meio, então, da literatura que é possível a Platão simular a cidade que coloca em discussão. maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 123 1 Dr. C. P. Snow: amigo de Hardy com quem conviveu nos últimos anos de sua vida e que prefaciou o livro Em defesa de um matemático. 2 SNOW, C. P. Introdução. In: HARDY, G. H. Em defesa de um matemático. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 47. 3 Idem. 124 Para Snow 1, Em defesa de um matemático, de Hardy, “se for lido com a atenção textual que merece, é um livro de uma tristeza enorme. [...] Mas também é, de um modo estóico e discreto, um lamento apaixonado por um poder criativo que existira, mas nunca voltaria a existir.” (SNOW, 2000, p.47).2 Por ser um lamento, um desabafo, pode-se dizer que a obra em questão é manifestação do eu-lírico e tem sua função catártica. A própria matemática, vista por Hardy, apresenta-se como uma forma de catarse: “A matemática pode, como a poesia ou a música, promover um hábito elevado e, assim, aumentar a felicidade dos matemáticos e mesmo de outras pessoas.” (HARDY, 2000, p.110). E é o mesmo Hardy que confessa ter sido a literatura inspiradora de seu interesse em ser um vencedor em matemática quando relata que, aos quinze anos, suas ambições se tornaram mais aguçadas, devido ao fato de ter lido um livro, A Fellow of Trinity, de Alan St. Aubyn, que tratava da vida universitária em Cambridge. Ali dois alunos e seus perfis de estudantes são contrapostos e Hardy se identifica com o vencedor, Flowers, que se tornaria um “fellow”; não com o perdedor, Brown. Hardy, comungando com Platão a perspectiva de ser a literatura um fraco simulacro, afirma que não conseguia se convencer de que as chamadas idéias poéticas realmente existam. “A poesia não é a coisa que se diz, mas uma maneira de dizer.” (HARDY, 2000, p.80). No entanto, é por meio de um texto memorialístico, de profunda tristeza e paixão que Hardy defende a matemática ao se defender por fazer apologia em vez de produzir grandes descobertas ou realizar trabalhos criativos, como é considerado próprio e digno do verdadeiro matemático. Sobre esta obra, Em defesa de um matemático, é ainda Snow que afirma: “Não conheço nada semelhante a ele na nossa língua, em parte porque a maioria das pessoas que têm o dom literário para expressar tal lamento nunca o sentem: é muito raro um escritor perceber, com o caráter definitivo da verdade, que está absolutamente acabado.”3 Isso sugere que o discurso de Hardy é verdadeiro, como é verdadeiro seu depoimento, nele presente, enquanto no discurso dos escritores estaria o fingimento do sentir dor, já que maestria nunca o sentem quando expressam um lamento. Desse modo, pelas palavras também de C. P. Snow, o discurso literário apresenta-se como o contestável; e o discurso não literário, como aquele não passível de contestação. A literatura constrói seu sentido à revelia do discurso oficializado como científico ou referencial; e, nesse espaço esteticamente criado, ela, sem nenhum entrave, dialoga com os demais saberes. Se Freud pode ser considerado um bom leitor dos textos literários, também um bom escritor, antes mesmo de ser um cientista, foi ainda aquele que criou uma ciência cujo mote do discurso tem, muitas vezes, a construção dos modos de ser e de comportar humanos arquivados e observados nas narrativas míticas primitivas e em textos literários. E, sem a primeira intenção de produzir conhecimento (já que a ela não se pressupõe utilidade prática), a literatura intermedia a memória do saber, do prazer, da dor, da vida e da morte dos homens, enquanto registro do próprio homem, que não se dá se for de outra forma. Isso é também admitido por Snow, pois, diante da afirmação de Hardy de que Arquimedes seria lembrado quando Ésquilo tiver sido esquecido, Snow observa que “podemos formar um retrato razoavelmente coerente da personalidade de Ésquilo (mais ainda, é claro, da de Shakespeare ou Tolstoi) a partir apenas de suas obras, ao passo que Arquimedes e Eudoxo continuam a ser meros nomes.” (HARDY, 2000, p.142). Essa consideração parece-nos fornecer indício do consenso geral sobre a racionalidade do discurso matemático como incapaz de simular os sentimentos humanos, e, assim, registrá-los, ao mesmo tempo em que confirma a possibilidade de a literatura ser capaz de o fazer. No entanto, é a racionalidade matemática que permite a construção de máquinas que simulam a realidade virtual, por si mesma, um paradoxo construtível no discurso mas impossível de ser contemplado pela “realidade”. Entendemos que a literatura e seu estudo nos parecem constituir espaços privilegiados, em que os diálogos interdisciplinares e transdisciplinares possam ser construídos por meio de simulacros, do mesmo modo que a matemática possibilita simulações — a maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 125 realidade virtual — para construir as máquinas “inteligentes” que facilitam a vida do homem. Os narradores de ficção com que trabalhamos aqui (Hardy, Malba Tahan, Apostolos Doxiadis, Paul Singh) são todos ligados à matemática e estabeleceram o diálogo sobre a matemática por meio da literatura. No contato com os textos desses narradores, percebemos a permanência e a coincidência de certos aspectos do mundo do saber matemático e dos matemáticos, que consideramos indicativos importantes para que se considere a possibilidade de maior e melhor utilização da ficção paradidática como estudo e ensino dessa disciplina e como reflexão sobre ela, ao mesmo tempo que permite um maior conhecimento sobre os homens. Ao ler os textos dos autores citados, várias questões nos intrigaram. Existe um cérebro característico do matemático? Existe um rizoma nos modos darwinianos para o cérebro do matemático, já que vários são precoces e parecem ter uma capacidade inexplicável para lidar com os números? Por que vários matemáticos promovem o aniquilamento de si mesmos por meio de suicídio, alguns muito novos? Por que vários matemáticos terminaram suas vidas tomados pela loucura ou isolados de seus pares e da sociedade? Por que os matemáticos são tão obsessivos? Seria o cérebro do matemático aquele mais próximo da racionalidade das máquinas que os próprios matemáticos criam? Como explicar o autodidatismo, os insights, a precocidade e o brilhantismo prematuro de jovens matemáticos? Esses questionamentos, surgidos a partir da leitura de romances metamatemáticos e textos afins, tais como O último Teorema de Fermat, Tio Petros e a Conjectura de Goldbach, Em defesa de um matemático e O homem que calculava, não podem ser facilmente respondidos e não o pretendemos fazer aqui. Nosso interesse é observar como o diálogo literário, escrito por matemáticos, que inclui a vida de matemáticos e suas descobertas apresenta-se como discurso que nos fornece possibilidades de adentrar a vida dos matemáticos por indagações a respeito dessa ciência, de seus seguidores e sobre os estranhos, drásticos e trágicos incidentes que envolvem a vida dos matemáticos. 126 maestria Entre os que escrevem sobre os matemáticos, parece haver uma concordância de que algo diferente acontece no modo de elaborar processos mentais pelos matemáticos. Hardy afirmou que [É] comum exagerar-se de modo um tanto grosseiro as diferenças entre os processos mentais dos matemáticos e das outras pessoas, mas é inegável que o dom para a matemática é um dos talentos mais especializados e que os matemáticos, como classe, não se destacam especialmente pela habilidade geral ou pela versatilidade. Se um homem é, sob algum aspecto, um matemático de verdade, aposto cem contra um que a sua matemática será muito melhor do que qualquer outra coisa que ele possa fazer, e ele será um tolo se não aproveitasse todas as oportunidades para exercitar seu único talento e fosse fazer um trabalho medíocre em outros campos. (HARDY, 2000, p.67). Esse modo de pensar os processos mentais como algo proveniente de um talento individual, portanto muito particular, tem sua confirmação nas teorias de Gardner sobre as múltiplas inteligências. Correspondente talvez àquilo que consideramos dom, algo que sem esforço se faz presente nas ações humanas e de forma especial em algumas pessoas, o talento individual não pode ser explicado de modo científico ainda. Mas a consciência sobre sua existência está presente em todas as áreas das atividades humanas. Ter dom para a pintura, para a dança, para a literatura ou para qualquer outra manifestação humana significa ter sido privilegiado, ter recebido talentos e ainda ter vocação para algo que nem todo esforço seria capaz de reproduzir com a mesma performance. “É muito difícil encontrar na história um matemático de primeira categoria que tenha abandonado a matemática e alcançado a excelência em qualquer outro campo”. (HARDY, 2000, p.69). Ela é, portanto, uma ciência, um tipo de saber, que exige fidelidade. As sinapses que processam e produzem informações devem ser muito específicas. Existe uma rede submersa, um rizoma genético no cérebro do matemático? “[...] O cérebro se comporta como uma máquina evolutiva. Ele evolui segundo um modelo darwiniano, simultaneamente a vários níveis e de maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 127 acordo com várias escalas de tempo.” (CHANGEUX; CONNES, 1996, p.185). É possível, pois, como veremos adiante, pensar numa rede rizomática hereditária que dotaria o cérebro de possibilidades de interação com a racionalidade matemática, muito antes até mesmo de o indivíduo obter informações dessa ciência. Para Cabanis (apud CHANGEUX; CONNES, 1996.p. 171), “o cérebro secreta o pensamento como o fígado a bílis”. As sinapses são reações químicas que acontecem no cérebro. Para a ciência, nas sinapses estabelecidas encontra-se o segredo ainda não desvendado da inteligência humana. Os matemáticos conseguem elaborar cálculos, criar teorias retiradas apenas de combinações de números e imitar o cérebro por meio matemático, usando algoritmos; e o numérico é hoje a possibilidade mais concreta para a concepção de universal. Tudo se codifica com números, como se o número regesse o universo; e foram exatamente os matemáticos que conseguiram chegar mais perto da possibilidade de imitação do cérebro humano, embora os avanços das ciências biológicas tenham oferecido descobertas brilhantes sobre os processos cerebrais. Parece que as idéias matemáticas são trabalhadas em um nível diferenciado do cérebro. Hardy (2000, p.104) acreditava que as idéias matemáticas são, de certa maneira, ordenadas em camadas; as idéias de cada camada são ligadas por um complexo de relações entre si e com as idéias acima e abaixo. Quanto mais baixa a camada, mais profunda (e, de modo geral, mais difícil) a idéia. Assim, a idéia de um “irracional” é mais profunda que a de um número inteiro [...]. Para os cientistas, na realidade, não existem distinções estruturais entre o cérebro dos chamados superdotados e o das pessoas normais. O que faz a diferença é, simplesmente, o número de conexões cerebrais e o que elas representam para o indivíduo. Em crianças superdotadas, monitoradas por eletroencefalograma computadorizado, verificou-se uma maior ativação dos neurônios nas áreas cerebrais relacionadas à atividade na qual ela se destaca, seja ela lingüística, musical, 128 maestria de percepção espacial, ou de outra qualquer. No entanto, a elevada consideração com aqueles que se destacam no mundo da matemática é diferenciada. O superdotado é um gênio, mas é preciso que sua genialidade seja aprimorada. Ramanujan apresentava uma inteligência matemática privilegiada. No entanto, menos aproveitada do que poderia ter sido. Descoberto e orientado por Hardy e Littlewood, com os quais passou a pesquisar, o jovem indiano surpreendia pelo seu gênio natural. Mas só depois Hardy decidiu que “Ramanujan, no que diz respeito ao gênio natural, estava na classe de Gauss e Euler, mas não podia, em virtude das falhas da sua educação e do fato de ter entrado em cena muito tarde na história da matemática, ter a esperança de fazer uma contribuição na mesma escala.”4 Como já havíamos antecipado, um elemento que contribui para se pensar numa rede rizomática da capacidade para a matemática é a hereditariedade. “Muitos matemáticos, de ambos os sexos, são de famílias de matemáticos, dando origem a brincadeiras sobre a existência de um gene matemático”. (SINGH, 1999, p.116). Essa é uma questão sobre a qual os textos metamatemáticos despertam o interesse de investigação, já que isso é evidenciado pelos narradores. Por exemplo, “os Bernouli podiam tranqüilamente afirmar serem a mais matemática das famílias, tendo produzido oito das mentes mais extraordinárias da Europa em apenas três gerações”. (SINGH, 1999, p.91). Entre as mulheres, parece que a hereditariedade pode ter exercido poder mais evidente. Sophie Germain, Hipácia (séc. IV a. C.), Maria Agnesi (1718), Noether considerada por Einstein como “o mais significante gênio matemático criativo produzido desde que as mulheres começaram a cursar os estudos superiores” (SINGH, 1999, 118), todas são filhas de matemáticos. Haveria, portanto uma hereditariedade subjacente que determina a identidade do cérebro com uma ou outra área da inteligência humana, isto é, um gene matemático? Não seriam idéias construídas pelos discursos? Com relação à mulher, há um discurso construído pelos conceitos populares e pelo discurso hegemônico falocêntrico de que ela tem cabeça leve e não aprenderia matemática, maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 4 SNOW, C. P. Introdução. In: HARDY, G.H. Em defesa de um matemático. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 28. 129 então, conclui-se que não teria desenvolvido esse gene. Isso pode ter sido responsável pela preconceito que levou as matemáticas a uma vida tão dura e tão cercada de desrespeito e falta de consideração. Hipácia, na Alexandria, foi retirada de sua carruagem, teve suas roupas arrancadas, seu corpo arrastado para dentro do templo, a carne esfolada de seus ossos com ostras afiadas e seus membros ainda palpitantes foram atirados ao fogo por Pedro, o Leitor e seu fanáticos seguidores. Isso aconteceu porque Cirilo, Patriarca da Alexandria, instigou as massas contra ela, a primeira mulher a fundar uma escola de matemática. Sophie Germain teve de esconder-se sob o nome de um estudante que mudara da escola, Monsieur Le Blanc, para freqüentar uma universidade. A Maria Agnesi, famosa por seus tratados sobre as tangentes às curvas e reconhecida como um dos melhores matemáticos da Europa, foilhe recusada várias vezes uma vaga para pesquisar na Academia Francesa e em muitas instituições acadêmicas na França, embora os matemáticos de toda a Europa reconhecessem seus conhecimentos. Também Noether, embora respeitada por Einstein, sofreu preconceitos. Um matemático seu colega, Edmund Landau, ao ser perguntado se Noether seria uma grande matemática teria dito: “Eu posso testemunhar que ela é um grande matemático, mas se ela é uma mulher eu não posso garantir.” (SINGH, 1999, p.116). Emmy Noether também teve negado seu pedido para lecionar na Universidade de Göttingen. De todos os países europeus, segundo Simon Singh, a França era o mais preconceituoso quanto a mulheres instruídas, declarando que a matemática era inadequada para as mulheres e além de sua capacidade mental. No capítulo nove de O homem que calculava, Beremiz Samir, o calculista, é convidado a lecionar para a filha de um Xeque. Porém, ao demonstrar a necessidade de que sua filha aprendesse matemática, o Xeque narra a sua dificuldade em conseguir um professor mediante o que ouvira: Quem quisesse ensinar canto a uma girafa, cujas cordas vocais não podem produzir o menor ruído, perderia o tempo e teria trabalho inútil. A girafa, por sua própria natureza, não poderá cantar. Assim, o cérebro feminino [...] é incompatível com as 130 maestria noções mais simples do Cálculo e da Geometria. Baseia-se essa incomparável ciência do raciocínio, no emprego de fórmulas e na aplicação de princípios demonstráveis com os poderosos recursos da Lógica e das Proporções. Como poderá uma menina [...] aprender fórmulas de Álgebra e teoremas da geometria? Nunca! É mais fácil uma baleia ir a Meca, em peregrinação, do que uma mulher aprender matemática. Para que lutar contra o impossível? (TAHAN, 2001, p.63). É claro que, não havendo incentivo para que um cérebro processe informações, essas têm menos chances de ser produzidas e podem até nem o ser. Se o cérebro feminino durante tanto tempo foi considerado incapaz de processar conhecimentos matemáticos ou compreendê-los (e essa ciência não aconselhada para as mulheres), é mais do que compreensível que ele se restrinja àquilo que lhe é dado como estímulo. O modo preconceituoso ante a capacidade feminina de aprender matemática era tão arraigado, que Mary Somerville, além de os pais lhe confiscarem as velas para que não estudasse escondido à noite (o que também aconteceu com Sophie Germain), ouviu a terrível sentença: “Devemos colocar um fim nisto ou vamos ter que colocar Mary numa camisa-deforça um dia desses”. (SINGH, 1999, p.119). Sophie Germain reagiu escondendo velas. Mas seus pais confiscaram-lhes as roupas e agasalhos de dormir e ela, no intenso inverno, estudava enrolada nas roupas de cama, mesmo quando a tinta do tinteiro congelava, narra Simon Singh. Por sorte, o pai de Germain, mais tarde, decidiu custear suas pesquisas. Para os cientistas, já está claro que o ambiente em que a criança nasce e cresce é determinante para seu crescimento intelectual. Quando o ser humano nasce, seu cérebro já contém o número de células que terá quando adulto. O que acontece a posteriori, já que o cérebro no adulto aumenta de peso e de tamanho, é que se desenvolvem as fibras nervosas e se estabelecem novas conexões, responsáveis pela alteração. Se não há quantidade de mulheres equivalente aos homens que desenvolveram interesse pela matemática pode não ser porque as mulheres têm cérebros leves. Um dos motivos pode ser que, por não serem estimuladas, as conexões não aconteceram para o desenvolvimento dessa área do conhecimento. No en- maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 131 5 SNOW, C. P. Introdução. In: HARDY, G.H. Em defesa de um matemático. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 7. 132 tanto, quanto ao gênio natural, aquelas que se dedicaram à matemática parecem comprovar a existência de uma habilidade própria para a área cujo desenvolvimento independeu do meio em que viviam e extrapolou as próprias condições impostas, já que foram até mesmo proibidas de estudar. Além disso, a idéia de que a mulher desenvolveria mais o lado emocional e menos o lado racional, por isso, não aprenderia matemática não encontra mais a aquiescência geral. No trabalho pioneiro The nature of mathematical discovery, Henri Poincaré destrói o mito do matemático como um ser totalmente racional. (DOXIADIS, 2001.p. 78.). Changeux afirma que “o cérebro se comporta como uma máquina evolutiva. Ele evolui segundo um modelo darwiniano, simultaneamente a vários níveis, e de acordo com várias escalas de tempo.” (CHANGEUX; CONNES, 1996. p. 185 -186). Assim, é possível crer que inteligências especiais como a de Hardy, que “mostrou um QI excepcionalmente alto tão logo aprendeu a falar (ou mesmo antes) e que, aos dois anos escrevia números de milhões (um sinal comum de capacidade matemática)”5, como a do personagem Beremiz Samir, que tinha grande habilidade até em contar folhas de árvores enormes, camelos de uma cáfila pelo conjunto de orelhas e patas e viveiros de pássaros esvoaçantes, sejam impossíveis de ser produzidas apenas por acúmulo de informações e associações. Na matemática, inclusive, é comum se acreditar nos insights e nas visões durante o sono. Ramanujan se dizia visitado durante a noite pela deusa Namakiri; Tio Petros, matemático personagem de Apostolos Doxiadis, tinha delírios e sonhos em que os números se personificavam; e ele próprio esperava ter uma iluminação em sonho. Chegou a lidar com uma hipótese, baseada em um sonho que tivera, para a resolução da Conjectura de Goldbach. Poincaré atribui ênfase especial ao papel do inconsciente em pesquisa. Na maioria das vezes, afirma Poincaré, “as grandes descobertas acontecem inesperadamente, em uma revelação súbita que vem em um momento de repouso.” (DOXIADIS, 2001. p. 78.). Outro aspecto visivelmente presente nos textos é a obsessão. É possível que nos respondessem que existem obsessivos em todas as profissões. E concordamos com isso. Mas a descri- maestria ção do comportamento obsessivo de uma grande quantidade de matemáticos, isso considerando apenas os mais conhecidos e as obras observadas, é intrigante. A personagem Tio Petros, de Doxiadis, era tão obsessiva que mal suportava a presença da família; não visitava parentes, amigos, não freqüentava a sociedade, teve apenas uma paixão de adolescência que o acompanhou em memória pela vida e se isolava cada vez mais em seu labirinto particular. Euler era tão apaixonado e dedicado à matemática que era capaz de produzir vários trabalhos criativos em um dia. Simon Singh narra que ele não desperdiçava tempo e que “mesmo quando segurava um bebê com uma das mãos, a outra estava escrevendo uma demonstração num papel.” (SINGH, 1999, p.93). Com exceção de Theano, esposa de Pitágoras, e Sonya Kowalevsky, as demais matemáticas não se casaram. Sonya Kovalewsky, ao se casar com o matemático Vladimir Kovalewsky, sob o acordo de um relacionamento platônico, na verdade casava-se com a matemática. Em O último teorema de Fermat, Simon Singh narra que Hipácia era tão obsessiva pela matemática que quando perguntada por que não se casara ela respondia que já era casada com a verdade. Muitos matemáticos também permaneceram solteiros, como a personagem Tio Petros, de Doxiadis, Hardy, Gödel. A obsessão leva ao isolamento e à solidão. “A solidão do pesquisador que trabalha com matemática original é diferente de qualquer outra.” (DOXIADIS, 2001, p.75). Ele habita um universo inacessível ao homem comum. Por isso, “a única comunidade a que o matemático criativo pode pertencer é a de seus pares” (DOXIADIS, 2001, p.75). Mesmo assim, é comum matemáticos se isolarem da sua comunidade. Quando Sophie Germain leu que Arquimedes, durante a invasão romana em Siracusa, estava tão entretido, estudando uma figura geométrica desenhada na areia da praia, que deixou de responder a uma pergunta de um soldado romano (e, por isso, foi morto com uma lança), (SINGH, 1999, p.118) concluiu que se alguém se envolvia tanto e tão integralmente com a matemática a ponto de ser morto, a matemática devia ser o assunto mais interessante do mundo. Isso decidiu qual seria sua única ocupação na vida: dedicar-se à matemática. maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 133 O estudo da matemática leva ao isolamento pessoal porque exige abstração, o que pode estar relacionado à obsessão. As narrativas perpassam a idéia de que a matemática é uma área que só reconhece os melhores; esse tipo particular de seleção natural oferece apenas o fracasso como alternativa à glória. O fim de Gödel é descrito na ficção de Doxiadis como uma deplorável visão do pai do Teorema da Incompletude. Forrado com camadas de roupa quente, o grande Kurt Gödel, como um velho patético e transtornado, bebendo sua água quente aos golinhos, em total isolamento, naquela sala do Instituto de Estudos Avançados! A matemática é tão abstrata que Jung, num artigo sobre sua aprendizagem, relata como se sentia diante dessa disciplina. A álgebra parecia tão óbvia para o professor, enquanto que para mim os próprios números nada significavam, não eram flores, nem animais, nem fósseis, nada que se pudesse representar, mas apenas quantidades que se produziam, contando. A minha grande confusão era saber que as quantidades podiam ser substituídas por letras — que são sons, de forma que se podia ouvi-las. E mais adiante: Eu achava excessivamente arbitrário exprimir os números por sons. Por que, então, não fazer de a uma amoreira, de b uma bananeira, de x um ponto de interrogação? a, b, c, x e y nada me significam e, segundo me parecia, esclareciam menos acerca do número do que a amoreira, por exemplo! Entretanto, o que mais me irritava era o princípio: "se a=b e se b=c, então a=c." Tendo sido dado, por definição, que a é diferente de b, por conseguinte não pode ser igual a b, e ainda menos de c. Quando se trata de uma igualdade, diz-se que a=a, b=b, etc. Mas dizer que a=b me parecia uma fraude evidente, uma mentira. A habilidade para atingir essa imprescindível abstração parece privilegiar cérebros jovens. “Euler e Gauss podem ter trabalhado e produzido teoremas até uma idade avançada; no entanto suas descobertas principais foram realizadas nos primeiros anos da juventude.” (DOXIADIS, 2001.p. 65.). Newton, um dos três maiores matemáticos do mundo, renunciou à matemática aos cinqüenta; aos quarenta, sabia que sua 134 maestria criatividade havia se esgotado. Suas maiores idéias, o cálculo diferencial e a lei da gravitação, surgiram em 1666, quando ele tinha vinte e quatro anos. O próprio Newton declarou: “naqueles dias eu estava na flor da idade para a invenção e importava-me com a matemática e a filosofia mais do que em qualquer outra época desde então (HARDY, 2000, p.68). Newton foi produtivo até os trinta e sete, quando fez a descoberta da órbita elíptica. Galois morreu com vinte e um anos, Abel com vinte e sete, Ramanujan com trinta e três, Riemann com quarenta. e, na visão do sobrinho narrador em Tio Petros e a Conjectura de Goldbach, os matemáticos não são nada venturosos: Quando retornei à minha universidade, depois da visita a Sammy, consultei a biografia dos grandes matemáticos que haviam feito parte da história de meu tio. Dos seus mencionados na narrativa, apenas dois, três no máximo, haviam tido uma vida pessoal que podia ser considerada mais ou menos feliz. E esses dois, Carathéodory e Littlewood, eram, em termos comparativos, os menos importantes dos seis. (DOXIADIS, 2001, p.128). Foi talvez a angústia da perda do poder de criação, provocada pela idade, que tenha contribuído para a desistência de Hardy de viver. Após ele ter tentado o suicídio, C. P. Snow visita-o e nos deixa o seguinte relato: [Hardy] “estava contente por eu ter voltado a escrever livros: a vida criativa era a única vida digna de um homem de verdade. Quanto a si, quisera poder viver a vida criativa outra vez, exatamente como antes: sua vida estava acabada.” (SNOW, in: HARDY, 2000, p.50). Não estar criando nada novo ou ainda fracassar em uma pesquisa parece ser crucial para o destino do matemático. Por isso a Teoria da Incompletude de Gödel desespera tanto. “O mundo no qual nos movemos comporta diversas bifurcações possíveis. Este é todo o seu significado. Uma vez atribuída uma resposta à questão, podemos continuar e nos colocar novas questões. Antigas questões que não o eram tornam-se decidíveis. Cada questão indecidível cria uma bifurcação e impõe uma escolha. (CHANGEUX; CONNES, 1996, p.174). Desespera porque, para um matemático, seguir um maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 135 caminho significa investir contra o tempo. Há matemáticos que dedicaram toda uma vida à solução de um enigma. E os deixam insolúveis como o último teorema de Fermat, cuja solução demorou 358 anos para ser apresentada. Tio Petros dedica toda sua vida à solução da Conjectura de Goldbach e tropeça na possibilidade da indecidibilidade, depois até de ter mudado de linha de pesquisa e constatar que já estava ficando velho para criar. O preço é muito alto. Os exemplos de enfants terribles da matemática citados na narrativa de meu tio — Srinavasa Ramanujan, Alan Turing, Kürt Gödel e ele próprio — me haviam feito pensar duas vezes sobre minha real chance de atingir a grandeza matemática. Esses eram homens que aos vinte e cinco anos, ou até menos, haviam abordado e resolvido problemas de uma dificuldade inconcebível e de uma importância enorme. Nesse ponto, sem dúvida, puxei a meu tio: não queria ficar na mediocridade e terminar como "uma tragédia ambulante", para usar suas próprias palavras. Ramanujan tentou suicídio duas vezes; Alan Turing se matou, aos 27 anos. Singh reporta a observação de Andrew Hodges, biógrafo do criador dos computadores mais avançados do mundo na sua época, mas que não viveu para ver seus cálculos mais notáveis: “Todos sabiam que ele era uma pessoa tensa e infeliz, que estava se consultando com um psiquiatra e que sofrera um golpe que derrubaria muitas pessoas. Mas já tinham se passado dois anos do julgamento e o tratamento com hormônios tinha terminado no ano anterior.” (SINGH, 1999, p.168). O golpe de que Hodges nos fala foi a prisão de Alan Turing por violação das leis britânicas sobre homossexualidade. Outro suicida foi Tanyama, companheiro de pesquisa de Shimura, considerados a dupla matemática mais bem sucedida. Aos trinta e um anos, decide não mais viver e deixa um bilhete em que relata: “quanto à causa do meu suicídio, eu mesmo não a entendo completamente, mas não é o resultado de um incidente em particular ou de uma questão específica. Só posso dizer que estou num estado mental em que perdi a confiança em meu futuro.” (SINGH, 1999, p.197). 136 maestria Essa sensação de impotência diante do tempo está presente na apologia de Hardy, já que para ele era evidente que sua vida, fosse qual fosse o seu valor, estava acabada e já não havia mais nada que ele pudesse fazer para aumentar ou diminuir tal valor. Sobre o mesmo aspecto, o tempo, o sobrinho-narrador de Doxiadis afirma que “em qualquer outra área, Petros, aos vinte e quatro, seria um principiante de futuro, com anos de excelentes oportunidades de criação à sua frente. Em matemática, entretanto, já havia atingido o auge de sua capacidade.” (DOXIADES, 2001, p.65). O tempo de produtividade criativa do cérebro do matemático parece ser muito curto. Hardy afirma que não conhecia nenhum grande avanço matemático realizado por um homem com mais de cinqüenta anos. (HARDY, 2000, p.69). E mais adiante, reforça a sua afirmativa de que a idade está relacionada com o desempenho do matemático já que, para ele, “se um homem de idade madura perde o interesse pela matemática e a deixa de lado, é improvável que a perda seja muito séria para a matemática ou para ele mesmo. (HARDY, 2000, p.69). Assim, os textos metamatemáticos registram a angústia dos matemáticos diante do passar do tempo e da perda da capacidade criativa. De acordo com as narrativas, a matemática também parece ser um exercício excitante para o cérebro que a aprecia ou tem o dom para desenvolvê-la. O espírito competitivo faz parte do interesse dos matemáticos pelos desafios e pelas proposições de enigmas que duram séculos sem serem solucionados, segundo os textos lidos. “Embora a matemática tenha suas aplicações na ciência e na tecnologia, não é isso que impulsiona os matemáticos. Eles são atraídos pela alegria da descoberta.” (SINGH, 1999, p.158). Doxiadis expõe essa mesma opinião. Para ele, “embora, talvez, os membros mais espiritualizados da comunidade científica sejam indiferentes aos ganhos materiais, não há um entre eles que não seja guiado pela ambição e por um forte impulso competitivo.” (DOXIADES, 2001, p.64). Foi esse mesmo espírito competitivo que fez com que a personagem Tio Petros se isolasse do mundo e da comunidade a que pertencia. Essa personagem é ficcionalizada como o cola- maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 137 borador da tríade de matemáticos Hardy/Ramanujan/Littlewood, mas a abandona temendo compartilhar suas descobertas. Assim, deixa de saber das pesquisas e publicações recentes e, por isso, quando comunica resultados parciais de seu trabalho, descobre que dois outros estudiosos já os haviam publicado. A obsessão em ser o número 1 era tão grande que, embora gostasse de Ramanujan, Tio Petros vê alívio da ameaça de que alguém descobrisse a solução da Conjectura primeiro, quando esse matemático morreu, pois ele acreditava que só o jovem indiano poderia chegar a esse feito. Abordado certa tarde pelo jovem matemático Alan Türing que lhe pedia a tradução de um artigo em alemão, tomou conhecimento por meio dele que se tratava do Teorema da Incompletude de Gödel. Posteriormente, seu desespero ao conhecer o franzino jovem Gödel levou-o a agredi-lo em busca da resposta da terrível pergunta: a conjectura de Goldbach incluir-se-ia entre os indecidíveis? O estudioso da matemática gosta da prática de exercícios mentais O prazer em pesquisar parece ter sido a melhor das atividades de Hardy já que ele não gostava de ensinar. Ele sempre teve muito tempo para as pesquisas, que foram, em suas próprias palavras, “a única grande felicidade permanente da minha vida. Tive facilidade para trabalhar com os outros e colaborei em grande escala com dois matemáticos excepcionais, e isso me permitiu dar à matemática uma contribuição muito maior do que eu poderia razoavelmente esperar.” (HARDY, 2000, p.138). Com efeito, a juventude criativa de Ramanujan na tríade fez durar a vida produtiva de Littlewwod e de Hardy. A proposição e solução de problemas, jogos e enigmas na verdade é o ponto forte dos romances e narrativas de que tratamos. O último Teorema de Fermat narra “a história do enigma que confundiu as maiores mentes do mundo durante 358 anos”. (SINGH, 1999, capa). Também a obra de Doxiadis se codnomina “um romance sobre os desafios da Matemática” (DOXIADES, 2001, capa). Malba Tahan apresenta a saga de Beremiz Samir, o homem que calculava, o qual, viajando pelas terras da Arábia, encontra sempre enigmas que lhe são propostos e os quais ele soluciona. Por meio de uma narrativa envolvente, os problemas são propostos. Malba Tahan, mistu- 138 maestria rando ficção, lógica, matemática, filosofia e cultura árabe, elabora uma obra que desperta o interesse pela matemática, em que situações são simuladas para que os números se apliquem ao contexto narrativo. Chamou-nos à atenção ainda, na leitura dos textos abordados, a consciência de que a matemática está intrinsecamente relacionada a outras áreas do saber. Quando G.H. Hardy declarou, em 1940, que a melhor matemática é na sua maior parte inútil, ele acrescentou, rapidamente, que isso não era necessariamente ruim. “A verdadeira matemática não tem efeito sobre a guerra. Ninguém, até agora, descobriu qualquer utilidade bélica para a teoria dos números.” (SINGH, 1999, p.159). Logo se demonstraria que Hardy estava errado. Sem a matemática, como lidar com a logística? E, sem a logística, como teria sido a guerra contra o Iraque? Para Hardy, fazer matemática é fazer arte, porque ele vê na sua prática a função estética e a catártica; e as vê como um jogo. “O estudo da matemática é uma ocupação que, apesar de pouco lucrativa, é perfeitamente inofensiva e inocente.” (HARDY, 2000, p.69), teria ele dito. O pobre Hardy presenciou em seu tempo a utilização da matemática e dos matemáticos com fins bélicos, quando seus colegas serviram na guerra e ele só não ficou mais angustiado porque trabalhava com Ramanujan. Mas calou-se sobre isso. Para Hardy, “a matemática 'de verdade' dos matemáticos de 'verdade', a matemática de Fermat, Euler, Gauss, Abel e Riemann, é quase totalmente 'inútil'. [...] Não é a utilidade do seu trabalho que dá sentido à vida de um matemático profissional.” (HARDY, 2000, p.112). Talvez a facilidade natural de Hardy para a matemática e seu sucesso precoce, somados ao fato de ele mesmo ter declarado que nunca se preocupou com dinheiro nem com trabalho, tenha produzido nele esse sentimento estético para a matemática. Porém ele não é o único a pensar a matemática como arte. Pedro Tavares considera que ela “possui também um valor filosófico, de que aliás ninguém duvida; um valor artístico, ou melhor, estético, capaz de lhe conferir o direito de ser cultivada por si mesma, tais as numerosas satisfações e júbilos que essa ciência nos proporciona”. maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 139 Hardy vê a matemática como uma arte e de todas as artes e ciências, a mais austera e a mais inacessível. E o matemático, entre todos os homens, é o que mais facilmente pode procurar refúgio onde, como diz Bertrand Russell, 'pelo menos um dos nossos mais nobres impulsos pode escapar ao exílio do mundo real.' (HARDY, 2000, p.133). O efeito catártico, conceito caro a Aristóteles, é atribuído à matemática, como à literatura. O pensamento platônico de Hardy leva-o a comparar a matemática com a literatura várias vezes. Para ele, as realizações da matemática podem até ser pequenas, “mas têm certo caráter de permanência; e ter produzido qualquer coisa que, embora pequena, conserve permanentemente o seu interesse — seja uma coletânea de poesias, seja um teorema geométrico — eqüivale a ter feito algo que vai muito além da capacidade da imensa maioria dos homens.” (HARDY, 2000, p.73). Ao afirmar a permanência do número com mais durabilidade do que as palavras, já que os matemáticos trabalham com as idéias, Hardy nos confirma seu pensamento platônico. O poeta lida com as palavras, como o pintor lida com as cores. “O matemático, por outro lado, não tem outro material com que trabalhar a não ser as idéias; portanto, é provável que seus desenhos durem mais, já que as idéias se esgarçam menos com o tempo do que as palavras.” (HARDY, 2000, p.80) “Na verdade, porém, há algo a dizer, já que existe pelo menos um objetivo a que a matemática de verdade pode servir na guerra. Quando o mundo enlouquece, o matemático pode encontrar na matemática um sedativo incomparável”. (HARDY, 2000, p.133). Em sua pureza e ingenuidade, própria do artista que se entrega ao deleite de sua arte, como um amante que defende os defeitos de sua amada, Hardy inocenta a matemática e o matemático de sua responsabilidade na guerra. Ele admite haver dúvida de que pelo menos uma parte da matemática tem utilidade e que os “engenheiros não poderiam trabalhar sem um razoável conhecimento operacional de matemática; e a matemática está começando a encontrar aplicações até mesmo na fisiologia”. (HARDY, 2000, p.109). A con- 140 maestria sciência da transmigração do conhecimento estaria aí presente. “A matemática de Whitehead pode afetar profundamente a astronomia ou a física, pode afetar bastante a filosofia — uma espécie de pensamento elevado sempre tem probabilidade de afetar outra espécie de pensamento elevado.” (HARDY, 2000, p.109). Vemos a literatura como uma espécie de pensamento elevado, dado seu grau de simulação de mundos e de interferência nos modos de ser e de pensar humanos. Sendo uma das mais antigas práticas culturais, principalmente pelo ato de narrar, constitui-se como instrumento de arquivo de história e memória, ao mesmo tempo em que reflete sobre o humano e não raro tem sido usada como forma de ensinamento nas várias modalidades do saber, por meio da representação do mundo. Esses aspectos apontados em nosso trabalho apenas servem para manter a discussão sobre o papel da literatura como elemento de unificação do diverso, do disperso e do fragmentado modo de lidar com o conhecimento. Muitos outros aspectos latentes poderiam ser abordados, mas faz-se necessária a restrição. Para Weil, “a arte procura não só refletir em muitos aspectos a produção científica e tecnológica como também os materiais que são produtos da tecnologia científica.” (WEIL, 1993, p.20). Desse modo, percebemos que a arte pode lidar com efetividade com o saber em rede como hoje ele se processa, oferecendo-se como fronteira transmigratória de saberes e como ponte transgressora dessas mesmas fronteiras, como o é a literatura. Se a não separatividade entre as áreas de conhecimento já era praticada pelos pré-socráticos e já fazia parte da experiência transpessoal dos místicos de todas as tradições culturais ou fora dela, a prática da transdisciplinaridade potencializa as ações favoráveis para um debate mais evidente e efetivo das práticas culturais de se lidar com esse conhecimento. Daí concluímos ser proveitoso pensar a literatura como importante operador reticular do conhecimento, como inestimável instrumento de reflexão sobre a prática dos saberes diversos e que, além disso, ainda funciona como arquivo de dados sobre a alma humana, de suas angústias, de suas obsessões, de seus sofrimentos, de sua dor, de seu prazer e de seus comporta- maestria Sete Lagoas n.2 p. 121-142 jan./dez. 2004 141 mentos diante dos questionamentos sobre si mesmo e o mundo em que vive. As narrativas metamatemáticas constituem-se fonte de pesquisa transdisciplinar e facilitariam o debate sobre essa área do conhecimento, sua prática e a especificidade daqueles que com ela lidam. Referências CHANGEUX, Jean-Pierre; CONNES, Alain. Matéria e pensamento. Trad. Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: UNESP, 1996. DOMINGUES, Ivan (org.). Conhecimento e transdisciplinaridade. Belo Horizonte: UFMG/IEAT/UFMG, 2001. DOXIADIS, Apostolos. Tio Petros e a conjectura de Goldbach: um romance sobre os desafios da matemática. Trad. Cristiane Gomes de Riba. São Paulo: Ed. 34, 2001. GIRARDI, Giovana. Seu futuro: um curso só de humanidades. Galileu, São Paulo, n. 138, p.36-37, jan.2003. HARDY, G. H. Em defesa de um matemático. São Paulo: Martins Fontes, 2000. SINGH, Simon. O último teorema de Fermat. Trad. Jorge Luiz Calife. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 1999. TAHAN, Malba. O homem que calculava. 55. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 2001. WEIL, Pierre et. al. Rumo a nova transdisciplinaridade: sistemas abertos de conhecimento. São Paulo: Summus, 1993. m 142 maestria O uso de expressões idiomáticas em textos publicitários Aderlande Pereira Ferraz * Kariny Cristina de Souza ** Resumo * Doutor em Lingüística pela UNESP. ** Graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas. Este artigo apresenta um estudo descritivo de algumas expressões idiomáticas encontradas na linguagem da propaganda, especialmente em alguns exemplares das revistas Veja, Época e Istoé, procurando mostrar a dinamicidade da língua portuguesa, pelo surgimento de expressões idiomáticas, criadas por mecanismos formadores desta língua. Palavras-chave: descrição; expressão idiomática; publicidade. Abstract This article offers a descriptive study of some idioms, or fixed expressions, present in publicity, specially in issues of magazines Veja, Época and Istoé, seeking to show the dynamicity of Portuguese Language through the appearance of idioms formed by mechanisms originating in this language. Keywords: description; idioms; publicity. 1 Introdução Desde a segunda metade do século XX, especialmente após a explosão criativa da década de 1960, ocorre uma inversão no processo de produção artística. A publicidade passa a exercer sua influência na comunicação e sua presença pode ser vista em vários setores. É quando os jornais deixam de ser apenas informativos e adotam a linguagem persuasiva (tanto escrita quanto visual); e o estilo publicitário estende-se às várias manifestações culturais (música, literatura etc.), a partir da década de 1980. maestria Sete Lagoas n.2 p. 143-153 jan./dez. 2004 143 De conformidade com o objetivo a que se propõe, este trabalho procura analisar as expressões idiomáticas em uso na linguagem da propaganda, veiculada em revistas noticiosas brasileiras, considerando-se que a linguagem publicitária se caracteriza pela riqueza de recursos expressivos que facilitam a interação com o destinatário. Algumas edições das revistas semanais Veja, Época e Istoé, publicadas nos anos de 2000 a 2003, foram aqui examinadas. Pretende-se então, além de verificar a ocorrência das expressões idiomáticas nos textos publicitários, identificar as formações mais freqüentes, mostrando que, ao mesclar espontaneidade e imaginação (características da língua falada) à escrita, o publicitário procura atingir leitores situados em diversos níveis sociais, e alcançar a eficácia comunicacional. 2 Conceito As unidades lexicais consideradas expressões idiomáticas são formações que expressam sentimentos, emoções, sutilezas de pensamento e têm, dentre outras, como característica principal, o sentido conotativo, apresentando, com isso, interessantes recursos semânticos, muito usados na publicidade escrita do Brasil. Essa característica, a conotação, levou-nos a realizar um estudo sobre essa forma bastante persuasiva de comunicação, mostrando que a linguagem publicitária utiliza-se de tal característica para alcançar seu objetivo. Com este trabalho, pretendemos mostrar os efeitos provocados por essas lexias complexas no texto publicitário. Segundo Xatara (1998b, p.149), expressão idiomática é uma lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural. Como locuções ou provérbios podem ser considerados lexias complexas, convém destacar que uma expressão idiomática é uma combinatória de itens lexicais em que as palavras não podem ser substituídas ou alteradas na ordem em que são apresentadas: (1)“Eu arregaço as mangas e solto a imaginação”1 (Veja,19/06/2001, p. 90). (2) Eu arregaço as mangas verdes e solto a imaginação. 144 maestria (3) Eu arregaço aquelas mangas e solto a imaginação. Nos exemplos acima temos que em (1) o significado da expressão arregaçar as mangas é “trabalhar muito”. Já em (2) e em (3) o acréscimo do adjetivo e do pronome demonstrativo, verdes e aquelas respectivamente, comprometem o sentido e a estrutura da expressão. Mas existem algumas possibilidades de variações que não descaracterizam a expressão como idiomática. Vejamos: (4) sujeito: Eles arregaçaram as mangas e soltaram a imaginação. (5) tempo verbal: Eu acredito que Carlos arregaçará as mangas e soltará a imaginação. (6) modo do verbo: Temo que João não arregace as mangas e nem solte a imaginação. (7) inserção de advérbio entre o verbo e o complemento: Em breve ele arregaçará também as mangas e soltará a imaginação Dessa forma, a conotação, que se encontra no nível do significado da expressão idiomática, deve ser preservada. Tagnin (1989, p.13) afirma que uma expressão é idiomática apenas quando seu significado não é transparente. Assim, arregaçar as mangas não significa dobrar ou puxar para cima as mangas da camisa, e nem alterar o aspecto físico da fruta, mas sim trabalhar muito. Isso quer dizer que o significado, para aquela expressão, encontra-se já convencionado. E é exatamente o caráter eminentemente conotativo que nos permite distinguir as expressões idiomáticas de outras lexias complexas, como as listadas a seguir: a) locuções — às pressas; b) combinatórias usuais — perdidamente apaixonado; c) perífrases verbais — dar um passeio; d) ditados — amor com amor se paga; e) provérbios — água mole em pedra dura tanto bate até que fura; f) sintagmas terminológicos — válvula redutora de pressão; g) coletivos — constelação de estrelas. maestria Sete Lagoas n.2 p. 143-153 jan./dez. 2004 145 Com exceção dos provérbios, todos os sintagmas acima são compreendidos literalmente. Os provérbios, apesar de terem o sentido conotativo, tentam nos transmitir algum ensinamento ou alguma lição de vida. Característica essa que não se aplica às expressões idiomáticas. A condição de se achar cristalizada na língua, outra característica da expressão idiomática, ainda diz respeito ao valor semântico adquirido. Dizemos que uma expressão idiomática é cristalizada em um idioma pela tradição cultural, porque o seu significado, embora conotativo, é estável, o que permite uma rápida e correta decodificação pelo falante/ ouvinte, além de possibilitar que a expressão seja transmitida a gerações futuras. 3 A função das expressões idiomáticas na mensagem publicitária Dependendo da forma como a mensagem publicitária é divulgada, pode-se provocar reações diferentes em cada leitor. Sendo assim, intencionalmente ou não, ao apresentar o texto publicitário, o profissional da publicidade pode vir a manipular a opinião do receptor, que irá interpretá-la de acordo com seu nível cultural, sua idade, sexo, tendências ideológicas etc., que não estão ligados diretamente à peça publicitária. De acordo com Carvalho (2000), a publicidade é caracterizada como uma mensagem “leve” e sedutora. Nesse contexto, o emissor, cujo objetivo principal é conseguir a adesão do receptor às suas propostas, utiliza-se de um discurso persuasivo para mudar ou conservar a opinião do público-alvo, como se observa no exemplo abaixo: “Enquanto processadores menos potentes podem não dar conta do recado, o processador Intel Pentium 4 foi especialmente construído para isso”. (Veja, 03/04/2001, p.1) A linguagem publicitária, como salienta Carvalho (2000), deve ser formada por expressões e palavras que sejam 146 maestria entendidas pelos usuários da linguagem coloquial e aceitas no nível formal da língua. E aí entram as expressões idiomáticas, tendo a função de colorir a mensagem, tornando-a mais familiar ao receptor, criando com este uma relação de empatia e, conseqüentemente, alcançando a adesão pretendida. Esse recurso estilístico adotado pelos publicitários, que conta quase sempre com expressões idiomáticas, torna-se elemento de valorização do texto, desperta a adesão do leitor por meio de algo já conhecido e cria uma espécie de cumplicidade entre ambos. 4 Corpus analisado Observamos, nos textos publicitários analisados, que o uso da expressão idiomática acrescida de informações do produto, é muito freqüente: “O Titan Tractor caiu como uma luva para as nossas operações”. (Veja, 07/05/2003, p. 47) Nesse exemplo a expressão cair como uma luva permanece com a forma e o sentido originais: algo que se encaixa perfeitamente em determinada situação. São as informações acrescentadas que a direcionam para o produto. O mesmo acontece em: “No lugar de reduzir a quantidade de tinta, enxugamos os preços. Cartuchos ink jet compatíveis. 100% novos e lacrados.” (Veja, 20/02/2003, p. 83) “Negócio da china. Você ganha quando compra, quando usa e quando vende. Promoção Volkswagen.” (Veja, 23/05/2001, p. 33) Podemos perceber que essas expressões idiomáticas conferem à mensagem a afirmação de qualidades exclusivas que se inferem da denotação — enxugamos os preços (reduzir o valor das mercadorias), negócio da china (negócio vantajoso). Observamos ainda variações em algumas expressões idiomáticas encontradas nas revistas mencionadas. São maestria Sete Lagoas n.2 p. 143-153 jan./dez. 2004 147 expressões que, apesar de alteradas, não apresentam prejuízo à sua condição de lexia indecomponível e nem ao seu significado não transparente. Sejam os seguintes exemplos: a)cair na boca do povo — (“A história da Ypióca é a história do maior produtor de aguardente de origem do país e que está onde qualquer bebida deseja estar: na boca do povo.” — Veja, 07/05/2003, p. 24) b)virar a cabeça — (“Nestas férias a maior diversão do Brasil vai virar sua cabeça. Beach Park Fortaleza.” — Istoé, 18/02/2002, p.15) c) ser uma caixa de surpresas — (“O computador é uma caixinha de surpresas. Só tem quem tem UOL.” — Veja, 02/07/2002, p. 82) d)dar um pulo — (“Queríamos tirar fotos de alguns ganhadores da poupança da Caixa, então pedimos para eles darem um pulinho no estúdio.” — Veja, 20/02/2001, p. 91) e)não sair do pé — (“Calçados Freeway: uma tática infalível para ele sair do seu pé.” — Veja, 23/05/2001, p. 17) f)dar um empurrão — (“É uma longa subida, mas estamos dando um bom empurrão na ciência. Agilent Technologies.” — Veja, 13/03/2000, p. 4) Como se pode ver, foram encontradas as seguintes alterações: variação e flexão do verbo, variação do substantivo, inclusão de pronome e adjetivo. Acreditamos que, por ser a expressão idiomática um recurso muito presente em nosso dia-a-dia e por estar cristalizada pelo uso, essas pequenas variações não comprometeram o sentido original das mesmas. Ocorre que, muitas vezes a mensagem publicitária, por necessitar chamar a atenção do leitor de maneira rápida e eficaz, traz em sua estrutura morfossintática algumas alterações. 4.1 Freqüência e Tipologia das Expressões Idiomáticas Quanto à tipologia das expressões idiomáticas, procuramos mostrar aqui um quadro de classificação a partir de sua es- 148 maestria trutura sintagmática (XATARA, 1998a, p.170), verificando assim o tipo de construção mais freqüente nas mensagens analisadas. As expressões idiomáticas são, como já vimos, uma unidade lexical indecomponível. Mas a relação entre as partes para formar o todo pode ser analisada pelos aspectos morfossintáticos e semânticos. São sintagmas, combinações de duas ou mais formas lingüísticas, em que uma delas funciona como determinante e a outra como determinado. Há um elo de subordinação e, dessa forma, estabelecem-se cinco estruturas tipológicas de acordo com o determinado, o núcleo da expressão. a) Sintagma nominal (SN) — todas as palavras que compõem a expressão estão subordinadas a um substantivo: “A Shell foi ouvir algumas histórias de pescador” (Veja, 01/05/2002, p.84) b) Sintagma verbal (SV) — apresenta-se, em geral , com as seguintes estruturas: V + SN — “Informações que valem ouro” (Istoé, 28/05/2003, p.83) V + Adj. + SN — “Ele sempre tem a última palavra” (Veja, 02/11/2000, p.14) V + Prep. + SN — “Fique por dentro do mercado de trabalho” (Istoé, 20/11/2002, p.57) c) Sintagma de função adjetiva (SAdj) — o sintagma determina um substantivo que se encontra fora da expressão idiomática; por isso, a expressão exerce a função de um adjetivo. “Vovô enxuto e boa pinta. Procuro ninfetinha sarada para relacionamento intenso e duradouro. Escolher o melhor é automático. Renault Scénic com câmbio automático grátis.” (Veja, 09/07/2002, p.17) maestria Sete Lagoas n.2 p. 143-153 jan./dez. 2004 149 d) Sintagma de função adverbial (SAdv) — ocorre à mesma construção do sintagma de função adjetiva. A lexia complexa determina um verbo ou advérbio fora da expressão, exercendo a função de um advérbio. “Novidades para deixar a concorrência de queixo caído. Motor Show. Informação com emoção.” (Istoé, 14/08/200, p. 94) e) Sintagma frasal (SF) — geralmente são frases exclamativas ou nominais: “Depois da saideira, vai ver se eu tô na esquina! Beber redondo é beber com responsabilidade. Skol.” (Veja, 11/09/2003, p. 81) “Scénic Alizé. Bons ventos o trazem?” (Época, 03/04/2003, p. 20) Do corpus analisado para esta pesquisa, composto de 130 expressões idiomáticas, identificamos uma freqüência superior dos sintagmas verbais em relação aos demais: SN SV SAdj SAdv SF 10% 73% 7,81% 7,69% 1,5% Como se pode observar, 73% das expressões idiomáticas encontradas nas mensagens publicitárias classificam-se como sintagmas verbais. Carvalho (2000, p. 45) afirma que um fato como esse acontece porque no texto publicitário, quando observamos atentamente o elemento verbal que representa a ordem ou o convite, podemos perceber que ele constitui um imperativo revestido de roupagens que camuflam a verdadeira intenção do texto: envolver o receptor, induzindo-o a compra. Assim, o apelo ao consumo pode ser feito como um conselho: 150 maestria “Neste natal dê o ar de sua graça com aerogramas.” (Istoé, 20/11/2003, p. 82) “Se você não quer ficar boiando, leia Istoé dinheiro.” (Istoé, 9/1/2002, p.17) 5 Expressões idiomáticas e expressões convencionais Na linguagem publicitária, enquanto a denotação apenas transmite a informação, concentra-se no referencial e apóia-se em um conjunto de provas intrínsecas ao objeto, a conotação apoia-se no receptor, baseando-se nos processos de persuasão extrínsecos ao objeto. Daí, pode-se depreender que o contexto sentencial em que a expressão idiomática está inserida é de suma importância para verificar se o seu sentido é autônomo ou dependente do contexto. Porque é justamente a interpretação feita pelo receptor que irá validar ou não o objetivo da mensagem. Consideremos os seguintes exemplos: (1) “A cerveja fica para os alemães afogarem as mágoas. Chandon Brasil. Vitória se comemora com Chandon. Parabéns Brasil.” (Veja, 09/07/2002, p. 51) (2) Vestir a camisa. (3)“Curso In Company — Educação Executiva. O único que veste a camisa da sua empresa”. (Istoé, 07/05/2002, p. 53) (4) Carlos vestiu a camisa lentamente, olhou para o relógio de parede e saiu ao encontro de sua amada. Em (1) o texto publicitário aparece acompanhado de imagem de bebida alcoólica e com isso o significado da expressão é facilmente percebido como consumir bebida alcoólica com exagero no intuito de eliminar desgosto. Já em (2) a expressão só poderá ser considerada idiomática quando analisado o contexto que a envolve. Enquanto em (3) o sentido da expressão vestir a camisa é dedicar-se integralmente, em (4) a leitura tornase possível ao considerarmos o mesmo sintagma vestir a cami- maestria Sete Lagoas n.2 p. 143-153 jan./dez. 2004 151 sa com o sentido de cobrir o corpo com peça do vestuário. Nesse caso dizemos que a expressão demonstrada em (4) é um homônimo livre da mesma expressão contida no exemplo (3). Existe um outro aspecto a ser considerado quando se fala em idiomaticidade, ou seja, a convencionalidade. “Podemos chamar de convencionalidade ao aspecto que caracteriza a forma peculiar da expressão numa dada língua” (TAGNIN, 1989, p.11) A convencionalidade está ligada a um fato social e podese aplicar à língua, tanto em nível social, isto é, deve-se saber quando dizer algo, quanto em nível lingüístico, como dizê-lo. É assim que, por exemplo, em ocasião do aniversário de alguém, a este nos dirigimos com um cumprimento especial. Há também expressões que são convencionais quanto a sua forma. Pé frio em (“Montanha não é lugar de pé frio. Timberland 100% à prova dágua.” — Veja, 05/06/2003, p. 89), é uma formação convencional devido a sua forma fixa. Convencionou-se combinar e usar esses dois vocábulos em vez de outros, como extremidade inferior gelada, por exemplo. E também é convencional a ordem em que aparecem, dificilmente encontraríamos frio pé. Vemos então que, a expressão feliz aniversário é convencional porém não idiomática, porque seu significado é transparente. Já pé frio é uma expressão convencional e idiomática, pois o seu sentido não é dado somando-se os significados individuais de seus constituintes. Pé frio, no sentido conotativo, significa pessoa sem sorte, azarada. 6 Considerações finais Pelo exposto, percebe-se que o objetivo deste trabalho é mostrar que as expressões idiomáticas, além de serem um importante recurso discursivo, produzem resultados significativos no texto publicitário. Considerando que a linguagem publicitária usa recursos estilísticos e argumentativos da linguagem coloquial para informar e manipular, podemos concluir que, procurando alargar cada vez mais os efeitos de sentido, trabalhando com o nível informal da língua, os publicitários já entenderam que as 152 maestria expressões idiomáticas favorecem uma maior aproximação da mensagem com o destinatário e, por conseguinte, do produto anunciado com o possível consumidor. Referências ALVES, Ieda Maria. Neologismo. criação lexical. São Paulo: Ática, 1990. 93p. CARRASCOZA, João Anzanello. A evolução do texto publicitário. São Paulo: Futura, 1999. CARVALHO, Nelly de. Publicidade: A linguagem da sedução. São Paulo: Ática, 2000. 164p. SANDAMANN, Antônio J. A linguagem da propaganda. São Paulo: Contexto, 1997. 99p. SANDMANN, Antônio J. Formação de palavras no Português brasileiro contemporâneo. Curitiba: Scienta et Labor/Icone, 1989. 185 p. TAGNIN, Stella Ortweiler. Expressões idiomáticas e convencionais. São Paulo: Ática,1989. 88p. XATARA, Cláudia Maria. Tipologia das expressões idiomáticas. Alfa. São Paulo, n.42, p.169-176, 1998a. XATARA, Cláudia Maria. O campo minado das expressões idiomáticas. Alfa. São Paulo, v.42, n. esp., p. 147-159, 1998b. m maestria Sete Lagoas n.2 p. 143-153 jan./dez. 2004 153 Conhecimento prévio: fator determinante da leitura e da produção de textos dissertativos Imíramis Fernandes da Cruz * Resumo * Professora de Leitura e Produção Textual da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas. Mestre em Língua Portuguesa pela PUC — MG. Este trabalho objetiva mostrar que o conhecimento prévio determina a produção da leitura e da escrita de textos dissertativos. Além disso, pretende-se também enfatizar que tanto a qualificação da leitura, quanto da escrita dependem da prática cotidiana e da persistente atividade de pesquisa. Palavras-chave: leitura; texto; conhecimento prévio; interação; sentido. Abstract This piece of work tries to demonstrate that previous knowledge determines the reading and writing production of dissertation texts. In addition, it intends to emphasize that the reading as well as the writing qualification depend on everyday practice and the persistent research activity. Keywords: reading; text; previous knowledge; interaction; meaning. 1 A construção do sentido de leitura Ler é uma atividade que exige do leitor a habilidade intelectual de, diante de um texto, fazer o acionamento do repertório cultural, armazenado na mente, sobre o assunto em pauta. Isso significa que, no ato da leitura, o leitor depende mais dos conhecimentos prévios que possui sobre determinado assunto do que dos olhos em si. Bem ao contrário disso, “exigir demais dos olhos durante a leitura pode tornar [o leitor] funcionalmente cego”, segundo Smith (1999, p.15). A leitura é uma ação individual e totalmente singular, maestria Sete Lagoas n.2 p. 155-158 jan./dez. 2004 155 pois aquilo que se busca nesse ato determina o modo como a leitura será feita. Tal atividade implica uma ação de lembrar os conhecimentos relevantes à compreensão de um texto — fornecedor de pistas e caminhos para que o leitor possa construir interativamente o sentido. O sentido da leitura de um determinado texto não é o resultado de uma memorização mecânica dos dados. Ao contrário disso, é fruto da habilidade do leitor em associar as informações que possui armazenadas no cérebro àquelas que estão explícitas na superfície do texto. O leitor só conseguirá agir nessa perspectiva se tiver várias competências, tais como: conhecimento prévio da própria língua, de texto e de mundo. O leitor dará uma demonstração de competência se for capaz de, a partir das pistas presentes na superfície, construir um sentido para o texto. Agindo assim, o leitor ter-se-á libertado dos hábitos de uma leitura feita palavra por palavra e utilizará sua capacidade perceptiva para fazer apreensão de um só lance dos pontos mais relevantes do texto. Desse modo, ele fará uma coleta de dados para interpretar o tema e confirmar, ou não, suas hipóteses de leitura. Sobre essas hipóteses Kleiman (1989, p.43) afirma que: Uma vez que o leitor conseguir formular hipóteses de sua leitura independentemente, utilizando tanto seu conhecimento prévio como os elementos formais mais visíveis e de alto grau de informatividade, como título, subtítulo, datas, fontes, ilustrações, a leitura passará a ter esse caráter de verificação de hipóteses, para confirmação ou refutação e revisão, num processo menos estruturado que aquele inicialmente modelado pelo adulto, mas que envolve, tal como o outro processo, uma atividade consciente, autocontrolada pelo leitor, bem como uma série de estratégias necessárias à compreensão. Ao formular hipóteses, o leitor estará predizendo temas, e ao testá-las ele estará depreendendo o tema; ele estará também postulando uma possível estrutura textual, e, na testagem de hipóteses estará reconstruindo uma estrutura textual; na predição ele estará ativando seu conhecimento prévio, e na testagem ele estará enriquecendo, refinando, checando esse conhecimento. São, todas essas, estratégias próprias da leitura que levam à compreensão do texto. 156 maestria 2 Texto: espaço de interação entre leitor / autor A leitura é determinada pelo conhecimento prévio do assunto que o leitor possui sobre um tema, pela concepção de mundo (visão, idéia sobre algo), lugar ocupado pelo sujeitoleitor no mundo (etnia, classe social, ideologia, sexo, idade e outros) e pela disposição para desenvolver uma pesquisa temática. A leitura pressupõe a construção de sentido e para tanto deve ser desempenhada de uma maneira “ativa”, ou seja, na perspectiva da interação. A construção dessa interação exige que o leitor saiba identificar as pistas que o autor deixa na superfície do texto. A detecção de tais pistas exige que o leitor domine os “recursos lingüísticos” responsáveis pela materialização das idéias do autor no texto (advérbios, adjetivos, verbos, item lexical etc.). Outro aspecto que também servirá de subsídio ao leitor na construção de sentido do texto é a estratégia adotada pelo autor na abordagem do tema. Qual tipologia textual foi empregada? Quais os mecanismos de sedução do leitor o autor empregou? Para a leitura ser, de fato, interativa o leitor deve: ser crítico; elaborar novos textos a partir do texto lido; pesquisar o tema sobre o qual versará; construir “inferências”; fazer antecipação, ou seja, previsão do assunto a partir das pistas explicitadas na superfície do texto e apresentar um posicionamento em relação ao tema. Se o leitor não assumir essa postura, estará sendo “passivo”, ou seja, apenas decodificando, reconhecendo letras, sílabas, palavras sem qualquer compromisso com o sentido do texto. Para que a leitura se constitua como um processo interativo, faz-se necessário que o leitor acione o conhecimento armazenado na sua mente ao longo de sua vida. Sem o engajamento desse conhecimento prévio, não haverá compreensão por parte do leitor, ou seja, o texto para ele não fará nenhum sentido. O conhecimento prévio pode ser classificado em três tipos: (a) lingüístico, que compõe-se de todo conhecimento que o usuário possui a respeito da língua, que vai desde as estruturas mais simples até as mais complexas; (b) textual, que constitui-se de noções e conceitos sobre o texto (estrutura ma- maestria Sete Lagoas n.2 p. 155-158 jan./dez. 2004 157 cro e micro do texto, tipologias, etc.); (c) enciclopédico, que estrutura-se pelo conjunto de conhecimentos sobre variados assuntos adquiridos pelo leitor em situação de formalidade (escola, ONGs...) e também de informalidade (bares, grêmios, restaurantes etc.). Em cada leitura, segundo Walty (2001), o leitor, dialogando com o contexto de produção, mobiliza sua biblioteca interna, ou seja, todos os livros lidos/vividos por ele. 3 Escrever: uma questão apenas de técnica ou apenas de dom? A leitura é o caminho para o leitor adquirir um repertório cultural capaz de subsidiá-lo na elaboração e sistematização de argumentos, tanto no discurso oral quanto no escrito, em favor de uma determinada tese. Mas não basta apenas ler para se escrever bem. É necessário que, junto com a prática da leitura, ocorra também uma prática da produção textual que exija do leitor, antes de mais nada, uma motivação interna. Concomitante à prática, é fundamental que o produtor tenha também a consciência de que um texto dissertativo de qualidade é o resultado de um investimento de tempo no ato de sua elaboração. Esse tempo começa a ser contabilizado desde o momento em que ele decide escrevê-lo até a revisão que desencadeará novos atos de escrita e reescrita. Sem sombra de dúvida, o texto é o resultado de um árduo trabalho. Para Costa Val (1991), o processo de produção é iniciado com a escolha do tema e inclui uma pesquisa temática, debates com pessoas interessadas e análise dos dados coletados. Segundo ela, uma opinião personalizada do tema em pauta precede a produção do texto em si. Isso exige disciplina, capacidade de discernimento entre aquilo que é relevante e aquilo que não o é na abordagem de um tema. Para Kleiman (1993, p.29): Mantendo em mente o fato de que, tanto o texto oral quanto o texto escrito, são produtos de uma intencionalidade, isto é, escritos por alguém, com alguma intenção de chegar aos ou- 158 maestria tros, para informar, persuadir, influenciar tal qual acontece quando falamos, evitaremos perder de vista o texto por causa das palavras que o veiculam. Então é importante que se diga que as técnicas para se redigir bem só serão aplicadas com êxito por aqueles que possuem um conhecimento (lingüístico, cultural, enciclopédico) consistente. Sem esse repertório cultural, diga-se de passagem, o produtor estará destituído dessa intencionalidade, na medida em que não terá o que dizer no texto. O texto não é somente um produto “pronto e acabado”, mas o resultado de um processo que exige planejamento, pesquisa temática e disposição para a reescrita. Qualquer indivíduo é capaz de fazê-lo, desde que o queira e tenha disposição psicológica e tempo para viver esse processo. Escrever bem, portanto, não é uma questão apenas de dom. 4 Conclusão De tudo que foi dito pode-se concluir que o “conhecimento prévio” é um fator que determina a qualidade e a eficácia, tanto da leitura, como da produção de textos dissertativos, orais ou escritos. Nenhum leitor ou produtor pode sustentar a falsa tese de que “ler ou escrever bem” é uma prática possível apenas a meia dúzia de pessoas que foram agraciadas pelo Poder Divino. A leitura, assim como o texto, é resultado de um investimento de tempo na prática de tais atividades. Sem exercer a leitura e sem exercer a produção de texto (tanto no plano oral, como no plano escrito) o usuário não alcançará a qualidade e eficácia pretendidas. A Leitura Interativa pressupõe compreensão, que é um processo caracterizado pelo engajamento do conhecimento prévio — responsável por fornecer os subsídios necessários ao leitor para que seja capaz de construir o sentido do texto. O leitor se dispõe a escutar o autor, para depois aceitar, julgar ou rejeitar as idéias expostas no texto (mediador da interação entre autor e leitor). O autor almeja a aceitabilidade do leitor e pretende que maestria Sete Lagoas n.2 p. 155-158 jan./dez. 2004 159 esse interaja com ele, ou seja, compreenda aquilo que ele escreveu. Para tanto, materializa sua intenção através das marcas formais que estão presentes na superfície do texto. Referências COSTA VAL, M. da Graça. Texto e textualidade. In: ______. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 03-16. DELL’ISOLA, R.L.P. Leitura: inferências e contexto sociocultural. BH: Formato, 2001. 223- 231. KLEIMAN, Ângela. A oficina de leitura. Campinas: Pontes, 1993a. ______. Interação na leitura de textos. Campinas: Pontes, 1993b. ______. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 2. ed. Campinas: Pontes, 1989. SMITH, F. Leitura significativa. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. p:154-164. WALTY, Ivete et al. Tipos de textos, modos de Leitura. Belo Horizonte: Formato, 2001, p. 12-84. m 160 maestria A dimensão afetiva da sala de aula língua estrangeira (LE) Vanessa de Assis Araujo * We have a mind. We have feelings. To separate the two is to deny all that we are. To integrate the two is to help us realize what we might be. (George Isaac Brown apud Moscowitz, 1978:1)1 Resumo O propósito deste artigo é ressaltar a necessidade de considerar a * Mestre em Lingüística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras e Especialista em Ensino de Língua Inglesa, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais. 1 Minha tradução livre: Nós possuímos uma mente. Nós possuímos sentimentos. Separar os dois é negar tudo o que somos. Integrar os dois é nos ajudar a compreender o que nós podemos vir a ser. aprendizagem de língua estrangeira não apenas como um desenvolvimento cognitivo, mas também afetivo e relacional. Com base em autores da Lingüística Aplicada e da Psicologia, tais como Moscowitz (1978), Hadfield (1992), Rúbio (1993) e Giovanetti (1999, 2001) aponta-se a dimensão afetiva como um importante aspecto no processo de aprendizagem de língua estrangeira. Trata-se também de uma reflexão sobre o afeto e seu valor na relação com o outro dentro da sala de aula de língua estrangeira (LE). Palavras-chave: sala de aula/aprendizagem de língua estrangeira; dimensão afetiva; cognição. Abstract This article highlights the necessity to consider foreign language learning not only as a cognitive but also affective and interpersonal development. Based on authors from Applied Linguistics and Psicology, such as Moscowitz (1978), Hadfield (1992), Rúbio (1993) and Giovanetti (1999, 2001), it focuses on the affective dimension as an important aspect in the foreign language learning process. It further addresses the affect and its value in the foreign language classroom relationship. Keywords: foreign language classroom/learning; affective dimension; cognition. maestria Sete Lagoas n.2 p. 161-165 jan./dez. 2004 161 2 Esclareço que o aspecto racional do homem é, um termo técnico, denominado pela Psicologia de espírito. 3 Relembro o leitor de que a dimensão espiritual é um termo usado pela Psicologia e refere-se à dimensão racional do ser humano. 162 O corpo, o psiquismo (aspectos representativos e afetivos) e o espírito2 (aspecto racional) são dimensões que estruturam o ser humano. Estão relacionadas de forma íntima e dinâmica (Rúbio, 1993); e ainda ganham conteúdo nas dimensões relacionais do ser humano, que são o ser humano com o absoluto, o ser humano com o mundo, o ser humano com o próprio ser humano. Todas essas seis dimensões repercutem no ser humano inteiro, e são experimentadas pela pessoa na sua integridade. Sendo assim, o homem adquirirá a realização humana quando articular harmoniosamente todas as seis dimensões (Giovanetti, 2001). A partir desse pressuposto, faço, com base em Moscowitz (1978), Hadfield (1992), Rúbio (1993), Giovanetti (1999 e 2001), entre outros, uma reflexão sobre o afeto e sua importância na relação com o outro na sala de aula de língua estrangeira (LE). A intenção aqui proposta é, portanto, a de que se perceba a necessidade de considerar a aprendizagem de língua estrangeira não apenas como um desenvolvimento cognitivo, mas também afetivo e relacional. A afetividade é um dos eixos estruturantes do psiquismo, que só tem funcionamento pleno mediante os registros do afeto, nas formas de prazer e desprazer, nas emoções, nos sentimentos e nos estados de ânimo (Giovanetti, 2001). A segunda função da afetividade, por outro lado, é a sua capacidade de estabelecer vínculos, isto é, por meio dela o ser humano se liga a outro ser humano. Segundo Rúbio (1993, p.46), a dimensão afetiva, no ser humano, perpassa toda a sua existência biológica e espiritual 3, passando pela psíquica. O afeto é decerto muito importante para o ser humano e suas relações e, por conseguinte, habita a sala de aula de LE, já que esta é composta, principalmente, de pessoas. Com o aparecimento das várias correntes de Psicologia cognitiva, impôs-se a consideração do ser humano como processador de informação, construtor ativo do conhecimento, possuidor de processos mentais que lidam com informações de variadas formas, que planeja o comportamento, que soluciona problemas e que interpreta dados. No entanto, Lopes e Furtes (1992) afirmam que essa consideração a respeito do ser humano é reducionista, já que o conhecimento é mediado maestria pelos afetos, visto que o homem faz tudo o que faz porque tem emoções, motivações e afetos. Rúbio (1993) aponta que o ser humano experimenta a necessidade de ser aceito, de ser acolhido pelos outros, de ser valorizado, de ser alguém em um grupo ou em uma comunidade. Amatuzzi (2001) vai além, dizendo que o homem só estará aberto e pronto para construir, se receber acolhimento e confiança. Considerando que ninguém se estrutura fora das relações, e que sem laços não vamos constituir-nos, uma vez que nos constituímos nas relações, Giovanetti salienta que o homem é um ser inter-relacional, isto é, um ser que constrói a sua identidade a partir da interação com o outro (1999, p.176). Portanto, concordo com Rúbio (1993), quando ele diz que o ser humano é essencialmente co-humano e que, além da dimensão afetiva estar nas relações interpessoais, ela está também presente no nível espiritual (que, de acordo com a Psicologia, refere-se ao racional) do ser humano. Vygotsky preocupou-se em integrar os aspectos cognitivos e afetivos do funcionamento psicológico humano, concebendo o homem como um ser que raciocina e se emociona (Rego, 1994). Segundo Vygotsky, existe um sistema de significados em que o afetivo e o intelectual se unem, no qual cada idéia contém uma atitude afetiva. Na visão de Vygotsky, cognição e afeto se inter-relacionam e exercem influências recíprocas ao longo do desenvolvimento do indivíduo (Rego, 1994). Rogers argumenta que a educação tem enfocado, muito atenciosamente, o cognitivo e limitado a educação do “pescoço para cima” (Moscowitz, 1978, p.88). Para essa autora, essa redução acarreta sérias conseqüências sociais, como a perda da maior parte do interesse do aluno. Moscowitz aponta que a educação humanista está preocupada em educar o ser como um todo, considerando as dimensões intelectual e emocional, ou seja, buscando combinar o conteúdo a ser aprendido com os sentimentos, as emoções, as experiências e a vida dos aprendizes. Pode-se concluir, também, que a aprendizagem é influenciada por como os alunos se sentem a respeito de si próprios (Moscowitz, 1978, p.12). É importante, então, que aos alunos sejam fornecidas condições para que se sintam capazes e usem maestria Sete Lagoas n.2 p. 161-165 jan./dez. 2004 163 4 MASLOW, H. A. The farther reaches of human nature. Nova York: Viking Press, 1971. p.190. 164 todo o seu potencial; é preciso que aceitem os outros e se aceitem como são, tornem-se mais espontâneos e se sintam responsáveis; sejam independentes e busquem o próprio crescimento; tenham empatia e afeição pelos outros (Maslow4 apud Moscowitz, 1979, p.12). Maslow (apud Moscowitz, 1978, p.13) aponta que seis necessidades humanas básicas deveriam ser satisfeitas e consideradas na construção de programas institucionais de ensino, e que apenas uma dessas seis, por si só, já engloba outras tantas necessidades como: atenção, encorajamento, aprovação, contato físico, apoio e afeto. Para Moscowitz, educação afetiva é educação efetiva e leva ao desenvolvimento de habilidades, como a de se relacionar bem, demonstrar interesse pelos outros, dar e receber apoio. Não podemos esquecer-nos de que, quando estamos trabalhando com seres humanos, estamos trabalhando com seres que buscam intensamente, com os meios disponíveis, a sua possibilidade de humanizar-se (Safra, 1999, p.141). O ensino de LE não é só ensinar a língua, mas ajudar os alunos a se desenvolverem como pessoas. Portanto, o conteúdo dessas aulas pode ser elaborado de forma que não exclua a abordagem humanista nem as suas técnicas. Comentários de alunos de língua, em pesquisa desenvolvida por Hadfield (1992) sobre Dinâmica de Grupo no Reino Unido, mostraram que o lado afetivo da aprendizagem é muito importante para eles. Essa autora apresenta várias atividades com função dupla: uma proposta afetiva dentro da abordagem de aprendizagem de língua, que oferece uma junção de objetivos afetivos e lingüísticos. Logo, é fundamental sabermos que, por meio das relações na sala de aula, podemos promover o desenvolvimento cognitivo dos alunos paralelamente ao emocional, diminuindo a imaturidade afetiva (que pode estar relacionada com a incapacidade de se ligar ao outro), e propondo a integração do aspecto afetivo na construção do conhecimento de língua estrangeira na sala de aula. maestria Referências AMATUZZI, M. M. Por uma psicologia humana. São Paulo: Alínea, 2001. ARAUJO, V. A. de. O processo grupal sob a percepção de aprendizes de língua inglesa: um estudo de caso. Belo Horizonte: Faculdade de Letras / Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. (Dissertação, Mestrado). CAMON, V. A. (Org.). A prática da psicoterapia. São Paulo: Pioneira, 1999. Cap. 4, p.163-181. GIOVANETTI, J. P. Informação verbal obtida na disciplina de mestrado: Relações Interpessoais, 2o semestre de 2001 (Psicologia/FAFICH — UFMG). HADFIELD, J. Classroom Dynamics. Oxford: Oxford University Press, 1992. LOPES, F.; FURTES, A. Para entender a sexualidade. São Paulo: Loyola, 1992. MASLOW, H. A. The farther reaches of human nature. Nova York: Viking Press, 1971. MOSCOWITZ, G. Caring and sharing in the foreign language class. Boston: Heinle & Heinle Publishers, 1978. REGO, T. C. Vygotsky, uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. RÚBIO, G. A. Nova evangelização e maturidade afetiva. São Paulo: Edições Paulinas, 1993. SAFRA, G. A face estética do self. São Paulo: Unimarco, 1999. m maestria Sete Lagoas n.2 p. 161-165 jan./dez. 2004 165 Opinião Viewpoint: the value of science and science communication Rogério Parentoni Martins * Francisco Ângelo Coutinho * Thomas M. Lewinsohn * The relationship of the individual (scientist) with the world (scientific activity), with himself and with the absolute rests on doubt. Existence is uncertain and unsafe (Kierkegaard) Scientific knowledge is inherently imperfect and open to question; and for this reason consensus is not to be expected in the scientific community. Scientific activity is also no provider of universal panaceas. Indeed, it is often quite the opposite. No wonder that, when contemplating the application of theoretical and technological advances to build nuclear weapons, or to produce harmful substances, the common citizen may easily discredit or scorn science. Many scientists work for the military industry which, ironically, employs numerous people and produces wealth in developed nations that in turn have enough money to support research. This is certainly not the case of Brazil, even though 80% of the mines that presently mutilate African people were produced here (this information was buried in a small newspaper note). Human beings have been used in studies of disease effects, as in the infamous Tuskegee syphilis study in Alabama, in which, from 1932 to 1972, 399 syphilitic AfricanAmericans believed they were being treated, but only received placebos even after penicillin became widely prescribed for syphilis treatment from 1947 on. Science and technology have also produced thalidomide, neurotoxic gases, CFC and many kinds of pollutants that are capable of unsettling the world’s climate and of extinguishing animals and plants. Questionable scientific practices and products such as these may be among the reasons why science is despised by maestria Sete Lagoas n.2 p. 169-172 jan./dez. 2004 * RPM and FAC are members of the Interdisciplinary Study Group at the Federal University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brazil ([email protected]). TML is at the State University of Campinas (UNICAMP), Campinas, Brazil, where his lecture courses include Biology and Society ([email protected]). 169 many people. To a certain extent they also account for the proliferation of superstition and pseudoscientific explanations for natural phenomena: if science is not always correct and is not in itself a source of moral wealth, it is better to seek an “alternative science”. Doubts about scientific activity and its results make it easy for common people to believe in the emotions of plants, continents that emerge and rapidly submerge, empty or parallel worlds, gods arriving from outer space and scientific creationism. Why do people turn to superstition instead of scientific explanations? Ignorance about how scientists do science is certainly among the main reasons. A word of caution is needed before proceeding. Since ancient Greece we know that the drive to understand the world around us is part of our nature. Therefore, people that buy books on pseudoscience in good bookstores should not be considered ignorant. They sincerely want to understand and to probe the world around them. Nevertheless, they ignore the way scientific knowledge is attained, and read pseudoscientific books believing they are acquiring sensible information without discerning them from scientific knowledge. Science has many shortcomings, but scientific procedure is the best we have to investigate natural phenomena and to obtain usable solutions for real problems. Most importantly, scientific knowledge can be tested and improved. What the best scientist can expect of his work is improvement of knowledge through collaboration and peer criticism that are essential to scientific activity. Contrarywise, pseudoscience postulates universal truths that cannot be tested and improved. It is impossible to correct a scientifically inaccessible “truth”. Modern science advances in many fields. Ancient diseases that killed people are now harmless. Mean life expectancy in Eastern Europe increased from 30 years in the Middle Ages to 50 years around 1915 and is currently close to 75 years. It is possible now to produce more nutritious food. We know enough about the subatomic nature of inorganic matter and we have reasonable hypotheses on the origin and development of the universe. The knowledge produced by the most 170 maestria incipient science is better than the whole of astrology. It is not difficult for astronomy to forecast eclipses centuries in advance — whereas the world did not finish in August 11, 1999, one of the strongest and widely-believed predictions of astrology! Thus, if one does not recognise the ability, albeit with limitations, that science has to provide answers, it becomes easier to accept pseudoscientific explanations. The difficulty to recognise the value of science for everyday life is also due to the hermetic quality of scientific language. This helps to confine scientific knowledge to laboratories in universities and research institutes. J.B.S. Haldane, a prolific science writer in his time, commented that “I am absolutely convinced that science is vastly more stimulating to the imagination than are the classics [...but] scientific men as a class are devoid of any perception or literary form”. Only democratic access to knowledge will prevent the progression of belief in pseudoscience. A way to strive towards this goal is by science writing of high quality. We should recall the commitment of major scientists of the 30s and 40s, such as Haldane, Julian Huxley and Lancelot Hogben, to bring science within reach of common citizens, an essential step in their emancipation. While writing “The New Science of Life”, H.G. Wells told co-authors Julian Huxley and G.P. Wells that this was an important undertaking, more important indeed than their professional research careers. In recent years scientists like Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, Edward Wilson and the Brazilian José Reis follow in this tradition, although perhaps with other expectations than their predecessors. It is equally encouraging that a book on a supposedly arid subject — history of philosophy — became a bestseller in Brazil as in the whole world. In order to attain this goal scientific language should be improved to make science interesting to everyone and especially to reach young people. Outreach activities and the improvement of high school teachers can be taken on by scientists without cutting deeply into their research time. This is the minimum to be expected in democratic nations where maestria Sete Lagoas n.2 p. 169-172 jan./dez. 2004 171 people are entitled to common scientific understanding. Otherwise, scientists will never contribute seriously to the acceptance of the science they respect and value so much. Scientists should spread to the world the results of their research, or they should help science writers and journalists to do so, and thus contribute to a society that can understand, value and support scientific development. m 172 maestria maestria informações e pedidos, escreva-nos: Maestria — Revista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas Av. Marechal Castelo Branco, 2765 Bairro Santo Antônio Sete Lagoas — MG 35701-242 [email protected] Aos colaboradores 1. m a e s t r i a aceita trabalhos inéditos sob a forma de artigos e comentários de livros, de interesse voltado para os estudos acadêmicos. 2. Todos os trabalhos encaminhados para publicação serão submetidos à aprovação dos membros do Conselho Editorial. Eventuais sugestões de modificação de estrutura ou conteúdo, por parte do Conselho Editorial, serão comunicadas previamente aos autores. 3. Os artigos devem ser apresentados em três vias, texto digitado em Word, em espaço duplo, com o mínimo de uso de negrito, caixa alta (todas as letras maiúsculas), ou qualquer outro tipo de destaque. Os artigos devem conter: dados sobre o autor (formação, instituição, áreas de pesquisa, últimas publicações etc.) e também título, resumo e palavras-chave em português e em uma língua estrangeira. 4. O original não deve exceder 30 páginas; os comentários de livros, em torno de 8 páginas. 5. As notas de pé de página e referências bibliográficas devem ser restritas ao mínimo indispensável. 6. As citações devem ser seguidas, no corpo do texto, dos seguintes dados da obra citada: nome do autor em maiúsculas, ano de publicação da obra, número da página, tudo isso entre parênteses. Exemplo: (Bosi, 1979, p. 31). 7. As referências devem ser apresentadas observando-se a seguinte norma: Para livros: a) autor; b) título da obra (em itálico); c) número da edição, se não for a primeira; d) local de publicação; e) nome da editora; f) data de publicação. Exemplo: BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: T. A. Queiroz, 1979. Para artigos: a) autor; b) título do artigo; c) título do periódico (em itálico); d) local de publicação; e) número do volume; f) número do fascículo; g) página inicial e final; h) mês e ano. Exemplo: ROUANET, Sergio Paulo. Do pós-moderno ao neo-moderno. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 1, p. 86-97, jan./mar., 1986. 8. As ilustrações (gráficos, gravuras, fotografias, esquemas) são designados como FIGURAS, numerados no texto, de forma abreviada, entre parênteses ou não, conforme a redação. Exemplo: FIG. 1, (FIG. 2). As ilustrações devem trazer um título ou legenda, abaixo da mesma, digitado na mesma largura desta. Elas devem ser entregues como arquivos de imagem (extensão .tif ou .jpg), e não como figuras criadas no Word. 9. Os autores terão direito a 3 exemplares da revista. Os originais não aprovados não serão devolvidos. m
Download