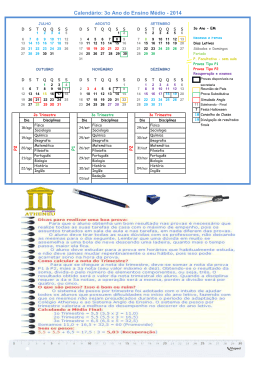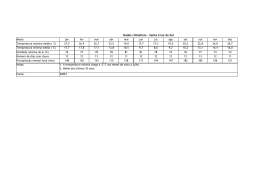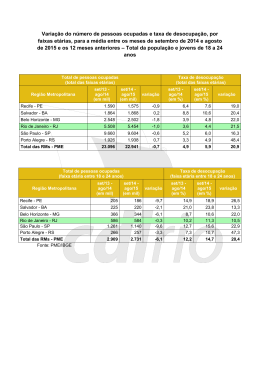EDITORIAL A proximadamente há duas semanas, saiu a nova lista de proibições que o Taliban – que governa o Afeganistão desde 1996 – impõe à população daquele país. A interpretação primitiva das leis do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, já havia imposto a proibição da dança, da música, da diversão, além do trabalho e estudo para as mulheres. Recentemente, o mundo assistiu perplexo a destruição de duas imagens gigantescas de Buda, erguidas há mais de 1500 anos e a destruição de 70% do acervo do Museu Nacional de Cabul. Da nova lista de proibições constam, além dos bichinhos de pelúcia, jogos de xadrez, a fotografia e o batom! Todavia, na mesma semana, vinha à luz, pelas lentes de um fotógrafo, as imagens da resistência do povo afegão a esse obscurantismo medieval; as fotos de uma alegre festa de casamento, com música, dança e belas roupas que, após a festa, eram escondidas pelo cinzento burqa – o manto obrigatório que cobre as mulheres da cabeça aos pés. Mas o que isso tem a ver com a psicanálise, com a APPOA ou com este número do Correio? Esse episódio revela uma das paixões dos humanos: a imagem e nossa relação com ela, de fascínio e de desconfiança. A dialética entre a imagem e a palavra costuma opor o visível ao invisível. Desconfiar do visível ou alienar-se nele são os equívocos mais comuns onde nos metemos, esquecendo que há caminhos possíveis entre a cegueira do verbo e a concretude da imagem. É sobre essa mediação possível que Evgen Bavcar, filósofo e fotógrafo cego, vem nos ensinar com seu trabalho. O que é ver? Desde onde e como nosso olhar recorta e recorda o mundo que nos cerca? Inspirado pelas questões que Evgen Bavcar levanta com sua arte, Alfredo Jerusalinsky aponta no texto “O cego no espelho” a importância do shifter na constituição da imagem e do sujeito. Edson de Souza parte do elemento sombra, que recorta os objetos e lhes dá novas visibilidades “para dentro”, atualizando memórias do que talvez nunca vivemos a não ser, claro, em nossos desejos. Élida Tessler, artista plástica, João Frayze-Pereira, Patrícia Balestrin e Benjamin Foulkes, psicanalistas, trazem-nos seus testemunhos do que o encontro com a obra de Evgen Bavcar os fez produzir. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 1 EDITORIAL NOTÍCIAS Os limites da visão, sua indefinição, seus escuros podem inaugurar outros modos de ver, assim como os tropeços da língua desvelam verdades insuspeitas, desmontando nossas falácias. É verdade que vivemos sob o império da imagem, mas é sua banalização e proliferação no mercado das novidades a consumir que pode ser empobrecedora, superficial, produzindo esquecimento e o apagamento do sujeito. Que não precisaria construir nada com o que lhe é oferecido ver. A exposição à luz, a visibilidade caricata, o alardeamento ostensivo dos saberes e suas credenciais mascara e cega, mas também evidencia sua estrutura de segredo, como nos demonstra Lacan com sua leitura de “A carta roubada” de Poe. Mas a condenação do visível, do belo, da experiência estética, só pode vir de quem sabe a força da imagem e pretende para melhor dirigir e alienar os outros, saber qual é a imagem verdadeira para cada coisa. Esse é o engano do Taliban, pretendendo cegar seus compatriotas. Mas, como podemos ver nas fotos proibidas, sob um cinzento burqa, brilham a seda rosa de um vestido e os olhos de uma noiva. A música que acompanhou a entrada da bela noiva, segundo o ousado fotógrafo, era a proibidíssima “My heart will go on”, tema de Titanic (o que, aqui entre nós, poderia dizer algo sobre o futuro deste casamento...)! Estaríamos trocando uma alienação por outra? Aí depende de quem olha! Pode-se ver Vermeer, o pintor do século XVII que, segundo especialistas, usava uma câmara escura para domar a entrada da luz que bordaria a cena a ser pintada, antecipando a fotografia. Aliás, ele gostava de retratar mulheres absortas em tarefas cotidianas, como ler uma carta ou servir um leite. Absortos ficamos nós, tocados em nossas memórias, por esses olhares. 2 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 CARTÉIS NA APPOA Divulgamos a lista parcial dos cartéis inscritos no Quadro de Ensino da APPOA. Pedimos aos colegas que ainda não registraram seus grupos, que nos informem por e-mail, aos cuidados de Ligia Víctora. A CLÍNICA DA MELANCOLIA E AS DEPRESSÕES Tema: Chamado carinhosamente de “cartelão”, por reunir um grande número de participantes, este grupo dedica-se ao estudo do tema e à preparação da jornada de setembro na APPOA. O roteiro completo dos encontros, assim como a bibliografia indicada e os textos já trabalhados, encontram-se na Secretaria. OBS.: O “cartelão” é aberto a todos os interessados. As reuniões são quinzenais, na 2ª e 4ª quintas-feiras de cada mês. Horário: 20h30min, na sede da APPOA. CARTEL DO INTERIOR O Cartel do Interior constituiu-se na APPOA, há vários anos atrás, como um espaço privilegiado de encontro e discussão das questões pertinentes ao trabalho psicanalítico fora de Porto Alegre, pois a maioria de seus componentes reside e exerce sua prática em outras cidades do RS e de outros estados. Reúne-se em média a cada dois meses, na sede da Associação (a não ser no Relendo Freud e Conversando sobre a APPOA, em Canela). Este ano o cartel tomou como eixo de trabalho o tema da Melancolia e das Depressões, abrindo espaço para a produção e a interlocução de seus membros sobre esta temática nas diversas nuances com que a escuta clínica se depara, nos consultórios e nas instituições. O cartel geralmente se reúne aos sábados, acompanhando, sempre que possível, outras atividades da APPOA (Exercícios Clínicos, Jornadas e outros eventos). É um cartel aberto a todos que estiverem interessados nestas questões. A ESTRUTURAÇÃO PSICÓTICA Tema: Leitura de textos relacionados à questão da estruturação subjetiva e, mais especificamente à estruturação psicótica. Relatos de experiências do trabalho realizado nas distintas instituições pelas participantes do cartel. Discusão sobre as peculiaridades da clínica psicanalítica em instituições que visam atender crianças, adolescentes e/ou adultos psicóticos. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 3 NOTÍCIAS NOTÍCIAS Textos já trabalhados: CALLIGARIS, C. Introdução a uma clínica diferencial das psicoses. AUGLANIER, P.C. Observações sobre a estrutura psicótica. CALLIGARIS, C. Perversão - Um laço social? CALLIGARIS, C. Introdução a uma clínica psicanalítica. FREUD, S. Luto e melancolia. Participantes: Márcia Goidanich, Maria Lúcia Baldasso, Maria Mônica Poli, Simone Kasper e Tatiane Reis Vianna. OBS.: No momento o grupo já está constituído, mas futuramente é possível abrir para novos participantes. FIGURAÇÕES DO FEMININO NA PSICANÁLISE Tema: O estudo da feminilidade. Participantes: Deborah N. Pinho; Diana L. Corso; Gerson S. Pinho; Maria Lúcia Muller Stein; Marianne M. Stolzmann; Marieta L. M. Rodrigues e Simone M. Rickes. OBS.: É um cartel que funciona, no momento, em caráter fechado. ESTUDO SOBRE O SEMINÁRIO DE JEAN BERGÈS Participantes: Maria Auxiliadora Pastor Sudbrack, Mario Fleig, Conceição Beltrão, Adão Costa. OBS.: Até o momento, o grupo trabalha em caráter fechado. GRUPO DE ESTUDO E TRADUÇÃO DO SEMINÁRIO DE J. LACAN – O OBJETO DA PSICANÁLISE Tema: este grupo interinstitucional, visa ao estudo e à tradução do Seminário XIII O objeto da psicanálise, de J. Lacan. Participantes: – de Porto Alegre: Ana Maria Gageiro, Beatriz Kauri dos Reis, Denise Gick, Ester Trevisan, Francisco Setineri, Ligia Gomes Victora, Lucia Serrano Pereira, Maria Marta Heinz, Marilda Batista, Otávio Augusto W. Nunes, Rosane de Abreu e Silva; – de Paris: Ângela Jesuíno-Ferretto, Celina Ary Mendes Garcia, Gilles Garcia, Luiz Alberto de Farias, Roneide Gil, Patrícia Ramos; – do Rio de Janeiro: Ana Cristina Manffroni, Dionysia Rache de Andrade, Francisco Leonel Fernandes, Valmir Sbano, Maria Idália de Góes, Antônio Carlos Rocha, Luíza Ribeiro; – de Recife: Letícia Patriota da Fonsêca. OBS.: É um cartel aberto, para “franco-lusofônicos”. 4 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 Reuniões quinzenais, na APPOA. Contatos pelo tel. 3224.3232, com Ligia Víctora. A ÉTICA PSICANALÍTICA NAS INSTITUIÇÕES Tema: Dando continuidade a este Cartel, que tem por objetivo pensar as diversas inserções da psicanálise nas práticas institucionais, através do conceito de Ética do Desejo, proposto por Lacan, a leitura central deste semestre será o próprio Seminário 7 “A ética da psicanálise”. A partir desta leitura, dois objetivos foram propostos para este ano pelos componentes do Cartel: 1) dar continuidade à discussão de textos produzidos por aqueles que, de uma ou outra forma, se engajaram em trabalhos institucionais e possuem interessantes depoimentos e questões para que possamos examinar à luz do Seminário da Ética; 2) reunir as produções existentes, desde aquelas iniciadas pelo Fórum, sobre questões relevantes e freqüentes dentro das práticas institucionais, como: questão de pagamento e transferência “anônima”, até as produzidas por instituições convidadas no Ciclo organizado pelo Fórum em 1999: “A Clínica Institucional em Debate”. O objetivo é revisar estas produções, junto com seus autores, numa articulação com o Sem. 7, para que possamos pensar numa publicação que reúna nossas principais questões quanto ao laço institucional e as possibilidades de práticas analíticas. Participantes: Luciane Loss, Ubirajara Cardoso, Márcia Goidanich e Gardênia Medeiros. OBS.: O cartel é aberto, e funciona quinzenalmente na sede da APPOA, sextas feiras, às 16h30min. Contatos pelo tel.: 3311.5028, com Luciane Loss. ESTRUTURAS CLÍNICAS Tema: O Cartel Estruturas Clínicas, que vem se reunindo desde o segundo semestre do ano 2000, tem se ocupado do tema das identificações, trabalhando o Seminário IX de Jacques Lacan. Tem como proposta atual, a leitura dos seguintes textos: “ L’identification spéculaire “ – Stéphane Thibierge “ Du corps à la lettre “ – Jean Bergès e Gabriel Balbo Participantes: Ricardo Vianna Martins, Maria Beatriz de Alencastro Kallfelz, Regina de Souza Silva, Maria Elisabeth da Silva Tubino, Ana Paula Stahlschmidt. OBS: Sempre que nos propomos à leitura e ao estudo de textos em francês, solicitamos a presença de uma professora da língua, para facilitação da tradução dos mesmos. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 5 NOTÍCIAS NOTÍCIAS O Cartel está aberto aos interessados, sendo novos integrantes benvindos. A PESQUISA PSICANALÍTICA Participantes: José Luís Caon, Marta Regina de Leão D’agord, Ubirajara Cardoso de Cardoso, Felippe Pezzi, Maria Cristina Solé. OBS.: Cartel aberto aos interessados. PSICANÁLISE DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA Participantes: Ieda Prates da Silva, Larissa Scherer, Joene Martins, Maria Sandra Camerini, Marilaine Mariano, Marilene P. dos Santos, Helen M. Brenner, Adriana X. de Almeida e Maria Inês Weissheimer. Tema trabalhado: Este ano estamos trabalhando o Seminário IV de Lacan: As Relações de Objeto, indo aos textos de Freud ali referidos, e cotejando com o nosso trabalho com a infância e a adolescência no consultório e nas instituições. OBS.: É um cartel aberto: o grupo reúne-se quinzenalmente, às terças-feiras, das 19h30min às 21h, em Novo Hamburgo. Contatos pelos tel.: 582.9572 e 9987.9576, com Ieda Prates. SUJEITO E CULTURA Participantes: Edson A. L. de Souza, Lucia S. Pereira, Ana Maria Cos ta. OBS.: No momento, trabalhando em caráter fechado, podendo ser aberto no segundo semestre. IDENTIFICAÇÃO E TOXICOMANIAS Participantes: Clarice Sampaio Roberto, Marta Conte, Tatiane Vianna e Otávio Augusto Winck Nunes. OBS.: Cartel aberto. Reuniões quinzenais, sextas-feiras, às 16h30min, na APPOA. GRUPO TEMÁTICO: “DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURAÇÃO SUBJETIVA EM SEUS PRIMÓRDIOS” Esta é uma proposta para realizar um trânsito pela leitura clínica da estruturação do desenvolvimento do recém nascido, do lactente e do bebê nos seus aspectos diacrônicos e sincrônicos. Será efetuado tanto o deciframento da 6 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 produção dos bebês “ditos normais” quanto à leitura dos valores sintomáticos das alterações na inscrição e na constituição desejante, assim como, também, do valor sintomático das alterações orgânicas. Na leitura, feita a partir da análise dos registros escritos e de filmagens de produções dos recém nascidos, lactantes e bebês no laço parental, abordaremos: 1) a formação do fantasma a partir: a – da sexuação b – da identificação primária c – da filiação 2) a formação do sinthome: modos de produção de artifícios para suportar a conexão com a realidade (sintomas de estrutura). Coordenadores: Silvia Molina e Ana Marta Meira Freqüência: quinzenal Horário: 20 às 21h 30 Início: 06 de agosto/2001 DEBATE: FRATERNIDADE A APPOA convida seus associados e alunos do Percurso para um debate sobre Fraternidade com Maria Rita Kehl e Jean-Jacques Rassial. Cabe lembrar que esta discussão teve início a partir da publicação do livro organizado por Maria Rita Kehl, intitulado Função fraterna (ed. Relume Dumará). Desde então, tem sido alvo de discussões e eventos em lugares diversos, ocasiões de relançamento do debate acerca da noção de Função Paterna e do reconhecimento da singularidade do sujeito através de sua inserção no coletivo. Dia: 25 de agosto – Sábado Horário: 9h30min Local: sede da APPOA Vagas limitadas Inscrições antecipadas na Secretaria da APPOA C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 7 NOTÍCIAS NOTÍCIAS DO LAÇO FAMILIAR AO LAÇO SOCIAL: O ADOLESCENTE E SUAS INSTITUIÇÕES O Programa de Pesquisa e Extensão Adolescência e Experiências de Borda do Instituto de Psicologia/UFRGS, há um ano e meio, tem se revelado um fértil campo de discussões e de pesquisas que tematizam a adolescência. Além disso, preocupado com a socialização de tais produções, tem desenvolvido cursos de extensão e eventos dirigidos a profissionais e estudantes. Visa, assim, a reunir pesquisa e extensão, como possibilidade de interação Universidade/Comunidade. Parte da premissa de que a adolescência, mais do que um momento cronológico, é um trabalho psíquico. Trata de pensá-la como uma passagem do sujeito de um lugar na família a um lugar no social. Momento decisivo no processo de subjetivação, se entendido como um abandono da posição de assujeitamento à posição desejante na relação ao Outro. Sabe-se, a partir da psicanálise, que, paradoxalmente, é no coletivo que o sujeito busca o reconhecimento de uma singularidade. Mas, qual seria a diferença quando esse coletivo não é mais o laço familiar e sim o social? A aposta é de que a adolescência contenha a chave para tal interrogação. Enquanto posição discursiva, ela é produto da modernidade e parece constituir um paradigma de muitos dos sintomas sociais da atualidade. O adolescente, ao empenhar-se na construção de um lugar a partir do qual possa afirmar-se, questiona o instituído, seja este familiar, social, parental, conjugal, etc. E, nesta medida, a adolescência toma o caráter de uma experiência de borda, marginal, onde o dentro/fora, a exclusão/inclusão, vê seus limites interrogados, transgredidos e subvertidos. Portanto, a passagem adolescente supõe uma torção peculiar entre o espaço público e o privado. E, para o adolescente e para quem se ocupa dele, estes espaços se interpenetram, colocando questões que atravessam a todos. O Programa tem sido testemunha disso ao acolher, sob a forma de curso de extensão, um número considerável de demandas de profissio- 8 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 nais que atuam em diferentes âmbitos: consultórios psicanalíticos; instituições municipais e estaduais encarregadas de adolescentes, incluindo-se aí servidores de nível superior de áreas diversas, bem como os de nível médio, tais como monitores de instituições asilares. Em comum, todos eles trazem muitos interrogantes acerca da adolescência e expectativas de refletir sobre suas práticas com o sujeito adolescente. Contudo, o Programa busca não somente fazer chegar à comunidade os resultados da pesquisa universitária, mas, sobretudo, acredita que a prática desses profissionais possa trazer novas indagações às teorias construídas na Universidade. E é com esse espírito de interação Universidade/Comunidade, que convida todos aqueles que se vêem interpelados pelo tema a participarem deste diálogo, na modalidade de uma mesa-redonda intitulada “Do laço familiar ao laço social: o adolescente e suas instituições”. MESA-REDONDA Ana Maria Medeiros da Costa – Coord. do Programa de Pesquisa e Extensão * Adolescência e Experiências de Borda/ Instituto de Psicologia/UFRGS, Doutora em Psicologia Clínica (PUC/SP), psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre; * Jean-Jacques Rassial – Coord. da Unité de Recherche Psychogénèse et Psychopathologie/Université Paris XIII, Doutor em Psicopatologia Clínica (Universidade de Provence), psicanalista; * Guilene Salerno – Coord. da Secretaria Geral de Políticas Sociais/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Especialista em Saúde e Trabalho (UFRGS), psicóloga; * Marta Conte – Coord. da Política de Saúde Mental (PAISMENTAL)/Secretaria da Saúde/Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Doutora em Psicologia Clínica (PUC/SP), psicanalista. Dia: 23 de agosto Horário: 20 horas Local: Salão 2 da Reitoria da UFRGS – Av. Paulo Gama, s/nº Inscrições: * SOP/Instituto de Psicologia/UFRGS – Rua Ramiro Barcellos, 2600, térreo – 09 às 18h. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 9 NOTÍCIAS NOTÍCIAS * APPOA – Rua Faria Santos, 258 – das 13h30min às 21h. * No local do evento – dia 23/08 – das 19 às 20h. Taxa de inscrição: R$ 15,00 (profissionais) R$ 10,00 (alunos da UFRGS) Promoção: – Programa de Pesquisa e Extensão Adolescência e Experiências de Borda/Instituto de Psicologia/UFRGS – Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) Apoio: PROREXT/UFRGS PROPESQ/UFRGS PUBLICAÇÕES EM DEBATE A APPOA tem se mostrado particularmente rica em publicações. Além do Correio, que nos atualiza mensalmente veiculando notícias e textos, temos ainda a Revista, que duas vezes por ano vem enriquecer nosso acervo com trabalhos sintonizados com as questões que vem sendo tratadas na instituição. Alem, é claro, das publicações aperiódicas. Pensando em tornar ainda mais produtivo o espaço de publicar, estamos propondo uma atividade nova: Publicações em Debate. Este seria o momento em que poderíamos, como o próprio nome diz, debater nossas publicações, estabelecendo uma interlocução mais direta entre os leitores daquilo que produzimos. Serão convidados dois ou três leitores para debater a publicação em questão e, além deles, esperamos contar com a participação de todos os interessados pelo tema. Para inaugurar mais este espaço na APPOA, convidamos a todos para o debate em torno da Revista 21 – “A clínica da melancolia e as depressões”, que deverá acontecer no dia 18 de agosto, Sábado, às 9 horas. Nossos convidados serão Bárbara Conte e Maria Ângela Brasil. EXERCÍCIOS CLÍNICOS – 30/06/2001 No último dia 30, realizou-se na sede da APPOA mais um encontro dos “Exercícios Clínicos”, desta vez tendo como proponente a colega Analice de Lima Palombini e como debatedores Rosane Monteiro Ramalho e Ester Trevisan. O tema proposto ao debate – “Poder e transgressão na relação psicanalítica – Sobre o concreto, o céu aberto, o fora” –, apresentava uma reflexão sobre o trabalho de Acompanhamento Terapêutico (AT), desenvolvido por um grupo, sob sua coordenação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como o próprio título coloca, o tema trazia um debate da psicanálise com autores de outras linhas de pensamento: Foucalt e Deleuze. Não por acaso o grande público participante do encontro, e que ativamente trouxe questões, reflexões e depoimentos de experiências próprias, era composto por pessoas de diversas áreas como psicomotricidade, terapia ocupacional, além da psicanálise. O AT foi situado como uma intervenção possível na clínica das psicoses. Estando em um outro lugar que não a família, nem a instituição na qual se realiza o tratamento, o AT expande os limites trazidos por um “setting” clínico tradicional, propondo-se emprestar algo do seu “eu” no atendimento a sujeitos presos numa ordem própria, que os coloca fora dos laços sociais simbolicamente determinados. A dificuldade no exercício desta – função realizada por estudantes do quinto semestre da graduação em psicologia –, o quanto ela modifica as percepções futuras no exercício profissional, o quanto ela se desloca da palavra para trabalhar com o que concerne à imagem, ao corpo, à dimensão estética de uma experiência foram, entre outras, questões trazidas durante a manhã. Para enfatizar a questão da imagem e do som, foi apresentado por Analice um vídeo realizado pelo grupo de pesquisa em AT, reconhecido como um trabalho gerador de novas narrativas sobre a experiência em curso. Maria Mônica Candal Poli 10 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 11 NOTÍCIAS NOTÍCIAS CARTEL DO INTERIOR No dia 14/07/01, realizou-se uma reunião do Cartel do Interior na APPOA. A partir de informações iniciais sobre algumas jornadas que estão sendo organizadas em várias cidades, abriu-se uma importante discussão sobre a transmissão da psicanálise, a formação analítica e suas vicissitudes nas cidades do “interior”. Esta discussão apenas começou e certamente voltaremos a ela nas próximas reuniões. Logo a seguir, Silvia Carcuchinski Teixeira apresentou um histórico sobre seu trabalho institucional em São Gabriel, levantando uma série de questões e reflexões que animaram um caloroso debate sobre as dificuldades, os impasses e as possibilidades do trabalho analítico nas instituições públicas. Discutimos, por exemplo, a precariedade da função simbólica nas instituições que lidam com a infância abandonada (ou em situação de risco), a perpetuação da miséria, a ameaça constante de um fim (que paira sobre o trabalho) - questões que nos aproximam do tema da melancolia. De outro lado, a polaridade como mecanismo de funcionamento das instituições, e a necessidade do analista se colocar ali na posição do terceiro, rompendo com este discurso da dualidade. Sentimos a necessidade de avançarmos nesta discussão, o que ficou combinado para a próxima reunião do Cartel, que se realizará em 24 de agosto, às 18h, na sede da APPOA. Coordenação do Cartel EVGEN BAVCAR EM PORTO ALEGRE Dia 23 de agosto – Quinta-feira Abertura da exposição “A noite, minha cúmplice” Local: Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS Hora: a partir das 19h (Nesta exposição Bavcar mostrará uma série de fotos inéditas que fez recentemente em Minas Gerais) 12 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 Dias 24 e 25 de agosto Colóquio “As imagens possíveis” Local: Auditório da Fundação Católica de Medicina Rua: Sarmento Leite 245, Porto Alegre Promoção: PPG Artes Visuais – Instituto de Artes UFRGS PPG Psicologia Social e Institucional – UFRGS Pró-Reitoria de Extensão – UNICULTURA Pró-Reitoria de Pesquisa Pró-Reitoria de Pós-Graduação Secretaria Estadual da Cultura – Casa de Cultura Mário Quintana Secretaria Estadual do Trabalho e Ação Social Apoio: Associação Psicanalítica de Porto Alegre Faders Inscrições: Casa de Cultura Mário Quintana, tel.: 3221.7147 PPG Artes Visuais, Rua Sr. dos Passos, 248, tel.: 3316.4313 PPG Psicologia Social, Ramiro Barcelos, 2600, tel.: 3316.5149 Valores: R$10,00 Estudantes R$15,00 Profissionais Inscrições Limitadas Coordenação do evento: Elida Starosta Tessler (Instituto de Artes – UFRGS) Edson Luiz André de Sousa (Instituto de Psicologia – UFRGS/APPOA) PROGRAMA Sexta-feira – 24 de agosto 19h – Conferência de Evgen Bavcar: “O olhar ferido de Eros” Sábado – 25 de agosto 9h – Mesa redonda “Imagens possíveis e o inconsciente ótico” João-Frayze-Pereira (SP), Adauto Novaes (RJ), Edson Sousa (RS) 14h – Mesa redonda “As imagens de Bavcar” Benjamim Foulkes (México), Rubens Machado Junior (SP) e Elida Tessler (RS) 17h – Conferência de Evgen Bavcar “O corpo, imagem do infinito” C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 13 NOTÍCIAS SEÇÃO TEMÁTICA UM VÔO INTERROMPIDO: NORBERTO IRUSTA Em vinte e oito de junho próximo passado, um vôo foi interrompido pelo que de mais real e certeiro acomete os seres humanos. Norberto Carlos Irusta, fundador e presidente da Biblioteca Freudiana de Curitiba, falece em meio a um projeto, dentre tantos por ele empreendidos, de mais um ponto de consolidação da instituição que conquistou respeito e reconhecimento devido a incontáveis golpes da boa mestria que lhe eram próprios. As primeiras transmissões e difusões do discurso freud-lacaniano em Curitiba e no Paraná deveram-se principalmente a ele que, vindo de uma formação na Argentina esculpida por Oscar Masotta, José Rafael Paz, Hugo Bleichmar e Raul Sciarretta, retirou a psicanálise do campo da psiquiatria onde estava situada até então. Inquieto diante das delicadas questões relativas a formação de analistas, criou um dispositivo de formação chamado Lugar: clínica – teoria – instituição onde os passos de formação encontram testemunhos permanentes. Dentre os inumeráveis artigos que escreveu, encontrava-se interessado ultimamente no tocante aos impasses que a clínica analítica apresenta em nossa contemporaneidade, e destacam-se aqueles relativos à clínica de borda. Quanto à psicanálise em extensão, seu recente empenho na idéia, organização e produção no Congresso Internacional de Ética e cidadania foi notável sua capacidade de interrelação com as diferentes áreas do conhecimento e sua contribuição na reflexão sobre o momento histórico em que vivemos. Ética é o termo com que podemos identificar sua clínica e seu proceder institucional, sempre movidos pela sua habilidade para transformar os vendavais em ventos favoráveis e as tempestades em boa água para os frutos. O vôo interrompido deixa para aqueles com quem o intercâmbio era frutífero, um vácuo. Sua ausência talvez seja o último ensinamento, afinal são os buracos os organizadores dos laços simbólicos, e cabe-nos saber fazer agora com isso. Jandyra K. Menjazelli H á uma frase de Kafka que Evgen Bavcar gosta de repetir: “o que é positivo está dado, é então preciso descobrir o negativo”. Com este número do Correio, inspirado na obra de Evgen Bavcar, procuraremos abrir algumas trilhas neste percurso do negativo. Bavcar, de origem eslovena e naturalizado francês, perdeu a visão com 12 anos e, desde então, vem desenvolvendo um fascinante trabalho de reflexão sobre o estatuto da imagem na contemporaneidade. Intelectual renomado, doutor em filosofia com tese sobre estética, escritor sensível com inúmeros textos publicados, ele vem desenvolvendo há muitos anos um trabalho fotográfico que efetivamente nos convoca a pensar. Todos nós teremos a oportunidade de conhecê-lo mais de perto, pois estará em Porto Alegre na última semana de agosto trazendo uma série de fotografias que fez recentemente em Minas Gerais sobre o Barroco. Seu trabalho pode ser lido, de certa forma, como uma luta contra o esquecimento e, neste ponto, ele nos convida a tatear no escuro o contorno de nossos fantasmas infantis. Sua obra convoca, portanto, a psicanálise ao diálogo. Esperamos que este número possa suscitar em nossos leitores a interrogação do contorno que cada um faz do possível de uma imagem. Edson Luiz André de Sousa Maria Lúcia Müller Stein p/ Biblioteca Freudiana de Curitiba 14 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 15 SEÇÃO TEMÁTICA BAVCAR, E. Um outro olhar. UM OUTRO OLHAR1 Evgen Bavcar2 N a perspectiva das questões que o problema da visão coloca, da cegueira e do invisível, uma resposta muito pessoal poderia ser pretensiosa e pouco convincente. Foi refletindo sobre essas questões que me retornaram à memória as palavras de um amigo cego que, ainda criança, me dizia outrora: “Sabes, minha situação seria insustentável se não fosse tu, e tantos outros, semelhantes a mim”. No gueto em que vivíamos na época, a solidariedade se impunha para cimentar a unidade de um grupo social etiquetado como “privado de visão física”. Quando hoje repenso nessa reflexão, ela me parece ingênua, mas também mais verdadeira do que parecia em sua formulação simples. Meu amigo sabia que não se está só; e a primeira prova era minha presença como interlocutor, e depois a dos outros colegas de classe, e a existência de muitos outros que se sabia cegos, de acordo com as estimativas e as classificações das estatísticas. Talvez a frase “não estamos sós” designasse inconscientemente a presença bem maior das pessoas que sofreram nossa sorte e, de modo estúpido, o destino de cada um. As figuras míticas oriundas de nossa cultura greco-romana, como o Cíclope, Édipo, Ulisses, Tirésias e Argus nos revelam a história do olhar em suas formas mais primitivas. Desse modo, o Cíclope, arquétipo da visão instintiva mais rudimentar, provido de um só olho, vê de maneira unidimensional. Para ele, há ainda uma unidade paradisíaca do mundo e, mesmo ouvindo a voz de Ulisses, não pode se liberar desse apego ao todo da natureza para se pôr a olhar de outra maneira. É por isso que, no momento da castração simbólica, quando Ulisses o priva de seu único órgão da visão, ele continua a ver de modo monocular e cai na armadilha do Exposição “A Noite, minha cúmplice”, Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, agosto/2001. 1 2 16 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 Tradução de Francisco Settineri. Fotógrafo, escritor, filósofo e doutor em estética. Pesquisador do CNRS. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 17 SEÇÃO TEMÁTICA BAVCAR, E. Um outro olhar. grande astucioso que conhecia a diferença entre forma e conteúdo, entre o nome e a coisa; mais exatamente, para o Cíclope, Ulisses e Ninguém não passam de um, e como seus irmãos compreendem que ele não foi vítima de ninguém, eles não vão socorrê-lo. Sua visão se mantém unidimensional e não pode se opor à percepção binocular de Ulisses, que vê, por assim dizer, o nome e a coisa, em paralelo ou separadamente, se isso serve seus planos estratégicos. Com Ulisses, surge o olhar ligado ao saber: ele vê o que sabe, e nada mais. Por certo, ocorre o mesmo para o Cíclope, salvo que, à falta de saber olhar, não há um pensamento diferenciado; e ele deve, em conseqüência, olhar sempre a mesma coisa, ou seja, a unidade da natureza, o um e indivisível natural, que o conduz a seu fim trágico. No desenvolvimento do “saber olhar” mítico, Ulisses representa o olhar normal, ou seja, a visão comum, a visão natural, reputada perfeita. Ulisses tendo ganho a batalha contra o Cíclope, o olhar monocular é inadaptado quando o olho humano começa a pensar no que vê, e a diferenciar entre o significante e o significado, entre o objeto e seu signo, a pessoa e seu nome. De modo que, em relação ao Cíclope, Ulisses se situa no mesmo nível que a criança face ao espelho, face ao objeto que vai fazer nascer nela o olhar diferenciado. Não é por acaso que o olho do Cíclope é representado na arte sob a forma de um espelho. Na realidade, a figura desse monstro infeliz remete a nossa própria experiência face ao espelho, que nos obriga a separar a imagem refletida de seu objeto real. Na realidade, somos todos Cíclopes infelizes, tendo esquecido nosso destino trágico, certos e convencidos de que o olhar binocular de Ulisses é a única resposta possível à natureza. Isso significa que nossa condição de homem encontra, com Ulisses, a distância que nos permite pensar o mundo, sem cair na fatalidade mítica. O sacrifício do olhar monocular do Cíclope é necessário para pagar o privilégio de não olhar todo o tempo a mesma coisa, sem apelo e sem esperança de ver também por nós mesmos. O olhar monocular é o da fatalidade, que é, afinal de contas, cega, porque ela remete a si mesma, repetindo-se ao infinito, como o fazem os espelhos. Nessa perspectiva, Ulisses representa o olhar desligado do determinismo arcaico que, no destino de Édipo, vai-se revestir de uma outra forma, a da cegueira. O rei, não tendo reconhecido sua mãe, torna-se cego para poder olhar a mulher, ou seja, para superar o pecado original no qual ele cai sem o saber. É assim que sua resposta à Esfinge: “É o homem”, encontra seu pleno valor. Binocular perfeito, Édipo não sabia que não podia escapar da fatalidade mítica a não ser caindo na tomada de consciência de sua condição de homem; e eis que principia o nascimento do terceiro olho. Édipo, tendo perdido a vista – sua visão dupla –, não pode mais navegar entre o retorno à fatalidade e a separação insustentável de um Ulisses que se contenta com a diferenciação visual entre o nome e a coisa. Privado dessa capacidade, Édipo se dirige para uma terceira possibilidade, ou seja, uma visão que vai além de todo ver mítico e do ver diferenciado de Ulisses, para se voltar para o invisível. Talvez seja para os Ulisses satisfeitos consigo mesmos, com sua visão diferenciada, que se endereça a frase de Kazantzakis: “Que lástima para nossos olhos de argila, porque eles não podem perceber o invisível”. Em Édipo, trata-se do sacrifício dessa argila, para que o invisível – uma outra forma de existência – se torne objeto de seu desejo. Privado da visão binocular, ele encontra um referente sintético no terceiro olho que, só ele, pode ir para o invisível. Infelizmente, muitas vezes se compreendeu mal o destino de Édipo, pois os cristãos o consideraram às vezes como “o monstro grego”, sem admitir que ele representava uma parte deles próprios. É por isso que a tradição cristã o substituiu pela figura de Santa Luzia, que se dá mais no plano imaginário e, com a acentuação iconográfica da castração simbólica, tenta ocultar, ao mesmo tempo que a castração real, a noção do pecado original. Não podemos também esquecer todas as grandes injustiças, os preconceitos e os ultrajes que afetam aqueles que, nas imaginações, fazem figura de Édipo, o grupo social etiquetado de “os cegos”, apesar de seu terceiro olho. A arqueologia do olhar nos mostra que essa qualidade nova da visão humana se exprime ainda melhor no olhar de Tirésias, arquétipo per- C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 18 19 SEÇÃO TEMÁTICA BAVCAR, E. Um outro olhar. feito do olhar desligado dos fundamentos míticos. Tirésias nos propõe, de algum modo, os olhares limites, isto é, as visões que jamais aceitam o mundo tal e qual, mas tal como ele poderia ser. Sua interpretação da frase do oráculo: “É preciso se defender dos persas atrás dos muros de madeira”, não se satisfaz com o significado contido no enunciado simples, mas procura ultrapassar os nomes como “muros”, “madeira”, até criar a síntese em um terceiro termo: “os navios”. O resultado de sua visão é assim um processo criador, que a libera do determinismo contido nas palavras “muros” e “madeira”. O olhar de Tirésias leva, pois, mais longe que a visão dos simples mortais que vêem, que tomam, pois, em primeiro grau a resposta do oráculo: “É preciso se defender atrás dos muros de madeira”. Poder-se-ia acrescentar também, a esse processo dos olhares que nos liberam os arquétipos míticos, o olhar de Argus, que pode muito bem ver sem ser visto. Por certo, isso nos levaria demasiado longe na arqueologia da visão. Entretanto, é verdade que o mundo moderno, com suas inumeráveis câmaras, visíveis e invisíveis, põe-se a sonhar com o poder de Argus, quando, às vezes, em sua cegueira generalizada, ele perde a consciência de poder ser visto. Poder olhar sem ser visto é o anseio de um mundo policial que não se pensa mais a si mesmo, mas se crê absoluto em suas visões aparentemente ilimitadas. Na época do todo visual, que começa a nos fazer esquecer a importância do verbo e da narração, somos obrigados a nos interrogar sobre os fantasmas de Argus, para não esquecer de que, por perfeito que seja esse Argus, que constitui a técnica da ótica moderna, os olhos de argila, que não podem sempre ir para o invisível, são seu suporte real. Quanto mais se estende o mundo visível, mais se alarga, também, pela mesma lógica e na mesma proporção, o do invisível. Para quê servem todos os satélites de observação, Argus do espaço, se não sabemos mais olhar além de nosso pequeno quotidiano visível? Mesmo os cientistas mais sérios sabem que a extensão de nossa visão é bem pequena, em relação ao que as máquinas podem apreender do real. O astrofísico Peter von Balmoos pensa que mesmo os cientistas que observam o céu estão na posição de cegos, pois, no universo conhecido, comparado a um piano de 53 oitavas, eles só podem ver com seus próprios olhos uma única pequena oitava. Nesse caso, talvez não se deva fiar-se apenas no olhar tecnológico da ciência, se nossa língua, nossa representação interior, não são capazes de segui-lo. É preferível, como diz um provérbio russo, “acreditar em seu próprio olho, mesmo se ele é vesgo”. No domínio da ciência moderna, não seria abusivo conferir mais valor a nosso terceiro olho, o da representação interior, voltado para o invisível. Nosso mundo moderno tornou-se evidente, pois na aparência tudo nele é transparente e reconhecível. As câmaras que nos perscrutam a partir do céu, mas também as que são instaladas em nossas moradas terrestres, são a expressão de um Argus tecnológico, que voltou seus inumeráveis olhos para o interior, ou seja, para a auto-satisfação narcísica do olhar sobre si. Nos observamos, tendo esquecido de que esses olhares já são manipulados e não nos permitem nos vermos tal como realmente somos. A esse respeito, poder-se-ia evocar as pessoas de televisão, que são vistas sem poder ver; mas ocorre o mesmo para cada um: o fato de ser visto sem poder olhar torna-se uma prática universalmente disseminada. Ocorre-me às vezes pensar que meu colega cego, na escola elementar, falava mesmo a verdade, quando constatava que não se estava só. Seria preciso, pois, definir verdadeiramente de outra forma a cegueira, em relação ao mundo dos videntes, que acreditam tudo ver, mas que esqueceram que passar por Édipo ou Tirésias é nosso destino comum. Plotino dizia: “Se os homens não tivessem qualquer coisa de solar, não poderiam perceber o sol”. Provavelmente o tenhamos esquecido, recusando a nossos olhos, que participam da essência das estrelas, seu direito às origens, seu direito a olhar para o infinito. Entretanto, em cada época da história dos homens existiu um infinito, para além do horizonte de nosso olhar físico. O infinito, como aspiração a ir além do visível, foi sempre a vontade de ver as coisas exteriores por C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 20 21 SEÇÃO TEMÁTICA BAVCAR, E. Um outro olhar. nossa interioridade também, e de dar assim a nosso olhar exterior a capacidade de ultrapassar as visões mais imediatas. No olhar humano de hoje, reflete-se a memória de todos aqueles que, antes de nós, queriam olhar com seus próprios olhos, e que nos legaram o dever de prosseguir sua missão, nas dimensões temporais e nos espaços do universo que são nossos. É por isso que devemos levar a sério essa missão transmitida por tantos olhares que, apesar de um fraco apoio tecnológico, descobriram novos mundos e realidades celestes inéditas. Isso significa também que não devemos nos contentar com o céu estrelado pelas câmaras que nos perscrutam, mas que devemos tentar sempre olhar com nossos próprios olhos, por frágeis que sejam. São os cegos que recusam não ver senão através do unidimensional do olhar, e que acreditam na necessidade mítica da passagem pela cegueira para aceder a uma nova visão do mundo. Não posso imaginar uma visão nova que não tivesse origem no ponto cego que dá ao olho humano a possibilidade de distinguir entre a luz e as trevas. Aceitar a cegueira é admitir o mundo dos objetos que manifestam sua materialidade por meio das sombras que lhe asseguram uma realidade tangível, para além da transparência absoluta do todo-visível. Não podemos nos tornar reféns da luz, fugindo da fatalidade mítica que nos priva da fusão feliz com a natureza, para nos permitirmos tomar nossas distâncias e compreender o enigma da Esfinge. É por isso que não quis jamais considerar a cegueira unicamente no plano individual, ou seja, no gueto de um grupo social ao qual pertenço, mas sempre no contexto mais amplo da experiência universal. Para mim, os cegos representam o único grupo que ousa olhar o sol diretamente nos olhos. Como as antigas vítimas propiciatórias, imoladas aos cultos solares, eles aceitam o sacrifício, a fim de que um outro sol se levante. Esses Narcisos sem espelho e esses pintores privados de imagens jamais constituíram, para mim, uma categoria à parte, na qual a história ocidental teria querido dispô-los, mas são humanos integralmente. E encontro freqüentemente arquétipos da cegueira, quando erro em minhas galerias interiores, onde às vezes convidados insólitos me fazem companhia em meus olhares para o invisível. Essas silhuetas não me dão mais medo como outrora, quando a decisão de outrem, bem mais que minha própria experiência, fazia de mim um cego. Se me defino como iconoclasta exterior e iconófilo interior, é para tentar reconciliar os dois modos de visão possíveis, e sobretudo para revalorizar o olhar do terceiro olho. Penso que, desde os gregos, este foi esquecido ou ocultado pelo progresso de uma visão que pretende tudo ver sem nada saber e sem se representar o que viu. Comunicando a outrem as imagens de meus próprios algures, faço de minha fotografia uma espécie de diálogo que lhe assegura uma existência interativa. De resto, contento-me com luminosidades frágeis, que clareiam meus espelhos interiores e dão um sentido às imagens dos sonhos. Pois, o que se esquece com muita freqüência, os sonhos também precisam de esclarecimento e de ícones aos quais endereçar nossas preces noturnas. Por fracas que sejam, as imagens de sonho são sempre a expressão de uma natureza outra que, à banal transparência do quotidiano, opõe as frágeis visões esclarecidas do interior, ou seja, por si mesmas. Pode-se, pela mesma lógica que fazia Plotino dizer que o olho humano não poderia perceber o sol se ele próprio não tivesse qualquer coisa de solar, afirmar que o dia que nos ofusca não nos daria a menor imagem, se nosso olho não fosse para ele preparado pelos sonhos noturnos. E, se às vezes somos obrigados a observar o mundo de olhos fechados, é sobretudo para conservar o caráter frágil dos sonhos que nos levam aos espelhos do invisível. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 22 23 SEÇÃO TEMÁTICA TESSLER, E. Paradoxos quase invisíveis. PARADOXOS QUASE INVISÍVEIS1 Elida Tessler2 D esde que ouvi falar pela primeira vez em Evgen Bavcar, fiquei completamente intrigada por sabê-lo fotógrafo e cego. Eu, como provavelmente muitas outras pessoas que tomaram contato com o seu trabalho, custei a aceitar a possibilidade da associação entre um homem que não vê e a produção de imagens. Esta primeira dificuldade traduz um estado de ignorância latente que devemos combater quando estacionamos muito rente ao meio fio da calçada da obviedade, principalmente quando queremos abordar assuntos referentes às artes visuais. Os olhos nem sempre estão dispostos a nos fazer ver para crer. Devo ao próprio Evgen Bavcar a coragem de enfrentar meus limites e me lançar em uma aventura que ainda não terminou. A partir da leitura de seus escritos; da análise da produção de outros artistas, principalmente da francesa Sophie Calle; da leitura de “Ensaio sobre a cegueira” de José Saramago; de alguns filmes cujos diretores são muito sensíveis ao tema da percepção através do olhar; e, de modo definitivo, olhando as fotografias realizadas por Bavcar, em sua casa numa tarde quente de verão (1997), onde pudemos conversar, creio que posso me autorizar a tecer algumas reflexões em torno de nossas cegueiras cotidianas. EVGEN BAVCAR Evgen Bavcar nasceu em 1946, na Eslovênia. Nasceu cego? Não. Evgen Bavcar pode vislumbrar muitas paisagens, principalmente aquelas de Ljubljana, as quais ele guarda com carinho em sua mente e as retrabalha a cada imagem que produz. Foi através das janelas de um hospital daque- la cidade que, em 1957, Bavcar viu uma última imagem: a de um tramway que seguia seu curso. Sim, a memória é a matéria-prima deste fotógrafoartista-filósofo-poeta. Bavcar pode enxergar até a idade de 11 anos, quando o destino encarregou-se de retirar-lhe este bem precioso: a visão. Foram dois acidentes consecutivos que o feriram fatalmente, primeiro um, depois o outro olho. Durante o intervalo entre os dois acontecimentos, Bavcar diz ter observado o mundo apenas com um olho. Experiência monocular, aprendizado de miradas certeiras, talvez. Em seus escritos, ele nos conta: “Eu não fiquei bruscamente cego, mas pouco a pouco, com a passagem dos meses, como se se tratasse de um longo adeus à luz. Desta forma, tive eu todo o meu tempo para dar conta do vôo dos objetos mais preciosos, as imagens dos livros, as cores e os fenômenos do céu, e lhes carregar comigo em uma viagem sem retorno. Talvez tenha sido uma sorte que isto tenha se passado lentamente. Talvez tenha sido somente o cinismo do destino que tratava deste retardamento. Espero não ser nunca obrigado a responder estas questões de modo preciso3.” Atualmente, Evgen Bavcar vive em Paris, em uma tradicional avenida do bairro 14. Em frente à porta de entrada de seu prédio, encontra-se, estrategicamente bem colocada, uma saída de metrô. A poucos passos dali, uma rua destinada somente para pedestres, repleta de cafés, pequeno comércio, feira permanente de frutas, legumes, frutos do mar e outras especiarias perfumadas. Talvez Bavcar alimente-se também deste burburinho. Ele o freqüenta com uma naturalidade impressionante. Olhando suas fotos, percebemos o quanto elas traduzem de sua percepção do mundo. Ele foi naturalizado como francês em 1981 e trabalha até hoje como pesquisador junto ao CNRS. Sua formação profissional compreende estudos de filosofia e estética. Sua tese de doutorado intitulou-se “Arte e soci- 1 Uma primeira versão mais ampliada deste texto foi publicada na Revista Porto Arte, Revista do PPG em Artes Visuais, UFRGS, v. 9, nº 17, 1998. 2 Artista plástica. Professora do Instituto de Artes da UFRGS. 24 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 3 BAVCAR, Evgen. Le voyeur absolu. Paris: Seuil, 1992, p. 8. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 25 SEÇÃO TEMÁTICA edade nas estéticas francesas contemporâneas”. SILÊNCIOS Evgen Bavcar produziu algumas séries de fotografias separadas em três seqüências, sob um mesmo título: “Silêncio”. Temos a seqüência I, II, e III. Em seu livro, ele nos faz ver algumas destas imagens, acompanhadas, cada uma, de um breve ensaio sobre as suas experiências. Ao lermos seus escritos, não temos mais nenhuma dúvida em relação à origem deste silêncio. Trata-se da elaboração de uma perda, de uma irreversibilidade absoluta: a morte de sua mãe. São muitos os detalhes ampliados pelo texto e pelas fotografias. O principal deles constitui-se de um acender de velas. “Disseram-me que as velas brilhavam”, inicia Bavcar, abrindo o texto da primeira seqüência. A partir deste breve depoimento, Bavcar permite-se fazer associações acerca dos momentos de sua infância nos quais velas eram acesas por sua mãe. Ele chega a descrever o som, o ruído do arranhar do palito na lixa da caixinha de fósforo. São suas lembranças que brilham no lume das velas acesas, e é uma estranha luz que faz possível o surgimento de uma fotografia em preto e branco: “Ícone” é o título da foto que apresenta um móvel antigo, talvez pertencente à sua mãe. Na imagem, ele aparece como sombra luminosa centralizada em fundo totalmente escuro, chapado. O contorno branco é vazado pelos espaços pretos, apresentando um aspecto fantasmático da memória. Poderíamos dizer que se trata, neste caso, de um esboço de imagem. A primeira sensação assemelha-se àquela que experimentamos ao estar diante de uma das formas moles do artista americano Robert Rauschenberg. Desta primeira seqüência, fazem parte também duas fotografias intituladas “Nostalgia” e uma outra cujo título anuncia a lembrança: “Paisagem da infância eslovena”. Torna-se aqui necessário dizer que Evgen Bavcar não se contenta em apenas ampliar a imagem gravada em superfície sensível do filme fotográfico. Sobre o negativo revelado, ele arranha, desenha com instrumento pontiagudo, inscreve, grafita, produz também seus ícones: coqueiros, barcos, pautas musicais. 26 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 TESSLER, E. Paradoxos quase invisíveis. PAUTAS MUSICAIS O silêncio é, sabemos, uma grande pausa. O silêncio é componente essencial da música. É o branco da página para o poema; é o espaço entre uma forma e outra de uma produção em qualquer uma das categorias das artes visuais. O silêncio nasce, para Evgen Bavcar, no momento em que ele espera algum retorno de suas batidas na madeira do caixão onde repousa o corpo de sua mãe, momentos antes do enterro. Como resposta, nada além de um som ôco. “Era a sua última mensagem”, conta-nos o autor “Sem palavras. Sim, o silêncio, a palavra que eu procurava em vão em todos os dicionários e em todas as línguas vivas ou mortas, se fez calada4”. “O Silêncio” é também o título do filme de diretor iraniano Mohsen Makhmalbaf. Um filme que me fez mergulhar mais uma vez nas fotografias de Evgen Bavcar e, através delas, em todo o universo misterioso da cegueira. Assistir ao filme, uma, duas, três ou quantas vezes for necessário eqüivale simplesmente a colocarmo-nos diante de uma questão essencial: quais são as nossas maneiras de nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor, o pequeno mundo que nos faz existir? O que fazemos com os nossos sentidos? Ou ainda mais diretamente falando, como lidamos com a nossa cegueira habitual? O filme inicia com os sons da rotina matinal do personagem Khorshid, um menino de cinco anos, cego, que ajuda o orçamento familiar empregado como afinador de instrumentos musicais em uma loja da região. São quatro batidas ritmadas e insistentes na porta da casa, anunciando a proximidade do dia do pagamento do aluguel. São os zunidos de uma abelha, bichinho de estimação do menino, com a qual ele mantém diálogos fascinantes. “Não vá se perder” orienta o rapaz, que parece sofrer deste mal, pois se perde freqüentemente, quando se dirige ao trabalho, todos os dias, fazendo o percurso de ônibus. 4 BAVCAR, op. cit., p. 76. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 27 SEÇÃO TEMÁTICA O filme “O silêncio” provocou-me uma série de associações e lembranças, fazendo-me refletir ainda um pouco mais sobre o silêncio de Evgen Bavcar, permeado de lembranças da infância. Em suas descrições, encontramos sempre uma cor definida para o céu (um dia azul, outro mais cinza), a terra marrom. Do cortejo de seu pai (Bavcar tinha sete anos de idade quando seu pai faleceu), ele retém a cor escura do vestido de sua mãe e o silêncio das montanhas. Para Khorshid, o som da abelha era um porto seguro. Para Bavcar, o canto de uma cigarra, segundo seus próprios depoimentos, foi capaz de sossegar um pouco a angústia do momento de escrever suas narrativas para a segunda seqüência de fotos denominada “Silêncio”. Assim comenta o autor: “Perto da janela da cozinha, escutávamos sempre uma cigarra cantar infinitamente longos adeuses. Ao longe, reconheci o ruído do córrego, enquanto que o sopro do Loire nas castanheiras enganava o silêncio. No ar, ressentia sempre o hálito familiar do outono que, vindo, me esmagava com um sentimento doloroso de solidão. Como sempre, eu caminhava sob as janelas da casa. Eu espera escutar, no silêncio, da janela mais alta, a tosse de minha mãe, sua tranquilizadora presença. Mais isto me fazia curvar cada vez mais em direção à terra5”. Uma relação muito forte para Bavcar é aquela entre sua mãe e a Eslovênia. Mãe e terra natal. Útero e berço. Toda a série da terceira seqüência de fotografias de “Silêncio” é dedicada à Eslovênia. A primeira delas, reproduzida em seu livro, retrata uma moça que sorri, braços cruzados e rosto excessivamente iluminado, no interior de uma residência. Na parede, bastante visível, um mapa emoldurado tal como o vemos, seguidamente, nas telas de pintura do pintor holandês Vermeer, com a seguinte pergunta escrita no alto: Slovenija. Where is it? Esta mesma pergunta encontraremos escrita, manuscrita, arranhada no negativo de algumas outras fotografias, cujas imagens não são evidentes, isto é, não são óbvias. O que vemos? Não sabemos ao certo. 5 BAVCAR, op. cit., p. 84. 28 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 TESSLER, E. Paradoxos quase invisíveis. Melhor entregar-mo-nos ao devaneio e perder-mo-nos no caminho. Em uma outra de suas publicações, “Images d’ailleurs” encontramos a seguinte imagem de abertura: a ampliação de um negativo com um retângulo centralizado horizontalmente, com a mesma pergunta, inserida na forma geométrica. Da maneira como se encontra, mantém uma familiaridade com os conhecidos quadros do artista contemporâneo francês Ben Vautier. ESPELHOS “- O que é isso? - Um espelho. - Para que serve? - Para se olhar. - Eu também apareço?... Onde estou nele? - Este é o seu rosto... Estas são suas sobrancelhas... Este é você, Khorshid!” Este é mais um pequeno fragmento do diálogo entre o menino cego e a sua acompanhante, em um momento de repouso na beira de um lago, que, por si só, já seria um espelho. A menina possui um espelhinho de mão, e admira-se nele, após enfeitar-se com cerejas nas orelhas, feito brincos, e pétalas de flores nas unhas, manicure infantil. Como não evocar os espelhos quando queremos apontar a complexidade do mundo das imagens? O espelho também é um objeto caro a Evgen Bavcar, que tem o hábito de usar um como broche na lapela, a fim de que seus interlocutores possam encontrar o retorno de seu olhar ao conversar com ele. Pois como um cego poderia fazê-lo melhor? Na casa do fotógrafo, encontramos espelhos dos mais diferentes formatos, colocados em vários locais não muito habituais. Na parede, em alturas diversas, nas prateleiras de livros, na cabeceira da cama. Neste último local, também podemos ver uma ou duas bonecas, com o rosto de borracha voltado para a parede. Evgen pede-me que não as fotografe, e muito menos que as toque. Ele diz que somente C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 29 SEÇÃO TEMÁTICA ele, em sua intimidade absoluta, pode “ver” os olhos delas. Detalhes de sua maneira de viver que nos indicam que o seu pensamento está muito além do de um fotógrafo cego, como é geralmente classificado pelos que o conhecem a partir da mídia. Pois os espelhos também o ajudam a fazer com que seu interlocutor assuma um outro ponto de vista. Esther Woerdehoff nos faz conhecer um fato elucidativo: um dia, uma senhora manifestou seu desejo de ser fotografada por Bavcar. Por quê alguém se preocuparia em se fazer bela para ser mirada por um homem que não vê? Bavcar então lhe pede que se aproxime de um dos inumeráveis espelhos de seu apartamento, se olhe e se enquadre ali. Pede também que o pegue pelas mãos, o conduzindo para diante da imagem. “Mostre-me a mulher que você reconhece no espelho!”. É a sua última demanda. Entre o “olhe-me” provocativo da mulher que se oferece como modelo e o “olha-te” irônico do fotógrafo, encontramos a justa medida das implicações contidas no complexo enredo de nossa perplexidade preconceituosa. Mostre-me a mulher que você é, Sophie Calle. A artista plástica Sophie Calle6 tentou encontrar-se com Evgen Bavcar e, sem intenção, tornou-se eixo central de suas contestações face ao preconceito em relação aos cegos. Vejamos porque seu trabalho contribui para as nossas reflexões em torno deste tema tão complexo. Há algo de comovente na constatação de uma impossibilidade. Ao contemplarmos o que falta ao outro, sucumbimos às lacunas que nos habitam silenciosas. De nossos olhos, pode vazar a sensação úmida de um entendimento súbito: olhar não eqüivale a ver; ver não eqüivale a saber (a verdade). UMA EXPOSIÇÃO TESSLER, E. Paradoxos quase invisíveis. A exposição “SOPHIE CALLE, À SUIVRE....” constituía-se de várias salas, separadas por “assuntos”, digamos assim, onde encontrávamos séries de fotografias apresentadas em moldura e vidro, como quadros. Ora em preto e branco, ora em cores, as dimensões variavam bastante. Em todas as situações, dependíamos da distância em que nos colocávamos para “ver”. Este dado é inerente a todo contexto de apreciação das artes visuais. Porém, esta exposição deixou-me também em reticências, como sugerido em seu título. Desde o início do percurso, tive a sensação de estar penetrando no universo íntimo da artista. Através de suas fotografias, podia-se ver o que ela viu, sorrateiramente. De uma sala à outra do museu, tínhamos a oportunidade de testemunhar um acontecimento, seja de pessoas dormindo em uma cama comum, por exemplo, seja uma viagem de trem, através de um compartimento ocupado por duas pessoas, seja ainda instantâneos em quartos de hotel, na ausência de seu habitante. Diante de mim, encontravam-se as imagens enquanto provas. A fotografia, de modo geral, é documento. Ela registra uma realidade. Ela congela um instante. Ela amplia um gesto. Não estaríamos exagerando se disséssemos que a fotografia é uma memória materializada. Mas estará ela sempre ligada ao real? Até que ponto podemos acreditar em nossos olhos? Em um primeiro momento, a exposição de Sophie Calle parecia estar querendo contar uma história. As imagens foram justapostas em seqüência, como uma história em quadrinhos. Havia até mesmo legendas, textos breves ao lado da cena ou interagindo com os objetos e/ou pessoas fotografados. Não temos dúvidas quanto à intenção da artista de nos fazer testemunhar algo. Existe uma vocação narrativa inerente à fotografia. Porém, o certo é que a situação onde fomos colocados não era nada confortável: ou voyeurs ou sujeitos enganados. Jamais descompromissados trauseuntes. 6 Sophie Calle nasceu em 1953, em Paris, onde vive atualmente. Seu trabalho e sua personalidade são um dos pontos que trata Evgen Bavcar, em entrevista publicada no v. 9, n. 17, da Revista Porto Arte. A referida exposição tinha por título “Sophie Calle, à suivre...” e foi realizada no Museu de Arte Moderna da cidade de Paris, em 1991. 30 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 A ARMADILHA A imagem de um rosto. A transcrição de um depoimento. A fotografia da cena, da paisagem, do objeto ou pessoa descritos no texto. Eis os C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 31 SEÇÃO TEMÁTICA TESSLER, E. Paradoxos quase invisíveis. elementos que formavam o conjunto de cada um dos “quadros” de Sophie Calle para o módulo intitulado “OS CEGOS” de sua exposição. Associando um a outro destes elementos percebíamos que se tratava do imaginário construído por um indivíduo cego de nascimento. A pergunta que teria sido colocada a cada um deles foi a seguinte: “Qual é a sua imagem de beleza?” As respostas constituíram a fonte de todo o trabalho da artista. Transcrevo aqui algumas das respostas: “A coisa mais bonita que já vi foi o mar, o mar a perder-se de vista”. “O mar, o imagino belo, muito mais do que todas as descrições que já me fizeram. Eu teria tendência a gostar do azul, porque associo-o ao mar. Creio que, se pudesse ver, seria marinheiro.” “Do belo, tenho feito meu luto. Eu não tenho necessidade da beleza, eu não tenho necessidade de imagens em meu cérebro. Como eu não posso apreciar a beleza, eu fujo dela.” Estes depoimentos são dramáticos. Perto de cada um deles, Sophie Calle colocou o retrato, o rosto do indivíduo cego, frontalmente, com seus olhos voltados para o espectador. Junto, encontramos também a fotografia do que estaria sendo descrito: mar, o céu estrelado,... E a ausência completa de imagens perto daquele que foge da beleza. Como disse, havia algo de comovente. Acusava-se a falta de um de nossos cinco sentidos àquelas pessoas. Então, víamos alguém impossibilitado de ver. Perversamente, gozávamos esteticamente a partir do sofrimento do outro. O enredo estava muito bem montado. Entretanto, tudo isso não passava de uma armadilha. Qual é o problema? Onde está o tropeço? Pois justamente onde há verdade, há mentira. Onde há realidade, há ficção. E onde há visão, há cegueira. Um elemento não descarta o outro, e a inter-relação torna-se ponto nodal de todo o processo de criação de Sophie Calle. Se ficamos emocionados com as frases dos cegos no momento de sua leitura, sentimo-nos depois extremamente traídos ao tomar conhecimento de que nem tudo é verdade. De fato, a artista pesquisou o universo dos cegos, investigando peculiaridades de suas vidas. Colocou questões, fotografou seus rostos e procurou, em torno deles, imagens que correspon- dessem às respostas fornecidas. Porém, algumas formulações desejadas não chegaram a existir, isto é, Sophie Calle gostaria de ter ouvido alguns depoimentos que não foram ditos. Coube a ela, nestes casos, inventar respostas, forjar fisionomias, criar as cenas. É sabido que algumas respostas são verdadeiras e poucas entre elas são falsas. Mas quais? Ninguém sabe. Ninguém? Pois foi justamente o projeto deste trabalho que fez com que Sophie Calle marcasse, por telefone, um encontro com Evgen Bavcar. Ela gostaria de fotografá-lo e entrevistá-lo. Foi logo dizendo: “Eu gostaria de vê-lo para...” Ao que ele respondeu: “Eu também gostaria de vê-la”. O encontro deu-se no apartamento do fotógrafo, totalmente escurecido feito câmara obscura. Ali, ninguém poderia ver o que quer que fosse. “Sente-se” disse amavelmente o anfitrião. “Aonde?” – replicou a artista “eu não estou vendo nada!”. “Eu também não”, foi a frase final, que imprimiu de uma vez por todas o grau de impossibilidade de tal encontro. Ao escutar os depoimentos de Bavcar, tive a impressão de que ele compreendeu de maneira muito contundente a intenção da artista, e fez rodar a moeda para que ela caísse em seu reverso. Neste giro, cá estamos nós a tatear o espaço entre os paradoxos da cegueira no campo das artes visuais. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 32 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAVCAR, Evgen. Le voyeur absolu. Paris: Seuil,1992. BAVCAR, Evgen. Les tentes démontées ou Le monde inconnu des perceptions. Paris: Item, 1993. BAVCAR, Evgen; BOESCH, Jacques; WOERDEHOFF, Esther. Evgen Bavcar L’inaccessible étoile. Un voyage dans le temps. Berne: Ed.Benteli, s.d. SAGNOL, Marc. Evgen Bavcar, iconographe de la mémoire. In: Catálogo da Exposição Evgen Bavcar - Images d’ailleurs. Institut Français de Dresden/Institut Français de Berlin, 1991. Sophie Calle - relatos. Catálogo da exposição realizada na Sala de exposições da Fundación La Caixa - dez/96-jan/97. Curadoria de Manel Clot. 33 SEÇÃO TEMÁTICA SOUSA, E. L. A. de. Noites absolutas. NOITES ABSOLUTAS Edson Luiz André de Sousa “Não se percebe nada se não se pode formular uma linguagem” Bavcar Exposição “O Ponto Zero da Fotografia”, Casa de Cultura Mário Quintana, julho/2001. E m 1933, o escritor japonês Tanizaki Junichirô publicou um livro comovente tentanto dar conta da concepção japonesa do belo1 . Sua obra-prima intitulada “Elogio da sombra” narra inúmeras experiências vividas por ele, demonstrando a importância das sombras, dos espaços vazios, do silêncio para captarmos a presença luminosa dos objetos, os quais, como sabemos, funcionam na condição de ventríloquos das ficções que podemos construir de nós mesmos. Em uma de suas narrativas de seu “Elogio da Sombra” relata, por exemplo, sua decepção ao chegar num conhecido restaurante de Kyoto, o Waranji-ya, e perceber que haviam substituído os arcaicos castiçais por lâmpadas elétricas. Argumen- taram a ele que muitos clientes se queixavam da excessiva obscuridade. Tanizaki, que tinha ido até ali para justamente buscar este prazer da luz dos castiçais, pediu então para que trouxessem um, e se instalou num dos recantos do restaurante. Passa a descrever a beleza dos objetos em laca, convencido de que a obscuridade é condição indispensável para se poder apreciar a beleza de tais objetos. Esta subtração de luz delineia um outro contorno ao objeto e certamente recupera uma nova configuração do pensamento. Tempo de uma memória imprecisa que nos lança o desafio de remontarmos a cena infantil, como se voltássemos a ver as peças de nossos brinquedos espalhadas num espaço que não reconhecemos completamente. Esta é, sem dúvida, uma das condições de nossa cegueira, a de todos, e que por nossa teimosia narcísica insistimos em esquecer. É aqui, também, que os sonhos, como estrelas cadentes, pulsam todas as noites nos mostrando que a densidade de uma imagem depende do esforço da palavra e o amparo de um testemunho que reconheça e legitime a experiência do inconsciente. É, por esta razão, que a obra luminosa de Evgen Bavcar nos interpela sobre a condição da visibilidade. Ele é categórico ao afirmar que “não podemos conceber uma arqueologia da luz sem considerar a escuridão, e sem elucidar o fato de que a imagem não é apenas alguma coisa da ordem do visual, mas pressupõe, igualmente, a imagem de obscuridade ou das trevas”2. Bavcar vai, então, buscar no quadrado negro de Malevitch um estado primeiro da imagem, como uma borracha que precisa abrir espaços na folha repleta de traços. Imagine que saímos pela vida apenas com uma folha. Nossa mão trêmula, diante dos acontecimentos da história que vamos traçando e na ânsia de registrar a experiência, não encontra outra saída senão escrever sobre o que já foi escrito e, assim, cada vez mais, o próprio texto funciona como superfície dos novos registros. A 2 1 JUNICHIRÔ, Tanizaki. Éloge de l’ombre, Paris: Publications Orientalistes de France, 1977. BAVCAR, Evgen. O Ponto Zero da Fotografia. Catálogo da exposição na Galeria Sotero Cosme – Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, julho 2001, p. 11. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 34 35 SEÇÃO TEMÁTICA superposição embaralha a leitura, mas também nos dá a verdadeira condição da história. Bavcar, em muitas de suas fotografias, trabalha com imagens superpostas remetendo o espectador a este tempo de uma suspensão do olhar, em que o embaralhamento dos espaços e dos tempos tem um sentido que eu chamaria interpretativo. Por esta razão, ele insiste que o “Quadrado negro” de Malevitch traz a esperança de um olhar para além do banal onde tudo se nivela. Diz ele: “É preciso ir agora para trás do quadrado negro, concebendo as trevas não somente como superfície mas sobretudo como um volume, como um espaço existencial em que podem ainda aparecer algumas estrelas redentoras brilhando por sobre o novo”3 . As fotografias de Bavcar funcionam como imagens de uma utopia que nos reconduzem a justa medida de uma relação perdida com o mundo. Seguindo a pista de Roger Dadoun que distingue duas concepções opostas de Utopia, trata-se aí certamente da Utopia de um tempo do inconsciente4. Esta concepção de utopia inverte o vetor tradicional que vai do presente para o futuro posicionando o sujeito, justamente, no sentido inverso. Não se trata de uma forma proposta à espera de realização mas sim de proposições que nos ajudam a recuperar, em parte, algumas formações do inconsciente. Tem, portanto, um sentido muito mais interrogativo e crítico. Funcionaria no meu entender, como uma arqueologia dos “textos” embaralhados diante de nossos olhos. Sabendo um pouco dos contornos destes textos poderemos, quem sabe, recuperar os espaços em branco, os espaços de silêncio que podem dar mais visibilidade ao novo. Acabo de ver uma exposição de Evgen Bavcar intitulada “O Ponto Zero da fotografia” e que esteve durante o mês de julho na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em nossa cidade. Bavcar demonstra com seu trabalho o ponto zero do encontro entre o verbo e a imagem. Suas imagens, SOUSA, E. L. A. de. Noites absolutas. produzidas através da câmara obscura que ele diz ser, desvendam a anatomia deste encontro, tentando recuperar “a noite que precede o dia das figuras conhecíveis”. Em uma das fotografias, uma mulher mergulhada na escuridão, toca violoncelo. Há um foco de luz em seu rosto, em parte de seus braços e no instrumento musical. O violoncelo parece ser, na fotografia, parte do seu corpo como se ela tirasse o som das cordas de seu ventre. O silêncio musical do ato fotográfico provoca nossa imaginação e damos seqüência a melodia, exatamente como propõe Lezama Lima, quando diz que cada objeto ferve e entrega sucessão5. O violoncelo/corpo feminino revela portanto um estado de nudez, colocando o espectador numa posição de voyeur. A música também funciona como luz. Bavcar no seu livro “O voyeur absoluto” relata que, ao escutar um músico tocando e cantando em português algumas composições da bossa nova, percebeu que a música era tão luminosa que quis pintá-la6. No primeiro plano desta fotografia, vemos um relógio despertador antigo, do qual só nos é dado ver a parte superior, iluminada com um tênue facho de luz. O relógio, ao contrário do violoncelo, parece estar em silêncio, parado, sem ponteiros visíveis, metáfora viva de uma trégua da morte. Lembrei imediatamente de um escrito de Bavcar onde ele fala de seu desejo de suspender o tempo, sobretudo de sua infância que teria terminado rápido demais. Descreve de forma comovente como costumava desenhar relógios em seus braços, os quais tinham para ele o sentido de um “tempo parado dos meus sonhos”7. Bavcar perdeu a visão em dois acidentes entre os 10 e 12 anos. No primeiro um galho feriu seu olho esquerdo. No segundo um detonador de mina que manipulava explodiu e feriu seu olho direito. No segundo olho, foi perdendo a visão 5 LEZAMA LIMA, José. A dignidade da poesia, São Paulo, Ática, 1996, p.127. BAVCAR, Evgen. Le Voyeur Absolu, Paris, Seuil, 1992, p.11. 7 BAVCAR, Evgen. L’Inaccessible étoile. Um voyage dans le temps, Berna, Editions Benteli, 1996, p.91. 6 3 4 BAVCAR, Evgen. op. cit. p. 13. BARBANTI, Roberto. L’art au xxe siècle et l’Utopie, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 24. 36 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 37 SEÇÃO TEMÁTICA lentamente “como um longo adeus a luz”. Passou então a recolher do mundo visível tudo que poderia, num tempo dos detalhes infinitos. Muitas destas imagens guardadas retornam em seu trabalho recuperando algo que, na verdade, é uma condição de todos nós, ou seja, recuperar parte destes fantasmas infantis perdidos. O relógio “sem ponteiros” observa a mulher que toca. O surpreendente é que há uma parede obscura ao fundo que acolhe serenamente as sombras das imagens. Vemos, portanto, a sombra desta mulher envolvida por uma auréola de luz. Este sol noturno mostra a exata circunferência que o relógio deixou em suspenso. Ali, a sombra, está completamente envelopada por um círculo de luz evocando um tempo e imagem escondidos de nosso olhar. É bem visível a mão projetada na parede como uma radiografia da alma já que podemos ver a mão esquerda, a que toca as cordas, num certo estado de suspensão, numa clássica posição de prensa. Assim, podemos imaginar o que somos capazes de tocar e segurar e o que podemos, eventualmente, deixar cair de nossos dedos. Movimento que dá corpo à música que supomos poder ouvir e que embala nossas noites absolutas. Bavcar com seu trabalho nos ajuda, portanto, a redescobrir nossos pontos cegos, esperança de outras imagens possíveis. FOULKES, B. M. Edipo fotógrafo. EDIPO FOTÓGRAFO Benjamín Mayer Foulkes1 E vgen Bavcar invoca la figura de Edipo en al menos dos ocasiones. Primera: “El hecho de que la gente me interrogue con tal insistencia acerca de por qué tomo fotografías, y de que se sorprenda de que efectivamente tenga la capacidad para producir imágenes, es consecuencia de prejuicios psicológicos, históricos y sociológicos acerca de los ciegos. Si las personas quedan perplejas es porque interviene su propia relación con la ceguera, a veces su temor, a modo del complejo de castración, o de una evocación directa de sus propio complejo de Edipo. Desde la perspectiva de algunos, y esto es algo que comparto con muchos de mis amigos ciegos y que he confirmado en numerosas experiencias, yo represento una suerte de Edipo después del hecho”. Segunda: “Edipo me aporta el testimonio de su mirada ausente y me explica el itinerario que lleva al tercer ojo” En la primera describe el encuentro de los fotógrafos y los espectadores videntes con su obra en particular, y con la figura del fotógrafo ciego en general. Mediante esta invocación de Edipo, el fotógrafo ciego da cuenta del efecto ominoso que entre los espectadores “videntes” tiene su presencia y su producción: al toparse con Bavcar, éstos se hallan intempestivamente ante un otro que les obliga a mirar de nueva cuenta aquello que habrían reprimido, a saber, su ser también “una suerte de Edipo después del hecho”. La segunda invocación que de Edipo hace Bavcar refiere a la genealogía misma de su obra, una obra cuyo objeto central de elaboración es aquello que Bavcar llama el “tercer ojo”2. Mediante esta segunda invocación, Bavcar 1 Psicanalista mexicano. Membro da Fundación Mexicana de Psicanálisis. Professor e pesquisador da Universidade de Anáhuac. 2 CFR. Benjamín Mayer Foulkes, “Evgen Bavcar: el deseo de imagen” en: Luna córnea, n. 17, Centro de la Imagen, México, 1999. 38 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 39 SEÇÃO TEMÁTICA da cuenta del impulso mismo de su trabajo, un trabajo que se ocupa de aquello de lo que sería, a su vez, efecto; pues en Bavcar el “tercer ojo” es el nombre, necesariamente fallido, de la simultánea instauración y subversión de lo nominable, así como de los ámbitos de lo visible y lo invisible, el punctum caecum en que convergen la historia del arte en Occidente y la historia de la destrucción de las premisas de dicha historia; el “tercer ojo” designa, entonces, la simultánea puesta en juego y disolución de toda distinción estable y definitiva entre la luz y la obscuridad, la vista y la ceguera, la percepción y la memoria, el autor y el ejecutante, el emisor y el receptor, el original y la copia, esto es, de toda distinción sin más. De ahí que el acto fotográfico de Bavcar nos permita describir las condiciones de posibilidad e imposibilidad de todo acto fotográfico en general, y que su figura, lejos de resultar excepcional entre los fotógrafos, les sea justamente paradigmática. En seguida ofrezco, pues, una relectura del Edipo Rey que intenta reconstruir el “itinerario” que conduce al tercer ojo bavcariano. Su forma es la de una paráfrasis de la tragedia de Sófocles que toma en cuenta, además, la hipótesis de la vista desplegada por Jacques Derrida en Mémoires d’a veugle: l’autoportrait autres ruines 3, así como los planteamientos del “Edipo vienés” de Néstor A. Braunstein4. He preferido venir en persona. Aqui estoy. Soy Edipo5 ¿Quién es Edipo? Como la propia pregunta por el “tercer ojo” bavcariano, la pregunta por el quién de Edipo resulta finalmente incontestable, porque constituye la posibilidad misma de la pregunta. Edipo no es, sólo aparece: al final, como en su origen, Edipo es desvanecimiento y eclipse. Edipo, el Rey, es quien mira por sus seres amados porque jamás los puede ver; quien apela a la imagen de sus padres porque le está vedado contem- 3 Éditions de la réunion des musées nationaux, París, 1990. En: Freudiano y Lacaniano, Manantial, Buenos Aires, 1994. 5 Os fragmentos do texto “Édipo Rei” cumprem a função de títulos para as seções. 4 40 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 FOULKES, B. M. Edipo fotógrafo. plar su patria; quien del mismo día recibe la penumbra de la vida y el destello de la muerte; quien se borra de las profecías sólo para mejor en ellas dibujarse después; quien tiene la mirada más aguda para los enigmas y la más perdida; quien desde siempre está destinado a ser abandonado por los dioses, y quien, sin embargo, invoca permanentemente alguno; quien nunca habrá vislumbrado esperanza alguna, y para quien es precisamente esa la “chispa de esperanza”. Edipo es quien se turba en la medida misma en que mira con mayor vehemencia, su noche es el fulgor de toda luz, y su ceguera la intuición profunda de toda percepción. Es decir: Edipo es el ánimo mismo de la fotografía. Es la tremenda pese. Queda vacía y silenciosa la tierra de cadmo y el averno se enriquece de lamentos, de gemidos terminables. Hijo de la noche, Edipo tiene en ella puesta fijamente la mirada. Yocasta le da a luz sólo para, “no bien pasados tres días”, entregarlo a la noche perpetua. Su vida toda es un intento por retornar al lóbrego claustro de su madre: ya su primera expulsión a la “montaña desierta” (asimismo un claustro materno) para eludir los vaticinios de los videntes, no hace sino reconducirlo al tálamo imperceptible de su madre, transfigurada en esposa. De igual forma, su exilio último tiene como fin la recuperación de cierta obscuridad perdida: como dice, “llevadme a un sitio oculto, dadme la muerte, arrojadme a los mares, o a un sitio tan lejano, donde los hombres no puedan volver a verme”. El destino de Edipo es, pues, el de sus ojos: “¡Dormid la muerte de la noche eterna y las tinieblas podrán defenderos de ver lo que no quise ver jamás, y tampoco aquello que tan anheloso ver ansiaba!”. De la obscuridad, por la obscuridad, A la obscuridad: la ruta de Edipo no es sino el abismo umbrío de la ceguera materna. ¿Qué es la ceguera materna? Desde luego, no se trata del punto de vista de la madre o la mujer en sentido llano. Como Edipo, la ceguera materna no es, pero, a diferencia de éste, tampoco aparece. La ceguera materna consiste, a la vez, en el movimiento estructurante y desestructurante de la mirada. De ser, sería lo incaptable mismo, el ensombrecimiento terC. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 41 SEÇÃO TEMÁTICA FOULKES, B. M. Edipo fotógrafo. minal de lo diáfano, la revelación encubierta del permanente encubrimiento. Por eso Edipo jamás habrá podido retratar con su aparato a Yocasta: imposible obtener una instantánea del ojo tras la cámara. Sin embargo, Yocasta y su ceguera son la sensibilidad misma de la película fotográfica utilizada eventualmente por Edipo: la obscuridad sin claro, la flama negra, la bruma sin fanal a la vista son, todas, el deseo mismo de la luz. Porque también el ocultamiento se oculta; también lo opaco se preña de su propia opacidad; también lo azabache al trazarse se borra. La ceguera materna de Edipo se despliega, entonces, como la pantalla indistinta en que serán proyectados los vislumbres de aquello que él jamás podrá ver; allí se proyecta, aún en blancos espectrales, la promesa de una vigorosa “antorcha”. No por casualidad es la propia Yocasta quien lamenta: “perdidos en un mar de zozobras y temores estamos todos al ver destrozado por el pavor al que de esta ciudad rige el gobernalle”: el clamor por una central de luz y fuerza, por un rayo, por la puntual irrupción de un farolero, es, por excelencia, el clamor materno. Pero, ojo, no porque tal haz orientador hasta el momento haya estado estrictamente ausente. Por el contrario, si hasta ahora Yocasta ha encarnado la noche de todos los días, lo ha hecho como una noche perpetua, es decir, como una noche diurna, como la tirana de un imperio que no es el de la ausencia de luz, sino el de un sol negro a todas horas fulgurante. Como una Gran Fotografía, que anulaba todo disparo fotográfico en nombre de la prefiguración de todo lo captable, Yocasta clama ahora por su propio deslumbramiento y rasgadura: corto circuito de la Gran Fotografía, fugaz aparición de lo visible invisible aún, fogonazo emanante de las fotografías, de su abundancia, de su ilusión y su banalidad... Promesa, entonces, este estrujamiento y esta rasgadura, de una patria definitiva para Edipo, Rey, y, pronto, fotógrafo. Se trata de Citerón, sitio a donde Edipo fue originalmente expulsado por sus padres, y a donde habrá de volver tras arrancarse la vista: territorio consentido por Yocasta, pero asignado por su padre Layo; tierra promisoria del desbordamiento de la ceguera materna y de la manifestación de la mirada paterna; lugar por excelencia del exilio; zona que porta el nombre de ese rey de la mitología griega, Citerón, artífice de las apariencias, quien, tras una riña entre Zeus y su amada Hera, y ante el falso rumor de que Zeus había raptado a Platea para hacerla su esposa, aconsejó al Zeus que deseaba reconciliarse con la primera que modelase una estatua femenina, la cubriera con un manto y la colocase en una carreta tirada por bueyes: al acudir a la escena Hera y ver que no se trataba de Platea, sino sólo de una figura de madera, en efecto echó a reír y se reconcilió con su dios marido. Citerón, entonces: sede por excelencia del semblante, hogar del simulacro, eventual República de las Fotos. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 42 Alce radiante antorcha contra los turbios númenes que nos destruyen, que sea para todos los adversos, baldón y oprobio Pero antes habrá tenido que hacer su entrada estelar la ceguera paterna. Como dice a Yocasta el mensajero que porta las nuevas de la muerte de Pólibo, el supuesto padre de Edipo, refiriéndose a éste último: “¡Feliz sea siempre y con felices viva, ya que es tan perfecta consorte de aquél!”. Doble ironía la suya, y clarividente: nunca mejor consorte habrá para una ceguera que otra: salutaciones a la ceguera paterna, que es también la de todos los hijos; y dichosas las fotografías, luminosa progenie de tal unión... ¿En qué consiste la ceguera paterna? Como advertí para el caso de la ceguera materna, la ceguera paterna tampoco refiere sin más a la perspectiva del padre o varón, sino a la función del hacerse-marca de aquél movimiento originario y originante de la videncia y la invidencia que es la ceguera materna. Si la ceguera materna es el incaptable impulso a la captación fotográfica, en cambio la ceguera paterna es aquella que corresponde a la ilusión misma de la captación, al irresistiblemente seductor devenir-captable de lo que la ceguera materna no ve, ni tampoco deja ver: el “golpe a los ojos” efectivamente experimentado y, eventualmente, la mirada del ciego fotografiada cual espectáculo y representación. Desde luego, esta caracterización de la ceguera materna, como cualquier otra 43 SEÇÃO TEMÁTICA FOULKES, B. M. Edipo fotógrafo. caracterización de dicha ceguera, es efecto de su propia gestación de la ceguera paterna: la ceguera materna como penumbra y pragmatismo recibe su nombre y la delimitación de sus horizontes de aquello mismo que la iluminación y la legislación paternas jamás lograrán saturar: su propia condición de posibilidad. Lo que ello significa es que la ceguera paterna no es sino el redoblamiento sobre sí de la ceguera materna. La ceguera paterna es señal del ocultamiento de ese ocultamiento originario que es la ceguera materna. La ceguera paterna es sólo un momento de la ceguera materna, el momento crucial de su fractura en más-de-una ceguera: despedazamiento del Gran Ojo materno en profusión de invidencias, cegamiento originario, institución primera de la ceguera (incluyendo la ceguera-videncia), apertura de su insólita taxonomía. Se impone reseñar esta taxonomía ya que Edipo Rey nos brindaría de antemano todas las ubicaciones que Occidente asigna a la ceguera. Allí se deja leer, en primer lugar, la inscripción de la ceguera como obcecación, como cuando Edipo insulta a Tiresias: “...ciego miserable, ciego del alma, como de los ojos... ciego del oído”, en que el ciego aparece como su propia metáfora (está ciego, luego es ciego). Una vez así circunscrita, la ceguera es deslizada hacia lo pueril, hacia lo ingenuo y lo cándido como vemos, de nuevo, cuando dice Edipo a Tiresias: “Noche perpetua nutre tus pupilas. Ni a mí, ni a nadie que de ojos disfrute podrás dañar”...”ciego eres, que si ojos tuvieras, afirmaría que tu fuiste y sólo tú quien el delito perpetró”. Posteriormente, la ceguera como inocencia se transfigura casi sin dificultad en su opuesto, en la ceguera como impostura, como constatamos cuando Edipo replica a Tiresias: “loco y trapacero, pura engañifa, que no busca sino el lucro de sus ojos cegados... Cegados para el uso, pero bien abiertos para el interés”. Y, casi de inmediato, atestiguamos la elevación de la ceguera al estatuto de la previsión y la clarividencia, como ilustra el texto cuando Edipo dice a Tiresias al darle la bienvenida: “Divino vidente, el único de los hombres que de nacimiento tiene el don de la verdad”. De donde quizás resulta entonces la ceguera como deseo, como anhelo de no mirar lo que la ceguera efectivamente ha mirado o es capaz de mirar, como sucede entre los esclavos y los profetas, como cuando se lamenta Tiresias: “¡Ay, ay: terrible es el saber cuando el que sabe de ello no aprovecha. Bien lo sabía, pero lo había olvidado. De tenerlo presente, acá no hubiera venido!”, o bien, como cuando Yocasta relata a Edipo acerca de uno de sus siervos: “Cuando regresó y vio que te habías entronizado, y vio morir a Layo, vino a rogarme besando mi mano que lo dejara ir al campo a pastorear rebaños. ‘Así, decía, cuanto más lejos de la ciudad, mejor’”. De ahí que resulte una última ceguera que vemos ocupar una posición decisiva, y respecto a la cual se articulan el conjunto de las otras cegueras: la ceguera como vista efectiva y aprehensión de la ver-dad, ceguera ante la propia ceguera, como deja ver la afirmación decidida de Edipo, “Mientras yo claras no mire las pruebas; mientras plenamente apodícticas no sean no puedo dar asenso a las acusaciones que formulan los que aquí han pregonado los delitos”. Esta última ceguera, la vista efectiva, es la ceguera paterna por excelencia; ya he subrayado su importancia, que es la de la ceguera paterna en, y ante, el campo “feraz” (como dice el texto), y feroz, de la ceguera materna, que halla en la aquélla su propio, y no menos intoxicante, antídoto. Ello explica que la ceguera como vista efectiva no opere sin más como una ceguera entre otras, sino como la propia puesta en juego de la taxonomía íntegra de las cegueras. Doblemente heredera de la ceguera materna y paterna, la mirada de Edipo es todas y cada una de estas cegueras, porque su mirada está siempre en juego en el mirar de cada una de ellas en dirección de las otras, sin que, a su vez, se deje reducir a ninguna, ni a la imposible suma del conjunto. Edipo es, entonces, un personaje, pero su estructura es la tragedia toda. Edipo mira y es mirado por su, y sus, propias miradas: sus cegueras son siempre caracterizadas desde otras cegueras, lo que devela que la presente caracterización de las cegueras de Edipo es, como cualquier otra caracterización, también edípica. Discursos como el presente no resultan entonces extrínsecos a Edipo Rey sino precisamente intrínsecos a él: también Edipo lee Edipo Rey, también él se sorprende al hallarse, de antemano, imposiblemente retratado en su propio texto... C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 44 45 SEÇÃO TEMÁTICA He afirmado que en el campo disputado de las cegueras, la ceguera como vista efectiva no es una ceguera entre otras, sino la apertura misma del campo: detengámonos en ello brevemente para abordarlo en términos de la propia fotografía. En la fotografía esta peculiar ceguera es emulada por un tipo de imagen que, al igual que aquélla, resulta ser tan ubicua como frágil e invisible: el snapshot, según el intraductible vocablo inglés que en castellano corresponde parcialmente a “instantánea”, esa fotografía popular y masivamente promovida por la industria de la fotografía desde sus inicios. El snapshot es, por excelencia, la fotografía de lo familiar (lo heimlich) personal o grupal, la imagen de los paisajes, las mascotas, los recuerdos de viaje y los amigos. Se trata, en suma, de un icono de lo propio, de lo visto y lo apropiado, razón por la cual con el snapshot se trata siempre de un autorretrato. Desde luego, lo que el snapshot encarna es precisamente la ceguera (paterna) ante la ceguera (materna) originaria, razón por la cual siempre se despliega allí precisamente donde asoma lo que permanece invisible para un punto de vista dado. Cabe recordar aquí que, históricamente, la fotografía se erige en rito de la vida familiar en el momento mismo en que se desploma la institución vigente de la familia extendida, y también a que la fotografía turística tiene lugar en la medida misma en que el fotógrafo padece la desorientación que le produce la tierra extraña por la que viaja, de manera que su acto fotográfico viene a certificar su experiencia tanto como a negarla6. Así, lo que aparece figurado en el snapshot es siempre secundario en relación a su semblante envolvente de diafanidad, y a la ilusión de la supresión del dispositivo fotografiante, para dar plenamente paso a lo fotografiado. Por eso, aunque quienes aparezcan en el snapshot sean seres obcecados, cándidos, impostores, clarividentes, deseosos de enceguecer o ciertos de que ven, en el snapshot lo importante no son ellos mismos, sino el hecho de que aparezcan como tales. Por eso, lo figurado en, y por, el snapshot será siempre lo mismo, a 6 Susan Sontag, “In plato’s cave” en: On photography. Anchor Books, N.Y. p. 8-9 46 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 FOULKES, B. M. Edipo fotógrafo. pesar o precisamente en virtud de aparecer diferente cada vez. El snapshot no es un acto fotográfico entre otros, sino la simultánea posibilidad e imposibilidad del acto fotográfico en general. Se trata nada menos que del ombligo de la fotografía, el punto de mayor ceguera de, y ante, la fotografía como vástago de al menos dos cegueras. Todas las vanguardias fotográficas, los realismos tanto como los anti-realismos, las fotografías clásicas tanto como las intervenidas y las digitales, hallan en el snapshot una referencia ineludible: esta es quizás la razón estructural por la que, históricamente, el snapshot es el género fotográfico inaugural. Consumación de la ceguera paterna como ceguera ante la ceguera materna, el snapshot consiste, a la vez, en la negación y en la constatación más patente y más furtiva de la imposibilidad de la fotografía. Por eso, una vez que cuenta con el equipo necesario y que ha asegurado su ciudadanía en Citerón, si Edipo toma fotos, es porque permanece a la caza del snapshot como la consumación de su ceguera paterna. En ello descubrimos el punto de mayor alcance topológico de la ceguera materna, desde cuyo seno surge en primer lugar la ceguera paterna como su otredad más radical y más necesaria. De ahí que el snapshot como horizonte de todo acto fotográfico consigne el Edipo es mi nombre de todos los nombres, y el Edipo es nuestro abuelo de todos los linajes. ¡Todo es una apariencia: Brilla, se alza, reluce y se abismaen las sombras para siempre! Entrevemos, entonces, que lo fotografiante es invariablemente un ciego o una ceguera, o, mejor dicho, al menos dos ciegos o cegueras. De otra manera, ¿cómo dar cuenta del deseo de imagen y de luz como el ánimo mismo de toda fotografía? Si el acto fotográfico de Bavcar es prototípico de todo acto fotográfico en general, ello se debe precisamente a este hecho. Lo mismo puede sostenerse en relación a su referencia a Edipo para dar cuenta de la ruta que conduce a su obra como elaboración en torno al “tercer ojo”: mediante esta segunda referencia a Edipo, Bavcar nos muestra asimismo la ruta que conduce a todo obrar fotográfico en C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 47 SEÇÃO TEMÁTICA general. Y si el aliento mismo de todo fotografiar es una ceguera o invisibilidad originaria, no sorprenderá que, en el campo general de la vista como ceguera estructural, el objeto por excelencia de la fotografía sean otros ciegos y puntos de invisibilidad. De ahí que, para hacer extensivo a la fotografía lo que Derrida señala acerca del dibujo7, la fotografía de un ciego es la fotografía de un ciego; las fotos en que figuran ciegos son, sin más, las fotografías. Como puede apreciarse tan nítidamente en relación con el snapshot, el acto fotográfico por excelencia es el autorretrato: se llame o no autorretrato a su producción, el fotógrafo se registra siempre a sí, o a un trozo de sí. Por eso la actividad fotográfica de un fotógrafo ciego en efecto tiende a la subversión de la fotografía, del snapshot, del autorretrato, precisamente porque los confirma. Si, como los demás fotógrafos, el fotógrafo ciego no puede más que retratarse a sí, desde la perspectiva del fotógrafo crédulo de su propia vista parece que el fotógrafo ciego no podrá jamás retratarse a sí. Sin embargo, como hemos visto, el autorretrato de un ciego es el autorretrato por excelencia, pues revela que todo autorretrato es en verdad un heterorretrato. Así, el fotógrafo ciego resulta ser, como el propio Edipo, lo más cercano a un vidente de la fotografía como tal. Las fotografías bloquean el acceso hacia aquello mismo que prometen. El testimonio de Edipo es el testimonio de que la fotografía no es sino la constatación de su propia imposibilidad. Y la mirada de Edipo es todas las miradas; y su ceguera, todas las cegueras. Edipo Rey se deja leer como la fotografía imposible del fotografiar, el autorretrato imposible del autorretrato. La gran progenie de Edipo son entonces los fotógrafos: la invención de la fotografía es un síntoma más de la metafísica Occidental como fotología, un pensamiento y un lenguaje orientados por la metáfora de la luz y la sombra, del mostrarse y el ocultarse, impulsados por el centralismo de lo solar8. Quienes habitamos la fotología occidental somos, 7 Op. cit. 48 FOULKES, B. M. Edipo fotógrafo. todos, de una u otra manera, fotógrafos. Por eso, en el marco de dicha fotología, quizás no resulte del todo descabellado considerar que la gran brújula de las formaciones culturales sea precisamente la relación con la ceguera (en tanto sustituto simbólico de la castración, puntal de la subjetivación y del proceso civilizatorio), y la ubicación en que predominantemente se coloca a los ciegos y a lo invisible. díme dónde están los ciegos y te díre de qué cultura se trata... Para constatarlo, sólo hace falta echar un vistazo a nuestro entorno... Exposição “A Noite, minha cúmplice”, Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, agosto/2001. 8 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 Jacques Derrida, L’écritura ét la différence. Seuil, París, 1967. p. 45. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 49 SEÇÃO TEMÁTICA BALESTRIN, P. R. Olhares virtuais. OLHARES VIRTUAIS 1 Patrícia Rosa Balestrin 2 E m 1993, Evgen Bavcar traz um conto em que um psicólogo apaixona-se por uma moça cega. Começando a trabalhar numa instituição para cegos, ele percebe algumas dificuldades imediatamente: uma criança lhe pergunta sobre o conceito de longo e o conceito de branco e ele se angustia ao não saber como lhe responder. A jovem, com quem ele se relaciona, lhe faz ver que os conceitos se formam de outra maneira que não necessariamente baseados na percepção dos objetos da realidade. Ela lhe diz: “Meus olhares são somente mais aproximados; tu não podes perceber porque tu não percebes as coisas a não ser com a distância do olhar que vê as cores, que vê o longo e o branco, o preto e o vazio, o azul e o violeta. Eu prefiro estar totalmente nas coisas, porque eu as faço tais como elas são, como por exemplo tua pele, que por toda a parte é infinitamente outra, que sente as cores que tu portas no teu olhar, que esconde nela a magia de todas as formas possíveis, descobre-a e recobre-a, a tua imagem, quando estás comigo. Tu sabes, não és somente um cone, és também um redondo e um quadrado, um cilindro e uma superfície, um traço e um ponto. Não podemos medir as coisas. Nós somente as medimos quando nós nos amamos, quando nos tornamos uma das formas, quando nos tornamos nós dois, quando somos nós dois” (tradução nossa)3. Podemos notar pelo menos três coisas ao longo desse iluminado conto, umas delas presente nesse fragmento. Por um lado, a jovem fala de 1 Este texto é um fragmento da dissertação de mestrado da autora, intitulada “Entre-vistas: nós cegos no social”. 2 Psicóloga, Psicanalista, Mestre em Psicologia Social e Institucional pela UFRGS, Coordenadora do Serviço Clínico do Centro Louis Braille da FADERS (Fundação de Atendimento ao Deficiente e Superdotado do Rio Grande do Sul). 3 BAVCAR, Evgen. Les tentes démontées ou Le monde inconnu des perceptions. Paris: Editora Item, 1993, p.16. 50 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 seu limite no orgânico para perceber através da visão as coisas. Por outro, ela fala do limite imaginário no qual seu parceiro se encontra imerso. E, por fim, mais brilhantemente, mostra o quanto as possibilidades da percepção podem ser ilimitadas quando o nó do recalque, operado pelo registro do simbólico, afrouxa-se e abre vias diversas para a significação. Talvez melhor dito, abre cadeias discursivas para diversas formas de olhar. E por falar em várias maneiras de olhar, é o mesmo Bavcar que, guiado pela sua paixão em torno do mistério do olhar humano, vem nos dizer com clareza a respeito de que o sujeito busca seu reconhecimento no olhar do Outro. Descrevendo suas fotos, comenta que as pessoas que ele fotografa “não se dão a ver da forma habitual” porque não podem ter “a cumplicidade com o fotógrafo que lhes confirme no seu narcisismo” 4. Porém, fica aqui uma pergunta: como ele sabe que elas posam diferentemente para um cego e para um vidente? E o olhar imaginário, isto é, o olhar que elas lhe atribuem independente de sua condição orgânica? Ou melhor, e o olhar que lhes captura no seu fantasma e as faz encontrá-lo em todo lugar? Será que desaparece, modifica-se diante de um cego? É possível que não. Afinal, como Bavcar nos diz, suas fotos serão vistas por ele através dos olhares de todos aqueles que se depararem com elas. O olhar do Outro aparece, portanto, ali, no olhar do cego. A recíproca é verdadeira. E isto pode ter um efeito de mímesis para ambos. Bavcar define assim o olhar: “É, talvez, a soma de todos os sonhos dos quais esquecemos a parte de pesadelo quando podemos nos colocar a olhar de outro modo. E depois, as trevas são somente uma aparência, uma vez que a vida de toda pessoa humana, ainda sombria que seja ela, é feita também de luz. E da mesma maneira que o dia manifesta-se freqüentemente com o canto dos pássaros, eu estou preparado para distinguir a voz da manhã da voz da tarde.” (tradução nossa)5 . 4 5 BAVCAR, Evgen. Le voyeur absolu. Éditions du Seuil, mars 1992, p. 16. Op. cit., p.16. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 51 SEÇÃO TEMÁTICA A mãe de um bebê de nove meses fala: “Marina é cega, mas ela olha de uma forma diferente para cada tipo de pessoa”. Essa frase comporta um “como se”. É como se Marina enxergasse aos olhos dessa mãe. É como se a mãe se sentisse olhada por ela. O “como se” aqui é uma inscrição fundamental. É o que permite uma virada sobre o Real. “Como se” é uma ficção, na dimensão de uma possibilidade e, conseqüentemente, de uma virtualidade. Poderíamos dizer que é como o faz-de-conta para uma criança, onde ela elabora suas mais profundas e interessantes questões tratando, aparentemente, de uma ficção. “Era uma vez”, a história de faz-de-conta, é virtual, e dá suporte para uma construção possível e singular para as crianças. Um exemplo disso é o do menino que vem para uma primeira entrevista no Centro Louis Braille, portador de glaucoma congênito, perdendo a visão progressivamente e trazendo um prognóstico de cegueira, quando, nas suas brincadeiras com o fio de um ferro de passar roupas diz: “aqui tem um nó cego”, ao que escuto “aqui tem um nós cegos”. Ele fala do seu encontro com aqueles que têm uma deficiência visual como ele, fala de uma assunção de uma imagem de si e de um lugar simbólico que pode construir enquanto cego e me inclui, em transferência, nesta categoria, apontando, também, que a cegueira não diz respeito somente a uma condição real. Algo está aí para ele, virtualmente, com um importante efeito, que ele tenta, nas suas construções, poder se situar e se ver reconhecido numa provável condição. Esta é uma das portas que a questão da virtualidade nos abre e é preciso operar com a força que isso tem para o sujeito. Pierre Levy cita Deleuze: “O virtual possui uma plena realidade, enquanto virtual.”6 Levy trabalha com a idéia de que a virtualização afeta a constituição do nós e, assim, as formas de estarmos juntos. A virtualização percorre o curso de uma mutação; portanto, não cessa de se inscrever e 6 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 11. 52 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 BALESTRIN, P. R. Olhares virtuais. inaugurar novos processos. Trabalha com a essência, com aquilo que sustenta toda a base da criação e põe, na ordem do dia, aquilo que pode ser, mas ainda não está aí. A virtualidade tem um grau de parentesco com o ilusório ou imaginário que, como sabemos, é motor para transformações de sentido, para processos novos de desejo. De alguma maneira, Freud trabalha esta questão ao falar de sonhos e fantasias, que apontam um universo enigmático, aparentemente ilusório, mas que tem, na sua construção, todo o movimento desejante. Então, podemos pensar num olhar virtual do cego? Um olhar que não é presente do ponto de vista oftalmológico, mas está ali engendrado? Se vivemos a experiência de nos sentirmos olhados por um cego, isto pode ser um índice de que, em sua essência, ele olha. Se a virtualização atinge a constituição do nós, é importante pensarmos o quanto esta atribuição de olhar ao cego pode empreender uma forma de estar junto com ele, deixando-se tomar pela sua maneira de perceber o mundo. O que ele traz é, sem dúvida, um tipo particular de permeabilidade biológica ao significante que apresenta uma singular forma de ter acesso ao simbólico. Pode parecer, momentaneamente, que se trata de uma experiência de outro mundo, interpretada como propriedade de poucos, “os cegos” ou “portadores de deficiências visuais”, mas é uma experiência que pode atravessar todo e qualquer sujeito, difícil de se apropriar por aquilo que ela provoca de estranheza a nós mesmos. Como pensar que um fotógrafo cego produz imagens? Como pensar um vidente fechando os olhos para produzir imagens? Cegos congênitos aqui reivindicariam, talvez, que se falasse de sua especificidade, de quem nunca teve acesso a uma imagem visual. Mas, quem lê as imagens que produzimos? Quem dá o estatuto de imagem àquilo que construímos pela palavra, pela escrita, pelos gestos a não ser o Outro? A leitura do Outro em torno dos sinais, significantes, símbolos que produzimos é que nos faz reconhecer nossas imagens. O Outro, nosso eterno mediador, apresentanos. E assim, construímos a imagem de nós mesmos, a imagem dos outros e as imagens do mundo. A imagem está presente transversalizada C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 53 SEÇÃO TEMÁTICA pela linguagem, que se torna corporificada em nós, fazendo nossa inscrição simbólica. A potência que o virtual coloca em cena provoca novas dimensões, inaugura formas inusitadas, fazendo uma virada de sentido, porque sua maneira de atualizar-se não é concreta, mas no plano das possibilidades, das aberturas propostas naquilo que pode ser, mas ainda não é. A idéia é sempre de um movimento, de passagem, de encadeamento e, portanto, de força desejante. Levy nos explica: “O virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização”7 . Nó de tendências ou de forças – podemos pensar como aquilo que é a constituição da subjetividade e que permeia toda a questão de se poder pensar um olhar virtual no cego. É um desprender-se do biológico, do corpo Real, para pensar numa totalidade de corpo que olha, num intrincamento pulsional que erotiza o corpo para contemplar um virtual olhar, para trazer a potência implícita naquilo que a linguagem pode produzir num corpo. O olhar de que falamos não é um olhar mágico. É um olhar corporal, um movimento do corpo que produz olhar, que engendra imagens, que captura e sente a presença das coisas. E, assim, com elas estabelece relações. Se nos reportamos ao estádio do espelho, proposto por Jacques Lacan como os primórdios da construção narcísica, podemos pensar o Outro sempre como virtual, na medida em que ele oferece para o sujeito uma imagem com a qual possa se identificar e, assim, se transformar assumindo algo que ainda não é, mas poderá vir a ser. A caminhada do sujeito é sempre na direção de algo que é virtual, algo que está no horizonte, num registro de ideal ao qual nunca se alcança, nunca se atualiza porque sempre está em mutação. Aquilo que estava na via de se construir, ao BALESTRIN, P. R. Olhares virtuais. se concretizar, transforma-se noutra coisa que é, também, virtual. O virtual, então, produz vários efeitos por nunca poder se atualizar, isto é, dobras, contornos, bordas, aberturas e fechamentos, pulsações que adquirem forma na linguagem e no corpo, produzindo traços e marcas no sujeito. Supor um olhar num cego é transpor, na cultura, um provável estranhamento que advenha da impossibilidade de se perceber como nãovidente. É transpor a barreira que o corpo impõe, não para pensá-lo como sem limites, mas para percebê-lo na sua relação com o Outro. Isto é, para percebê-lo armado dentro dos limites e brechas que o Outro oferece; para experimentá-lo naquilo que oferece de virtual. A cultura opera esta função de pensar o cego ou como uma exceção ou como um objeto a ser desvalorizado. Qualquer uma dessas posições desvirtuam um possível caminho para o cego advir como sujeito. Porque em qualquer uma delas, fica em suspenso a castração e, por conseqüência, aquilo que pode viabilizar o ingresso na cultura do cego como “mais um”, mais um sujeito, portador de história e características singulares. Somos todos iguais na medida em que todos temos nossas diferenças. “Igualdade máxima na diferença máxima”, diz José Gil8. O olhar do cego é, portanto, uma ficção que carrega consigo uma verdade. É uma criação que toma corpo dentro da dimensão de uma concepção de sujeito. Se é preciso criar formas para reconhecermos nossas próprias diferenças, que é aquilo de mais singular e constitutivo que temos enquanto sujeitos, trabalhemos com um corpo que, de uma certa maneira, aberto ao efeito do significante, ao efeito da linguagem, encontra-se sempre cego, isto é, sem saber em que caminho poderá chegar em seu percurso. O único caminho é ir tateando esta travessia. É assim que uma jovem cega, comentando sobre suas espinhas no rosto e questionando sobre as minhas, solicita-me: “deixa eu ver as tuas” e 8 7 GIL, José. Diferença e Negação na Poesia de Fernando Pessoa. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. P.37. Op. cit., p. 16. 54 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 55 SEÇÃO TEMÁTICA JERUSALINSKY, A. O cego no espelho... O CEGO NO ESPELHO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO SHIFTER NA CONSTITUIÇÃO DA IMAGEM estende suas mãos para tocar no meu rosto. O verbo “deixar” é algo que me chama a atenção. Este pedido de permissão para tocar no meu rosto é um pedido de que a ela seja permitido ver com as mãos. E que isto seja legítimo enquanto possibilidade de olhar. E que isto tenha força e potência de olhar. E que no seu toque consiga se perceber olhada. Alfredo Jerusalinsky A Exposição “A Noite, minha cúmplice”, Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, agosto/2001. interrogação à respeito de se um nome é ou não verdadeiro não encontrará a sua resposta na análise da relação desse significante com a coisa que nomeia, mas na persistência com que ele representa essa coisa no âmbito do discurso. O caráter arbitrário do nome – seja ele comum ou próprio – torna logicamente inoperante qualquer interrogação sobre o intrinsecamente apropriado ou inapropriado de um nome para tal coisa – seja ela qual for. Por isso, a questão da verdade referente a um nome (estendendo a função noemática1 à qualquer função substantiva), somente pode ser conjugada na relação deste com o discurso. É na circunstância, estilo e modalização lógica nas quais o sujeito é enunciado pelo outro, que ele encontra os traços primários de seu eu. A partir dali, ele irá se reconhecer nessa particularidade (unária, porque única) do olhar do Outro, que vira maiúsculo, em primeiro lugar, porque adquire o poder de reconhecer ou desconhecer esse sujeito, e, em segundo lugar, porque passa a nomeá-lo – nesses traços enunciativos – de um modo próprio. Dito de outro modo, esses traços se tornam nome. Entendemos, por circunstância, a contextualização do nome no discurso. Por estilo, o ritmo e prosódia da enunciação. Por modalização lógica, o modo da negação que prevaleça na produção enunciativa. Neste 1 Noemática: em fenomenologia designa o relativo ao objeto nos seus diferentes modos de ser : o pensado, o percebido, o imaginado. Uma questão fundamental é se a representação desse objeto na linguagem é uma resultante de uma redução eidética (redução do objeto a sua essência desembaraçada de sua existência), onde o primário consistiria na imagem que seria apagada pela representação, ou bem o primário seria o traço lingüístico arbitrário, destinado a velar o real da coisa colocando sobre ela uma máscara imaginária. Neste segundo caso, a imagem seria uma resultante da redução da língua e não a língua uma resultante da redução da imagem. 56 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 57 SEÇÃO TEMÁTICA último ponto, é necessário lembrar que não há inversão (necessária para constituir-se uma língua) da demanda sem alguma forma de negação. No que diz respeito ao segundo ponto – o ritmo e prosódia – fica claro que nos encontramos aqui na “contra-cara” (imaginária) da face da língua que denominamos pontuação (do lado lógico-gramatical). E, no que diz respeito ao primeiro, nos referimos à contextualização como a função après coup que provoca o deslocamento e a metaforização de todo nome na cadeia significante. A articulação destas três operações, après coup, pontuação, negação, é o que instala os pontos de arrebite2; lugares de repetição e clivagem onde o sujeito, ao mesmo tempo que re-encontra sua “bússola” (o traço unário onde se reconhece, ainda que alienado ao Outro), pode empreender novas direções na sua cadeia significante. Nada disso se instala na dimensão do ver. Bem pelo contrário: o sujeito averigüa para onde olhar pela obra do significante que o orienta. Mais ainda, ele se dá a ver – ou se oculta – de acordo com a disposição discursiva da partícula da língua que o nomeia. Dito de outro modo, o shifter é o que o orienta para produzir a sua imagem e orientar seu olhar. Não é o olhar o que orienta sua palavra. Não é mais, nem menos, que essa, a razão da cena primária ser traumática. O sujeito é nomeado ali, nessa cena. Ele se atreve, então, a olhar ali, e não se encontra. Trata-se da mesma operação que dá sua razão ao complexo de castração: a formação fálica do imperativo de gozar impõe ali, onde nada há, um pênis. Trata-se de uma função enunciativa que se antecipa a qualquer percepção. O objeto se demonstra, assim, nada oriundo de uma função noética, mas originado numa operação da linguagem. Não devemos, então, nos surpreender de que um cego saiba “para onde olhar”3. O endereçamento de sua percepção reside no shifter, que JERUSALINSKY, A. O cego no espelho... marca a sua posição de sujeito no discurso, e não no raio luminoso que bate no seu olho obscurecido. Que as crianças pequenas cegas congênitas imitem a prosódia e ritmo de fala de quem os rodeia, constitui um esforço de apropriação desse shifter articulado na voz do Outro. Quem o personifica costuma supor nisso uma ecolalia (como se fosse equivalente a do psicótico), porque esquece – ou nega – sua própria dificuldade em sustentar uma inversão especular aí onde a ausência de um olhar concreto o leva a supor a ausência de um saber. Invariavelmente, os pais dos cegos congênitos convocam seus filhos muito mais a uma obediência do que a uma indagação. Com isso, inibem o exercício de alguma forma de negação por parte do sujeito, e o constrangem a uma resposta direta à demanda do Outro. É esse obstáculo imposto à inversão da demanda do Outro o que introduz nas crianças cegas congênitas o risco de psicotização, e não sua cegueira. Quando, além de impedir a inversão da demanda4, se suprimem os indicativos do shifter, a criança cega tende a se autistizar por carecer de um modo de se reconhecer no campo da palavra – que é o campo do Outro. Mas seu isolamento se deve a essa exclusão do que a representa no campo da palavra; eis ali que reside o motivo dela evitar o outro: é que ela se percebe como evitada ela mesma no discurso, por obra da fala – inconsciente – do outro. Não se trata, como vemos – e ela mesma “vê” – de uma causa centrada na escuridão de seus olhos, embora seja esse imaginário “negro” o que confunde o olhar do outro degradando seu significante. A mesma posição forclusiva exercemos quando supomos que um cego não pode endereçar uma lente que “enxerga”, ou que não pode caminhar sozinho em função de sua falta de visão. Será que acreditamos 2 São os pontos de “capiton” propostos por J. Lacan, e que Ivã Corrêa tem proposto traduzilos (de um modo muito apropriado, segundo nosso parecer) como “pontos de arrebite”. 3 Recomendamos muito especialmente assistir ao curta-metragem “O Branco”, dirigida por Liliana Sulzbach, com produção de Mônica Schmiedt e roteiro de Marcelo Cunha Carneiro. Acerca da percepção das cores por parte de um menino cego congênito. 58 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 4 Coisa que os que personificam o Outro Primordial realizam de um modo totalmente inconsciente. A menos que se tratem de educadores behavioristas, em cujo caso realizam isto de um modo sistemático. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 59 SEÇÃO TEMÁTICA saber qual é a imagem verdadeira para cada coisa, ou a direção certa em que todos deveríamos marchar?5 Por acaso a experiência demonstra que os cegos ficam à margem de qualquer estética? Certamente que não. Exposição “A Noite, minha cúmplice”, Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, agosto/2001. Exposição “A Noite, minha cúmplice”, Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, agosto/2001. 5 Veja-se no Museu do Louvre, de Pieter I, O Velho Brueghel (1525-1569), “A parábola dos Cegos”. Esse quadro mostra uma cena onde vários cegos caminham tomados das mãos, como se desse modo pudessem saber por onde e para onde vão. A mesma parábola encontramos na obra de Saramago “Ensaio sobre a cegueira”. 60 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 61 SEÇÃO DEBATES FRAYZER-PEREIRA, J. A. Ambigüidade da fotografia. AMBIGÜIDADE DA FOTOGRAFIA Livre-Docente do Instituto de Psicologia da USP / Psicanalista do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. modernidade, paradoxalmente valoriza-a por aquilo que, segundo Susan Sontag (1981), é compatível com uma “visão ‘realista’ de um mundo adequado à burocracia...” (p. 21). Isto é, porque a fotografia fornece informações. No entanto, é nesse mundo dominado pela imagem fotográfica que essa autora resgata um novo sentido da noção de informação. Escreve: “através da fotografia, o mundo torna-se uma série de partículas desconexas, suspensas, e a história, passado e presente, um conjunto de anedotas e variedades. A câmara atomiza a realidade, torna-a dócil e opaca. É uma visão do mundo que renega a interconexão, a continuidade, mas que confere a cada momento um caráter de mistério. Toda fotografia contém múltiplas significações; com efeito, ver algo em forma de fotografia é deparar-se com um objeto potencialmente fascinante. A grande lição da imagem fotográfica está em poder afirmar: ‘Ali está a superfície. Agora pense – ou melhor, sinta, intua – no que possa estar do outro lado dela, e como seria a realidade se fosse assim’. A fotografia, na verdade incapaz de explicar o que quer que seja, é um convite inexaurível à dedução, à especulação e à fantasia” (p. 22, grifo nosso). Esse texto de Sontag, a nosso ver, aponta para uma questão que circunscreveríamos em torno da palavra mistério. Ou seja, a fotografia fragmenta o real – tempo, espaço, matéria; torna-o domável; dá-lhe opacidade. Mas, apesar da condição de fragmento (ou graças a ela), o fotografado motiva o trabalho imaginativo de recomposição de uma totalidade apenas sugerida. O que era visto como ausência por Baudelaire é afirmado agora como estando inscrito na própria imagem fotográfica: centro de uma pluralidade de significações, a fotografia convida a fantasia a entrar em cena. A fotografia não explica nada. Ela fascina. Ora, a problemática que as reflexões de Susan Sontag nos sugere vai muito além da colocada por Baudelaire. Isto é, bem mais do que discutir até que ponto a fotografia é um simples meio técnico de registro exato do real, pode ser apresentada a seguinte questão: considerando que onde se tem apenas uma superfície sensível vê-se (ou melhor, sente-se, intuise) a totalidade volumosa do mundo, é a fotografia que doa ao real esse misterioso caráter, ou é o mistério do próprio mundo sensível aquilo que a C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 João A. Frayze-Pereira 1 A o apresentar a fotografia a seus leitores, no Salão de 1859, Baudelaire deplora o novo invento, pois considera-o cúmplice do Credo reinante na época: “Creio na natureza (...). Creio que a arte é e não é senão a reprodução exata da natureza (...). Assim, a indústria que nos oferecer um resultado idêntico à natureza será a arte absoluta”. Nesse sentido, “à medida que a fotografia nos dá todas as garantias desejáveis da exatidão (...), a arte é a fotografia” (p. 158). A crítica de Baudelaire incide evidentemente sobre o gosto do público que se diz moderno, público “imbecil”, “adorador do sol e de si mesmo”, cujo desejo maior é “contemplar sua trivial imagem sobre o metal”. Entretanto, mais do que isso, a crítica (que vale como recusa) incide sobre a própria fotografia, um resultado da “grande loucura industrial”. E porque a fotografia se põe ao lado do realismo da visão, e a arte da esfera do impalpável e do imaginário, a relação entre fotografia e arte é de “ódio instintivo”, oposição e antagonismo. Falta à fotografia algo que Baudelaire considera essencial à atividade artística, isto é, a fantasia, “rainha das faculdades”. Nessa medida, entre arte e fotografia a oposição deve se resolver numa relação de subordinação: é o verdadeiro dever da fotografia ser “a serva das ciências e das artes, a serva mais humilde, como a imprensa e a estenografia, que nem criaram nem supriram a literatura” (p. 160). A fotografia deve se resignar à sua condição de secretária daqueles profissionais que desejam documentar, com uma “absoluta exatidão material”, as coisas ou acontecimentos presentes ou cuja sobrevivência se encontra ameaçada. O valor da fotografia reside, por assim dizer, em fornecer e registrar informações. Baudelaire pensa criticamente a fotografia numa época em que ela acabava de aparecer e, se levarmos em conta a posição desse crítico da 1 62 63 SEÇÃO DEBATES fotografia revela? A “grande lição da imagem fotográfica”, apontada por Sontag, é uma virtude da própria fotografia ou estaria ela dissimulada em toda parte do real? Pensar a partir dessa questão é seguir uma certa fenomenologia, considerando o campo aquém do constituído, da objetivação, das categorias habituais da lógica com as quais tanto a filosofia como a ciência tentam reconstituir ou explicar o mundo. E justifica-se a entrada nessa região porque, primordialmente, o problema apontado se refere à dimensão perceptiva de nossa relação com o mundo sensível (dimensão pressuposta pela fotografia), o que nos leva a tocar, atendonos à perspectiva aberta por Maurice Merleau-Ponty (1964), na questão do real. Nessa direção, considerando as idéias de perspectivismo e de inesgotabilidade do ser sensível – tanto no que diz respeito às coisas como ao corpo – transforma-se o sentido daquilo que Susan Sontag chama de “lição da imagem fotográfica”. Ou seja, se há uma pedagogia da imagem, ela parece estar muito mais orientada para uma exacerbação (e não para uma instauração) da ambigüidade, da loucura ou do mistério do próprio mundo sensível. Emblemática da percepção, aquilo que a fotografia revela, com efeito, “é” e “não é”, “está” e “não está”. Como dissera Barthes (198, p. 159): “imagem louca, tocada pelo real”. Como diz Baudrillard (1998, s.p.), imagem ilusória que se põe além das oposições entre o objetivo e o subjetivo, o verdadeiro e o falso, o real e o irreal, “pois a ilusão não se opõe à realidade, ela é uma outra mais sutil, que envolve a primeira com o signo do seu desaparecimento”. LOSS, L. da L. e NUNES, O. A. W. A clínca na instituição... A CLÍNICA NA INSTITUIÇÃO PSICANALÍTICA E A QUEDA DOS SEUS MUROS Luciane da Luz Loss Otávio A. Winck Nunes N BARTHES, R. A câmara clara. Lisboa, Edições 70, 1981. BAUDELAIRE, Ch. Le public moderne de la photographie (1859). In: Curiosités esthétiques. Paris, Hermann, 1968. BAUDRILLARD, J. Car l’illusion ne s’oppose pas à la realité... Paris, Descartes et Cie, 1998. MERLEAU-PONTY, M. L’oeil et l’esprit. Paris, Gallimard, 1964. SONTAG, S. Ensaios sobre a fotografia. Rio de Janeiro, Ed. Arbor Ltda., 1981. ascido com o intuito de atender às demandas de tratamento endereçadas à APPOA, o Serviço de Atendimento Clínico sofreu, ao longo dos anos, mudanças e adequações refletindo o contexto institucional, ou seja, sua trajetória espelha a instituição. Se a APPOA tem conseguido inserção e reconhecimento pela sua produção na articulação da psicanálise freudiana e lacaniana com a cultura, de modo geral, o mesmo não tem sido dito em relação ao exercício clínico – identificado no Serviço –, pelo menos esta é a posição evidenciada, tanto nas reuniões da Mesa Diretiva quanto no próprio serviço. Uma posição discreta foi adotada no trabalho clínico da instituição. Pode-se verificar essa afirmação ao se estabelecer uma relação desde a origem do Serviço até o trabalho realizado atualmente, discrição manifestada tanto dentro quanto fora dos muros institucionais. A aposta institucional centrava-se na formação psicanalítica, conforme a própria Ata de Fundação. A partir das últimas reuniões do Serviço e do “Conversando sobre a APPOA” em Canela, o quadro parece ter se alterado. A APPOA, e não apenas o Serviço, passa a ter uma preocupação com a formação de uma identidade clínica, e as conseqüentes decorrências desta decisão. Dessa forma, cabe-nos uma questão: qual a função do Serviço de Atendimento Clínico da APPOA nesse novo contexto? Parece-nos que, inicialmente, nos compete reconhecer e reafirmar a existência de um trabalho clínico psicanalítico diferenciado de outros modelos institucionais existentes na cidade. A diferença está no acolhimento singular de uma demanda anônima dirigida à instituição. Portanto, se existe algum padrão de atendimento a ser seguido, este é orientado pela ética psicanalítica. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64 65 SEÇÃO DEBATES LOSS, L. da L. e NUNES, O. A. W. A clínca na instituição... Existe, assim, nesta prática clínica, uma constante criação e recriação de dispositivos analíticos, o que em um primeiro momento do trabalho não necessariamente é sinônimo de uma análise strictu senso; é um tipo especifico de escuta ancorada na formação psicanalítica. Freud (1919) reconhecia as propriedades elásticas de sua criação. No texto “Linhas de progresso na terapia psicanalítica” coloca que médicos-analistas, analiticamente preparados, teriam que adaptar a técnica às novas condições, mas a efetividade deste trabalho se daria por tomar os elementos da psicanálise estrita e não tendenciosa nestas circunstâncias. A análise propriamente dita poderá se constituir a posteriori desse primeiro tempo de trabalho, trabalho da análise da demanda anônima ao enlace transferencial dirigido a um analista. Porém, não necessariamente será este o desdobramento de um trabalho psicanalítico na instituição. O trabalho realizado no Serviço é sustentado por cada um de seus integrantes, pois o desejo do analista é uma formação do inconsciente. Os membros praticantes estão ancorados na sua própria formação e também engajados na proposta de formação de analistas da APPOA, sendo esta a articulação que revela a impossibilidade da instituição sustentar o desejo do analista bem como garantir o exercício clínico. Ressaltamos, porém, que a instituição tem o compromisso de zelar pela preservação da experiência analítica, como estipula a Ata de Fundação da APPOA. A escolha de integrar o Serviço de Atendimento Clínico da APPOA se pauta por uma preocupação de intervir no que poderia se chamar de sintoma social, circunscrito nas demandas anônimas de atendimento a uma instituição. Desta forma, sustentar um atendimento nestes moldes não é apenas uma resposta burocrática da instituição, mas é a implicação do analista na responsabilidade social do seu ato. A inscrição de uma identidade clínica pode provocar e convocar, para além dos muros da instituição, os que se sentem engajados no trabalho clínico, ou melhor, torna-se necessário precisar o que temos a dizer e a que viemos enquanto uma instituição psicanalítica que se preocupa e se ocupa, também, com o atendimento clínico, marcando e definindo uma posição na cidade. A reflexão realizada sobre a prática psicanalítica, feita pela instituição poderia, quem sabe, amenizar a sua discreta participação, relançado-a, tanto para dentro como para fora dos seus próprios muros, buscando inscrevê-la na cidade com uma participação mais abrangente, sem deixar de se ater às especificidades decorrentes do nosso trabalho. Desta forma, estamos empenhados em ampliar as possibilidades de atendimento no Serviço de Atendimento Clínico da APPOA, enfatizando sua função clínica e social junto à comunidade, através de um modelo ético de atendimento que proporcione um giro no discurso do sujeito, possibilitando que este se encarregue do seu desejo e o pronuncie singularmente no coletivo. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 66 67 RESENHA RESENHA ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. “já éramos cegos no momento em que cegamos, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos” É inevitável que o tema da cegueira nos remeta, de imediato, às histórias de Édipo e de Tirésias. Em ambos os casos, no entanto, deparamo-nos com uma cegueira que está relacionada a um “saber” e que é decorrente de uma punição – seja esta imposta pelo próprio indivíduo, seja determinada pelos desígnos divinos. De qualquer modo, este destino trágico parece ser de alguma forma recompensado. Embora em “Édipo em Colono” o desafortunado rei de Tebas transforme-se em um velho mendigo levado pela mão de sua filhairmã, Antígona, seu desfecho não é desastroso, pelo contrário, é marcado pela reconciliação do infeliz herói com os deuses – segundo o mito, a terra se abriu suavemente e Édipo retornou ao seio materno: “O homem desapareceu sem lamentar-se e sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais.”1 Já com Tirésias, a cegueira, em suas diversas versões, é provocada por uma consciência mântica e compensada por seus dons adivinhatórios, que, assim como suas faculdades mentais, permeneceram intactos mesmo após a sua morte. Diante destes heróis míticos, cujas histórias se perpetuam na cultura ocidental, não podemos esquecer da cegueira de Homero e do poder inspirador que lhe é concedido pelas Musas. Aparentemente, no mundo homogêneo das civilizações fechadas, para usar a terminologia de Lukács, em que não encontramos “nem a separação entre o eu e o mundo, nem a oposição do Eu e do Tu”2, são as trevas externas que geram a luz interna. Evidentemente, não iremos nos deparar no texto de Saramago com este Kósmos fechado e perfeito, em que imperam as leis de uma harmonia, às quais estão sujeitos tanto a physis quanto os homens. No mundo de Saramago, no nosso mundo, já não habitam deuses nem heróis. Há muito já se deu a ruptura entre o eu e o mundo e nada nos resta senão tentar representar esta fragmentação e incoerência estrutural. É justamente por isso que, em “Ensaio sobre a cegueira”, a cegueira decorre de um “não-saber”. Daí a epígrafe do livro: Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Ainda, não se trata de uma cegueira que lança o sujeito na escuridão, é “Mais como uma luz que se acende”. Sendo assim, as personagens não são vítimas das trevas, mas de um mal-branco, uma brancura ofuscante, altamente contagiosa, que não afeta “um” indivíduo, mas se dissemina por toda a coletividade. As personagens são nomeadas a partir de referências aos seus olhos – o oftalmologista, o rapazinho estrábico, o velho da venda preta, a rapariga dos óculos escuros... – e é justamente a ausência de nomes e de qualquer indicação que permita identificar a cidade onde se passa a história que criam um efeito universalizante. Na medida em que o “mal-branco” se alastra, assistimos instalar-se um estado de caos absoluto – a falta de alimentos e de condições mínimas de higiene, o rompimento dos vínculos familiares e sociais, a putrefação 1 SÓFOCLES. Édipo em Colono. In: _____. A trilogia tebana. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1989, v. 1970-1973. 68 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 2 LUKÁCS, Georg. Teoria do romance. Lisboa: Presença, s.d., p. 31. C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 69 RESENHA RESENHA dos corpos que deixam de ser enterrados e que, embora não possam ser vistos, exalam o cheiro da morte, que chega até nós. O narrador onisciente – que tudo vê, que tudo descreve – expõe intencionalmente ao leitor os mais sórdidos detalhes de uma realidade, externa e interna, aterradora: É claro que são inúmeras as leituras possíveis, tantas quanto o número de leitores, mas, com certeza, não há como em cada uma delas não ressoarem as palavras: “Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não vêem.” “Há muitas maneiras de tornar-se animal, pensou, esta é só a primeira delas”. Henriete Karam Assim como Édipo é guiado pela mão benevolente de Antígona, que o ampara em sua cegueira solitária, o grupo de cegos que centraliza a história também o é, por alguém que vê e que, talvez, tenha sido poupada não apenas para ser os olhos de que tantas vezes o narrador se serve “para nos fazer ver”, mas por sua capacidade de solidariedade. Ao explorar a sensorialidade, Saramago nos obriga a “ver” e “sentir” os extremos da desumanização e degradação. As estruturas sociais que parecem sustentar o convívio entre as pessoas se apresentam em toda a sua fragilidade. A violência e egoísmo se desmascaram, reinam os instintos mais pérfidos e repulsivos, o limite máximo da crueldade, pois “só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são”. A alegoria que Saramago constrói neste romance refere-se à alienação, à massificação e à perda da individualidade, uma vez que “Com o andar dos tempos, mais as atividades da convivência e as trocas genéticas, acabamos por meter a consciência na cor do sangue e no sal das lágrimas, e, como se tanto fosse pouco, fizemos dos olhos uma espécie de espelhos virados para dentro, com o resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem reserva o que estávamos tratando de negar com a boca”. Saramago aponta, através da distinção entre olhar e ver, entre o tato e o toque, a necessidade de redescobrir-se a solidariedade e o afeto, reaprender a viver, para, então, voltar a ver, já que “na verdade os olhos não são mais do que umas lentes, uma objetiva, o cérebro é que realmente vê”. 70 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 71 AGENDA Capa: Manuscrito de Freud (The Diary of Sigmund Freud 1929-1939. A chronicle of events in the last decade. London, Hogarth, 1992.) Criação da capa: Flávio Wild - Macchina AGOSTO – 2001 Dia 01, 08, 15, 22 e 29 09 13 e 27 14 e 28 06 30 Hora 9h30min Local Sede da APPOA 21h 20h30min 20h30min 20h30min 21h Sede da APPOA Sede da APPOA Sede da APPOA Sede da APPOA Sede da APPOA Atividade Reunião da Comissão de Eventos Reunião da Mesa Diretiva Reunião da Comissão do Correio da APPOA Reunião da Comissão de Biblioteca Reunião da Comissão da Home Page Reunião da Mesa Diretiva aberta aos membros da APPOA ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA DE PORTO ALEGRE GESTÃO 2001/2002 Presidência - Maria Ângela Brasil a 1 . Vice-Presidência - Lucia Serrano Pereira 2ª. Vice-Presidência - Jaime Alberto Betts 1ª. Tesoureira - Grasiela Kraemer 2a. Tesoureira - Simone Moschen Rickes 1ª. Secretária - Carmen Backes 2º. Secretário - Gerson Smiech Pinho MESA DIRETIVA Alfredo Néstor Jerusalinsky, Ana Maria Gageiro, Ana Maria Medeiros da Costa, Analice Palombini, Ângela Lângaro Becker, Edson Luiz André de Sousa, Gladys Wechsler Carnos, Ieda Prates da Silva, Ligia Gomes Víctora, Liliane Fröemming, Maria Auxiliadora Pastor Sudbrack, Marta Pedó e Robson de Freitas Pereira. EXPEDIENTE Órgão informativo da APPOA - Associação Psicanalítica de Porto Alegre Rua Faria Santos, 258 CEP 90670-150 Porto Alegre - RS Tel: (51) 3333 2140 - Fax: (51) 3333 7922 e-mail: [email protected] - home-page: www.appoa.com.br Jornalista responsável: Jussara Porto - Reg. n0 3956 Impressão: Metrópole Indústria Gráfica Ltda. Av. Eng. Ludolfo Boehl, 729 CEP 91720-150 Porto Alegre - RS - Tel: (051) 3318 6355 PRÓXIMO NÚMERO OS NOMES DA TRISTEZA 72 C. da APPOA, Porto Alegre, n. 93, ago. 2001 Comissão do Correio Coordenação: Maria Ângela Brasil e Robson de Freitas Pereira Integrantes: Ana Laura Giongo Vaccaro, Francisco Settineri, Gerson Smiech Pinho, Henriete Karam, Liz Nunes Ramos, Luis Roberto Benia, Luzimar Stricher, Marcia Helena Ribeiro e Maria Lúcia Müller Stein SUMÁRIO EDITORIAL NOTÍCIAS SEÇÃO TEMÁTICA UM OUTRO OLHAR Evgen Bavcar PARADOXOS QUASE INVISÍVEIS Elida Tessler NOITES ABSOLUTAS Edson Luiz André de Sousa EDIPO FOTÓGRAFO Benjamín Mayer Foulkes OLHARES VIRTUAIS Patrícia Rosa Balestrin O CEGO NO ESPELHO Alfredo Jerusalinsky SEÇÃO DEBATES AMBIGÜIDADE DA FOTOGRAFIA João A. Frayze-Pereira A CLÍNICA NA INSTITUIÇÃO PSICANALÍTICA E A QUEDA DOS MUROS Luciane da Luz Loss Otávio A. Winck Nunes RESENHA “ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA” AGENDA 1 3 15 N° 93 – ANO IX AGOSTO – 2001 2001 17 24 34 39 50 57 62 62 65 68 68 72 AS IMAGENS POSSÍVEIS
Download