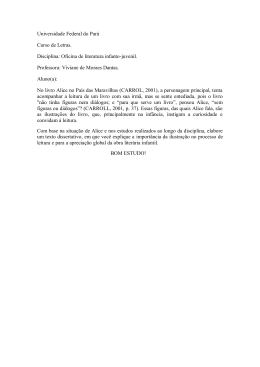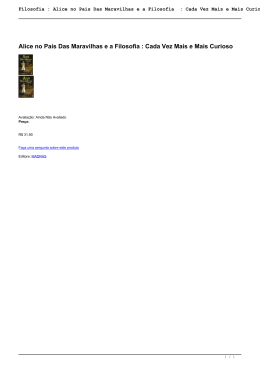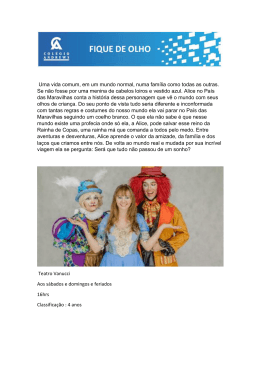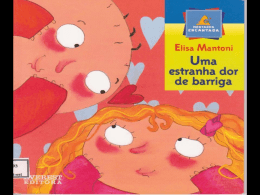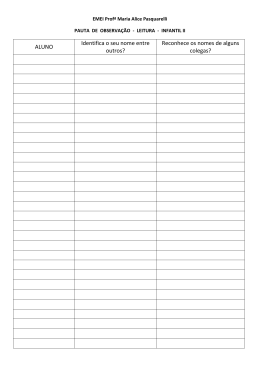“Não sei por que a mulherada gay gosta tanto de música ao vivo!” Classe, sociabilidade e estilo entre mulheres homossexuais1 MARCIO ZAMBONI - Numas-USP 1 Trabalho apresentado no I Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica, realizado entre os dias 04 e 06 de novembro de 2014, Belém/PA. 1 RESUMO: O objetivo deste paper é refletir sobre as dinâmicas de sociabilidade de mulheres homossexuais de classe média alta na cidade de São Paulo. O trabalho de campo foi realizado com uma rede de homens e mulheres homossexuais de 40 a 55 anos, tendo envolvido entrevistas em profundidade no formato história de vida e observação participante em situações de sociabilidade. Devo observar, por um lado, a falta de identificação das minhas interlocutoras com aqueles que elas descrevem como os espaços de sociabilidade mais convencionais dedicados a mulheres homossexuais, como barzinhos de música ao vivo. Pretendo analisar, por outro, que alternativas elas encontram para socializar com amigas e potenciais parceiras. Argumento que classe e estilo, além de gênero e sexualidade, são categorias fundamentais para compreender esta dinâmica. 2 INTRODUÇÃO O objetivo deste paper é refletir sobre as dinâmicas de sociabilidade de mulheres homossexuais de classe média alta na cidade de São Paulo. Devo observar, por um lado, a falta de identificação das minhas interlocutoras com aqueles que elas descrevem como os espaços de sociabilidade mais convencionais dedicados a mulheres homossexuais, como barzinhos de música ao vivo. Pretendo analisar, por outro, que alternativas elas encontraram para socializar com amigas e potenciais parceiras. Argumento que classe e estilo, além de gênero e sexualidade, são categorias fundamentais para compreender esta dinâmica. O trabalho de campo foi realizado com uma rede de homens e mulheres homossexuais de 40 a 55 anos, tendo envolvido entrevistas em profundidade no formato história de vida e observação participante em situações de sociabilidade. Neste paper, devo focar em uma única entrevista em profundidade, realizada com Alice2 – uma mulher que se afirma como homossexual e que tem hoje 47 anos. Tratase de uma reflexão ainda fundamentalmente experimental: as questões aqui abordadas continuam em aberto e sugestões são bem vindas. Conheci Alice no contexto da minha pesquisa de mestrado: “Herança, distinção e desejo: homossexualidade em camadas altas na cidade de São Paulo (ZAMBONI, 2014)3. O projeto se estruturou sobre duas lacunas identificadas a partir de um levantamento no banco de teses da CAPES4 acerca da bibliografia que trata da homossexualidade. Por um lado, a categoria “classe”, embora fosse apropriada com alguma frequência para definir ou recortar o campo era pouquíssimas vezes tematizada pelas pesquisas. Por outro lado, se as camadas médias e baixas eram recorrentemente referidas, não encontrei naquele momento nenhum projeto que se propusesse a trabalhar com camadas altas. Minha entrada em uma rede5 de homens e mulheres homossexuais na faixa dos 40 a 55 anos, que acabaria se consolidando como o principal núcleo da pesquisa e 2 Nomes fictícios. Realizada nos anos de 2012 a 2014 na Universidade de São Paulo com o financiamento da FAPESP e sob a orientação da professora Laura Moutinho. 4 Pesquisa realizada em Abril de 2008 no banco de teses da CAPES, disponível no site www.capes.gov.br. 5 Sobre o uso do conceito de rede em contextos urbanos ver Mitchell (1969). Sobre sua utilização em pesquisas antropológicas sobre sexualidade ver também Benítez (2010) e Fachini (2008). 3 3 definindo em parte seus rumos, não ocorreu como resultado de um planejamento prévio - foi antes uma oportunidade inesperada que acabou por render muito mais do que eu imaginava. Minha intenção era trabalhar com indivíduos que se afirmassem como homossexuais e fossem provenientes de camadas altas - justamente com o intuito de oferecer um contraponto à bibliografia, apresentando um problema historicamente importante para os estudos antropológicos sobre sexualidade no Brasil (a relação entre classe e sexualidade) a partir de um contexto etnográfico pouco explorado (camadas altas). Não havia, a princípio, um corte geracional. Durante o processo de elaboração do projeto de pesquisa, conversei com a minha mãe sobre o campo de estudos no qual estava me inserindo - informação que não a deixou muito confortável em um primeiro momento. Algumas semanas depois, no entanto, tivemos um novo diálogo. Ela me contou que havia conversado em uma festa com seu amigo Ricardo (um “gay assumido” que tinha então 50 anos) e havia dito para ele que eu estava começando uma pesquisa sobre homossexualidade na faculdade. Ele, em resposta, mostrou-se bastante interessado e disse que se eu precisasse fazer entrevistas poderia procurá-lo. Essa possibilidade me deixou, a princípio, bastante dividido. Não havia pensado em trabalhar com essa faixa etária e achava que poderia ser estranho ou constrangedor conversar sobre sexualidade com um amigo da minha mãe. Algum tempo depois me convenci de que se tratava de fato de uma oportunidade interessante: Ricardo era filho de um advogado conhecido e tinha uma muito bem-sucedida carreira como médico - representando bem o perfil que eu pretendia pesquisar. Depois de uma breve correspondência virtual, marcamos uma data para realizar a entrevista na casa do Ricardo. Ao final desta, pedi para ele indicar, se possível, amigos seus para realizarmos novas entrevistas. Recebi, poucos dias depois, nome, e-mail e telefone de 2 amigos que haviam também se mostrado dispostos a contribuir com a pesquisa. Uma dinâmica semelhante caracterizou o trabalho de campo até que, 6 meses depois, eu havia realizado 9 longas entrevistas (com 6 homens e 3 mulheres) no formato história de vida. O desenvolvimento do trabalho de campo se deu dessa forma: não como efeito de um planejamento prévio, mas porque foi esse o espaço que me foi aberto pela rede. Percebi que havia nesses indivíduos uma disposição para falar abertamente sobre suas 4 vidas, e procurei ser sensível a essa demanda6. Os entrevistados compartilhavam com seus amigos a experiência e esses, quando, por curiosidade ou interesse se mostravam dispostos, eram-me indicados para conversarmos. Foi justamente por meio de outra interlocutora, com a qual eu já havia realizado uma entrevista em profundidade, que eu conheci Alice. Entrei em contato com ela por e-mail e marcamos pouco tempo depois, por telefone, um encontro em sua casa para realizarmos a entrevista. Apesar de ter me proposto a trabalhar com homens e mulheres na minha pesquisa, tive muito mais facilidade em me relacionar com os primeiros: mais homens se dispuseram a me conceder entrevistas e apenas com estes consegui estabelecer um contato que fosse além da entrevista, possibilitando a realização de etnografia em contextos de sociabilidade. Apesar destes predominarem no trabalho de campo, as conversas com mulheres foram fundamentais para o desenvolvimento da reflexão, apresentando um contraponto riquíssimo. É interessante notar que, na faixa etária com a qual eu trabalhei, o termo gay era utilizado como identidade sexual tanto por homens quanto por mulheres. Além disso, a palavra lésbica, mais utilizada na esfera política (abrindo a sigla LGBT), não possui pregnância no universo pesquisado. Outra interlocutora diz, inclusive, não gostar “da forma como esta palavra soa”. Sem a marcação de gênero, no entanto, a palavra gay é e imediatamente associada ao universo masculino - de forma que as mulheres acabam englobadas pelos homens. Um desafio constante tem sido não cair nessa armadilha, acentuando os momentos nos quais as experiências de mulheres e homens gays contrastam ou se aproximam. Uma das características de Alice que facilitaram o nosso diálogo é o fato de que ela tem muitos amigos gays e sai frequentemente com eles – como veremos a seguir. Assim como as outras duas interlocutoras da pesquisa, ela nunca esteve muito próxima dos estereótipos associados a mulheres homossexuais. Elas estão, em certo sentido, mais próxima dos homens gays em termos de gosto e estilo de vida. E é essa proximidade, expressa na constituição de redes de sociabilidade mistas em termos de 6 Ao longo do trabalho a faixa etária dos entrevistados (em contraste com a minha) se mostrou como uma dimensão importante - que caracteriza de forma decisiva a elaboração de narrativas por parte dos entrevistados e a natureza das relações de sociabilidade que o grupo pesquisado estabelece. 5 gênero e orientação sexual, que me permitiu dialogar tanto como homens quanto com mulheres em minha pesquisa. Entrei em contato com Alice por e-mail. Ela propôs que nos encontrássemos em um bar na região da Vila Madalena e fizéssemos a entrevista por lá mesmo. Alice mora em um tradicional bairro residencial de classe média alta na Região Sul da cidade de São Paulo, mas seu psicólogo atende na Vila Madalena. Dessa maneira, ela costuma sair deste lado da cidade uma vez por semana, depois da sua consulta – o que era conveniente para mim, que moro e estudo ali perto. A conversa, regada a chope e acompanhada de petiscos, teve um tommais informal. Alice é uma mulher de meia idade com uma aparência elegantemente andrógina: corpo esguio, estatura mediana, um nariz fino e proeminente, pele clara e cabelos castanhos muito lisos,cortados de forma estilosa - com uma longa franja atravessando em diagonal sua testa. Quando nos conhecemos, usava uma calça jeans de lavagem escura e uma camisa social branca bem ajustada, dispensando outros acessórios. Apresenta uma cativante desenvoltura para longas conversas em uma mesa de bar que sugerem sua vocação para a vida boêmia. Em seu depoimento, alternava essa segurança um tanto debochada com uma certa vulnerabilidade feminina – como que lampejos de uma fragilidade e sensibilidade. Vejamos como seu relato pode iluminar as questões que me dispus a discutir. GÊNERO, HOMOSSEXUALIDADE E SOCIABILIDADE Alice diz não se atrair pelo tipo de mulher mais comumente associada ao estereótipo de mulher homossexual. A preferência por parceiras mais femininas, e não necessariamente gays, se explica por uma questão de gênero: Eu comecei a ter relação com mulheres que não eram necessariamente gays. Não me agradava esse estereótipo, eu nunca freqüentei esses lugares que você identifica pela aparência. [...] não é isso que me atrai. Não é uma questão de preconceito quanto à atitude, é uma questão de afinidade. Na hora que você se sente atraída por uma mulher você se sente atraída pelo gênero feminino. A feminilidade faz parte disso pra mim. Assim, o comportamento, o jeito tem que estar na história, tem que estar nesta cena. Então eu tive muitas relações com mulheres que não eram gays, que naquele momento estavam experimentando. E naquele momento da história ocorria uma oportuna liberação pra que isso acontecesse, entendeu? E realmente acabou acontecendo. Quer dizer, quem me visse na rua conversando não sabia se eu tava andando com uma namorada ou com uma amiga. Entendeu? Naquela época não se ia no [shopping] Frei Caneca de mão dada. 6 Ao falar sobre a constituição desta experiência ao longo de sua trajetória, ela destaca o lugar de um determinado ambiente aberto para a experimentação que vigorava em sua juventude. Alice afirma que o mais interessante deste contexto não eram os lugares tradicionalmente associados à homossexualidade feminina, embora esse tivessem também a sua importância: Lugar pra mulher é geralmente bar. Tem alguma coisa na mulherada que é machona, assim, botecão. Tinha o Ferros na Nove de Julho em frente à Sinagoga, não existe mais. Lugares de música ao vivo. Eu não sei por que mulherada gay gosta tanto de música ao vivo, que coisa cafona! Eu não tenho uma identificação, eu não sou muito do gênero, tem muita coisa que eu não gosto, por exemplo, essa coisa de música ao vivo, violãozinho, sabe? Coisa com banquinho que nem o Farol da Vila Madalena, eu não me identifico com estes lugares. Não é o tipo de mulher que eu acho interessante, não gosto da música, não gosto de musica nacional, tocando violão, não é aquilo que eu acho bacana. Eu gosto de lugar misturado, eu gosto de lugar onde tem meninos e meninas. Lugar misturado eu acho mais divertido. Tem lá o Bar da Dida que tem umas pessoas legais, umas meninas. Mas eu freqüento muito pouco estes lugares que são essencialmente gays, não é o tipo de público que eu prefiro. Nós já tivemos clássicos, tinha uma na Alameda Itu que era muito divertido. Fechou nos anos 90, mas teve a sua importância também pra muita gente. Eu estava com meus 30 e via a mulherada de 20 anos chegando, começando a sair. Teve a sua importância para liberar. Quando eu tinha 20 anos não tinha lugar pra ir. Apesar de reconhecer a importância desses lugares e descrevê-los como “divertidos” o mesmo “clássicos”, Alice enfatiza sua falta de identificação com eles. Em sua fala, podemos identificar a articulação de três marcadores sociais na forma como ela se diferencia desses lugares: gênero, classe e estilo. Gênero tem um sentido duplo: Alice se diferencia tanto do estereótipo de mulher masculinizada quanto da ideia de um lugar homogêneo em termos de gênero (só com homens ou só com mulheres). A classe aparece na forma como ela desqualifica e hierarquiza o gosto das freqüentadoras desses lugares. Em seu discurso, está implícita a ideia de que esses lugares costumam ser pouco sofisticados, que eles possuem uma estética rústica que os aproxima simbolicamente das camadas populares. Por fim, Alice descreve uma distância em termos de estilo: o tipo de música que toca, os tipos de interação, a aparência e a organização do espaço, a corporalidade dos freqüentadores. Embora esses elementos possam ser traduzidos em termos de classe e gênero, acredito que a ênfase no estilo como categoria analítica nos permitirá enxergar certas relações com maior sutileza. 7 Me aproximo, neste sentido, da forma como Gibran Teixeira Braga tem usado estilo em seus trabalhos recentes, ou seja: “como um referente amplo de mobilização de sinais corporais, gostos musicais e estéticos e preferências erótico-afetivas, localizados em recortes articulados de tempo-espaço” (BRAGA, 2014). Vejamos como Alice descreve esse conjunto de “lugares misturados” com os quais se identifica. “MISTURA” E ESTILO Ao definir os lugares de sua preferência, Alice destaca mais sua definição em termos de determinados “estilos” do que em termos de gênero e sexualidade (lugares de mulheres gays”, por exemplo). Quando lhe perguntei o que era um lugar “misturado”, ela explicou: Um lugar que tenha pessoas interessantes, pessoas afins, pessoas que você pode conversar: mesmo com caras heteros, mulheres heteros, pessoas que tenham a ver. Tem que ter um perfil. Tem lugares que são misturados, que nem era o Nation. Mas que todo mundo ali falava a mesma língua. Existem lugares assim. O Ritz é um bar gay, mas não é só gay que vai ali. As pessoas têm uma identidade ali, aí não é uma questão de gênero, de sexualidade. É uma questão de afinidade, entendeu? E essa afinidade você encontra. Quando você entra num lugar você percebe pelo papo, pelas roupas, pelo jeito, você percebe qual é a afinidade. Não adianta eu ir num lugar onde os caras vão ficar tocando música sertaneja, não é o meu perfil, não é o que eu gosto. Provavelmente as pessoas que vão estar ali não são pessoas que curtem a mesma coisa que eu curto. Isso não é preconceito, essa é uma questão óbvia do motivo do lugar que você prefere ir. “Ah, você nunca vai num lugar que toca música sertaneja?”, não é isso, “samba?”, não é isso. Tem um grupo de meninas que é super legal do Samba de Rainha que tocam no bar aos domingos, são todas lindas e tocam samba. É super legal, é super irado. É legal de ir também. As pessoas que estão ali... aí já não é assim... tem uma infinidade de pessoas, tem muita gente que não tem nada a ver comigo. Eu sou chata, sou seletiva, tem lugares que não me interessam. Fica claro, neste sentido, que a “mistura” à qual Alice se refere é sobretudo uma diversidade de gênero e orientação sexual. Essa mistura se torna possível por conta de uma identificação em outros nível, em termos de um conjunto compartilhado de referências culturais. Essa identificação sugere também um pertencimento comum em termos de classe: tratam-se de competências culturais associadas a um consumo qualificado, a determinadas profissões especialmente valorizadas e ao acesso a certas instituições, como a universidade. 8 Alice descreve então um pouco da cena noturna paulistana a partir do final dos anos 1980, onde começou a viver suas primeiras experiências sexuais. Neste contexto, o contato afetivo e sexual entre mulheres se tornava possível em lugares “que não tinham o rótulo gay” por conta da circulação de um ideal de indefinição e experimentação: No final dos anos [19]80 apareceram uns lugares, uns clubes noturnos... [...] existia um universo em São Paulo. Não via quem não queria porque estava tudo acontecendo. Era uma coisa underground. Tinha aqueles lugares, existiam lugares gays estereotipados. Mas a gente começou a freqüentar lugares que não tinha rótulo gay, mas onde todo mundo ia. Todo mundo ia pra se divertir, era legal pra caramba. Mas não era lugar de pegação. Não pode ser dizer que era um lugar gay porque não tinha pegação. Mas se faziam muitas coisas que as pessoas viam. Tudo que tinha que acontecer de flerte de homem com homem, mulher com mulher acontecia e ninguém ficava preocupado com isso. Não tinha pegação mas você flertava e se tivesse que acontecer fora dali tudo bem. Dessa mistura eu sempre gostei mais. Alice está falando fundamentalmente de um conjunto de bares e casas noturnas no eixo da Rua Augusta, se estendendo em alguns pontos para o centro e a região dos Jardins. Esse circuito abrangia lugares como Nation, Massivo, Dândi, Madame Satã e Ritz. A descrição do Glória e do Malícia, um pouco posteriores (a partir de meados dos anos 1990), mostra a influência duradoura que esses espaços tiveram na configuração da noite paulistana nas décadas que se seguiram: Tem uma festa no Glória que chama Batom que tem uma vez por mês de sábado. É legal. Ali você mulheres, homens, mas é uma festa de meninas. O Glória é do André, que é um cara da velha guarda que freqüentava estes lugares nos anos 80, 90, é jornalista e tal. Eu não sou de freqüentar esse lugar, é difícil. Um lugar essencialmente gay, mas acho que vale a pena, desses que é legal ir de vez em quando. Existia um que era de caras chamado Malícia, era na Consolação. Ali assim, havia 400 pessoas e eram 390 caras e dez meninas, era à proporção. Isso, é claro, quando a mulherada começou a se soltar um pouco mais, iam mais algumas, mas a proporção era essa. Era um lugar pequeno, mas clássico, de musica legal. E era um lugar que não era bagaceiro, não era putaria, era um lugar ok pra ir. Uma pessoa que tivesse caindo na vida, começando, poderia ir lá. As coisas rolavam muitas vezes. A música era bacana e a gente ia dançar lá aos sábados. Esse lugar marcou época, fez história. Essa influência foi significativa não apenas no universo da noite, mas também para a vida cultural da cidade: [Essa cena] foi um passo para que as misturas acontecessem. Carolina Ferraz [atriz de televisão] ia, a Erika Palomino [jornalista de moda], essas pessoas iam. Foi uma grande 9 mudança para a noite paulistana e para as pessoas naquela época. Olesbian chic começou ali. Acho que foi muito importante para abrir as portas para o que acontece hoje. Se não tivessem aquelas casas, aquelas músicas, aqueles caras que se montavam. Aquela mulherada, umas mulheres lindíssimas. Naquela época para sair e dançar você não ia de calça jeans e chinelo, era outra cena, outro papo: a noite era muito mais fetichista do que é hoje. Hoje quanto menos você se arruma melhor, tem aquela coisa do despojado. Naquela época não tinha isso ainda, a gente estava passando por um outro momento da moda. Tinha aqueles dândis.... Teve uma casa até chamada Dândi, que não durou muito. O convite de um ano da Nation, por exemplo, foi o Paulo Von Poser [artista plástico] que fez, teve uma parte da decoração que foi ele que pintou. Tinha o Madame Satã, onde também as coisas aconteciam. Era uma casa gay? Não era, mas as pessoas se deixavam levar... fumava um baseado, bebia, fumava. Era onde os artistas... onde as coisas aconteciam: música, arte, moda. Eram estas pessoas que vieram a ser aos 40 anos formadores de opinião. Neste sentido, a efervescência cultural parece ser um dos principais atrativos desses lugares. A identificação entre os freqüentadores estimulava também a criação de redes de sociabilidade: Então, o Mix Brasil começou em [19]93 ou coisa parecida. Pouquíssimos filmes e a coisa foi pegando, foi pegando. Foi pegando porque tinha público, as pessoas queriam ver filme desse gênero e as festas eram bacanas. O que acontece? Jardins, as pessoas que estão ali... Teve uma época que você ia nas festas e todo mundo se conhecia, vira um pouco gueto. Eu lembro muito disso. Mesmo com pouca gente era legal de ir, é diferente de ir num lugar, tipo aqui, que tem pouquíssima gente, mas parece cheio e ir num lugar que mesmo tendo 40 pessoas parece vazio. Boates muito grandes eu não gosto, nunca gostei disso. Em bares pequenos, que você chega lá e conhece todo mundo, é quase inevitável. Mas da onde você conhecia todo mundo? De clube, os publicitários, os artistas plásticos que se encontravam na noite. Quando você vê tem o pessoal que você conhece da noite, não necessariamente da mesma profissão, mas que acaba indo no mesmo lugar. A Consolação em [19]96, a noite das meninas de quarta-feira. Hoje tem a D-Edge na Barra Funda, o Cio. Noite de meninas. Aí vai juntando as amigas e todo mundo chama. Todo mundo era amigo. Estas coisas tinham um tamanho e uma efervescência que era muito atraente porque um lugar pequeno e cheio, todo mundo quer entrar. Então era muito divertido, era uma época no meio da década de 90, um monte de drogas novas: ecstasy, tinham as raves, uma loucura que não acabava mais. E quando tinha estas festas às meninas apareciam. Todo mundo ia se divertir. Claro que entrava os caras também, não era o clube da Luluzinha, claro que os amigos entravam e era ótimo. A escala reduzida desses espaços, associada a um determinado estilo de socialização mais intimista e a seu caráter de certa forma elitista, favorecia portanto a constituição de redes de sociabilidade. A vitalidade da cena dependia, concomitantemente, dessas mesmas redes que ela ajudava a criar. 10 IDENTIDADE E VISIBILIDADE Para mulheres homossexuais em geral e para Alice em particular, devido à sua preferência por mulheres não facilmente identificadas como gays, esta dinâmica de formação de redes se mostrava fundamental também para identificar potenciais parceiras: E isso foi ajudando também a identificar as mulheres que têm essa visibilidade melhor. Homem sai bastante, dá pinta e tem um código que todo mundo saca, mesmo se você não for gay. Mesmo se o cara não é gay e está a fim os caras sabem. A mulher, primeiro pela quantidade, que são menos. E elas são mais invisíveis na noite, você não vê assim, não é tão visível. A não ser que seja muito masculinizada. Então estas festas possibilitavam você conhecer... E você vias umas que você nem imaginava! Apesar de serem elementos tanto da homossexualidade masculina quanto da feminina, a invisibilidade e a fluidez das identidades parecem ser mais acentuadas entre as mulheres: Que também tem essa questão da bissexualidade, tem muitas mulheres que se excitam. Eu namorei algumas que hoje são casadas, com filhos. Teve um momento da vida delas que elas estavam gays. Agora, elas eram gays? Elas namoraram mulheres, amaram mulheres, tiveram um relacionamento estável, não estavam se escondendo. Naquele momento era o que elas queriam fazer, mas num outro momento elas se apaixonaram por um cara e tiveram um filho e fizeram uma família. Tem muita mulher que é fora do arquétipo da mulher masculinizada. Isso é uma coisa que eu aprendi a minha vida inteira. Porque dentro do que elas vivem, primeiro porque elas não têm problema com o gênero. Aliás, eu acho que homem é mais fácil ele ter esse comportamento [tipicamente homossexual], mesmo que ele seja casado, tenha filho, na hora que ele resolve se assumir ele descamba mesmo... Mulher você pode passar batido, mulher é muito mais camuflado, na maturidade é muito mais camuflado. E tem uma coisa também que é a questão da maternidade, pra algumas bate e isso faz com que você vire uma chave. Se você quiser ser mãe... tem que casar com homem. A minha geração tem muito disso. Essas ambiguidades das mulheres potencialmente dispostas a contatos afetivos e sexuais com outras mulheres é, para Alice, uma expressão da dinâmica da sexualidade humana de forma mais ampla. A experiência de freqüentar esses lugares provocou, em sua trajetória, uma mudança de perspectiva sobre a identidade sexual, que se tornava algo cada vez menos estanque a seus olhos: Eu conheci um monte de pessoas, namorei algumas pessoas, outras flertei. A partir dali rompeu-se a barreira do tabu. Ali eu aprendi que as coisas mais improváveis podem acontecer, tanto homem como pra mulher. Não é só o cara que dá pinta que é gay, 11 vários caras muito machões... Você começa a ver os diversos tipos, ver que a questão da sexualidade está espalhada, não dá para catalogar pelo que veste e não sei o que. Tem as pessoas óbvias, mas tem as pessoas que estão lidando com suas limitações dentro da sociedade. Então assim, se você faz parte de um núcleo tradicional e você é um advogado que tem que andar de terno e gravata e tem que manter uma fachada austera, você vai encontrar esse cara num bar gay uma hora ou outra, com a mesma cara austera e ele é gay. E você pode encontrar a mulher de vestidinho vaporoso que vai dar bola pra mulher. Essa percepção se articula com um determinado contexto social e político, no qual as representações sobre a homossexualidade na esfera pública se transformam profundamente. A “parada gay” de São Paulo (hoje parada do orgulho LGBT) e a presença de casais homossexuais nas novelas são destacados como importantes pontos de inflexão: Quando que a gente poderia imaginar... Tinha uma novela que tinha um casal de mulheres, era com a Bia Seidl... Isso só foi possível porque todo esse movimento de sensibilidade, de clubes, de pessoas que não eram estereótipos aparecendo. O teu vizinho, a sua vizinha pode ser gay e você não sabe, vamos parar com isso. A parada gay veio mostrar isso. [...] Eu me lembro da primeira parada gay, tinham duas mil pessoas. Eu fui na segunda ou terceira, na primeira acho que tinham umas 500, para você ver a progressão. Na hora que as pessoas saíram na rua e viram que as pessoas que estavam ali não eram o que estas pessoas esperavam ver. Porque tem isso. As pessoas que estavam ali se divertindo, participando, não eram travestis.Não era uma coisa ofensiva: eram pessoas passeando, pessoas de mão dada, o seu vizinho que você nunca imaginou. Por quê? Porque as coisas estão ali e você não sabe. Cristina Prochaska e Bia Seidl em “Vale Tudo” Alice descreve, portanto, uma profunda interconexão entre estética, sociabilidade e política na qual a questão da (in)visibilidade da homossexualidade 12 feminina ocupa um lugar central. A (hiper)visibilidade e a estigmatização das travestis é mobilizada como o principal contraponto. CONCLUSÃO Como uma espécie de conclusão, gostaria de olhar para estes dados à luz dos conceitos elaborados pelo sociólogo argentino Ernesto Meccia (2011). Me parece que esta cena de lugares “misturados” do final dos anos 1980 remete ao que este autor chamou de desdiferenciação externa e rediferenciação interna. Em outras palavras: a perda relativa da orientação sexual como principal organizador da sociabilidade de pessoas que se afirmam como homossexuais. Os caso de Alice nos permite formular três propostas analíticas e metodológicas neste sentido. Em primeiro lugar, a rediferenciação interna pode ser pensada em termos de marcadores sociais da diferença. Ou seja, a dinâmica de identificação e diferenciação em contextos de sociabilidade precisa cada vez mais ser pensada em termos de interseccionalidade (FACCHINI, 2010). Vimos que para além da orientação sexual, Alice destaca dimensões de gênero, classe e estilo. Em segundo lugar, a desdiferenciação externa pode contemplar não apenas a atenuação do estigma e da segregação sobre as pessoas que se afirmam como homossexuais, mas pode significar também a abertura de espaços de experimentação que não passem pela conformação imediata de identidades sexuais estanques. As relações de Alice com mulheres “não necessariamente gays” é um exemplo eloqüente disso. Por fim, é possível identificar uma outra dimensão da questão geracional. Enquanto Meccia descreve a nostalgia dos “últimos homossexuais”, Alice expressa uma nostalgia do glamour das primeiras gerações de “gays”. Ou seja, nosso dialogo era também uma espécie de negociação da valorização de uma experiência geracional específica entre sujeitos posicionados de maneiras diversas em termos de tempo e espaço. 13 BIBLIOGRAFIA BENITEZ, M. E. Diaz. Nas Redes do Sexo: Os bastidores do pornô brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In. FERREIRA, Marieta; AMADO, Janaina (Org.). Os usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. ____. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2008. CARRARA, Sérgio; SIMOES, Júlio Assis. Sexualidade, cultura e política: a trajetória da identidade homossexual masculina na antropologia brasileira. Cad. Pagu, Campinas, n. 28, 2007. FACCHINI, Regina. Entre umas e outras: mulheres, (homo)sexualidades e diferenças na cidade de São Paulo. Campinas: IFCH/Unicamp, 2008. Tese de Doutorado. FRANÇA, Isadora Lins. “Sobre „Guetos‟ e „Rótulos‟: Tensões no mercado GLS na cidade de São Paulo”. Cadernos Pagu. Campinas, n.28, 2007. ____. Consumindo lugares, consumindo nos lugares: homossexualidade, consumo e subjetividades na cidade de São Paulo. Tese de Doutorado. UNICAMP, 2010. FRY, Peter. Para inglês ver: identidade e política na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. GUIMARÃES, Carmem Dora. O homossexual visto por Entendidos. Rio de Janeiro: Garamond/CLAM, 2004. GREEN, James et al. Homossexualismo em São Paulo e outros escritos. São Paulo: Unesp, 2005. HEILBORN, Maria Luiza. Dois é par: gênero e identidade sexual em contexto igualitário. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2004 LACOMBE, Andrea. Ler [se] nas entrelinhas: Sociabilidades e subjetividades entendidas, lésbicas e afins. Tese de Doutorado. UFRJ, 2010. MECCIA, Ernesto. Los ultimos homosexuales: sociologia da la homosexualidad y la gaycidad. Buenos Aires: Gran Aldea Editores, 2011. MEINERZ, Nádia E. Entre Mulheres: etnografia sobre relações homoeróticas femininas em segmentos médios urbanos na cidade de Porto Alegre. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2011. MITCHELL, Clyde. Social Networks in Urban Situations: Analysis of Personal Relationships in Central African Towns. Manchester: Manchester University Press, 1969 MOUTINHO, Laura; LOPES, Pedro; ZAMBONI, Marcio; RIBAS, Mario; SALO, Elaine. Retóricas ambivalentes: ressentimentos e negociações em contextos de sociabilidade juvenil na Cidade do Cabo (África do Sul). Cad. Pagu (UNICAMP. Impresso), p. 139-176, 2010. VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1981. ZAMBONI, Marcio. Herança, distinção e desejo: homossexualidades em camadas altas na cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado: USP, 2014 14
Download