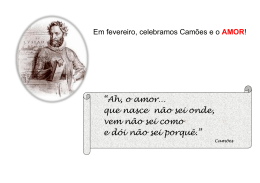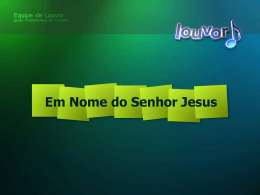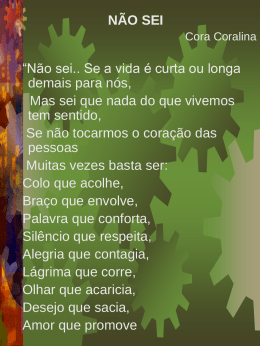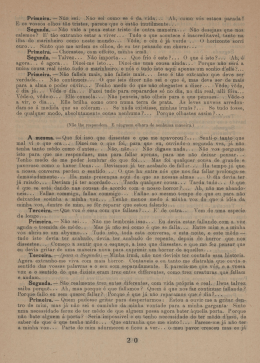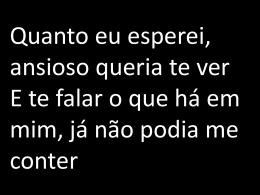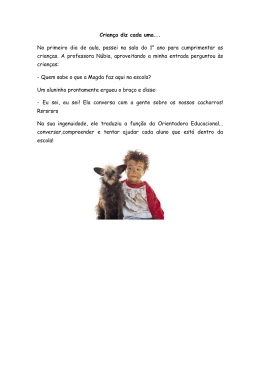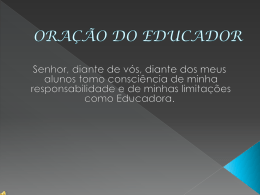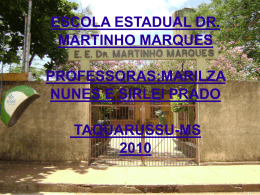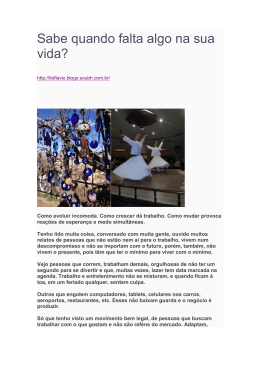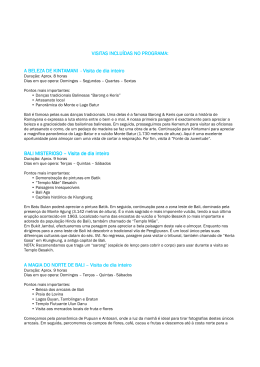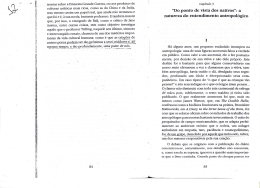1 Não queria deixar Bali sem tê-lo encontrado. Não sei por quê. Não estava doente; sempre tive, aliás, uma saúde excelente. Informei-me sobre seus honorários porque, com a viagem chegando ao fim, minha carteira estava quase vazia. Não ousava sequer consultar a conta bancária. Pessoas que o conheciam me disseram: “Você dá o que quiser, põe na caixinha que fica na estante.” Isso me acalmou, apesar de ter de deixar uma nota de pequeno valor para alguém que havia, segundo diziam, tratado do primeiro-ministro do Japão. Foi difícil encontrar sua casa, perdida numa aldeia a alguns quilômetros de Ubud, no centro da ilha. Não sei por que neste país quase não existem placas de sinalização. Só é possível interpretar um mapa quando existem pontos de referência, senão torna-se tão inútil quanto um celular numa área sem cobertura. Restava, claro, a solução mais simples: pedir informações aos passantes. Apesar de ser homem, isso nunca me causou problemas. Às vezes me parece que a maioria dos homens acredita que perderia a virilidade ao se permitir isso. Preferem esconder-se num silêncio que significa “eu sei”, fingindo saber onde estão, até se verem completamente perdidos e sua mulher dizer: “Eu avisei que devíamos ter perguntado.” – 9 – O chato em Bali é que as pessoas são tão gentis que sempre dizem sim. De verdade. Se disser a uma garota “eu te acho linda”, ela olhará para você com um belo sorriso e responderá: “Sim.” E quando você pede uma informação, eles têm tanta vontade de ajudar que acham insuportável confessar que não sabem. Então indicam uma direção, sem dúvida ao acaso. Eu estava, portanto, um pouco irritado ao chegar à entrada do jardim. Não sei por que imaginara uma casa bastante luxuosa, como se vê às vezes em Bali, com laguinhos cobertos de flores de lótus, sob a sombra acolhedora das frangipanas, que exibem grandes flores brancas de perfume tão embriagador que são quase indecentes. Em termos de estrutura, tratava-se de uma série de campans, casinhas sem paredes, contíguas umas às outras. Assim como o jardim, eram de extrema simplicidade, um tanto despojadas, apesar de não parecerem pobres. Uma jovem veio ao meu encontro, enrolada em um sarongue, os cabelos negros presos num coque, a pele bronzeada, um narizinho reto e olhos redondos, traços que sempre me surpreenderam nesse povo escondido no coração da Ásia. — Bom dia, o que deseja? — ela perguntou de cara, num inglês improvisado. Minha altura de um metro e noventa e meus cabelos louros deixavam poucas dúvidas sobre minha origem. — Vim para ver o senhor... hum... mestre... Samtyang. — Ele já vem — ela informou antes de desaparecer entre os arbustos e a série de pequenas colunas que sustentavam os telhados dos campans. – 10 – Fiquei com um ar meio embasbacado, em pé, esperando que sua excelência se dignasse a acolher o humilde visitante que eu era. Ao cabo de cinco minutos, que me pareceram suficientemente longos, a ponto de me perguntar sobre a pertinência de minha presença no local, vi chegar um homem de pelo menos 70 anos, talvez até 80. A primeira coisa que me veio ao pensamento foi que eu lhe daria 50 rupias se o tivesse visto pedir esmola na rua. Tenho tendência a só dar esmola aos velhos: sempre me convenci de que, se mendigam com essa idade, é realmente por falta de opção. O homem que avançava devagar em minha direção não vestia farrapos, claro, mas suas roupas eram de uma sobriedade tocante, minimalistas e atemporais. Envergonho-me de confessar que meu primeiro reflexo foi o de pensar que havia um engano. Não podia se tratar do curandeiro cuja reputação estendia-se além-mar. Ou então, seu dom andava junto com sua falta de discernimento e aceitava que o primeiro-ministro do Japão lhe pagasse com amendoins. Poderia ser também um gênio do marketing, visando a uma clientela de ocidentais crédulos, ávidos de clichês, como o do curandeiro que vive como asceta num desprendimento perfeito com relação às coisas materiais, mas aceitando no fim da sessão uma retribuição generosa. Ele me cumprimentou e me acolheu com simplicidade, expressando-se de forma muito suave num inglês excelente. A luminosidade de seu olhar contrastava com as rugas de sua pele curtida. Sua orelha direita apresentava uma malformação, como se o lóbulo tivesse tido uma parte arrancada. Convidou-me a segui-lo ao primeiro campan: um telhado sustentado por quatro colunas pequenas e escorado numa parede antiga, uma estante — a famosa — ao longo da parede, uma arca de madeira de cânfora e, no chão, uma – 11 – esteira. A arca, aberta, transbordava de documentos, entre os quais pranchas representando o interior do corpo humano, o que, em outro contexto, teria me dado vontade de cair na gargalhada, zombar de como esses desenhos estavam longe dos conhecimentos médicos da atualidade. Tirei os sapatos antes de entrar, como manda a tradição balinesa. O velho perguntou-me qual era meu mal, o que realmente me trouxera ao local. O que eu desejava exatamente, já que não estava doente? Ia fazer perder tempo um homem de quem começava a sentir a honestidade, para não dizer a integridade, mesmo sem ter ainda prova de sua competência. Será que eu tinha alguma vontade de que alguém se debruçasse sobre meu caso, se interessasse por mim, falasse a meu respeito e, quem sabe, descobrisse um meio para que eu me sentisse ainda melhor? A menos que tenha obedecido a um tipo de intuição... Afinal, disseram-me que ele era um grande homem, e eu tinha apenas vontade de conhecê-lo. — Vim fazer um checkup — eu lhe disse, corando ao lembrar que não estava na consulta médica anual e que meu pedido não fazia sentido naquela situação. — Deite-se aí — ele me disse, apontando para a esteira, sem manifestar nenhuma reação à futilidade de meu pedido. – 12 –
Baixar