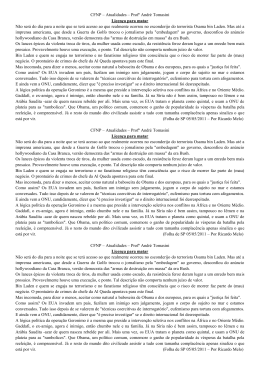I «Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… » «Associam um amor louco pelo país a um indiferença igualmente louca pela vida, tanto pelas suas como pelas dos outros. São astutos, sem escrúpulos, inspirados.» Stephen Fisher em Correspondente de Guerra, de Alfred Hitchcock, 1940. Sabia que ia ser assim. Em 19 de Março de 1997, à porta do Hotel Spinghar, em Jalalabad, com os seus canteiros cuidados e as suas rosas, um afegão com uma espingarda automática Kalashnikov convidou-me a fazer uma viagem de carro para fora da cidade. Nessa tarde, a auto-estrada para Cabul já não era uma estrada, mas sim uma massa de pedras e fendas acima das águas ruidosas dum grande rio, com uma enorme cadeia de montanhas perante nós. Por vezes, o afegão sorria-me, mas não falou. Sabia o que esse sorriso pretendia significar: confie em mim. Mas eu não confiava. Retribuí-lhe com uma expressão de falsa amizade. A menos que visse algum homem que reconhecesse – um árabe, de preferência a um afegão –, continuaria a vigiar a estrada para detectar armadilhas, postos de controlo, homens armados que ali estivessem sem objectivo aparente. Mesmo dentro do carro, eu ouvia o rio à medida que este corria fragorosamente pelos canais e pelos baixios de pedras cinzentas e se derramava pelas arestas escarpadas. «Confie em mim» conduzia o carro com cuidado, contornando os pedregulhos, e eu admirava o modo como o seu pé descalço accionava a embraiagem do veículo para cima e para baixo, tal como um homem poderia impulsionar gentilmente um cavalo a subir com esforço uma penedia. Uma poeira benevolente cobria o pára-brisas e quando os limpa-pára-brisas o tornaram transparente a desolação assumiu uma uniformidade dura, severa e de tons sombrios. Pensei para comigo que o caminho deveria ter este aspecto quando o major-general William Elphinstone conduziu o exército britânico ao desastre, há quase 150 anos. Os Afegãos aniquilaram um dos melhores exércitos do império britânico neste mesmo troço e bem acima de mim havia aldeias em que anciãos ainda recordavam as histórias dos bisavós que viram morrer milhares de Ingleses. As pedras de Gandamak ficaram pretas, dizem eles, devido ao sangue dos Ingleses mortos. O ano de 1842 ficou a assinalar uma das maiores derrotas das armas inglesas. Não surpreende que prefiramos esquecer a I Guerra Afegã. Mas os Afegãos não esqueceram. «Farangiano», gritou-me o motorista, apontando para a ravina e fazendo 29 A Grande Guerra pela Civilização um largo sorriso. «Estrangeiros.» «Angrezi.» «Ingleses.» «Jang.» «Guerra.» Sim, já percebi. «Irlanda», respondi eu em árabe. «Ana min Irlanda.» Sou da Irlanda. Mesmo que me compreendesse, era mentira. Fui educado na Irlanda, mas no meu bolso estava um pequeno passaporte britânico de cor preta em que o Secretário de Estado Principal para os Assuntos Estrangeiros e da Comunidade Britânica exigia, em nome de Sua Majestade, que me fosse concedido «passar livremente sem impedimento ou obstáculo» esta perigosa jornada. Dois dias antes, em Jalalabad, um jovem talibã, um rapaz-soldado com talvez 14 anos, olhara para o meu passaporte e pegara no documento de pernas para o ar, ficara a olhar para ele e estalara a língua e abanara a cabeça numa atitude de desaprovação. Ficara escuro e estávamos a subir, ultrapassando camiões e filas de camelos, com os animais a virar as cabeças em direcção às nossas luzes na obscuridade. Passámos por eles a alta velocidade e pudemos ver a condensação do seu bafo a pairar por cima da estrada. As suas patas imensas tacteavam as rochas com imensa cautela e os seus olhos, quando a luz neles incidia, pareciam de boneca. Duas horas mais tarde, parámos numa encosta rochosa e, após alguns minutos, uma furgoneta aproximou-se, descendo a encosta xistosa e irregular da montanha. Um árabe vestido como um afegão aproximou-se do nosso carro. Reconheci-o imediatamente, devido ao nosso último encontro numa aldeia destruída. «Desculpe, Sr. Robert, mas tenho de ser eu o primeiro a revistá-lo» disse ele, vasculhando a bolsa da minha máquina fotográfica e dos meus jornais. Depois, partimos pelo trilho que Osama bin Laden construíra durante a sua jihad contra o exército russo, no início da década de 80, numa odisseia terrível e arrastada que durou duas horas, ao longo de ravinas assustadoras e com chuva e neve enlameada, com o pára-brisas a embaciar à medida que subíamos a fria montanha. «Quando acreditamos na jihad torna-se fácil», disse ele, debatendo-se com o volante enquanto as pedras saltavam ruidosas sob os pneus, caindo no precipício e afundando-se nas nuvens mais abaixo. Por vezes, havia luzes ao longe na escuridão que piscavam na nossa direcção. «Os nossos irmãos fazem-nos sinal de que nos estão a ver», disse ele. Uma hora mais tarde, dois árabes armados – um deles com o rosto coberto com um kuffiah, os olhos pregados em nós através dos óculos e com um lança rockets antitanque ao ombro direito – emergiram aos gritos de trás de duas rochas: «Parem! Parem!». Quando travámos a fundo, quase bati com a cabeça no pára-brisas. «Desculpem, desculpem», disse o homem dos óculos, pousando o lança-rockets. Retirou do bolso do seu colete de combate um detector de metais e a luz vermelha piscou sobre o meu corpo numa outra revista. A estrada piorava à medida que prosseguíamos, com o jipe a deslizar para trás em direcção às ravinas abruptas e os faróis a percorrer os abismos que se situavam dos dois lados. «A Toyota é boa para a jihad», disse o meu motorista. Só podia concordar, embora pensasse que esta seria uma publicidade que a Toyota provavelmente dispensaria. Agora havia luar e podia ver as nuvens tanto abaixo de nós, nas ravinas, como acima de nós, rodeando o topo das montanhas, com os nossos faróis a brilhar sobre quedas de água geladas e pequenas lagoas cobertas de gelo. Osama bin Laden sabia como construir as suas estradas militares. Muitos camiões cheios de munições e muitos tanques tinham acabado aqui o seu trajecto, durante a luta titânica contra o exército russo. Agora, o homem 30 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… que chefiou estas guerrilhas – o primeiro árabe na guerra contra Moscovo – estava de regresso às montanhas que bem conhecia. Havia mais postos de controlo árabes e mais ordens para pararmos. Um homem muito alto, em uniforme de combate e de óculos de sol, apalpou-me cuidadosamente os ombros, o corpo e as pernas e olhou para a minha cara. «Salaam aleikum», disse eu. A paz seja convosco. Todos os árabes com que me cruzei responderam «Aleikum salaam» a esta saudação. Mas este não o fez. Havia algo de frio neste homem. Osama bin Laden convidara-me para me encontrar com ele no Afeganistão, mas este era um guerreiro totalmente destituído de maneiras corteses. Era uma máquina a inspeccionar outra máquina. Não fora sempre assim. Na verdade, na primeira vez que encontrara Osama bin Laden as coisas não se poderiam ter passado melhor. Em Dezembro de 1993, estava eu a fazer a cobertura duma cimeira islâmica em Cartum, a capital sudanesa, quando um jornalista saudita meu amigo, Jamal Kashoggi, veio ter comigo à sala de recepção do meu hotel. Kashoggi, um homem alto, ligeiramente obeso, vestindo um dishdash branco e comprido, pôs-me o braço pelo ombro e conduziu-me para fora do hotel. «Há alguém com quem penso que te deverias encontrar», disse-me ele. Kashoggi é um crente sincero – ai de quem interpretar os seus óculos redondos e o seu senso de humor maroto como sinal de laxismo espiritual – e adivinhei de imediato a quem se estava a referir. Kashoggi visitara bin Laden durante a sua guerra contra o exército russo. «Nunca se encontrou com qualquer jornalista ocidental», confiou-me ele. «Vai ser interessante.» Kashoggi estava a usar um pouco de psicologia aplicada. Queria saber como é que bin Laden iria reagir a um infiel. Eu também. A história de bin Laden era tão instrutiva como épica. Quando o exército soviético invadiu o Afeganistão, em 1979, a família real saudita, encorajada pela CIA, quis enviar aos afegãos uma legião árabe, de preferência liderada por um príncipe saudita, que chefiaria uma força de guerrilha contra os Russos. Não só constituiria uma prova contrária à opinião popular e fundamentada de que a liderança saudita era decadente e corrupta, mas recuperaria igualmente a tradição honrosa do guerreiro do Golfo Árabe, que desprezava a sua própria vida na defesa da umma, a comunidade do Islão. Como seria de esperar, os príncipes sauditas declinaram esta nobre missão. Bin Laden, furioso tanto com a cobardia como com a humilhação dos muçulmanos afegãos às mãos dos Soviéticos, assumiu o lugar deles e, com o dinheiro e a maquinaria da sua própria empresa de construção, pôs de pé a sua própria jihad. Sendo um homem de negócios saudita multimilionário, embora de humilde ascendência iemenita, nos anos que se seguiriam haveria de ser idolatrado tanto pelos Sauditas como por milhões de outros árabes, uma figura lendária para todos os miúdos árabes, do Golfo ao Mediterrâneo. Desde os tempos do glorioso britânico Lawrence da Arábia que um aventureiro não era retratado num papel tão heróico e tão influente. Egípcios, Sauditas, Iemenitas, Kuwaitianos, Argelinos, Sírios e Palestinianos punham-se a caminho da cidade 31 A Grande Guerra pela Civilização fronteiriça paquistanesa de Peshawar para lutar ao lado de bin Laden. Mas quando as guerrilhas mujahedines afegãs e a legião árabe de bin Laden expulsaram os Soviéticos do Afeganistão, os Afegãos viraram-se uns contra os outros com uma maldade tribal de lobos. Enojado com esta perversão do Islão – uma divisão original da umma levara à separação dos muçulmanos sunitas e xiitas –, bin Laden regressou à Arábia Saudita. Mas a sua via dolorosa espiritual não terminara. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, em 1990, Bin Laden ofereceu uma vez mais os seus serviços à família real saudita. Não precisavam de convidar os Estados Unidos para proteger os santuários sagrados do Islão, afirmou. Meca e Medina, as cidades em que o profeta Maomé recebeu e recitou a mensagem de Deus, deveriam ser defendidas apenas por muçulmanos. Bin Laden chefiaria os seus «Afegãos», os seus mujahedines árabes contra o exército iraquiano e expulsá-lo-ia do emirato. O rei Fahd da Arábia Saudita preferiu depositar a sua confiança nos Americanos. Por isso, quando a 82.ª Divisão Aerotransportada americana chegou à cidade nordestina de Dhahran e se instalou no deserto a uns escassos 640 quilómetros da cidade de Medina, o lugar do refúgio do profeta e da primeira sociedade islâmica, bin Laden abandonou a corrupção da Casa de Saud para exercer a sua generosidade noutra «república islâmica», o Sudão. A nossa viagem para norte a partir de Cartum atravessa, no entanto, uma paisagem de deserto branco e pirâmides antigas e inexploradas, túmulos faraónicos negros e atarracados, mais pequenos do que os de Quéops, Quéfren e Miquerinos, em Gizé. Embora estivéssemos em Dezembro, uma brisa cortante e superaquecida corria pelo deserto e quando Kashoggi se cansou do ar condicionado e abriu a janela, debatem-se com o seu toucado árabe. «As pessoas daqui gostam de bin Laden», disse ele, quase como quem comenta de forma aprovadora o anfitrião de um jantar. «Trouxe para aqui os seus negócios e a sua empresa de construção e o governo aprecia-o. Ele ajuda os pobres.» Eu podia compreender tudo isto. No século VI, o profeta Maomé, que cedo ficou órfão, ficara obcecado pelos pobres da Arábia, e a generosidade pelos que viviam pobremente era uma das características mais apelativas do Islão. A progressão efectuada por bin Laden de guerreiro «santo» para benfeitor público podia permitir-lhe seguir as pisadas do profeta. Ele acabara de completar uma nova estrada que se estende desde a auto-estrada que liga Cartum a Porto Sudão até à pequena aldeia de Almatig, no deserto, no Norte do Sudão, e usou os mesmos bulldozers que utilizou para construir os caminhos frequentados pela guerrilha do Afeganistão. Muitos dos seus trabalhadores eram os seus camaradas que haviam lutado na guerra contra a União Soviética. Como seria de esperar, o departamento de Estado americano adoptou uma perspectiva menos favorável sobre a generosidade de bin Laden. Acusou o Sudão de ser «apoiante do terrorismo internacional» e o próprio bin Laden de dirigir «campos de treino de terroristas» no deserto do Sudão. Porém, quando Kashoggi e eu chegámos a Almatig, ali estava Osama bin Laden com a sua túnica de franjas douradas, sentado debaixo da porta de uma tenda, perante uma multidão de aldeãos que o admiravam e guardado pelos seus leais mujahedines árabes, que lutaram lado a lado com ele no Afeganistão. Figuras de barba e silenciosas, desarmadas, mas nunca afastadas mais do que poucos metros do homem que os recrutara, treinara e depois 32 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… enviara para destruir o exército soviético, observavam, sem um sorriso, como os aldeãos sudaneses se alinhavam para agradecer ao homem de negócios saudita que estava prestes a concluir a estrada que ligava pela primeira vez na história os seus tugúrios a Cartum. A minha primeira impressão foi a de ser um homem tímido. Com as suas grandes maçãs do rosto, os seus olhos estreitos e a sua longa túnica castanha, desviava os olhos quando os líderes aldeãos lhe dirigiam a palavra. Parecia pouco à-vontade com os agradecimentos, sendo incapaz de responder com um sorriso aberto quando as meninas com pequenos xadores dançavam à sua frente e os pregadores admiravam a sua sabedoria. «Esperámos por esta estrada em todas as revoluções do Sudão», disse um xeque de barbas. «Esperámos até ficarmos desapontados com toda a gente. Depois apareceu Osama bin Laden.» Verifiquei como bin Laden, com a cabeça ainda curvada, olhava para o ancião, respeitando a sua idade, mas sentindo-se pouco à vontade por estar sentado descontraidamente à sua frente, como um jovem descontraído em frente dos mais velhos. Estava ainda mais constrangido por ver que havia um ocidental de pé a alguns centímetros dele e de tempos a tempos virava a cabeça na minha direcção, não com maldade, mas com muita desconfiança. Kashoggi colocou os braços à sua volta. Bin Laden beijou-o em ambas as faces, como é habitual entre os muçulmanos, reconhecendo ambos o perigo por que passaram juntos no Afeganistão. Jamal Kashoggi deve ter trazido o estrangeiro por alguma razão, seria o que bin Laden estava a pensar, porque quando Kashoggi falava bin Laden olhava por cima do seu ombro na minha direcção, acenando com a cabeça ocasionalmente. «Robert, quero apresentá-lo ao xeque Osama», quase gritou Kashoggi por cima dos cânticos das crianças. Bin Laden era um homem alto e verificou que isso constituía uma vantagem quando apertou a mão ao jornalista inglês. «Salaam Aleikum.» As suas mãos eram firmes, não fortes, mas, é verdade, parecia um homem da montanha. Os seus olhos prescrutam-nos o rosto. Era magro, tinha dedos longos e um sorriso que, embora não pudesse de forma alguma ser considerado amável, não sugeria maldade. Disse que podíamos falar na parte de trás da tenda, longe dos gritos das crianças. Em retrospectiva, sabendo o que sei, sabendo a figura animalesca e monstruosa em que se tornaria na imaginação colectiva do mundo, procuro qualquer pista, o mais pequeno indício de que este homem poderia inspirar um acto que iria mudar o mundo para sempre, ou, mais precisamente, permitir a um presidente americano convencer o seu povo de que o mundo mudara para sempre. É claro que a sua negação formal de «terrorismo» não aclarava as coisas. A imprensa egípcia afirmava que bin Laden levara consigo centenas dos seus combatentes árabes para o Sudão, ao passo que o círculo das embaixadas ocidentais em Cartum aventava que alguns dos árabes «afegãos» que este empresário saudita fizera transportar de avião para o Sudão estavam agora ocupados a treinar-se para futuras jihads na Argélia, na Tunísia e no Egipto. Bin Laden estava bem ciente de tudo isto. «O lixo dos media e das embaixadas» foi como lhe chamou. «Sou engenheiro civil e agricultor. Se tivesse campos de treino aqui no Sudão, não poderia realizar esta tarefa.» A «tarefa» era certamente ambiciosa: não era apenas a ligação a Almatig, mas uma auto-estrada completamente nova que se estendia desde Cartum até Porto Sudão, uma 33 A Grande Guerra pela Civilização extensão de 1200 quilómetros pela estrada velha encurtada agora para 800 km pela nova estrada de bin Laden, que reduziria a duração da viagem desde a capital a um só dia. Num país que era quase tão desprezado pela Arábia Saudita, devido ao seu apoio a Saddam Hussein, após a invasão do Kuwait, em 1990, quanto era pelos Estados Unidos, bin Laden aplicara o seu equipamento de guerra na construção dum Estado pária. Perguntei-me por que razão não poderia ele ter feito o mesmo na paisagem lúgubre Afeganistão, mas de início recusou-se a falar desta guerra, sentando-se na parte de trás da tenda e limpando os dentes com um pedacito de madeira de miswak. Mas acabou finalmente por falar sobre uma guerra que ajudou os Afegãos a ganhar e em que foram apoiados pelos Americanos, os Sauditas e até os Paquistaneses contra os Russos. Queria falar. Pensava que ia ser questionado sobre o «terrorismo» e verificou que o iria ser sobre o Afeganistão. Apesar de todas as reservas e desconfiança que sentia para com os estrangeiros, desejava explicar como a sua experiência ali lhe moldara a vida. «Aquilo por que passei em dois anos ali», disse ele, «não o poderia ter vivido em cem anos em mais lado nenhum. Quando a invasão do Afeganistão começou, fiquei furioso e fui de imediato para lá. Cheguei poucos dias depois, antes do final de 1979, e continuei a ir lá durante nove anos. Sentia-me enraivecido pela injustiça que fora cometida contra o povo do Afeganistão. Fez-me perceber que as pessoas que tomam o poder neste mundo usam-no com nomes diferentes para subverter os outros e para os obrigar a seguir as suas opiniões. Sim, lutei ali, mas os meus companheiros muçulmanos fizeram muito mais do que eu. Muitos deles morreram e eu continuo vivo.» Considera-se muitas vezes que a invasão russa se iniciou em Janeiro de 1980, mas as primeiras forças especiais soviéticas chegaram a Cabul antes do Natal de 1979, quando elas – ou os seus satélites afegãos – mataram o presidente comunista em exercício, Hafizullah Amin, e instalaram Babrak Karmal como seu fantoche em Cabul. Osama bin Laden agira rapidamente. Com o seu engenheiro iraquiano Mohamed Saad, que estava agora a construir a estrada para Porto Sudão, bin Laden abriu túneis enormes nas montanhas Zazai, na província de Pakhtia, para hospitais de guerrilha e depósitos de armas, depois abriu trilhos de terra batida por todo o Afeganistão, destinados aos mujahedines, e até cerca de 25 quilómetros de Cabul, um feito notável de engenharia que os Russos nunca conseguiram destruir. Mas que lições retirara bin Laden da guerra contra os Russos? Foi ferido cinco vezes e 500 dos seus combatentes árabes foram mortos em combate contra os Soviéticos – os seus túmulos situam-se precisamente no limite da fronteira afegã, em Torkham – e mesmo bin Laden não era imortal, não é verdade? «Nunca temi a morte», respondeu ele. «Como muçulmanos, acreditamos que quando morrermos vamos para o céu.» Já não estava a irritar os dentes com o fragmento de mishwak, mas falava calma e continuamente, inclinando-se para a frente, com os cotovelos assentes nos joelhos. «Antes duma batalha Deus envia-nos seqina – tranquilidade. Uma vez estava apenas a 30 metros dos Russos e eles andavam a tentar capturar-me. Estava a ser bombardeado, mas tão tranquilo interiormente que adormeci. Esta experiência de seqina foi descrita em livros nossos anteriores. Vi um morteiro de 120 mm a cair à minha frente, mas não explodiu. Outras quatro bombas foram lançadas dum avião russo para o nosso 34 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… quartel-general, mas não explodiram. Vencemos a União Soviética. Os Russos fugiram […] O tempo que passei no Afeganistão foi a experiência mais importante da minha vida:» Mas que acontecera aos mujahedines árabes que levara para o Afeganistão, os membros dum exército de guerrilha que eram também encorajados e armados pelos Estados Unidos para combater os Russos e foram esquecidos pelos seus mentores quando a guerra acabou? Bin Laden parecia preparado para a pergunta. «Pessoalmente, nem eu nem os meus irmãos vimos qualquer prova da ajuda americana», disse ele. «Quando os meus mujahedines saíram vitoriosos e os Russos foram expulsos, as diferenças começaram a surgir, por isso voltei à construção de estradas em Taif e Abha. Levei comigo o equipamento que utilizara para construir túneis e estradas para os mujahedines, no Afeganistão. Sim, ajudei alguns dos meus camaradas a vir para aqui após a guerra.» Quantos? Osama abanou a cabeça. «Não quero dizer. Mas continuam aqui comigo, estão a trabalhar mesmo aqui, a construir esta estrada para Porto Sudão.» Há um mês, eu estivera destacado na guerra da Bósnia. Disse a bin Laden que os combatentes bósnios muçulmanos na cidade de Travnik me referiam o seu nome. Isto despertou-lhe o interesse. De cada vez que via bin Laden, ele ficava fascinado por ouvir, não só o que os seus inimigos pensavam dele, mas o que os ulemás e os militantes muçulmanos diziam dele. «Penso o mesmo da Bósnia», disse ele. «Mas a situação aí não proporciona as mesmas oportunidades que o Afeganistão. Um pequeno grupo de mujahedines foi lutar na Bósnia-Herzegovina, mas os Croatas não permitirão que os mujahedines atravessem a Croácia como os Paquistaneses fizeram com o Afeganistão.» Mas não era uma espécie de anticlímax estar a lutar pelo Islão e por Deus no Afeganistão e acabar a construir estradas no Sudão? Bin Laden reflectia agora na escolha das palavras. «Eles gostam deste trabalho e eu também. Este é um grande projecto que estamos a realizar para o povo daqui. Ajuda os muçulmanos e melhora as suas vidas.» Foi neste momento que verifiquei que outros homens, Sudaneses que não se contavam com certeza entre os seus antigos camaradas, se tinham aproximado para ouvir a nossa conversa. Bin Laden, é claro, dera conta da sua presença muito antes de mim. O que pensava da guerra na Argélia, perguntei? Porém, um homem vestido de verde que se chamava Mohamed Moussa – afirmava ser nigeriano, embora fosse um agente de segurança do governo sudanês – tocou-me no braço. «Já perguntou mais do que o suficiente», disse ele. E que tal uma fotografia? Bin Laden hesitou – algo que raramente acontecia – e pensei que a prudência estava a lutar com a vaidade. Por fim, ficou de pé na nova estrada na sua túnica de franjas douradas e sorriu languidamente em direcção à minha máquina fotográfica para duas fotografias. Depois ergueu a sua mão esquerda, como se fosse um presidente a dizer à imprensa que o tempo acabara. Foi então que se afastou para ir inspeccionar a sua estrada. Mas qual era a natureza da mais recente «República Islâmica» a seduzir a imaginação de bin Laden? Mantinha uma casa em Cartum – manteria um pequeno apartamento na cidade saudita de Jeddah até os próprios sauditas lhe retirarem a nacionalidade – e vivia no Sudão com as suas quatro mulheres, uma delas com menos de vinte anos. A sua empresa – a não confundir com o negócio de construção, de maior dimensão, gerido pelos seus primos 35 A Grande Guerra pela Civilização – era paga em moeda do Sudão, que era depois utilizada para comprar sésamo, milho e sementes de girassol para exportação. Os lucros não pareciam ser a primeira prioridade de bin Laden. Seria o Sudão? Evidentemente, afirmava, orgulhoso, um outro «monstro» islâmico potencial para o Ocidente. Hassan Abdullah Turabi, o inimigo da «tirania» ocidental, um «diabo» segundo os jornais egípcios, era, supostamente, o aiatolá de Cartum, o líder académico da Frente Islâmica Nacional, a qual constituía o sistema nervoso do governo militar do general Omar Bashir. Na verdade, o palácio de Bashir vangloriava-se de ter a escada em que o general Charles Gordon fora derrubado em 1885 pelos seguidores de Mohamed Ahmed ibn Abdullah, o mádi que, tal como bin Laden, exigia o regresso à «pureza» islâmica. Quando fui falar com Turabi no seu velho gabinete inglês, ele estava sentado numa cadeira como se fosse um pássaro, apoiando-se parcialmente na perna esquerda, que estava dobrada. Vestia uma túnica branca encimada por um lenço estreito com desenhos e as mãos agitavam-se em frente da barba preta, que estava a ficar mesclada de branco. Ao que parece, fora ele que organizara a «Conferência Árabe Popular e Islâmica», a que eu fora fazer a cobertura jornalística. No vasto centro de conferências de Cartum encontrei reunido todo o género de islamistas, cristãos, nacionalistas e intégristes, mutuamente hostis, mas todos congregados pelo convite de Turabi à moderação. Xiitas, sunitas, árabes, não árabes, o movimento Fatah de Yasser Arafat e todos os seus inimigos árabes, o Hamas, o Hezbollah, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, a Frente Islâmica de Salvação argelina, a FIS, como a si mesmos se chamavam, segundo o acrónimo francês, ou seja, todo o sistema, bem como representantes do Partido do Povo do Paquistão, o Partido na-Nahda, da Tunísia, Afegãos de todas as convicções e um enviado de Mohamed Aideed, da Somália, que estava «demasiado ocupado para vir» – como disse discretamente um funcionário da conferência –, porque estava a ser caçado em Mogadíscio pelos militares americanos. Representavam todas as contradições do mundo árabe numa cidade cuja arquitectura colonial inglesa − casas de telhados baixos e arqueados, no meio das buganvílias, gabinetes governamentais quentes e decrépitos e das esquadras da polícia arruinadas − coabitava com palavras de ordem revolucionárias igualmente datadas. As águas do Nilo Azul e do Nilo Branco juntam-se aqui, o apeadeiro permanente entre o mundo árabe e a África tropical. A transição do Sudão durante 13 anos de governo nacionalista – o mahdiya –, 60 anos de governo dominado pelos Britânicos a partir do Cairo e quase 40 de independência ingovernável deram ao país uma identidade debilitada, exaurida, inacabada. Seria islâmico − após a independência o partido da umma foi dirigido pelo filho e pelos netos do mádi − ou os regimes militares que assumiram o poder após 1969 significavam que o Sudão seria para sempre socialista? Turabi estava a tentar agir como intermediário entre Arafat, que acabava de assinar o acordo de Oslo com Israel, e os seus antagonistas no mundo árabe – o que significava quase toda a gente – e podia ter estado a tentar de forma pouco subtil retirar o Sudão da lista de «Estados terroristas», elaborada por Washington, convencendo o Hamas e a Jihad Islâmica a apoiarem Arafat. «Conheço pessoalmente Arafat muito bem», insistiu Turabi. 36 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… «É meu amigo íntimo. Foi islamita, sabe, e depois transferiu-se pouco a pouco para o ‘clube’ árabe… Falou comigo antes de assinar [o acordo com Israel]. Veio aqui ao Sudão. Por isso, estou agora a argumentar a seu favor perante os outros, não como algo que seja correcto, mas como algo que é necessário. O que poderia Arafat fazer? Ficou sem dinheiro. O seu exército emperrou. Havia os refugiados e os 10 000 prisioneiros nas cadeias de Israel. Mesmo um município é melhor do que nada.» Mas se a «Palestina» se ia transformar num município, como é que ficariam os árabes? A necessitar, seguramente, dum líder que não falasse nesta linguagem de rendição, a necessitar dum líder guerreiro, de alguém que tivesse provado que poderia derrotar uma superpotência. Não fora isso que o mádi acreditara ser? Na véspera do seu ataque a Cartum, não perguntara o mádi aos seus combatentes se avançariam contra o general Gordon, ainda que dois terços deles acabassem por morrer? Mas como quase todos os outros Estados árabes, o Sudão recriara-se a si mesmo olhando para um espelho e em benefício dos seus líderes. Cartum era a «cidade capital das virtudes», ou, pelo menos, isso era o que os pendões nas ruas diziam em Dezembro. Por vezes, a palavra «virtudes» era substituída pela palavra «valores», o que não era exactamente a mesma coisa. Mas no Sudão também nada era o que parecia. O fim da linha férrea, esbraseada no pico do sol, não sugeria que se estava a construir uma república islâmica, nem tão-pouco o sugeriam os pelotões de soldados, vestidos com camuflados verdes para a selva, a modorrar à sombra do edifício destruído da estação, enquanto duas grandes peças de artilharia permaneciam numa plataforma para mercadorias, à espera de ser transportadas num comboio quase abandonado e com destino à guerra civil que decorria no Sul. A Grã-Bretanha favoreceu durante muito tempo o desenvolvimento separado do Sul do Sudão, cristão, donde a língua árabe e a religião muçulmana foram em grande parte excluídas − até à independência, quando Londres decidiu subitamente que a integridade territorial do Sudão era mais importante do que o desenvolvimento separado que encorajou durante tanto tempo. A minoria do Sul rebelou-se e a sua insurreição é agora a característica central e definidora da vida sudanesa. As autoridades de Cartum teriam um dia de explicar o rol de atrocidades na guerra civil que foi entregue às Nações Unidas em 1993 e que seriam objecto dum relatório da ONU no ano seguinte. Testemunhas oculares falaram em violações, pilhagens e assassínios na província de Bahr al-Gazal, no Sul, bem como nos raptos sistemáticos de milhares de crianças do Sul nas ruas da capital. Segundo os documentos, as atrocidades mais recentes ocorreram (no passado mês de Julho), quando o exército sudanês fez passar pelo território controlado pelo Exército de Libertação do Povo Sudanês um comboio cheio de milícias contratadas localmente. Sob o comando dum oficial referido nos documentos como sendo o capitão Ginat – comandante do campo da Força de Defesa do Povo na cidade de Muglad, no Cordofão, ao Sul, e membro do conselho do governo sudanês na cidade de Wo, também no Sul –, as milícias foram deixadas à solta ao longo da linha de caminho-de-ferro, destruindo todas as aldeias tribais dos Dinkas que ficavam até 16 quilómetros de cada lado da via, matando os homens, violando as mulheres e roubando milhares de cabeças de gado. Entre as provas obtidas junto dos homens destas tribos que fugiram das aldeias sem as suas 37 A Grande Guerra pela Civilização famílias incluem-se os pormenores da chacina de 300 pessoas que participavam na festa dum casamento cristão junto ao rio Lol. Os documentos que as Nações Unidas conseguiram obter alegavam ainda que as tropas governamentais, juntamente com milícias tribais que lhe eram leais, massacraram um número significativo de Dinkas, do Sul, num campo de deslocados, em Meiran, no anterior mês de Fevereiro. Este não era, portanto, um país conhecido pela sua justiça, nem pelos direitos civis, nem pela liberdade. É verdade que os delegados à cimeira islâmica foram encorajados a dizer o que pensavam. Mustafa Cerić, o imã da Bósnia, cujo povo estava a ser alvo de genocídio às mãos dos seus vizinhos sérvios, foi eloquente na sua condenação da intervenção pacificadora das Nações Unidas no seu país. Encontrei-o em Sarajevo, um ano antes, quando acusou o Ocidente de impor um embargo de armas às forças bósnias «apenas por sermos muçulmanos» e o seu cinismo em Cartum era o mesmo de antes. «Vocês enviaram as vossas tropas inglesas e agradecemo-vos por isso», disse-me ele. «Mas agora não nos irão dar armas para nos defendermos contra os Chetniks [Sérvios], porque dizem que tal contribuirá para promover a guerra e colocar em perigo os soldados que enviaram para nos ajudar.» Cerić era um homem que podia fazer com que os outros sentissem necessidade de ser humildes. Assim, até a cimeira do Sudão se tornara um símbolo da humilhação dos muçulmanos, dos árabes, de todos os revolucionários islamitas e nacionalistas e dos generais que dominavam o Médio Oriente «moderno». Os delegados do Hezbollah, que vinham do Líbano, falaram comigo em particular, numa das noites, para me darem conta da fragilidade do regime. «Fomos convidados para jantar num barco, no Nilo, com Turabi», disse-me um deles. «Navegámos ao longo do rio, para cima e para baixo, durante algum tempo e reparei nos guardas governamentais nas duas margens a vigiar-nos. De repente, irrompeu um tiroteio numa festa de casamento. Podíamos ouvir a música que de lá vinha. Mas Turabi estava tão apavorado que se atirou da mesa para o chão e lá ficou durante alguns minutos. Este lugar não é estável.» A fachada da liberdade de expressão não iria levantar a barreira de isolamento que os Estados Unidos e os seus aliados colocaram em redor do Sudão, nem protegeria os seus convidados mais notórios. Dois meses depois de me ter encontrado com bin Laden, homem armados irromperam pela sua casa em Cartum e tentaram assassiná-lo. O governo sudanês suspeitou que os potenciais assassinos seriam pagos pela CIA. Era evidente que este não era lugar para um novo mádi. Mais tarde, nesse mesmo ano, a Arábia Saudita retirou-lhe a cidadania. Os Sauditas e depois os Americanos exigiram a extradição de bin Laden. O Sudão entregou submissamente um outro fugitivo bem conhecido, Ilich Ramírez Sánchez – «Carlos, o Chacal» – que em 1975 sequestrara 11 ministros do petróleo na conferência da OPEP realizada em Viena, e organizara um assalto à embaixada francesa em Haia −, aos Franceses. Mas «Carlos» era um revolucionário debilitado, um alcoólico caduco, que estava agora suficientemente enferrujado para poder ser traído. Bin Laden pertencia a outra categoria. Os seus seguidores eram acusados por fazer explodir bombas em Riade, em Novembro de 1995, e depois, no ano seguinte, num aquartelamento militar em al-Khobar, tendo delas resultado a morte de 24 Americanos e dois Indianos. No início de 1996, foi autorizado 38 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… a partir para um país da sua escolha e esse seria o refúgio singular em que iria descobrir tantas coisas sobre a sua própria fé. Assim, foi naquela tarde quente do fim de Junho de 1996 que tocou o telefone na minha secretária, em Beirute, para uma das mensagens mais extraordinárias que receberia como correspondente estrangeiro. «Sr. Robert, um amigo que conheceu no Sudão quer vê-lo», disse uma voz em inglês com sotaque árabe. A princípio julguei que se referia a Kashoggi, embora eu tivesse conhecido Jamal pela primeira vez em 1990, muito antes ir a Cartum. «Não, não, Sr. Robert, refiro-me ao homem que entrevistou. Compreende?» Sim, compreendi. E onde poderia encontrar esse homem? «Onde ele se encontra agora», foi a resposta. Eu sabia que havia rumores de bin Laden ter regressado ao Afeganistão, mas não havia confirmação disso. Então como posso ir ter com ele, perguntei? «Vá a Jalalabad. Será contactado.» Tomei nota do número do homem. Era de Londres. Ali estava também a única embaixada afegã que me daria um visto. Eu não tinha pressa. Parecia-me que se os bin Laden deste mundo desejavam ser entrevistados, o The Independent não deveria permitir ser convocado à sua presença. Era um risco jornalístico. Havia inúmeros jornalistas a querer entrevistar Osama bin Laden. No entanto, pensei que ele teria mais respeito por um jornalista que não fosse cobardemente a correr, poucas horas após o seu pedido. Eu tinha também uma preocupação mais premente. Embora os serviços secretos do Médio Oriente e do Paquistão tivessem actuado para a CIA, ajudando os mujahedines afegãos contra os Russos, muitos deles estavam agora em guerra contra a organização de bin Laden, que acusavam de revoltas islamistas nos seus próprios países. O Egipto, a Argélia, a Tunísia e a Arábia Saudita suspeitavam agora de que a mão de bin Laden estava por trás das suas respectivas insurreições. E se o convite fosse uma cilada, uma armadilha para que eu conduzisse inadvertidamente a polícia egípcia – ou a ISI paquistanesa, a Organização da Informação entre Serviços, infinitamente corrupta e cuja designação era tão ubíqua – até bin Laden? Pior ainda, do meu ponto de vista, e se fosse uma tentativa para atrair para a morte um jornalista que conhecia bin Laden e depois acusar os islamitas pelo seu assassinato? Quantos jornalistas se disporiam a ir entrevistar bin Laden depois disso? Por isso, telefonei novamente ao contacto em Londres. Poder-se-ia encontrar comigo no meu hotel? O recepcionista do Sheraton Belgravia telefonou para o meu quarto ao início da noite. «Está um senhor no átrio à sua espera», disse ele. O Belgravia é o Sheraton mais pequeno do mundo, mas os seus preços não condizem com esta condição. O átrio, com as suas paredes forradas de painéis de madeira e o chão de mármore, estava, como é habitual à noite, repleto de senhoras de idade a bebericar chá, homens de negócios de colete e com o cabelo prateado a tocar ligeiramente o colarinho e jovens de meias pretas e elegantemente vestidas. Mas quando cheguei à sala vi um homem de pé junto à porta. Tentava passar despercebido, mas tinha uma barba enorme, uma longa túnica árabe e sandálias de plástico nos pés nus. Seria este o homem de bin Laden? 39 A Grande Guerra pela Civilização Era. O homem dirigia a secção londrina do «Comité de Aconselhamento e Reforma», um grupo de oposição aos Sauditas inspirado por bin Laden, que publicava regularmente extensas e fastidiosas brochuras contra a corrupção da família real saudita. Sentou-se respeitosamente no átrio do Belgravia – para grande surpresa das senhoras mais velhas – para explicar o comportamento iníquo da Casa de Saud e a natureza honrada de Osama bin Laden. Não acreditava que o homem com quem estava a falar fosse uma personalidade violenta. Na verdade, passados dois anos confessar-me-ia pessoalmente o seu desgosto – e a sua ruptura – com bin Laden, quando este declarou guerra aos «Americanos», aos «Cruzados» e aos «judeus». No entanto, em 1996, o herói saudita da guerra afegã não podia agir mal. «Ele é um homem sincero, Sr. Robert. Quer falar consigo. Nada há a recear.» Esta era a declaração que eu pretendia ouvir. Se acreditava nela era outra questão. Disse ao homem que iria ficar no Hotel Spinghar, em Jalalabad. O itinerário mais conveniente para o lado oriental do Afeganistão era através da Índia, mas o voo FG315 da Ariana Afghan Airlines, de Nova Deli para Jalalabad, não era do género de ter revistas oferecidas a bordo. As passageiras estavam vestidas com burcas que as envolviam completamente, o pessoal de cabine era constituído maioritariamente por homens de barba e o copo de cartão de sumo de líchia estava cheio de lama. O comissário de bordo dirigiu-se ao meu lugar, baixou-se no corredor a meu lado e, como se estivesse a revelar um segredo militar há muito guardado, segredou-me ao ouvido que «voaremos a 9500 metros». Ainda se fosse verdade. Ao aproximar-se do velho aeródromo militar soviético de Jalalabad, o piloto deu uma volta de quase 180º que nos fez cair o coração aos pés e aterrou no primeiro centímetro duma estreita faixa de alcatrão, o que lhe permitiu travar o jacto precisamente a tempo de ficar a um palmo do fim da pista. Perante o radar soviético enferrujado e o Antonov em ruínas e virado ao contrário fora da placa de estacionamento, percebia-se por que razão as chegadas a Jalalabad não tinham as comodidades dos aeroportos de Heathrow ou JFK. Quando cheguei com as minhas malas àquele calor, verifiquei que o terminal desfeito pelas balas estava vazio. Não havia serviço de imigração, não havia alfândega, não havia ninguém com carimbos. Apenas seis afegãos jovens e barbudos, quatro deles com espingardas, que me olharam fixamente com um misto de cansaço e desconfiança. Por mais Salaam aleikums que se pronunciasse em saudação, nada mais se conseguia obter dos seis homens senão um sussurro em pashtun. Afinal, o que é que esta criatura estranha, sem chapéu, estava a fazer aqui no Afeganistão, com a bolsa novinha em folha da sua máquina fotográfica e o seu saco de lona com camisas e recortes de jornal? «Táxi?», perguntei-lhes. Afastaram os olhos e olharam na direcção do grande avião azul e branco que voara tão perigosamente para a cidade como se ele possuísse o segredo da minha presença. Aproveitei a boleia dum trabalhador cooperante francês. Pareciam estar em todo o lado. Jalalabad era uma cidade castanha cheia de pó, de casas de lama e madeira, ruas de terra batida e paredes de cor ocre e com um cheiro característico a carvão vegetal e dejectos de cavalo. Havia burros, garanhões, riquexós a pedais ao estilo indiano, bicicletas vitorianas e uma ou outra frontaria de lojas feita de tábuas, como se Dodge City tivesse mudado para o subcontinente. Cartum não tinha nada que nos informasse sobre isto. 40 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… No mês anterior, dois comandantes da guerrilha local do engenheiro Gulbuddin Hekmatyar apareceram ao mesmo tempo para cortar o cabelo. Mataram o barbeiro e outros dois homens antes de decidirem quem seria o primeiro a ser servido. Um terço das crianças hospitalizadas em Jalalabad era vítima de tiros de alegria durante os casamentos. Era uma cidade que estava pronta para a disciplina islâmica. Todavia, isto não afastava as agências internacionais. Havia a SAVE e o Programa Alimentar Mundial, o PNUD (*), os Médecins sans frontières, Madera, o Comité Internacional da Cruz Vermelha, a Emergency Field Unit, a clínica Sandy Gall para crianças órfãs, o Comité Sueco para os Afegãos, a ACNUR (**) e uma agência agronómica alemã. Porém, estes eram apenas os primeiros letreiros fora da estrada para Cabul. Sete anos após a partida do Afeganistão das últimas tropas soviéticas, quatro anos após o governo comunista do presidente Mohamed Najibullah ter sido derrubado, os mujahedines afegãos vitoriosos na guerra matavam-se uns aos outros em Cabul. Então, qual a razão da presença das organizações? Estavam as agências aqui para atenuar o nosso sentimento de culpa por termos abandonado o povo afegão depois de cumprido o objectivo de expulsar os Russos da sua terra? As Nações Unidas tinham uma força de apenas dois soldados a observar o caos do Afeganistão, um sueco e um irlandês, e ambos ficavam no Hotel Spinghar. O Spinghar era uma relíquia do itinerário afegão dos hippies, um hotel de tectos altos, dos anos 50, com grandes jardins de rosas e palmeiras altas, que, mesmo no Inverno, se ofereciam ao calor dos ventos que subiam do vale do Indo. Mas na tormenta do calor estival de 1996 – estamos em meados de Julho – o barulhento ar condicionado apresenta-me um dilema: para refrescar o meu quarto duplo lá em cima, ligo-o, mas o seu mecanismo, como se fosse um tigre, vibra tão alto que é impossível dormir. Por isso, desliguei-o. No entanto, quando me viro para o único livro ao lado da cama, Plain Tales from the Raj, o suor escorre-me pelos braços e cola-me os dedos às páginas. Depois, um ligeiro som, uma espécie de ruído quase inaudível, áspero, emerge do aparelho silencioso. Sento-me e, a metro e meio da minha cara, vejo a cabeça de dragão dum lagarto gigante a olhar para mim através das barras arrefecidas da máquina. Quando ergo a mão, a cabeça desaparece por um momento. Depois regressa a cabeça dum brontossauro em miniatura, provida de armadura, a que se segue um torso comprido, com uma textura que faz lembrar borracha, de cor cinzenta esverdeada, à luz mortiça do sol da tarde, e umas grandes patas com ventosas, que sobem as condutas de plástico da ventilação do ar condicionado. Como num filme mudo antigo, move-se aos repelões. Num primeiro momento, vejo-lhe a cabeça. Depois, à velocidade da luz, metade do seu corpo de borracha fica fora do aparelho, a respirar pesadamente. Um momento mais tarde, o animal inteiro, com cerca de 15 centímetros, fica suspenso no cortinado, por cima da minha cama, a oscilar, estranho e perturbador, olhando para mim por cima dum ombro que mais parecia uma fortaleza. O que estará ali a fazer, pergunto-me? Depois, desaparece rapidamente de vista no interior do cortinado. (*) Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento. (N. T.) (**) Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. (N. T.) 41 A Grande Guerra pela Civilização É claro que liguei o ar condicionado e inundei apressadamente o quarto com um ar tão frio que seria capaz de gelar as orelhas. Enrolei-me na cama mais afastada e procurei movimentos no cimo do varão da cortina. Tenho medo daquela coisa e ela tem medo de mim. Só passado meia hora verifiquei que os parafusos brilhantes na calha da cortina são os seus olhos em forma de contas. Com atenção extasiada, observamo-nos um ao outro. Estarão outros a observar-me? Acordo na manhã seguinte exausto e alagado em suor. O rapaz da recepção, vestindo uma camisa comprida e um pakul tradicional, diz-me que ninguém me procurou. Bin Laden tem amigos em Jalalabad, os chefes tribais conhecem-no e protegem-no. Por outro lado, o homem com que me encontrei em Londres disse-me que deveria fazer saber ao «engenheiro Mahmoud» que chegara ao Afeganistão para falar com o «xeque Osama». O engenheiro Mahmoud trabalha para a Unidade de Desenvolvimento e Controlo da Droga numa rua de Jalalabad. Deveria ter pensado que o purista bin Laden estaria envolvido na erradicação da droga. Em 1966, o Afeganistão era o principal fornecedor ilegal de ópio, produzindo pelo menos 2200 toneladas, ou seja, cerca de 80 % da heroína da Europa. Os Afegãos não lhe estão imunes. No bazar de Jalalabad, vêem-se jovens com braços estiolados e negros e olhos perdidos. São os viciados que regressaram do campo de refugiados paquistanês, testemunhas ainda vivas dos efeitos destruidores da heroína. «É bom que o povo afegão os veja», disse friamente um cooperante ocidental. «Assim podem ver os efeitos de todos estes campos de papoilas que cultivam, e se são tão islâmicos como afirmam ser, talvez deixem de produzir ópio.» Sorriu com determinação. «Ou talvez não.» Provavelmente não. A provincial oriental de Nangarhar é agora responsável por 80 % do cultivo de ópio do país e por 64 % da heroína da Europa Ocidental. Os laboratórios foram transferidos do Paquistão para uma faixa fronteiriça no Afeganistão, produzindo centenas de quilos de heroína por dia, defendida por armas antiaéreas e veículos blindados para suster uma ofensiva militar. As autoridades governamentais em Jalalabad afirmam ter destruído 30 000 hectares de campos de ópio e haxixe nos dois últimos anos, mas os seus esforços – suficientemente corajosos, considerando o poder de fogo dos produtores de droga – parecem tão infrutíferos como as tentativas mundiais para encontrar uma solução para o consumo de droga. No gabinete do engenheiro Mahmoud o problema é muito simples. Um mapa na parede representa Nangahar com uma irrupção de manchas vermelhas ao longo do bordo leste, como um ataque de varicela constituído por campos de ópio e laboratórios que são alvo dos comandos armados de Mahmoud. «Temos estado a destruir campos de haxixe, utilizando as nossas armas para obrigar os agricultores a lavrar a terra», proclama ele. «Levamos as nossas próprias bulldozers para destruir alguns dos campos de papoilas. Levamos connosco as nossas armas e rockets e os agricultores nada podem fazer para impedir o nosso trabalho. Agora a nossa shura [conselho] chamou o ulemá para explicar ao povo os malefícios da produção de droga, citando o Alcorão em apoio do que diz. Pela primeira vez conseguimos destruir campos de haxixe sem usar a força.» Mahmoud e a sua equipa de dez funcionários têm-se sentido encorajados pelo apoio das Nações Unidas ao seu projecto. No mercado aberto de Jalalabad os agricultores estavam a receber uns meros 140 dólares por sete quilos 42 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… de haxixe, um pouco mais de 250 dólares por sete quilos de ópio, mais ou menos o preço que receberiam pelo cereal. Por isso, as Nações Unidas forneceram sementes de trigo aos agricultores que deixaram a produção de droga, com o argumento de que obteriam o mesmo rendimento nos mercados de Jalalabad. Apenas uns meses antes – e aqui vemos a estranha geografia que afectava os contactos de bin Laden – o engenheiro Mahmoud visitou Washington. «As autoridades americanas de prevenção da droga levaram-me à sua nova sede. Nem acredita como é grande», disse ele. «Tem metade do tamanho da cidade de Jalalabad. Quando entrei vi que é muito luxuosa e tem muitos computadores. Têm ali todo aquele dinheiro, mas nenhum para nós, que estamos a tentar acabar com a produção de droga.» O pessoal superior do engenheiro Mahmoud recebia pouco menos de 50 dólares por mês e o seu principal adjunto, Shamsul Hag, disse que a unidade contra a droga tivera de comprar 4000 quilos de semente de milho para distribuir pelos agricultores no mês anterior. Mas as ONG em Jalalabad tinham pouco tempo para tudo isto. «Haji Qadir, o governador de Jalalabad, dirigiu-se aos funcionários das Nações Unidas na cidade encarregados da questão da droga», conforme contou um deles, «e disse-lhes: ‘Oiçam, destruí 20 000 hectares de campos de ópio, agora têm de me ajudar, porque as pessoas estão à espera da vossa ajuda.’ Mas a questão era mais complicada do que isto. Os agricultores que nunca tinham cultivado papoila começaram a plantá-la para obterem também milho de graça como recompensa pela destruição dos campos que acabavam de plantar.» Outros cooperantes suspeitavam de que os agricultores estavam em cada estação a fazer rotação de culturas entre o trigo e a droga, vendendo o ópio cada vez mais caro e trocando-o por armas que tinham sido transportadas recentemente em caixas no comboio a vapor de Peshawar, passando pela estação de caminho-de-ferro paquistanesa de Landi Kotal em direcção à fronteira afegã. O cultivo da papoila tornara-se num agronegócio e os dealers dos barões da droga afegãos tinham agora conselheiros técnicos que visitavam Nangarhar para dar pareceres sobre a colheita e o produto, pagando adiantadamente, e tão preocupados com a saúde dos seus trabalhadores que lhes deram máscaras para a cara para usar nas fábricas de ópio. Alguns até ofereciam seguros de saúde. Tudo isto era capitalismo numa escala ilegal brutal. Quando perguntei a um funcionário europeu das Nações Unidas como é que mundo poderia fazer face à situação, respirou fundo e rugiu: «Legalizem as drogas!» «Legalizem tudo. Será o fim dos barões da droga. Ficarão falidos e matar-se-ão uns aos outros. Mas é claro que o mundo nunca aceitará esta solução. Por isso, iremos continuar a lutar numa guerra perdida.» O engenheiro Mahmoud apenas encolheu os ombros quando lhe repeti isto. O que poderia ele fazer? Referi pela terceira vez a questão de «xeque Osama». O xeque pretendia ver-me, repeti. Não estava à procura dele. Estava em Jalalabad a pedido do xeque. Ele estava à minha procura. «Então porque me pede para o procurar?» perguntou o engenheiro Mahmoud com uma lógica implacável. Não era um problema de língua, porque Mahmoud falava um inglês excelente. Era um coquetel de compreensão misturada com várias garrafas de suspeitas. Alguém – não mencionei o homem de Londres – me dera o contacto de Mahmoud, disse eu. Poderia dizer ao xeque que eu estava no Hotel Spinghar? Mahmoud olhou para mim apiedadamente. «O que posso fazer?», perguntou. 43 A Grande Guerra pela Civilização Enviei uma mensagem através do soldado sueco das Nações Unidas – era o seu único operador de rádio e um dos seus dois únicos militares no Afeganistão – e ele estabeleceu ligação com a única pessoa do mundo em quem realmente confiava. Não houve contacto, disse eu. Telefona, por favor, ao homem de bin Laden em Londres. No dia seguinte chegou uma mensagem por rádio, transmitindo o conselho do homem. «Diga a Robert que esclareça que ele não está aí por vontade própria. Está apenas a corresponder ao desejo do nosso amigo. Deve tornar claro ao engenheiro que está apenas a aceitar um convite. O engenheiro pode confirmar isto com o nosso amigo […] Torne muito claro que foi convidado e não foi por iniciativa própria. É o que pode ser mais rápido. Doutro modo terá de esperar.» Lá fui novamente ter com o engenheiro Mahmoud. Estava em boa forma. Na verdade, achou imensa graça, muito engraçado, que eu estivesse à espera do xeque. Era fantástico, risível, estranho. Foram servidas muitas chávenas de chá e sempre que chegava um visitante – um funcionário do controlo de drogas, um funcionário do governador local, alguém com um pedido relacionado com o facto de o filho estar na prisão por crimes relacionados com a droga – era contemplado com a história do inglês de cabeça descoberta que pensava ter sido convidado para Jalalabad e agora esperava, esperava no Hotel Spinghar. Regressei ao Spinghar ao calor do meio-dia e sentei-me na relva em frente do edifício. Escondera-me no mesmo hotel 16 anos antes, após Leónidas Brejnev ter enviado o exército soviético para o Afeganistão, quando me infiltrei em Jalalabad e observei as colunas blindadas soviéticas a passar por cima dos portões da frente. Os seus helicópteros passaram ruidosamente por cima do edifício, carregados de rockets, e as janelas estilhaçaram-se quando dispararam os mísseis para a cordilheira das montanhas Tora Bora, a norte. Agora as borboletas brincavam em redor das roseiras, os jardineiros pousavam as suas forquilhas e mangueiras e esticavam os seus tapetes de oração na relva. Parecia um pouco o paraíso. Bebi chá na relva e observei o sol a deslocar-se rapidamente, com o seu movimento nítido a olho nu, deslocando-se pelas frondes das palmeiras acima de mim. Era o dia 5 de Julho, um dos mais quentes do ano. Fui para o meu quarto e adormeci. «Claque-Claque-Claque.» Era como se alguém estivesse a agredir-me na cabeça com um picador de gelo. «Claque-Claque-Claque-Claque-Claque.» Desde criança que detestava estes momentos, o puxão violento dos lençóis, as batidas insistentes na porta do quarto, a voz gritante do director a dizer-me para me levantar. Mas isto era diferente. «CLAQUE-CLAQUE-CLAQUE-CLAQUE-CLAQUE-CLAQUE-CLAQUE.» Sentei-me. Estava alguém a bater com um molho de chaves de carro na minha janela. «Senhoooor Robert», murmurou apressada uma voz. «Senhoooor Robert.» Sibilou a palavra «Senhor». Sim, sim, estou aqui. «Desça, por favor, está aqui alguém que pretende vê-lo.» Só lentamente me apercebi que o homem devia ter subido a antiga escada de incêndio para chegar à janela do meu quarto. Vesti-me, peguei num casaco – tinha um pressentimento de que poderíamos viajar durante a noite – e quase me ia esquecendo da minha velha Nikon. Passei o mais calmamente que fui capaz pela recepção e saí para o calor do princípio da tarde. O homem vestia uma túnica afegã cinzenta e suja e tinha um pequeno chapéu redondo de algodão, mas era árabe e cumprimentou-me formalmente, apertando-me a mão direita entre as suas. Sorriu. Disse que se chamava Mohamed e era o meu guia. «Para ver 44 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… o xeque?», perguntei. Sorriu, mas não disse nada. Eu ainda receava uma armadilha. O nome do guia teria de ser Mohamed, não é verdade? Haveria de sugerir um passeio à noite. Já imaginava a testemunha a falar mais tarde. Sim senhor, vimos o jornalista inglês. Vimo-lo encontrar-se com alguém fora do hotel. Não houve luta. Ele saiu livremente, por decisão sua. Saiu pelos portões do hotel. Também eu assim fiz, seguindo sempre Mohamed pelo estrada principal de Jalalabad coberta de pó até chegarmos junto dum grupo de homens armados que estavam numa carrinha de caixa aberta estacionada nas ruínas duma velha base do exército soviético, um lugar de veículos blindados avariados e com uma estrela vermelha enferrujada num portão desfeito. Na traseira da carrinha havia três homens com chapéus afegãos. Um deles tinha uma espingarda Kalashnikov, outro segurava um lança-granadas, bem como seis rockets atados com fita-cola. O terceiro tinha uma metralhadora ao colo, a que não faltava um tripé e um cinto de munições. «Sr. Robert, estes são os nossos guardas», disse calmamente o condutor, como se fosse a coisa mais normal do mundo sair para atravessar os ermos da província de Nangarhar, no Afeganistão, sob o sol quente e branco da tarde e acompanhado por três guerrilheiros barbudos. Um rádio emissor-receptor silvou e resmoneou no ombro do companheiro do condutor quando outro camião cheio de afegãos armados seguia atrás de nós. Estávamos prestes a partir quando Mohamed saiu da carrinha com o motorista, dirigiram-se a um pouco de relva na sombra e começaram a rezar. Durante cinco minutos os dois homens permaneceram semiprostrados, voltados na direcção da garganta de Cabul e, para além dela, da cidade de Meca, muito mais distante. Viajámos por uma estrada destruída e depois virámos para um caminho sujo junto dum canal de irrigação, com as armas na parte de trás da carrinha a saltitar no chão e os olhos dos guardas a observar atentamente por trás dos seus lenços axadrezados. Viajámos assim durante horas, passando por aldeias de lama semidestruídas, e vales, e rochas negras que se erguiam como torres. Era uma viagem numa paisagem lunar. No calor cinzento apareciam ameaçadoramente os fantasmas duma guerra terrível, do último suspiro imperial do comunismo: as fortificações cobertas de vegetação das bases de tiro do exército soviético, posições de artilharia, armas viradas para o ar e cobertas de poeira e a carcaça exausta dum tanque onde ninguém poderia ter sobrevivido. Na fornalha do fim de tarde, surgia uma cidade inteira de fortalezas acasteladas feitas de lama, atacada de surpresa, com as paredes atravessadas por balas de metralhadora e granadas. Crianças nuas endiabradas brincavam entre as ruínas. Precisamente no lado oposto da cidade fantasma, o motorista de Mohamed levou-nos para fora do caminho e conduziu-nos por sedimentos e rochas duras, com as pedras a saltar sob o rodado à medida que circundávamos quilómetros de campos cobertos de pó amarelo. «Isto é um presente dos Russos», disse Mohamed. «Sabe por que razão não há pessoas a cultivar estes solos? Porque os Russos colocaram aqui milhares de minas.» E assim atravessámos aquela terra morta. Uma vez, quando o Sol mergulhava lentamente nas montanhas, parámos para que os homens armados que iam atrás fossem apanhar melancias num campo. Voltaram com elas atabalhoadamente para as carrinhas e cortaram-nas, ficando o sumo a escorrer-lhes pelos 45 A Grande Guerra pela Civilização dedos. Anoitecia quando chegámos a uma série de aldeias apertadas, feitas de terra, com velhos a queimar carvão vegetal à beira do caminho e sombras de mulheres encapuçadas por burcas afegãs, que permaneciam nas passagens estreitas. Havia mais guerrilheiros, todos com barba, com largos sorrisos para Mohamed e o motorista. Fez-se noite antes de pararmos num pequeno pomar onde os sofás de madeira tinham sido cobertos com cobertores do exército, empilhados e amarrados com cintos e rede e donde emergiram homens armados da escuridão, todos de traje afegão e chapéus rasos e macios de algodão, alguns empunhando espingardas e outros metralhadoras. Eram os mujahedines árabes, os «Afegãos» árabes denunciados pelos presidentes e reis de metade do mundo árabe e pelos Estados Unidos da América. Em breve o mundo conhecê-los-ia como al-Qaeda. Vieram do Egipto, da Argélia, da Arábia Saudita, da Jordânia, da Síria e do Kuwait. Dois deles usavam óculos e um disse ser médico. Alguns deles apertaram-me a mão num modo muito solene e saudaram-me em árabe. Sabia que estes homens dariam a vida por bin Laden, que se consideravam espiritualmente puros num mundo corrupto e que eram inspirados e influenciados por sonhos que se haviam convencido provir do céu. Mohamed fez um gesto para que o seguisse, ladeámos um riacho e passámos um pequeno curso de água, até que, na escuridão cheia de insectos à nossa frente, pudemos distinguir um pequeno candeeiro a petróleo que emitia alguns ruídos. A seu lado estava sentado um homem alto, com barba e roupas sauditas. Osama bin Laden levantou-se, estando a seu lado os seus dois jovens filhos Omar e Saad. «Bem-vindo ao Afeganistão», disse ele. Tinha agora 40 anos, mas parecia muito mais velho do que quando nos encontrámos pela última vez, no deserto sudanês, no final de 1993. Caminhando na minha direcção, era mais alto do que os seus companheiros, magro, com mais rugas em redor daqueles olhos estreitos. Com menos carnes, com a barba mais comprida, mas ligeiramente salpicada de cinzento, tinha um colete preto por cima da sua túnica branca e um kuffiah de xadrez vermelho na cabeça. Parecia cansado. Quando me perguntou pela saúde, disse-lhe que tinha feito um longo percurso para estar presente neste encontro. «Também eu», murmurou. Havia nele também um certo isolamento, um desprendimento que eu não notara antes, como se tivesse estado a analisar a sua ira, a ponderar a natureza do seu ressentimento. Quando sorriu, o seu olhar dirigia-se para o seu filho Omar, de 16 anos – olhos redondos com pálpebras castanhas e de kuffiah – e depois para fora, para a escuridão cálida onde os seus homens armados patrulhavam os campos. Outros juntaram-se para assistir à nossa conversa. Sentámo-nos num tapete de palhinha e junto de mim colocaram um copo de chá. Há apenas 10 dias, um camião-bomba derrubara parte do complexo habitacional da Força Aérea dos EUA de al-Khobar, em Dhahran, na Arábia Saudita, e estávamos a falar tendo como pano de fundo os 19 soldados americanos que ali morreram. O secretário de Estado americano Warren Christopher visitara as ruínas e prometera, como seria de esperar, que a América não seria «abalada pela violência» e que os seus autores seriam capturados. O rei Fahd, da Arábia Saudita, que entretanto tinha ficado demente, previra a possibilidade da violência quando as forças militares americanas chegaram em 1990 para «defender» o seu reino. Foi precisamente por esta razão que a 6 de Agosto desse ano obtivera a promessa do presidente George Bush de que a as tropas dos Estados Unidos deixariam 46 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… o seu país quando a ameaça iraquiana tivesse terminado. No entanto, os Americanos permaneceram, com o argumento de que a existência do regime de Saddam – que Bush preferira não destruir – ainda continuava a representar um perigo para o Golfo. Osama bin Laden sabia o que pretendia dizer. «Há não muito tempo, aconselhei os Americanos a retirar as suas tropas da Arábia Saudita. Agora, permita-nos que aconselhemos a Grã-Bretanha e a França a retirar dali as suas tropas, porque o que aconteceu em Riade e em al-Khobar mostrou que as pessoas que fizeram isto sabem perfeitamente escolher os seus alvos. Atingiram o seu inimigo principal, que são os Estados Unidos. Não mataram inimigos secundários, nem os seus irmãos do exército ou da polícia da Arábia Saudita […] Faço este aviso à Grã-Bretanha.» Os Americanos têm de abandonar a Arábia Saudita, têm de abandonar o Golfo. Os «males» do Médio Oriente surgiram da tentativa de a América se apoderar da região e do seu apoio a Israel. A Arábia Saudita foi transformada numa «colónia americana». Bin Laden falava lentamente e com precisão, com um egípcio a tomar notas num grande caderno de exercícios, à luz do candeeiro, como se fosse um escriba medieval. «Tal não significa uma declaração de guerra ao Ocidente ou ao povo do Ocidente, mas contra o regime americano que é contra todos os Americanos.» Interrompi bin Laden. Ao contrário dos regimes árabes, disse eu, o povo dos Estados Unidos elegeu o seu governo. Dirão que o seu governo os representa. Ignorou o meu comentário. Seria de esperar que o fizesse, porque nos anos que se seguiriam a sua guerra haveria de incluir a morte de milhares de civis americanos. «A explosão em al-Khobar não aconteceu como reacção directa à ocupação americana», disse ele, «mas em resultado do comportamento americano em relação aos muçulmanos, do seu apoio aos judeus na Palestina e dos massacres de muçulmanos na Palestina e no Líbano – de Sabra e Chatila e Qana – e da conferência de Sharm el-Sheikh.» Bin Laden pensara em tudo isto. O massacre de 1700 refugiados palestinianos pelas milícias falangistas libanesas aliadas de Israel, em 1982, e a chacina pelos artilheiros israelitas de 106 civis libaneses num campo das Nações Unidas em Qana, menos de três meses antes deste encontro com Bin Laden, constituíam para milhões de ocidentais, para não falar dos árabes, a prova da brutalidade israelita. A conferência «antiterrorismo» do presidente Clinton na cidade costeira de Sharm el-Sheikh, no Egipto, era considerada pelos árabes como uma humilhação. Clinton condenara o «terrorismo» do Hamas e do Hezbollah libanês, mas não a violência de Israel. Por isso os bombistas atacaram em al-Khobar pelos Palestinianos de Sabra e Chatila, por causa de Qana e da hipocrisia de Clinton. Era esta a mensagem de bin Laden. Não só os Americanos teriam de ser expulsos do Golfo, mas havia erros históricos do passado que teriam de ser vingados. O seu «conselho» aos Americanos era uma ameaça medonha que seria cumprida nos anos vindouros. Todavia, do que bin Laden realmente queria falar era da Arábia Saudita. Desde o nosso último encontro no Sudão, disse ele, a situação no reino piorara. Os ulemás – os líderes religiosos – declararam nas mesquitas que a presença das tropas americanas não era aceitável e o governo tomou medidas contra os ulemá «a conselho dos Americanos». Para bin Laden a traição do povo saudita começou 24 anos antes do seu nascimento, em 1932, 47 A Grande Guerra pela Civilização quando Abdul Aziz al-Saud proclamou o seu reino. «O regime começou sob a bandeira da aplicação da lei islâmica e sob este lema todo o povo da Arábia Saudita foi ajudar a família Saud a tomar o poder. Mas Abdul Aziz não aplicou a lei islâmica. O país foi organizado para a sua família. Depois da descoberta do petróleo, o regime saudita encontrou um novo apoio: o dinheiro para tornar as pessoas ricas e lhes proporcionar os serviços e a vida que desejavam e as tornar satisfeitas.» Bin Laden estava a limpar os dentes com o seu habitual palito de mishwak, mas a história, ou a sua versão dela, constituía a base de quase todas as suas observações. A família real saudita prometera leis da chariá, ao mesmo tempo que permitiu que os Estados Unidos «ocidentalizassem a Arábia Saudita e sugassem a economia». Acusou o regime saudita de gastar 25 mil milhões de dólares no apoio a Saddam Hussein na guerra Irão-Iraque e outros 60 mil milhões de dólares para financiar os exércitos ocidentais na guerra de 1991 contra o Iraque, «comprando equipamento militar que não é preciso ou útil ao país e comprando aviões a crédito», ao mesmo tempo que provocava desemprego, subia os impostos e levava a economia à falência. Mas para bin Laden a data central era 1990, o ano em que Saddam Hussein invadiu o Kuwait. «Quando as tropas americanas entraram na Arábia Saudita, a terra dos dois lugares santos, houve um forte protesto por parte dos ulemás e dos estudantes da chariá de todo o país contra a interferência das tropas americanas. Este grande erro cometido pelo regime saudita, ao convidar as tropas americanas, evidenciou a sua falsidade. Estavam a apoiar nações que lutavam contra muçulmanos. Ajudaram os comunistas do Iémen contra os muçulmanos do Iémen do Sul e estão a ajudar o regime de Arafat a combater o Hamas. Depois de ter insultado e prendido os ulemás há 18 meses, o regime saudita perdeu a sua legitimidade.» O vento nocturno soprava pelas árvores na escuridão, agitando as túnicas dos combatentes árabes que nos rodeavam. Bin Laden estendeu a mão direita e utilizou os dedos para enumerar os «erros» da monarquia saudita. «Ao mesmo tempo, instalava-se no reino a crise financeira e agora o povo sofre com isso. Os comerciantes sauditas verificaram que os seus contratos tinham sido anulados. O governo deve-lhes 340 mil milhões de riais sauditas, o que é uma enorme quantia: representa 30 % do rendimento nacional gerado internamente. Os preços estão a subir e o povo tem de pagar mais pela electricidade, a água e os combustíveis. Os agricultores sauditas não recebem dinheiro desde 1992 e os que conseguem auxílio financeiro obtêm-no devido a empréstimos contraídos pelo governo junto da banca. A educação está a deteriorar-se e as pessoas têm de retirar as crianças das escolas públicas e dar-lhes instrução nas privadas, que são muito caras.» Bin Laden fez uma pausa para verificar se eu ouvira com atenção a sua lição de história exclusiva e alarmante. «O povo saudita lembrou-se do que o ulemá lhe disse e percebe agora que a América é a primeira causa dos seus problemas […] o homem comum sabe que o seu país é o maior produtor de petróleo do mundo, mas, ao mesmo tempo, é sobrecarregado com impostos e maus serviços. Agora o povo compreende os discursos dos ulemás nas mesquitas: que o nosso país se tornou uma colónia americana. Actuam decisivamente com tudo o que podem para expulsar os Americanos da Arábia Saudita. O que aconteceu em Riade e al-Khobar é a prova clara da grande cólera do povo saudita contra a América. 48 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… Os Sauditas sabem agora que o seu inimigo verdadeiro é a América.» Não havia que duvidar da argumentação de bin Laden. O derrube do regime saudita e a expulsão das tropas dos Estados Unidos para fora do reino eram para ele uma e a mesma coisa. Estava a dizer que a verdadeira liderança religiosa da Arábia Saudita – onde ele evidentemente se incluía – era uma inspiração para os Sauditas, que os próprios Sauditas poriam os Americanos na rua, que os Sauditas – até então vistos como um povo rico e tolerante – podem atacar nos Estados Unidos. Poderia isto ser verdade? O ar estava infestado de insectos. Eu estava a escrever no meu bloco de notas com a mão direita e a bater-lhes na minha cara e na roupa com a esquerda. Eram insectos grandes com asas largas e criaturas parecidas com escaravelhos, que iam de encontro à minha camisa e ao meu bloco. Verifiquei que chocavam também com a túnica branca de bin Laden e até com a sua cara, como se, de algum modo, tivessem sido despertos pela cólera que emanava deste homem. Parava por vezes durante um minuto – foi o primeiro árabe que vi fazer isto – para reflectir nas suas palavras. A maioria dos árabes, perante a pergunta dum jornalista, dirá a primeira coisa que lhe passe pela cabeça com receio de parecer ignorante se assim não fizer. Bin Laden era diferente. Ele era ameaçador porque possuía aquela qualidade que conduz os homens à guerra: uma convicção absoluta. Nos anos seguintes, veria outros manifestarem esta característica perigosa – recordo-me do presidente George W. Bush e de Tony Blair –, mas nunca a fatal determinação de Osama bin Laden. Havia um lado negro nos seus cálculos. «Se um quilograma de TNT explodir num país em que há cem anos ninguém ouve uma explosão», disse ele, «certamente que 2500 quilos de TNT em al-Khobar são a prova evidente da escala da cólera do povo contra os Americanos e da sua capacidade de continuar essa resistência contra a ocupação americana.» Se eu fosse profeta, poderia ter pensado de maneira mais profunda naquela metáfora medonha que bin Laden usara sobre o TNT? Não haveria um país – uma nação que não tinha a guerra no interior das suas fronteiras há mais de 100 anos – que ficasse impressionado com a «prova» da cólera dum povo e que estivesse 2500 vezes para além do que pudesse imaginar? No entanto, eu estava a resolver equações bem mais prosaicas. Bin Laden perguntara-me – o que fazia qualquer palestiniano a viver sob ocupação – se os Europeus não resistiram também à ocupação durante a II Guerra Mundial. Disse-lhe que nenhum europeu julgaria válido esse argumento quando aplicado à Arábia Saudita, porque os nazis mataram milhões de europeus, enquanto os Americanos nunca mataram um único saudita. Esse paralelo era histórica e moralmente errado. Bin Laden não concordou. «Nós, enquanto muçulmanos, temos um forte sentimento que nos une […] Sentimos pelos nossos irmãos da Palestina e do Líbano […] Quando 60 judeus são mortos no interior da Palestina» – estava a falar dos bombistas suicidas palestinianos em Israel – «no espaço de uma semana toda a gente se junta para criticar a sua acção, ao passo que a morte de 600 000 crianças iraquianas não obteve a mesma reacção.» Era a primeira referência de bin Laden ao Iraque e às sanções das Nações Unidas que provocariam, segundo os próprios funcionários da ONU, mais de meio milhão de crianças mortas. «Matar essas crianças iraquianas é uma cruzada contra o Islão», disse bin Laden. «Nós, como muçulmanos, não gostamos do regime do Iraque, mas pensamos que o povo iraquiano e as suas crianças são 49 A Grande Guerra pela Civilização nossos irmãos e preocupamo-nos com o seu futuro.» Foi a primeira vez que o ouvi usar a palavra «cruzada». Porém, não foi a primeira vez, nem a última, que bin Laden se demarcaria da ditadura de Saddam Hussein. De nada lhe serviria. Cinco anos mais tarde, os Estados Unidos dariam início a uma invasão do Iraque que seria justificada em parte pelo «apoio» do regime a um homem que o detestava. Mas estas não foram as únicas palavras que bin Laden proferiu naquela noite e a que eu deveria ter prestado mais atenção. É que, em dado momento, ele colocou a sua mão direita no peito e disse: «Creio que mais cedo ou mais tarde os Americanos abandonarão a Arábia Saudita e que a guerra declarada pela América ao povo saudita significa guerra contra todos os muçulmanos, em toda a parte», disse ele. «A resistência à América espalhar-se-á por muitos, muitos lugares dos países muçulmanos. Os líderes em que confiamos, os ulemás, proclamaram uma fatwa segundo a qual devemos expulsar os Americanos.» Durante algum tempo, a tempestade relampejante a leste do campo de bin Laden tinha-se tornado cada vez maior e podíamos ver o brilho alaranjado dos raios sobre as montanhas da fronteira paquistanesa. Mas bin Laden pensou que pudesse ser fogo de artilharia, a continuação das batalhas entre os mujahedines que afectaram o espírito dele após a guerra anti-soviética. Estava a ficar incomodado. Interrompeu a nossa conversa para rezar. Depois, no tapete de palhinha, alguns jovens armados serviram o jantar – pratos de iogurte, queijo, pão afegão e mais chá. Bin Laden sentou-se entre os seus dois filhos, silenciosamente, com os olhos postos na comida. Por vezes fazia-me perguntas. Qual seria a reacção do Partido Trabalhista britânico à sua exigência de retirada das tropas britânicas da Arábia Saudita? O líder do partido da oposição, Tony Blair, era importante? Infelizmente não me lembro da minha resposta. Bin Laden disse que três das suas mulheres chegariam em breve ao Afeganistão para se lhe juntarem. Podia ver as tendas em que iriam viver se eu o desejasse, junto a Jalalabad, «tendas humildes» para a sua família. Disse a um egípcio que empunhava uma espingarda para me levar ao acampamento no dia seguinte. Depois apontou para mim. «Estou surpreendido com o governo britânico», disse de repente. «Enviaram-me uma carta por intermédio da sua embaixada em Cartum antes de eu ter saído do Sudão, dizendo que não seria bem-vindo ao Reino Unido. Mas eu não pedi para ir à Grã-Bretanha. Então por que razão me enviaram esta carta? A carta dizia: «Se vier À Grã-Bretanha não será autorizado a entrar.» A carta deu à imprensa saudita oportunidade para dizer que eu pedira asilo político na Grã-Bretanha, o que não é verdade.» Acreditei em bin Laden. O Afeganistão era o único país possível para ele, após os cinco anos e meio de exílio no Sudão. Concordou. «O lugar do mundo mais seguro para mim é o Afeganistão.» Era o único lugar, repeti eu, em que poderia fazer campanha contra o governo saudita. Bin Laden e vários dos seus combatentes começaram a rir. «Há outros lugares», respondeu. «Quer dizer o Tajiquistão?» perguntei. «Ou o Uzbequistão? O Cazaquistão?» «Há vários lugares em que tenho amigos e irmãos chegados. Podemos encontrar neles refúgio e segurança.» Disse a bin Laden que ele já era um homem com a cabeça a prémio. «O perigo faz parte da nossa vida», retorquiu. «Já pensou que passámos dez anos a lutar contra os Russos 50 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… e o KGB? […] Quando combatíamos os Russos aqui no Afeganistão, ao longo de 10 anos houve 10 000 Sauditas que vieram combater. Havia três voos semanais de Jeddah para Islamabad e todos os voos estavam cheios de Sauditas que vinham combater […]». No entanto, alvitrei sem contemplações, não apoiaram os Americanos os mujahedines contra os Soviéticos? Bin Laden respondeu de imediato: «Nunca fomos amigos dos Americanos. Sabíamos que os Americanos apoiam os judeus na Palestina e que são nossos inimigos. A maior parte das armas que chegou ao Afeganistão foi paga pelos Sauditas por ordem dos Americanos porque Turki al-Faiçal [o chefe da espionagem externa saudita] e a CIA trabalhavam em conjunto.» Bin Laden estava agora alerta, quase agitado. Havia algo que necessitava de dizer. «Deixe que lhe diga o seguinte: na semana passada, recebi um enviado da embaixada saudita em Islamabad. Sim, ele veio aqui ao Afeganistão para se encontrar comigo. O governo da Arábia Saudita, é claro, quer dar ao povo daqui uma mensagem diferente: que eu deveria ser entregue. Mas, na verdade, pretendiam falar directamente comigo. Queriam pedir-me para regressar à Arábia Saudita. Disse-lhes que falaria com eles com uma condição apenas: que o xeque Sulieman al-Owda, o ulemá, estivesse presente. Tinham prendido o xeque Sulieman por falar publicamente contra o regime corrupto. Sem a sua liberdade nenhuma negociação seria possível. Não obtive qualquer resposta da parte deles até agora.» Seria esta revelação que tornava bin Laden nervoso? Começou a falar com os seus homens sobre amniya, segurança, e olhava repetidamente para aqueles clarões no céu. Naquele momento o trovão soou como se fosse um disparo de artilharia. Tentei fazer mais uma pergunta. Que espécie de Estado islâmico gostaria bin Laden de ver instituído? Os ladrões e os assassinos ainda teriam as mãos e as cabeças cortadas neste Estado islâmico da chariá, como acontece hoje em dia na Arábia Saudita? Obtive uma resposta insatisfatória: «O Islão é uma religião completa e que abrange todos os aspectos da vida. Se um homem for um verdadeiro muçulmano e cometer um crime, só pode ficar satisfeito se for punido com justiça. Não se trata de crueldade. A origem destes castigos vem de Deus através do profeta Maomé, a paz esteja com ele.» Osama bin Laden pode ser um dissidente, mas nunca um moderado. Pedi autorização para lhe tirar uma fotografia e enquanto ele debatia isto com os seus companheiros escrevinhei no meu bloco de notas as palavras que iria usar no último parágrafo da minha reportagem sobre o nosso encontro: «Osama bin Laden acredita que é agora o maior inimigo do regime saudita e da presença americana no Golfo. Ambos terão provavelmente razões para o considerarem como tal.» Estava a subestimar o homem. Sim, disse ele, podia tirar-lhe uma fotografia. Abri a minha máquina e permiti que os seus guardas armados me observassem enquanto enrolava a película na bobina. Disse-lhes que recusava utilizar um flash porque achatava a imagem do rosto humano e pedi-lhes para aproximarem o candeeiro. O escriba egípcio segurou nele a 30 centímetros do rosto de bin Laden. Disse-lhe para o aproximar ainda mais, a cerca de 7 ou 8 centímetros, e tive mesmo de pegar-lhe no braço, até que os traços de bin Laden tivessem a combinação pretendida de luz e sombras. Foi então que, subitamente, bin Laden recuou a cabeça e o mais débil dos sorrisos se instalou na sua face, acompanhado daquela convicção e 51 A Grande Guerra pela Civilização daquela ténue indicação de vaidade que julgo tão perturbadoras. Chamou os seus filhos Omar e Saad e estes sentaram-se a seu lado, enquanto eu tirava mais fotografias e bin Laden se transformava no pai orgulhoso, no homem de família, no árabe em sua casa. Depois a sua ansiedade voltou. O relampejar era agora contínuo e misturava-se com o estalejar do disparo de espingardas. Eu tinha de me ir embora, insistiu, e percebi que isto queria dizer que era ele que se tinha de ir embora, que estava na altura de regressar à fortaleza do Afeganistão. Quando apertámos as mãos ele estava já à procura dos guardas que o iriam levar. Mohamed e o meu motorista e apenas dois dos homens armados que me havia trazido a estes campos húmidos e cheios de insectos famintos viraram-se para me levarem de regresso ao Hotel Spinghar, uma viagem que se revelou cheia de ameaças. Ao passar por pontes e cruzamentos, fomos obrigados várias vezes a parar por homens armados das facções afegãs que lutavam pelo controlo de Cabul. Um deles haveria de se agachar na estrada, à frente do nosso veículo, gritando para nós, apontando a espingarda ao pára-brisas, e o seu companheiro surgiu furtivamente da escuridão para verificar a identidade do condutor e acenar-nos para que prosseguíssemos. «Afeganistão lugar muito difícil», foi a observação de Mohamed. Também seria difícil para a família de bin Laden. Na manhã seguinte, o egípcio apareceu no Hotel Spinghar para me levar ao acampamento na relva em que as famílias dos árabes «afegãos» que estavam de regresso iriam viver. Era muito vulnerável. Apenas algum arame farpado o separava do campo aberto e as três tendas destinadas às mulheres de bin Laden, instaladas perto umas das outras, eram insuportavelmente quentes. Haviam cavado três latrinas atrás, numa das quais flutuava uma rã morta. «Irão viver aqui no meio de nós», disse o egípcio. «São senhoras habituadas a viver no conforto.» Mas os seus receios centravam-se na presença evidente dos serviços de segurança egípcios que se aproximaram do campo numa carrinha verde. «Sabemos quem são e temos a matrícula do seu veículo. Há uns dias pararam junto do meu filho e perguntaram-lhe: «Sabemos que o teu nome é Abdullah e sabemos quem é o teu pai. Onde está o bin Laden?» Depois perguntaram por que razão estava eu no Afeganistão.» Outro dos árabes do campo contestou a afirmação de bin Laden de que este era apenas um entre vários países muçulmanos onde podia encontrar refúgio. «Não há outro país para o Sr. bin Laden», disse ele educadamente. «Quando estava no Sudão, os Sauditas queriam capturá-lo com a ajuda de Iemenitas. Sabemos que o governo francês tentou convencer os Sudaneses a entregá-lo, porque estes lhes haviam entregado o sul-americano.» (Referia-se a «Carlos, o Chacal»). «Os Americanos estavam a pressionar os Franceses para que capturassem bin Laden no Sudão. Um grupo árabe a soldo dos Sauditas tentou matá-lo e disparou sobre ele, mas os guardas de bin Laden ripostaram e dois dos homens foram feridos. As mesmas pessoas tentaram também matar Turabi». O egípcio ouviu isto em silêncio. «Sim, o país é muito perigoso», disse ele. «Os Americanos estão a tentar bloquear a via para o Afeganistão aos árabes. Eu prefiro as montanhas. Sinto-me ali mais seguro. Este lugar é uma semi-Beirute.» Não por muito tempo. Passados nove meses, eu iria regressar a um Afeganistão transformado e ainda mais sinistro, com o seu povo governado por uma piedade tão dura e 52 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… ignorante que nem sequer bin Laden a poderia ter imaginado. De novo, haveria um telefonema para Beirute, um convite para ver «o nosso amigo» e a demora – obviamente deliberada da minha parte – antes de partir outra vez para Jalalabad. Desta vez, a viagem era uma combinação de farsa e incredulidade. Já não havia voos a partir de Deli, por isso tomei o avião em primeiro lugar para o Dubai. «Voo para Jalalabad?» perguntou-me o meu agente de viagens indiano. «Tem de contactar a Magic Travel.» Tinha razão. A Magic Carpet Travel – num filme este nome nunca teria sido aprovado pelos guionistas ¶ – era dirigida por um libanês que me disse para aparecer às 8:30 da manhã seguinte no velho aeroporto descolorido pelo calor do emirato vizinho de Sharjah, que era muito mais pobre e para o qual a Ariana Afghan Airlines fora então desterrada. Sharjah acolhia um punhado de linhas aéreas consideradas párias e que voavam do Golfo para o Cazaquistão, a Ucrânia, o Tajiquistão e umas quantas cidades iranianas obscuras. O meu avião para Jalalabad era o mesmo velho Boeing 727, mas agora num estado muitíssimo mais precário, cruelmente transformado em avião de carga. A tripulação era toda constituída por Afegãos – com barbas cerradas, porque os talibãs acabavam de tomar o poder no Afeganistão e obrigaram os homens a deixar de se barbear –, e fiz os possíveis para me instalar confortavelmente no único e assento sujo de passageiro, situado à frente. «Colete de salvação debaixo do assento», estava escrito nos lavabos. Não havia colete de salvação. Aliás, a casa-de-banho estava a deitar fezes com um cheiro medonho e que escorriam para a carga de rolamentos de esferas e têxteis, colocada atrás de mim. Quando levantámos voo, uma pequena maré de líquido mal cheiroso brotou dos lavabos e escorreu para o centro do avião. «Não se preocupe, está em boas mãos», insistia um dos tripulantes à medida que íamos subindo no meio da turbulência, apresentando-me a um homem gigantesco e de barba branca e preta que não parava de ranger os dentes e limpar as mãos a um pano encharcado. «Este é o nosso engenheiro-chefe de manutenção de voo», disse ele. Ao sobrevoar as montanhas de Spinghar, o engenheiro sentiu finalmente o cheiro que vinha dos lavabos, entrou no cubículo estreito com uma chave de fendas e atacou a tubagem. Quando aterrámos no velho aeródromo de Jalalabad, estava a pensar em regressar a casa por terra. O funcionário da imigração, um adolescente com uma Kalashnikov, era tão analfabeto que desenhou um quadrado e um círculo no meu passaporte virado ao contrário, porque não sabia escrever o seu próprio nome. A tripulação do avião ofereceu-me boleia para Jalalabad no seu autocarro, a mesma cidade de fronteira cheia de poeira que eu recordava de Julho passado, mas desta vez com menos metade da sua população. Não havia mulheres. Apenas ocasionalmente as via, com a cabeça coberta e envoltas nas burcas, levando por vezes pela mão crianças emagrecidas. Os portões do campus da Universidade de Nangarhar estavam fechados a cadeado, os caminhos estavam cheios de erva e dos dormitórios escorria água da chuva. «Os talibãs dizem que irão reabrir a universidade nesta Quanto mais perigoso for o destino, mais fabuloso é o nome da companhia aérea que para lá voa. O único voo directo de Beirute para o caldeirão do Iraque ocupado era realizado por outra companhia que se chamava – sim, leitor, adivinhou – Flying Carpet Airlines. ¶ 53 A Grande Guerra pela Civilização semana», disse-me o empregado de balcão dos correios. «Mas de que serve isso? Todos os professores se foram embora. As mulheres já não podem frequentar o ensino. Estamos de volta à estaca zero.» Não inteiramente, é claro. Pela primeira vez ao fim de alguns anos, não havia tiros em Jalalabad. As armas foram recolhidas pelos talibãs – para serem destruídas alguns dias depois numa explosão devastadora que quase me custou a vida –, mas havia como que uma lei que fora imposta a esta sociedade tribal encolerizada. Os trabalhadores humanitários podiam andar à noite pela cidade, o que pode ser a razão por que alguns deles afirmavam que podiam «negociar» com os talibãs e não tinham o direito de interferir na «cultura tradicional». Quase não havia roubos. Embora os preços fossem subindo, pelos menos agora havia legumes e carne no mercado. Os talibãs haviam finalmente vencido 12 das 15 milícias venais mujahedines afegãs, excepto no extremo nordeste do país, e impuseram a sua própria rígida legitimidade ao povo. Era uma fé purista, sunita wahhabita, cuja interpretação da lei da chariá fazia recordar os primeiros prelados cristãos mais draconianos. Cortar cabeças, cortar mãos e uma perspectiva completamente misógina eram facilmente associáveis à hostilidade dos talibãs em relação a todas as formas de divertimento. O Hotel Spinghar costumava vangloriar-se dum velho aparelho de televisão americano que fora agora escondido num barracão do jardim, com receio de que fosse destruído. Os aparelhos de televisão, tal como as cassetes de vídeo e os ladrões tendiam a acabar pendurados nas árvores. «O que é que esperava?», perguntou-me o jardineiro junto às ruínas do velho palácio de Inverno de Jalalabad. «Os talibãs vieram dos campos de refugiados. Só nos dão o que tiveram.» Compreendi então que as novas leis do Afeganistão, tão anacrónicas e brutais aos nossos olhos e para os afegãos instruídos, eram menos uma tentativa de revivalismo religioso do que a continuação da vida nos enormes campos sujos em que tantos milhões de Afegãos se juntaram, nas fronteiras do país, quando os Soviéticos o invadiram há 16 anos. Os guerrilheiros talibãs cresceram nestes campos doentios, situados no Paquistão. Os seus primeiros 16 anos de vida foram passados numa pobreza cega, privados de qualquer educação e entretenimento, impondo os seus próprios castigos mortais, com as mães e as irmãs mantidas na subserviência, com os homens a decidir como lutar contra os seus opressores estrangeiros no outro lado da fronteira e tendo por único divertimento a leitura pormenorizada e obsessiva do Alcorão, o único e verdadeiro caminho num mundo em que não se podia imaginar qualquer outro. Os talibãs chegaram, não para reconstruir um país de que não se recordavam, mas para reconstruir os seus campos de refugiados em escala maior. Daí que não devesse haver educação, nem televisão. As mulheres deveriam permanecer em casa, tal como ficavam nas suas tendas em Peshawar. Assim seria no aeroporto quando finalmente me fui embora. Outro funcionário da imigração, talvez de apenas 15 anos de idade, tinha a cara maquilhada. Ele, à semelhança de muitos Argelinos que combateram no Afeganistão, estava convencido de que o profeta usava khol à volta dos olhos, na Arábia dos séculos VI e VII da era cristã. Recusou-se a carimbar o meu passaporte porque eu não possuía visto de saída, embora tais vistos fossem coisa que não existia em Jalalabad. No entanto, eu quebrara uma regra ainda maior. Não usava barba. O rapaz 54 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… apontou-me para o queixo e abanou a cabeça numa admoestação, um mestre-escola infantil que sabia reconhecer a imoralidade quando deparava com ela e me assinalou com desprezo o velho avião que estava estacionado na pista. No relvado do Hotel Spinghar, duas crianças aproximaram-se de mim, uma delas de 14 anos, com uma pilha de livros de exercícios. Num dos livros, em mau inglês, estava escrito à mão um teste de gramática. «Insert the cerrect [sic] voice», pedia-se: «‘He… going home.’ Insert: ‘had’/‘was’/‘will’.» Inseri amavelmente «was» e corrigi «cerrect». Seria esta a nova educação dos afegãos pobres? Mas pelo menos os rapazes estavam a aprender uma língua estrangeira na sua escola deplorável. A criança mais pequena tinha até uma gramática persa que falava da vida do profeta Maomé, o que era inevitável. Todavia, não havia nenhuma aluna. Numa tarde daqueles monótonos dias de espera, quando estava sentado na entrada a beber chá, uma mulher vestida com uma burca azul-pálido subiu lentamente pelo caminho, resmungando consigo mesma. Virou à esquerda na direcção dos jardins, mas fez um desvio na minha direcção. Gemia, com a voz a elevar-se e a baixar como uma gaivota, chorando e soluçando. Era óbvio que queria que o estrangeiro ouvisse aquele protesto extremamente sombrio. Depois entrou no jardim das rosas. Preocupámo-nos? Nesse mesmo momento, funcionários da Union Oil Co. do California Asian Oil Pipeline Project (UNOCAL) estavam a negociar com os talibãs a garantia dos direitos dum gasoduto para trazer gás do Turquemenistão para o Paquistão através do Afeganistão. Em Setembro de 1996, o departamento de Estado americano anunciou que iria encetar relações diplomáticas com os talibãs, mas anulou a declaração mais tarde. Entre os empregados da UNOCAL encontrava-se Zalmay Khalilzad, que cinco anos depois haveria de ser nomeado enviado especial do presidente George W. Bush ao Afeganistão «libertado», e um líder pashtun chamado Hamid Karzai. Não admira que os Afegãos tenham adoptado uma atitude de desconfiança em relação aos Estados Unidos. Os aliados da América de início apoiaram bin Laden contra os Russos. Depois os Estados Unidos transformaram bin Laden no seu inimigo público número um, posição que era difícil de manter na roda da fortuna do Pentágono, pois estavam constantemente a ser descobertos novos monstros por Washington, muitas vezes na proporção inversa da sua habilidade em capturá-los. Mas por quanto tempo? Poderia bin Laden, um árabe cujos objectivos políticos eram infinitamente mais ambiciosos do que os dos talibãs, manter sem perigar o seu exílio ao lado de homens que queriam apenas reprimir o seu próprio povo? Iriam os talibãs proteger bin Laden com maior coragem do que a fracassada República Islâmica do Sudão? Na encosta da montanha, a máquina continuou a sua busca da máquina. Havia agora no céu uma lua fria e, quando a neblina não ocultava a sua luz, eu podia ver os lábios apertados do homem alto e as suas faces cavadas sob os óculos de sol. Na encosta gelada da montanha, abriu o saco de tiracolo que trago sempre comigo em países sem grandes comodidades e passou os dedos pelo meu passaporte, cartões de imprensa, blocos de notas e maço de jornais velhos libaneses e do Golfo. Retirou da bolsa a minha máquina fotográfica 55 A Grande Guerra pela Civilização Nikon. Abriu com um piparote a parte de trás, verificou o mecanismo de disparo, ajoelhou-se nas pedras ao lado da bolsa da câmara fotográfica e abriu todos os invólucros de cartão plastificado com filme. Depois, com cuidado, voltou a colocá-los a todos na bolsa, fez o fecho da câmara dar um estalido, desligou o mecanismo de disparo e devolveu-me a bolsa. Shukran, disse eu. De novo, não houve resposta. Virou-se para o motorista, acenou e o veículo subiu o caminho gelado. Estávamos então a 1500 metros de altitude. Brilharam mais luzes até que virámos numa curva depois de um enorme penedo e ali estava à nossa frente, ao luar, um pequeno vale. Havia relva, árvores, um ribeiro serpenteante e um grupo de tendas sob um penhasco. Aproximaram-se dois homens. Houve mais cumprimentos formais árabes, com a minha mão direita entre as suas. Confie em nós. Era sempre esta a intenção destas saudações. Um argelino que falava fluentemente francês e um egípcio convidaram-me para o seu pequeno vale. Lavámos as mãos no ribeiro e caminhámos pela relva dura em direcção a uma reentrância escura na borda do penhasco que ficava por cima de nós. À medida que os meus olhos se acostumavam à luz, podia divisar um vasto rectângulo ao lado da montanha, um abrigo contra raides aéreos com 6 metros de altura, cavado na rocha pelos homens de bin Laden durante a guerra contra os Russos. «Era para um hospital», disse o egípcio. «Trazíamos os nossos mujahedines feridos para aqui e ficavam livres dos aviões russos. Ninguém conseguia bombardear-nos. Estávamos seguros.» Entrei nesta caverna feita pelo homem, com o argelino a segurar numa tocha, até poder ouvir os estalidos dos meus próprios passos a ecoar suavemente das profundezas do túnel. Quando saímos, a lua estava quase deslumbrante no vale banhado pela sua luz branca. Era outro pequeno paraíso de árvores, água e picos de montanhas. A tenda para onde fui conduzido era militar, um encerado de cor caqui escorado com espias de ferro, uma cortina como entrada e um conjunto de colchões manchados no chão. Havia chá numa grande cafeteira de aço. Sentei-me com o egípcio e o argelino e três outros homens que entraram na tenda com Kalashnikovs. Esperámos talvez durante meia hora, com o argelino a admitir paulatinamente, a perguntas minhas, que era membro da «resistência islâmica» ao regime militar argelino. Falei das minhas próprias visitas à Argélia, da capacidade dos islamitas em combater nas montanhas e no bled – no campo – contra as tropas governamentais, à semelhança do que a FLN argelina fizera contra o exército francês na guerra de independência de 1954-1962. O argelino gostou da comparação – que era o que eu pretendia – e eu não referi a minha suspeita de que ele pertencia ao Grupo Islâmico Armado, o GIA, que era acusado pelo governo de massacres de gargantas cortadas e desmembramentos que mancharam os últimos quatro anos da história da Argélia. Fora da tenda ouviu-se um súbito rumor de vozes, breve e urgente como o som dum filme antigo. Depois a cortina subiu e bin Laden entrou, com um turbante e uma túnica verde. Levantei-me, semicurvado devido ao tecto, e apertámos as mãos, obrigados ambos pelo oleado que tocava as nossas cabeças a saudarmo-nos como se fôssemos paxás otomanos, inclinados para a frente e olhando-nos no rosto. Também desta vez parecia cansado e notei um pequeno coxear quando entrou na tenda. A sua barba estava mais 56 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… cinzenta e as suas faces mais magras do que me recordava. No entanto, era todo sorrisos, quase jovial, colocando a espingarda que trouxera para a tenda no colchão à sua esquerda, insistindo em mais chá para o seu convidado. Durante vários segundos olhou para o chão. Depois encarou-me com um sorriso ainda maior, benevolente e, pensei de imediato, muito perturbador. «Sr. Robert», começou ele, olhando à volta para os outros homens, que se tinham apinhado na tenda com coletes de combate e chapéus castanhos macios. «Sr. Robert, um dos nossos irmãos teve um sonho. Sonhou que haveria de vir um dia até nós montado num cavalo, que tinha barba e que era uma pessoa espiritual. Vestia uma túnica como nós. Isso significa que o senhor é um verdadeiro muçulmano.» Isto era aterrorizador. Foi um dos momentos mais pavorosos da minha vida. Compreendi o significado de cada uma das suas palavras imediatamente antes de cada uma delas ser proferida. Sonho. Cavalo. Barba. Espiritual. Túnica. Muçulmano. Todos os outros homens acenaram que sim e olhavam para mim, alguns sorrindo, outros olhando silenciosamente para o inglês que aparecera no sonho do «irmão». Eu estava siderado. Era simultaneamente uma armadilha e um convite e o momento mais perigoso para estar entre os homens mais perigosos do mundo. Não podia dizer que não houvera «sonho» sob pena de sugerir que bin Laden estava a mentir. No entanto, não podia aceitar o seu significado sem eu próprio estar a mentir, sem estar a sugerir que o que claramente se esperava de mim – aceitar este «sonho» como uma profecia e uma instrução divina – deveria cumprir-se. Uma coisa era este homem e estes homens confiarem que eu, um estrangeiro, vinha ter com eles sem ideias preconcebidas, ou seja, considerarem-me honesto, todavia, imaginar que me iria juntar a eles na sua luta, que me tornaria um deles, estava completamente fora de hipótese. A assembleia das bruxas aguardava uma resposta. Estaria eu a imaginar coisas? Seria isto apenas uma forma complicada e retórica de expressar respeito pelo visitante, tal como é da tradição? Não seria a mera tentativa de um muçulmano – muitos ocidentais passaram por esta experiência no Médio Oriente – ganhar um novo adepto da sua fé? Estaria bin Laden, – sejamos francos – a tentar realmente recrutar-me? Receei que estivesse. Então compreendi de imediato o que poderia significar. Um ocidental, um homem branco vindo da Inglaterra, jornalista de um jornal respeitável – não um britânico de origem árabe ou asiática convertido ao Islão – seria, de facto, uma óptima aquisição. Estaria acima de qualquer suspeita, poderia tornar-se funcionário governamental, alistar-se no exército e até – como pensaria apenas quatro anos mais tarde – aprender a pilotar um avião comercial. Tinha de sair rapidamente desta situação. Tentava encontrar uma saída de emergência intelectual, pensando nela com tal intensidade que a minha cabeça ardia. «Xeque Osama», comecei eu, ainda antes de ter decidido o que iria dizer a seguir. «Xeque Osama, eu não sou um muçulmano.» Havia silêncio na tenda. «Sou um jornalista.» Ninguém poderia dizer o contrário. «Ora, a missão dum jornalista é dizer a verdade.» Ninguém iria querer discutir isso. «E isso é o que eu quero fazer na vida: contar a verdade.» Bin Laden olhava para mim como um falcão. Compreendeu. Eu estava a recusar a oferta. Em frente dos seus homens competia agora a ele bater em retirada, encontrar uma saída 57 A Grande Guerra pela Civilização airosa. «Se contar a verdade, isso significa que é um bom muçulmano», disse ele. Os homens na tenda, com os seus coletes de combate e as suas barbas, acenaram todos com a cabeça perante esta demonstração de sagacidade. Bin Laden sorriu. Eu estava a salvo. Como se costuma dizer, «respirei de novo». Não haveria negócio. Talvez tivesse sido por necessidade de dar por concluído este episódio, para disfarçar o seu embaraço por este pequeno fracasso, que bin Laden descortinou súbita e melodramaticamente a mochila escolar ao lado da minha máquina fotográfica e os jornais libaneses parcialmente visíveis no seu interior. Pegou neles. Tinha de os ler de imediato. Por isso, em frente de todos nós, deslocou-se desajeitadamente na tenda com os papéis na mão para o canto onde estava pendurado o candeeiro a petróleo e aí, durante meia hora, ignorando-nos quase todos, leu a imprensa árabe, por vezes ordenando ao egípcio para ler um artigo, outras vezes mostrando o jornal a algum dos outros homens armados que estavam na tenda. Era este, realmente, interrogava-me eu, o centro do «terror mundial»? Ao ouvir o porta-voz do departamento de Estado americano, lendo os editoriais do The New York Times ou do The Washington Post, podia-me ser perdoado acreditar que bin Laden dirigia a sua «rede de terror» a partir dum bunker ultramoderno, cheio de computadores e planos de batalha digitalizados, premindo um interruptor, dando ordens aos seus seguidores para atacarem outro alvo ocidental. No entanto, este homem parecia divorciado do mundo. Não tinha rádio? Nem uma televisão? Porquê? Aliás, nem sequer sabia, como me disse depois de ler os jornais, que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ali Akbar Velayati, visitara a Arábia Saudita, o seu próprio país, pela primeira vez em mais de três anos. Quando regressou ao seu lugar no canto da tenda, bin Laden foi profissional. Ameaçou os Americanos com um novo ataque às suas forças na Arábia Saudita. «Estamos ainda no começo da nossa acção militar contra eles», afirmou. «Mas afastámos o obstáculo psicológico a lutar contra os Americanos […] É a primeira vez em 1400 anos que os dois santuários sagrados são ocupados por forças não islâmicas […]» Insistiu que os Americanos estavam no Golfo por causa do petróleo e começou a falar da história contemporânea da região para o provar. «Brejnev queria chegar ao estreito de Ormuz através do Afeganistão por esta mesma razão. Mas por graça de Alá e da jihad, não só foi derrotado no Afeganistão, mas acabou aqui. Andámos com as nossas armas ao ombro durante 10 anos e nós e os filhos do mundo islâmico estamos preparados para usar armas até ao fim dos nossos dias. Mas apesar disto, o petróleo não é o motivo imediato para os Americanos ocuparem a região: já obtinham petróleo a bom preço antes de a terem invadido. Há outras razões, em primeiro lugar, a aliança americano-sionista, que está cheia de medo com o poder do Islão e da terra de Meca e Medina. Receia que o renascimento islâmico afunde Israel. Estamos convencidos de que liquidaremos os judeus na Palestina. Estamos convencidos de que, com a ajuda de Alá, venceremos as forças americanas. É apenas uma questão de números e de tempo, porque é falso quando dizem estar a proteger a Arábia em relação ao Iraque. A questão de Saddam é apenas um estratagema.» Havia algo de novo que parecia não se ajustar. Condenar Israel era da praxe para qualquer árabe nacionalista, para não falar de um homem que acreditava que julgava fazer 58 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… parte de uma jihad islâmica. Mas bin Laden estava agora a juntar a América e Israel num só país: «Para nós», disse ele mais tarde, «não existe diferença entre os governos americanos e israelita, nem entre os soldados americanos e israelitas», falando de judeus, e não de soldados israelitas, como seus alvos. Quanto tempo faltaria até que todos os ocidentais, todos os que pertenciam às «nações dos Cruzados», fossem acrescentados à lista? Não reivindicou as bombas em Riade e de al-Khobar, mas elogiou os quatro homens que foram acusados de levar a efeito as explosões, com dois dos quais admitiu ter-se reunido. «Vi os que fizeram explodir estas bombas com grande respeito», afirmou. «Considero que é um grande acto e uma honra imensa em que perdi a oportunidade de participar.» Mas bin Laden estava também ansioso por mostrar o apoio à sua causa que dizia estar então a crescer no Paquistão. Apresentou recortes de jornais com sermões de religiosos paquistaneses que condenavam a presença da América na Arábia Saudita e depois entregou-me duas grandes fotografias a cores de graffiti pintados nas paredes de Carachi. Pintado a vermelho, um deles dizia: «Forças americanas, saiam do Golfo – Os Ulemás Militantes Unidos.» Outro, pintado a castanho, anunciava que «a América é o maior inimigo do mundo muçulmano.» Um grande cartaz que bin Laden me entregou parecia ser feito pela mesma mão e continha sentimentos antiamericanos semelhantes expressos por mawlawi (académicos religiosos) na cidade paquistanesa de Lahore. Quanto aos talibãs e ao seu novo regime opressivo, bin Laden não tinha outro remédio senão ser pragmático. «Todos os países islâmicos são o meu país», disse ele. «Acreditamos que os talibãs são sinceros nas suas tentativas de vigiar o cumprimento da lei islâmica, da chariá. Vimos a situação antes deles chegarem e depois, tendo notado uma grande diferença e uma melhoria óbvia.» No entanto, quando voltou à sua luta mais importante, contra os Estados Unidos, bin Laden parecia possuído. Quando falou dela, os seus seguidores que estavam na tenda ficaram presos de cada uma das suas palavras como se ele fosse o Messias. Segundo afirmou, enviara faxes ao rei Fahd e a todos os principais departamentos do governo saudita, informando-os da sua determinação de continuar a luta santa contra os Estados Unidos. Disse mesmo que alguns membros da família real saudita o apoiaram, bem como funcionários dos serviços de segurança, afirmação cuja veracidade vim mais tarde a confirmar. Todavia, declarar uma guerra por meio de fax era uma inovação. Na verdade, a perspectiva de bin Laden sobre a política americana era excêntrica. A certa altura, sugeriu com toda a seriedade que o aumento dos impostos na América levaria muitos estados a separar-se da União, uma ideia que poderia ser apelativa para muitos governadores estaduais, mesmo se fosse difícil levá-la à prática. No entanto, tudo isto era um mero parêntesis em relação a uma ameaça muito mais grave. «Pensamos que a nossa luta contra a América será muito mais simples do que contra a União Soviética», disse bin Laden. «Vou dizer-vos algo pela primeira vez. Alguns dos nossos mujahedines que combateram no Afeganistão participaram em operações contra os Americanos na Somália e ficaram surpreendidos com o colapso do moral dos militares americanos. Pensamos que a América é um tigre de papel.» Este foi um erro estratégico de alguma monta. A retirada americana da sua missão para reconstituir o Estado na Somália, 59 A Grande Guerra pela Civilização com Clinton na presidência, não iria repetir-se se um presidente republicano assumisse o poder, sobretudo se os Estados Unidos fossem atacados. É verdade que, ao longo dos anos, a mesma perda de determinação iria ter repercussões na política militar americana – o Iraque trataria disso –, mas Washington, independentemente do que bin Laden pudesse pensar, iria ser um adversário bastante mais difícil do que Moscovo. No entanto, ele insistiu. Hei-de recordar sempre as últimas palavras que bin Laden me dirigiu nessa noite em plena montanha: «Sr. Robert», disse ele, «a partir desta montanha onde está sentado, vencemos o exército soviético e destruímos a União Soviética. Rezo a Deus que nos permita transformar os Estados Unidos numa sombra de si mesmos.» Sentei-me em silêncio, pensando nestas palavras enquanto bin Laden falava com os seus guardas sobre a minha viagem de regresso a Jalalabad. Preocupava-se que os talibãs – apesar da sua «sinceridade» – pudessem colocar obstáculos ao seu envio dum estrangeiro através dos seus postos de controlo, depois do cair da noite, e por isso fui convidado a pernoitar no campo de montanha de bin Laden. Fui autorizado a tirar-lhe apenas três fotografias, desta vez à luz do Toyota, que foi trazido até à tenda, ficando com os faróis a brilhar através do oleado para iluminar o rosto de bin Laden. Sentou-se em frente de mim, sem expressão, como uma figura de pedra, e nas fotografias que revelei em Beirute três dias mais tarde parecia um fantasma violáceo e amarelo. Despediu-se sem muita cerimónia, com um breve aperto de mão e um aceno de cabeça, e desapareceu da tenda. Permaneci deitado no colchão com o casaco por cima para me manter quente. Os homens com as suas espingardas pousadas em seu redor também ali dormiram, enquanto outros, armados de espingardas e lança-rockets, patrulhavam as cumeadas à volta do campo. Nos anos que se seguiriam perguntar-me-ia quem seriam eles. Estaria o egípcio Mohamed Atta entre os jovens da tenda? E Abdul Aziz Alomari? Ou qualquer outro daqueles 19 homens cujos nomes todos iríamos conhecer quatro anos depois? Não me posso recordar agora dos seus rostos, pois muitos deles estavam embrulhados nos seus lenços. O cansaço extremo e o frio mantiveram-me acordado. «Uma sombra de si próprio» era a frase que não deixava de me ocorrer repetidamente. O que nos reservariam bin Laden e aqueles homens dedicados e impiedosos? Recordo-me das horas seguintes como dum filme de imagens paradas: acordei tão cheio de frio que havia gelo no meu cabelo, deslizei pelo caminho de montanha abaixo no Toyota com um dos argelinos armados atrás a contar-me que se estivéssemos na Argélia me cortaria a garganta, mas que obedecia às ordens de bin Laden para me proteger e, portanto, que daria a sua vida por mim. Os três homens na retaguarda e o meu motorista pararam o jipe na estrada destruída que ligava Cabul a Jalalabad para dizerem as suas orações da madrugada (fajr). Na margem do amplo estuário do rio Cabul, estenderam os seus tapetes e ajoelharam-se quando o sol surgiu por cima das montanhas. Ao longe, na direcção nordeste, podia ver os cimos do Hindu Kush com um brilho branco pálido sob um céu azul igualmente pálido, tocando a fronteira da China, que se encostava aos destroços de uma terra que teria ainda de suportar mais sofrimento nos anos seguintes. Montes, e rochas, e água, e velhas árvores, e montanhas antigas, era este o mundo antes do tempo do homem. 60 Um dos Nossos Irmãos Teve um Sonho… Recordo, aliás, o regresso a Jalalabad com os homens de bin Laden, depois de passar pelo quartel onde os talibãs guardavam as suas armas capturadas, e, apenas uns minutos mais tarde, ouvir o armazém explodir – com granadas, rockets antitanque, mísseis Stinger, explosivos e minas –, provocando um terremoto que abalou as árvores da estrada à porta do Hotel Spinghar e fez chover sobre nós pequenos fragmentos de metal e páginas esfarrapadas de manuais americanos para instruir os «utilizadores» sobre como dirigir os mísseis para os aviões. Mais de 90 civis foram despedaçados pela explosão acidental – teria um talibã atirado uma beata, um objecto de prazer único e solitário, para as munições? – e depois o argelino chegou ao pé de mim em lágrimas, dizendo-me que o seu melhor amigo tinha morrido na explosão. Os homens de bin Laden, como tive a oportunidade de ver, também podem chorar. Contudo, o que mais recordo foram os primeiros minutos após a nossa partida do campo de bin Laden. Estava ainda escuro quando avistei uma grande luz nas montanhas que se situavam a norte. Pensei por um momento que fossem as luzes doutro veículo, outro sinal de segurança do campo dos guardas dirigido ao nosso Toyota que partia. Mas continuou por muitos minutos e comecei a perceber que estava a arder sobre as montanhas e deixava atrás de si um rasto de incandescência fantástico. Os homens que iam no veículo também o estavam a observar. «É o cometa Haley», disse um deles. Não era. Era um cometa recém-descoberto, observado pela primeira vez apenas há dois anos pelos americanos Alan Hale e Tom Bopp, mas via agora que o Hale-Bopp se transformara em Haley para estes árabes nas montanhas do Afeganistão. Estava agora a subir acima de nós, arrastando uma cauda dourada, um poder sublime a voar a 70 000 quilómetros por hora através dos céus. Por isso, parámos o Toyota e subimos para observar a bola de fogo que resplandecia enquanto atravessava a escuridão que se mantinha por cima de nós, espantados, os homens da al-Qaeda e o inglês, com esta manifestação extraordinária de energia cósmica, que não era vista há mais de 4000 anos. «Sr. Robert, sabe o que se diz quando um cometa como este é avistado?» Era o argelino, que estava agora junto a mim. Ficámos ambos a esticar os pescoços para o céu. «Significa que vai haver uma grande guerra.» E assim ficámos a observar a grande chama ardente que atravessava o espectáculo grandioso das estrelas e iluminava o firmamento acima de nós. 61 A Grande Guerra pela Civilização II «Eles Disparam sobre os Russos» Quando estás ferido e és abandonado nas planícies afegãs, E as mulheres surgem para despedaçar o que ficou, Rebola até à espingarda, e rebenta com os miolos E vai para o teu Deus como um soldado. Rudyard Kipling, «The Young British Soldier» Menos de seis meses antes do início da I Guerra Mundial, a minha avó Margaret Fisk deu ao meu pai, William, um livro de 360 páginas de aventuras imperiais intitulado Tom Graham, V. C., A Tale of the Afghan War. «Oferecido ao Willie pela sua mãe» é a dedicatória escrita a lápis grosso no verso da capa. «Datado de Sáb. 24 de Janeiro de 1914, para outra». «Willie» deveria ter quase 15 anos. Só após a morte do meu pai, em 1992, herdei este livro, com uma bela encadernação gravada e bordada com a condecoração britânica Victoria Cross – «Por Valor» diz a medalha – e, na lombada, um soldado de casaca vermelha, capacete alto colonial e uma espingarda nas mãos. Nunca encontrei o significado da referência enigmática «para outra». No entanto, anos mais tarde, li o livro. Uma aventura de William Johnston, publicada em 1900 por Thomas Nelson and Sons, conta a história do filho do dono duma mina que cresce no porto de Seaton, no Norte de Inglaterra, que, obrigado a deixar a escola e a tornar-se aprendiz de empregado de balcão, devido ao súbito empobrecimento do pai, se alista no exército britânico sem ainda ter idade para tal. Tom Graham é colocado numa unidade britânica em Buttevant, no condado de Cork, no Sudoeste da Irlanda, – chega até a beijar a Pedra de Blarney, apropriando-se dos supostos poderes de eloquência persuasora que essa rocha abençoada contém – e depois viaja até à Índia, para a II Guerra Afegã, onde é referido no jornal oficial como segundo tenente dum regimento das Highlands. De pé junto ao túmulo do pai, na igreja local, antes de partir para se juntar ao exército, Tom jura que irá ter uma vida «pura, limpa e honrada». A história é típica da geração do meu pai, uma história tumultuosa e racista de heroísmo britânico e selvajaria muçulmana. Todavia, ao lê-lo surpreenderam-me alguns paralelismos notáveis. O meu próprio pai, Bill Fisk – o «Willie» da dedicatória de há quase 62 Safid Kur IRÃO Farah Spinboldak Kandahar arya Peshawar Desfiladeiro Khyber N Harper Collins Great War For Civilisations Map 1. Afghanistan Artist: EH, Hardlines 500 quilómetros P A Q U I S T à O PA K T I A Kila Abdullah Ghazni Charikar Sarobi Jalalabad Gargant a de C abul Landi Kotal Montanhas Tora Bora Qarabagh Bagram Cabul Chaman Quetta s h K u d u i n Salang H Kunduz uD Saiydabad Am A F E G A N I S T à O Herat Rio Mazar-e-Sharif TURQUEMENISTÃO do In A Grande Guerra pela Civilização um século –, teve também de abandonar a escola num porto do Norte de Inglaterra, porque o pai, Edward, já não podia lá mantê-lo. Também ele se tornou aprendiz de empregado de balcão, em Birkhenhead. Nas poucas notas que escreveu antes de morrer, Bill recordou que tentara entrar para o exército britânico antes de ter idade para isso. A 15 de Agosto de 1914, viajou até ao quartel de Fullwood, em Preston, para se juntar à Real Artilharia de Campanha, onze dias após o início da I Guerra Mundial e quase exactamente seis meses depois da sua mãe, Margaret, lhe ter oferecido o Tom Graham. Sendo incorporado dois anos depois, Bill Fisk foi enviado para um batalhão do Regimento Ceshire, em Cork, na Irlanda, não muito tempo após o Levantamento da Páscoa de 1916. Tenho até nos meus arquivos uma fotografia descolorida do meu pai a beijar a Pedra de Blarney. Dois anos mais tarde, em França, o meu pai era referido no jornal oficial como segundo tenente no Regimento de Liverpool. Estaria ele a seguir conscientemente a vida dum Tom Graham ficcional? O resto do romance é uma história inquietante de preconceitos contra a cor da pele, xenofobia e ódio primário contra os muçulmanos durante a II Guerra Afegã. Na segunda metade do século XIX, a rivalidade e a desconfiança anglo-russas centraram-se naturalmente no Afeganistão, cujas fronteiras não estabelecidas se tornaram linhas indistintas entre a Rússia imperial e o domínio britânico da Índia. As principais vítimas do «Grande Jogo», como se referiam, de forma pouco apropriada, os diplomatas britânicos aos sucessivos conflitos no Afeganistão – de facto, havia algo de tipicamente infantil nos ciúmes existentes entre a Rússia e a Grã-Bretanha –, foram, é claro, os Afegãos. O seu conjunto de desertos, montanhas altíssimas e vales verdes sombrios fora durante séculos, por um lado, um ponto de encontro de culturas entre o Médio Oriente, a Ásia Central e o Extremo Oriente e, por outro, um campo de batalha ¶. A decisão do rei afegão Shir Ali Khan, o terceiro filho do primeiro rei do Afeganistão, Dost Mohamed, de receber uma missão russa em Cabul, após a sua reconquista do poder em 1868, conduziu directamente ao que os Britânicos chamariam a II Guerra Afegã. A I Guerra Afegã provocara a aniquilação do exército britânico na garganta de Cabul, em 1842, na mesma fenda escura por onde passei de carrinha, à noite, aquando da minha visita a Osama bin Laden, em 1997. Pelo tratado de Gandamak, em 1879, Yaqub Kahn, filho de Shir Ali, concordou que se ¶ Alexandre, o Grande, esmagou as tribos afegãs no seu caminho para Índia e o território foi subsequentemente governada pelos Cuxanos, os Persas sassânidas, os Heftalitas e depois pelos exércitos islâmicos, cujas conquistas e ocupações iniciais depararam com feroz resistência da tribos hindus. Gengis Khan invadiu-o em 1219 e ficou tão furioso com a morte do seu neto às portas da cidade cercada de Bamiyan – onde se podiam ver claramente dois budas gigantes com 600 anos, esculpidos nas encostas por cima do vale – que ordenou ao seu exército mongol que executasse todos os homens, mulheres e crianças. Outros impérios alargaram o seu território para o que é hoje o Afeganistão. Até ao final do século XIV, Timur-i-leng – Timur, o Coxo, o Tamerlão da peça sangrenta de Christopher Marlowe – conquistou grande parte do seu território. Aos Timúridas sucederam os Mogóis da Índia e os Sefávidas da Pérsia. As tribos afegãs revoltavam-se periodicamente, mas os contornos gerais de um país que pudesse ser identificado com o Afeganistão só surgiram em 1747, quando o líder duma pequena tribo pashtun, Ahmad Shah Durrani, formou uma confederação, que posteriormente invadiu o Norte da Índia. Foi apenas sob o governo de Dost Mohamed, na década de 1830, que o Afeganistão assumiu a configuração duma nação politicamente una. 64 «Eles Disparam sobre os Russos» instalasse permanentemente uma embaixada britânica em Cabul, mas passados quatro meses o enviado britânico e o seu pessoal foram assassinados no recinto que agrega os edifícios diplomáticos. O exército britânico foi mandado regressar ao Afeganistão. No romance de Bill Fisk, Tom Graham vai com eles. No bazar de Peshawar, que agora pertence ao Paquistão, mas que na altura fazia parte da Índia, Graham encontra elementos das tribos pashtuns, «um bando de malfeitores […] a maioria dos fanáticos usava um barrete justo ao crânio que confere um aspecto diabólico a quem o usa.» Passados alguns dias, Graham está a lutar com os mesmos elementos tribais em Peiwar Kotal, espetando «por completo» a sua baioneta no peito dum afegão, «um gigante trigueiro, com os olhos a brilhar de ódio». No vale Kurrum, Graham e os seus «companheiros» – uma palavra que o meu pai usava para se referir aos seus camaradas da I Guerra Mundial – rechaçam «elementos tribais furiosos, ébrios com a luxúria da pilhagem». Quando o general Sir Frederick Roberts – mais tarde Lord Roberts de Kandahar – concorda em encontrar-se com um chefe tribal local, o homem apresenta-se com «um bando de patifes com uma aparência tão selvagem quanto se possa imaginar.» A seguir, o autor comenta que onde quer que as tropas britânicas caíam nas mãos dos Afegãos «os seus corpos eram terrivelmente mutilados e desonrados por estes diabos em forma de gente». Quando o chefe dos Afegãos considerado responsável pelo assassinato do enviado britânico é trazido para ser executado, «um grito de satisfação» ecoa pelas fileiras dos camaradas de Graham quando o condenado enfrenta a forca. Os Afegãos são, pois, «um bando de malfeitores», «fanáticos», «diabos em forma de gente», carne para as baionetas britânicas, ou «espetos de grelha», como a narrativa divertidamente lhes chama. Mas há pior. Um oficial britânico de artilharia ordena aos seus homens que disparem à queima-roupa sobre elementos das tribos afegãos amontoados, com as palavras «isto vai afastar as moscas». O texto torna-se não apenas racista, mas anti-islâmico. «Os rapazes leitores», pontifica o autor, «podem não saber que o único objectivo de todos os Afegãos envolvidos na guerra de 1878-1880 era fazerem em pedaços qualquer herético com que deparassem. Quanto mais pedaços pudessem cortar ao infortunado britânico tanto maior seria a sua felicidade no Paraíso.» Após Tom Graham ser ferido em Cabul, os Afegãos – nas palavras do seu médico do exército, nascido na Irlanda – tornaram-se «canalhas assassinos, aqueles pretos». Quando os Britânicos são derrotados na batalha de Mainwand, no deserto cinzento a oeste de Kandahar, um oficial ordena aos seus homens para «terem as baionetas prontas e esperarem pelos negros». Não há qualquer referência no livro à jovem afegã Malalei que, vendo os Afegãos a retirar momentaneamente, retirou o véu da cabeça e liderou a carga contra os seus inimigos, sendo ceifada pelas balas britânicas. Esse episódio faz parte, é claro, da história afegã, não da britânica. Quando finalmente os Britânicos proclamam vitória em Kandahar, Tom Graham é condecorado com a Victoria Cross. De «canalhas» a «moscas» e a «pretos» em cem páginas, não custa ver como foi fácil ao mundo do meu pai, de britânicos «puros, limpos e honrados», considerar os seus inimigos uns animais. Embora haja algumas referências à «audácia» dos afegãos das tribos – e apenas uma à sua «coragem» −, não é feita qualquer tentativa para explicar as suas acções. 65 A Grande Guerra pela Civilização São maus, estão cheios de ódio, ansiosos por provar a sua fé muçulmana, «cortando em pedaços o infeliz britânico». A ideia de que os Afegãos não queriam que os estrangeiros invadissem e ocupassem o seu país simplesmente não aparece na história. Se os relatos britânicos oficiais sobre o Afeganistão não são tão preconceituosos, mantêm, contudo, o ponto de vista simplista e de supremacia sobre os Afegãos que Johnston utilizou com tão grande efeito no seu romance. Um relato da vida em Cabul, entre 1836 e 1838, pelo tenente Sir Alexander Burnes, da Companhia da Índia Oriental, publicado um ano antes do massacre do exército britânico, em 1842, apresenta um retrato sensível da generosidade dos chefes tribais e demonstra um interesse genuíno pelos costumes e vida social afegãos. No entanto, no final do século, o Imperial Gazetteer of India oficial prefere descrever os animais do Afeganistão antes de falar das suas gentes, que são «simpáticas e atléticas […] estão habituadas desde a infância ao derramamento de sangue […] traiçoeiras e exaltadas na vingança […] ignorantes de tudo o que se relaciona com a sua religião para além das mais elementares doutrinas […]». Entre os jovens britânicos que acompanharam o exército a Cabul, em 1879, estava um funcionário público de 29 anos de idade chamado Henry Mortimer Durand – um verdadeiro britânico desta vez –, que fora nomeado secretário político do general Roberts. Foi com horror que leu a proclamação do general ao povo de Cabul, que dizia que o assassinato dos diplomatas da missão britânica fora «um crime traiçoeiro e cobarde, que trouxe consigo uma desgraça insanável ao povo afegão». Os seguidores de Yaqub Khan, dizia o general Roberts, não escapariam e a sua «punição seria tal que ficaria como uma marca e seria recordada […] todas as pessoas condenadas por terem participado nos [assassinatos] seriam tratadas conforme merecem». Viria a ser uma versão vitoriana antiga do aviso que um presidente americano faria aos Afegãos 122 anos mais tarde. Durand, um homem humano e inteligente, confrontou Roberts com a sua declaração. «Parece-me tão profundamente errada no tom e no assunto que fiz tudo o que pude para a destruir […] a linguagem empolada e a absurda afectação de pregar moral histórica aos Afegãos, com quem todos os nossos problemas resultam da nossa abominável injustiça, tornam o documento, no meu entendimento, muitíssimo perigoso para a reputação do general.» (1) Roberts melhorou o texto, mas não satisfez inteiramente Durand. Pensou que era apenas «um pouco menos objectável». No entanto, Durand enviou uma carta à irmã do seu biógrafo (2), Ella Sykes, que forneceu provas repugnantes de que Tom Graham continha descrições demasiado reais da crueldade afegã. «No decurso da acção no vale Chardeh, em 12 de Dezembro de 1879», escreveu ele quase 16 anos após o acontecimento, «dois esquadrões do 9.º de Lanceiros receberam ordem para atacar uma grande força de Afegãos, na esperança de salvar os nossos canhões. A carga falhou e alguns dos nossos mortos foram depois encontrados terrivelmente mutilados pelas facas afegãs […] Vi tudo […]». Mas Durand também estava bem ciente de que os Afegãos não eram os «diabos em figura de gente» da imaginação popular. Em 1893, descreve o comandante do exército afegão, Ghulam Hyder, como um homem cheio de curiosidade e generoso (3). 66 «Eles Disparam sobre os Russos» Falámos hoje do tamanho de Londres e de como a comida lhe é fornecida […] sobre preconceitos religiosos, o ódio entre sunitas e xiitas, a Reforma e a Inquisição, as histórias muçalmanas e cristãs sobre a vida e morte de Cristo, a Invencível Armada, Napoleão e as suas guerras, sobre as quais Ghulam Hyder sabia muito, os hábitos dos Somalis, a caça aos tigres […] Durand fora enviado para negociar com o rei afegão Abdur Rahman, primo de Shir Ali, acerca da fronteira sul do seu país, para se obter um acordo fronteiriço entre a Índia britânica e o Afeganistão. O irmão de Durand, Edward, já tinha ajudado a delinear a fronteira norte do país com a Rússia – altura em que os Russos enviaram uma força de cossacos para atacar tropas afegãs no rio Kushk – e Mortimer Durand encontrou um rei fortemente adverso ao seu vizinho do norte. Segundo as notas de Durand, Abdur Rahman disse que a menos que me transformeis em inimigo (4), serei vosso amigo para toda a vida. Porquê? Os Russos pretendem atacar a Índia. Vocês não querem atacar o Turquemenistão russo. Por isso, os Russos querem atravessar o meu país e vocês não. As pessoas dizem que eu deveria juntar-me a eles e atacar-vos. Se o fizesse e eles ganhassem, sairiam eles alguma vez do meu país? Nunca. Seria seu escravo e eu odeio-os. Oitenta e seis anos depois, os Russos haveriam de saber o que isto significava. Vi-os pela primeira vez, a estes Russos, de pé ao lado dos seus tanques T-72, junto às pistas do aeroporto de Cabul, com casacos forrados de lã, rostos rosados e gorros cinzentos de pele com a estrela, o martelo e a foice vermelhos da União Soviética. A condensação da sua respiração permanecia de forma tão espessa no ar à frente da boca que procurei frases de banda desenhada nessas bolhas. Nos camiões estacionados ao lado da estrada, usavam os capacetes de aço que tão bem conhecíamos dos documentários da II Guerra Mundial, as tigelas de metal de cor verde com uma protecção para as orelhas, espingardas nas mãos enluvadas e os olhos estreitos a procurar perscrutadoramente os Afegãos. Fumavam muitos cigarros e depressa, que formavam um pequeno smog cinzento sobre cada um dos postos de controlo. Portanto, estes eram os descendentes dos homens de Estalinegrado e Kursk, os heróis de Rostov, Leninegrado e Berlim. Na pista do aeroporto estavam pelo menos 70 velhos T-62. A neve formava uma camada espessa sobre os tanques, como uma cobertura de açúcar sobre bolos de ferro e que seria suficiente para partir os dentes de qualquer «terrorista» afegão. Os Soviéticos invadiram o Afeganistão na véspera de Natal de 1979, mas quando cheguei, duas semanas mais tarde, as suas divisões blindadas ainda avançavam rapidamente pela lama do rio Amu Datya, o Oxus da Antiquidade, que Edward, o irmão de Durand, fixara com os Russos como fronteira norte desta terra coberta de gelo. Exceptuando algumas 67 A Grande Guerra pela Civilização cidades isoladas, o exército soviético parecia ter esmagado toda a resistência. Ao longo das estradas para sul e leste de Cabul, os acampamentos militares russos, protegidos por dezenas de tanques e artilharia pesada, controlavam as artérias entre as províncias rebeldes do Sudeste do Afeganistão. Uma «intervenção», eis como Leónidas Brejnev chamou à sua invasão, um auxílio pacífico ao governo socialista popular do recém-instalado presidente afegão Babrak Karmal. «Em toda a minha vida, nunca vi tantos tanques», disse o meu velho colega sueco da rádio Lars Gunnar Erlandsen, do Cairo, quando nos encontrámos. Lars Gunnar era um sueco grave, com uma cabeleira espessa loira a encimar uns olhos azuis penetrantes e uns óculos enormes. «E nunca mais na minha vida desejo encontrar outra vez tantos tanques», disse ele. «Suplanta tudo o que possamos imaginar.» Estavam agora cinco divisões soviéticas completas no Afeganistão. A 105.ª Divisão Aerotransportada, baseada em Cabul, o 66.º de Infantaria Motorizada, em Herat, o 357.º de Infantaria Motorizada, em Kandahar, o 16.º de Infantaria Motorizada, nas três províncias do Norte de Badakhshan, Takhar e Samangan, e a 306.ª Divisão Motorizada, em Cabul, com os pára-quedistas soviéticos. Já se encontravam 60 000 militares soviéticos no país, grande número deles a cavar trincheiras abertas ao lado das principais estradas. Era uma invasão em grande escala, uma demonstração da determinação militar de uma superpotência, com o esclerosado Brejnev a exibir então pela última vez a sua velha moldura impotente − comissário político do Exército Vermelho na frente ucraniana, em 1943. Morreria três anos mais tarde. No entanto, a última aventura imperial da Rússia estava possuída de toda aquela fúria tremenda das guerras britânicas no Afeganistão. Só na semana anterior, aviões soviéticos de transporte Antonov-22 tinham efectuado 4000 voos para a capital. A cada três minutos, esquadrões de Mig-25 descolavam das pistas geladas do aeroporto de Cabul e viravam à luz branca do sol em direcção às montanhas do Leste, a que se seguiria uma série de explosões maciças para além do horizonte, como se fossem portas de prisão a bater bem fundo debaixo dos nossos pés. Havia tropas soviéticas nas altas cumeadas da garganta de Cabul. Eu era correspondente no Médio Oriente do The Times, de Londres, o jornal cujo correspondente de guerra no século XIX, William Howard Russell – aluno do Trinity Colledge, de Dublin, como eu fora –, ganhara as suas esporas na guerra anglo-russa de 1854-1855 na Crimeia. Agora somos todos Tom Graham. Penso que era assim que muitos de nós sentiam aquele Inverno luminoso e gelado. Já estava exausto. Vivia em Beirute, para onde a guerra civil libanesa arrastara um exército israelita e haveria em breve de consumir outro. Apenas três semanas antes, eu deixara o Irão pós-revolucionário, onde os Estados Unidos acabavam de perder o seu «polícia do Golfo», o xá Mohamed Pahlavi, a favor do líder islâmico mais poderoso, o aiatolá Ruhollah Khomeini. Passados nove meses, eu estaria a tentar salvar a pele, debaixo do fogo das granadas do exército iraquiano de Saddam Hussein quando este invadiu a república islâmica. Os Estados Unidos América já tinham «perdido» o Irão. Agora estavam prestes a «perder» o Afeganistão, ou, pelo menos, a ver a última e triste afirmação de independência nacional por parte do país a dissolver-se no abraço do Kremlin. Ou, pelo menos, era assim que nos parecia na altura. Os Russos queriam ter um porto de águas 68 «Eles Disparam sobre os Russos» quentes, tal como o general Roberts receara em 1878. Se pudessem alcançar a costa do Golfo – Kandahar dista 650 quilómetros do golfo de Omã – então, após uma rápida incursão pelo Baluquistão iraniano ou paquistanês, as forças soviéticas ficariam a apenas 300 quilómetros da Península Arábica. Esta era, pelo menos, a doutrina estabelecida e que servira de fonte a milhares de editoriais. Os Russos vêm aí. Que a União Soviética estivesse a morrer, que o governo soviético estivesse a empreender esta expedição extraordinária tomado de pânico – receava que o colapso dum aliado comunista no Afeganistão pudesse provocar uma reacção em cadeia nas repúblicas islâmicas soviéticas – ainda não era evidente, embora passados alguns dias eu visse as provas que davam provavelmente razão ao Kremlin. Na verdade, muitos dos soldados soviéticos que chegavam ao Afeganistão vinham dessas mesmas repúblicas islâmicas da Ásia Central soviética cujas lealdades preocupavam Brejnev. Em Cabul, soldados soviéticos da região turcomana falavam com facilidade com os comandantes locais afegãos. As maçãs do rosto salientes dalguns soldados sugeriam muitas vezes que as suas unidades militares haviam sido retiradas da região da Mongólia. Em Cabul e nas aldeias que rodeavam a cidade, à luz do dia não se evidenciava hostilidade para com os invasores soviéticos. Por isso, muitas unidades russas foram deslocadas para a província, coberta de neve, que as tropas afegãs tinham abandonado para poderem proteger a capital. Todavia, durante a noite, os Soviéticos eram empurrados de volta para Cabul e relatórios não confirmados já tinham falado de dez Russos mortos em duas semanas, dois deles assassinados à paulada. Em Jalalabad, que por estrada distava 65 quilómetros da fronteira do Paquistão, explosões nocturnas que pareciam relâmpagos davam testemunho da luta contínua entre os elementos tribais do Afeganistão e as tropas soviéticas. Nos dois meses que se seguiriam, nós, os poucos jornalistas que conseguiram entrar no Afeganistão, testemunhámos o início duma tragédia terrível, uma tragédia que iria durar mais dum quarto de século e custaria pelo menos um milhão e meio de vidas inocentes, uma guerra que acabaria por alcançar e atingir no seu íntimo, não a Rússia, mas os Estados Unidos. Como o poderíamos nós ter sabido? Como poderíamos ter adivinhado que enquanto uma revolução islâmica envolvia o Irão, uma força espiritual muito mais poderosa estava aqui a ser acalentada e alimentada, no meio das neves do princípio de Janeiro de 1980? Uma vez mais, as provas estavam ali para aqueles de nós que decidissem procurá-las, que percebessem que a narrativa da história exposta pelos nossos mestres – fossem eles da orientação de Moscovo ou de Washington – era essencialmente de curto prazo, falsa e, afinal, contraditória. Talvez fôssemos demasiado ingénuos, estivéssemos demasiado mal preparados para acontecimentos desta dimensão. Quem poderia aperceber-se em tão pouco tempo das implicações desta história essencialmente imperial, a última aventura do «Grande Jogo»? A maior parte daqueles de nós que conseguira entrar no Afeganistão nesse mês de Janeiro era constituída por gente nova. Eu tinha 35 anos, a maioria dos meus colegas era mais nova e o jornalismo não só é uma ciência imprecisa, mas também fatigante e cuja prática requer quase tanta burocracia como recolha de factos. Eu passara o Natal na Irlanda e regressara a 3 de Janeiro a Beirute, que atravessava um período de guerra, para preparar a minha próxima missão de cobrir a revolução em 69 A Grande Guerra pela Civilização marcha no Irão. Todavia, não havia acontecimento que se pudesse comparar à invasão soviética do Afeganistão. Para um jornalista nada supera o momento em que uma grande história se apresenta, quando a história está realmente a ser feita e quando um editor do internacional lhe diz para ir fazer a reportagem. Recordo-me dum dia quente em Beirute quando homens armados sequestraram um avião a jacto de passageiros, da Lufthansa, que se dirigia para o Dubai. Posso lá chegar em quatro horas, disse eu para Londres. «Vá, vá, vá.» foi a resposta. Mas este era um drama duma escala infinitamente maior, um épico, se conseguíssemos lá estar para o noticiar. O exército soviético estava a entrar em massa no Afeganistão e das suas casas e escritórios em Londres, Nova Iorque, Deli e Moscovo os meus colegas estavam também a tentar lá entrar. Beirute era comparativamente perto, mas estava ainda a 3000 quilómetros a ocidente de Cabul. Aliás, foi uma experiência surrealista atravessar de carro o fogo cruzado da guerra civil em Beirute Ocidental para chegar aos escritórios da Middle East Airlines e procurar a ajuda duma companhia aérea libanesa que possuía na altura apenas 12 Boeings 707 envelhecidos e três Jumbos. Segundo as velhas regras de viagem, o Afeganistão emitia à chegada os vistos dos cidadãos britânicos. No entanto, tínhamos de trabalhar com base no pressuposto de que, sendo agora o Afeganistão um satélite da União Soviética, esses regulamentos – um vestígio dos dias em que Cabul se situava bem no centro da rota do haxixe para a Índia – teriam sido abandonados. Richard Wigg, o nosso correspondente na Índia, estava na capital do Paquistão, Islamabad, Michael Binyon estava em Moscovo. A companhia aérea libanesa arquitectara o plano de me levar para o Afeganistão, um plano engenhoso de que dei conhecimento a Londres através das velhas máquinas de telex do escritório da Associated Press em Beirute, que frequentemente reproduzia mal as nossas cópias. Escrevi então: «Amigos da secção de bilhetes da MiddlehEast [sic] Airlines […] sugeriram que tentássemos o seguinte: compro bilhete de ida para Cabul e viajo para lá num voo da Ariana [linhas aéreas afegãs] com término em Cabul. Isto significa que, mesmo se for mandado para trás, ainda ganho cerca de 12 horas na cidade […], porque o meu voo terá terminado no Afeganistão e não poderei ser amandado [sic] de volta nele […] Na pior das hipóteses, serei mandado embora e poderei comprar um bilhete para o Paquistão e depois dirigir-me a Peshawar […] Agradeço resposta brevíssima para que possa pôr o pessoal dos bilhetes da MEA a trabalhar nisto amanhã (sexta) de manhã.» Londres respondeu em menos duma hora. «Pedimos-lhe que prossiga com o plano de bilhete de ida simples para Cabul», dizia a mensagem proveniente da secção do internacional. Estava eu já de regresso aos escritórios da MEA quando o The Times me enviou outra nota. «Binyon informa que as embaixadas afegãs de tado [sic] o mundo receberam ordens de emitir visus [sic], o que pode tornar as coisas mais fáceis.» Este facto era surpreendente. Os Russos queriam que estivéssemos lá. O seu «apoio fraterno» ao novo governo de Karmal – e a natureza supostamente abominável do regime precedente – deveria ser publicitado. Os Russos estavam a chegar para libertar o Afeganistão. Era esta a história que, obviamente, o Kremlin estava a cozinhar. Durante vários anos, para além do meu emprego no The Times, eu fizera reportagens para a Canadian 70 «Eles Disparam sobre os Russos» Broadcasting Corporation. Gostava de rádio, gostava da coragem da CBC em permitir que os seus jornalistas dissessem o que pensavam, de me deixar ir para uma batalha munido dum gravador para «a contar tal como é», para noticiar o sangue e o fedor das guerras e a minha própria repugnância perante os conflitos humanos. Por telex Sue Hickey escreveu-me do escritório da CBC em Londres: «Boa sorte mantém os olhos da nuca abertos». Prometi-lhe um lenço de seda afegão (não há limite para o suborno no jornalismo radiofónico). «Como é que se diz em russo ‘Ajudem-me, rendo-me, onde fica a embaixada britânica?’», perguntei eu. «Ajuda em russo é «pomog», respondeu Sue na sua escrita abreviada no telex. «Ptanto não deves ter qq probl. Adeusinho.» A Ariana tinha um voo de Frankfurt para Cabul no início da manhã de domingo. Todavia, foi cancelado. Depois voltou a novamente a ser programado, mas foi novamente cancelado. Partiria de Roma. Partiria de Genebra. Não, partiria de Istambul. Quando cheguei à Turquia na MEA, a neve acumulava-se à volta do terminal de Istambul e podia ler-se «Adiado» ao lado do anúncio dos voos de Cabul. Não havia combustível para aquecimento em Istambul, por isso embrulhei-me no casaco e sentei-me numa cadeira de plástico partida, juntamente com todos os livros e recortes que reunira nos meus arquivos de Beirute. Os dentes batiam uns nos outros e calçava as luvas para virar as páginas. Nós, jornalistas, fazemos isto muitas vezes: pensamos bastante na história antes da partida do avião, enchemos a cabeça com datas e nomes de presidentes, com um olho na III Guerra Afegã e o outro no balcão de check-in. Puxei do meu mapa do Afeganistão, verde e amarelo a oeste, onde os desertos aprisionam Kandahar, castanho no centro, com as montanhas a abrir caminho até Cabul, e com uma grande descoloração roxa e branca a nordeste onde Hindu Kush separa o Paquistão, a Índia, a China e a União Soviética. A fronteira entre e Índia britânica e o Afeganistão foi finalmente traçada através das terras tribais, em 1893, desde o desfiladeiro Khyber, a sudoeste da cidade de Chaman, no deserto, e que actualmente pertence ao Paquistão. É um posto fronteiriço estéril e de tempestades de pó, no começo de um grande deserto de areia e das montanhas cinzentas, a cem quilómetros de Kandahar. Estas «linhas na areia» foram estabelecidas, é claro, por Sir Mortimer Durand e reconhecidas pelas grandes potências. Para as pessoas que viviam em cada um dos lados dessas linhas, que, como era hábito, não foram ouvidas sobre o assunto, as fronteiras nada significavam. Os Pasthuns do Sudoeste do Afeganistão viram que a fronteira dividia as suas terras nativas tribais e étnicas. É claro que dividia, porque a ideia das fronteiras era proteger a Grã-Bretanha e a Rússia uma da outra, não era facilitar a vida ou a identidade das tribos afegãs, que não se consideravam nem afegãs nem indianas – nem, mais tarde, paquistanesas –, mas Pashtuns de língua pasthun, que acreditavam viver numa terra chamada Pashtunistão, que se localiza de ambos os lados do que haveria de ser conhecido como Linha Durand. O fim da I Guerra Mundial, durante a qual os Afegãos permaneceram neutrais, deixou a sul um decadente domínio britânico da Índia e a norte uma nação nova, ambiciosa, comunista e soviética. O rei Amanullah começou uma pequena insurreição contra os Britânicos, em 1919, conhecida desde então como III Guerra Afegã, que estes ganharam militarmente, mas que os Afegãos ganharam politicamente. Passaram então a controlar as suas relações 71 A Grande Guerra pela Civilização externas e a ter uma verdadeira independência em relação à Grã-Bretanha. No entanto, isso não seria uma garantia de estabilidade ¶. Tanto as reformas como os retrocessos marcaram a história subsequente do Afeganistão. A minha colecção de recortes de jornais inclui uma notícia de 1978, do The Guardian (5), que recordava como os Soviéticos gastaram 350 milhões de libras para construir o túnel rodoviário de Salang através das montanhas a norte de Cabul. Demorou dez anos e custou 200 milhões de libras por milha. «Por que razão gastariam 350 milhões de libras numa estrada pouco utilizada através do Hindu Kush?», perguntava o jornalista. «Não seria, certamente, para os camiões de uvas que todos os dias sobem penosamente a passagem. A resposta é não. O túnel de Salang foi construído para permitir às colunas de veículos russos […] atravessar das cidades e bases militares do Uzbequistão até ao Khyber e ao Paquistão […]» Sendo uma nação de camponeses, baseava-se em tradições tribais e religiosas, mas só os marxistas podiam conferir-lhe iniciativa política. O derrube violento de Mohamed Daoud, em 1978, conduziu a uma série de regimes marxistas cada vez mais duros chefiados por Nur Mohamed Taraki e Hafizullah Amin, com os partidos rivais Parcham («bandeira») e Khalq («Povo») a executar os seus respectivos opositores. Nas áreas rurais do Afeganistão eclodiram revoltas e o exército, cada vez mais amotinado, apesar dos conselheiros soviéticos, começou a desintegrar-se. Taraki morreu de «doença não revelada» – quase de certeza assassinado pelos homens de confiança de Amin – e depois, em Dezembro de 1979, Amin foi morto por sua vez. Uma unidade inteira do exército afegão transferira já as suas armas para os rebeldes em Wardak e há indícios de que foi o próprio Amin que solicitou a intervenção militar soviética para salvar o seu governo (6). As forças especiais soviéticas chegaram a bases aéreas afegãs a 17 de Dezembro, cinco dias após Brejnev ter tomado a decisão de efectuar a invasão, e é possível que Amin tenha sido morto por engano quando os seus guarda-costas avistaram os soldados soviéticos à volta do seu palácio. Um quarto de século depois, em Moscovo, encontrar-me-ia com um ex-funcionário dos serviços secretos do exército, que chegara a Cabul com as forças russas antes da invasão oficial. «Amin foi atingido a tiro e nós tentámos salvá-lo», disse-me ele. «Os nossos ¶ Influenciado pelas revoluções seculares de Mustafa Kemal Atatürk, na Turquia, e do xá Reza, na Pérsia, Amanullah instituiu uma série de reformas meritórias – assembleia eleita, monarquia constitucional, educação secular – o que fez as delícias do «Ocidente» moderno, mas provocou a consternação das autoridades islâmicas, que naturalmente viram nelas o fim do seu poder feudal, ou, melhor, medieval. Deu-se uma insurreição e Amanullah foi para o exílio em Itália. O seu parente Mohamed Nadir Khan não cometeu os mesmos erros. Identificou-se com os muçulmanos conservadores e formou um exército novo e poderoso, o que abriu um precedente perigoso num país tão desunido. Foi assassinado em 1933, sucedendo-lhe o seu filho Zahir. Seguiu-se um breve período de «democracia» – eleições livres e imprensa moderadamente livre –, mas em 1973 um golpe de Estado colocou Mohamed Daoud no poder. Daoud virou-se para a União Soviética em busca de ajuda económica, promulgou diversas leis liberais que foram bem acolhidas no «Ocidente» – uma encorajava o abandono voluntário do véu por parte das mulheres –, mas a sua renúncia virtual à Linha Durand levou a que o novo Estado do Paquistão, que herdara a velha fronteira do domínio britânico da Índia, fechasse essa fronteira do seu lado. O Afeganistão ficou então mais do que nunca dependente da União Soviética. 72 «Eles Disparam sobre os Russos» oficiais médicos tentaram salvá-lo. Mais do que isto não lhe irei dizer.» É verdade que o oficial soviético encarregado do golpe, o general Viktor Paputin, se suicidou passado pouco tempo. A 27 de Dezembro, contudo, foi anunciado que Amin, que estava a ficar cada vez mais repressivo, tinha sido «executado». Babrak Karmal, advogado socialista e homem do partido Parcham, que anteriormente se refugiara em Moscovo, foi então instalado em Cabul pelos Soviéticos. Fora vice-primeiro-ministro – juntamente com Amin – com Taraki como primeiro-ministro. Era agora o cavalo de Tróia através do qual os Soviéticos podiam afirmar que o Afeganistão fora «libertado» da tirania de Amin. No aeroporto Atatürk, em Istambul, estava uma temperatura abaixo de zero. Havia gelo do lado de dentro das janelas. Dirigi-me discretamente ao balcão do check-in, que estava vazio. No balcão, um panfleto, uma brochura da Organização de Turismo Afegã. «Diz-se ‘Afeganistão’ e pensará no mais amigo dos países», assim constava no verso. «Diz-se ‘Ariana’ e pensou na maneira mais amigável de lá chegar.» Todavia, a Organização de Turismo Afegã não escapara às purgas. Tinham usado um lápis preto grosso na primeira página, numa vã tentativa de apagar a designação «o Chefe de Estado da República do Afeganistão, Sr. Mohamed Daoud». A palavra «Democrático» – um adjectivo essencial na designação de qualquer regime não democrático – fora escrita por cima do nome do país e todas as referências à anterior família real tinham sido cobertas de tinta. Os funcionários do turismo locais, que tinham prestado serviço no regime de Daoud e desapareceram depois, sofreram o mesmo destino do papel. No entanto, o novíssimo DC-10 da Ariana chegou a Istambul antes da madrugada com a sua tripulação afegã a voar ainda com os técnicos da companhia americana McDonell Douglas que lhes haviam ensinado a pilotar o avião. Foi um voo acidentado e frio até Teerão, a última paragem antes de Cabul. A tripulação afegã comeu o seu pequeno-almoço em primeira classe antes de servir os passageiros, a «maneira mais amigável» de chegar ao Afeganistão. No aeroporto de Teerão três guardas da revolução iranianos subiram a bordo e mandaram sair do avião dois homens de meia-idade. Eles lá foram, de cabeça baixa, cheios de medo. A tripulação afegã não disse quem eram. Às primeiras luzes da manhã descolámos com destino a Cabul. O Afeganistão estava coberto de neve, com as ravinas das montanhas revestidas de branco e com afloramentos do negro das rochas. A 3000 metros de altitude podia ver os esguios helicópteros soviéticos a tornear as arestas das grandes gargantas a sul de Cabul, com as luzes intermitentes a deixarem um rasto castanho à sua passagem. O aeroporto era agora uma base militar, as ruas da capital um parque de estacionamento para os blindados soviéticos. E não havia apenas recrutas russos. O novo carro de combate de infantaria ASU 85 pertencia apenas às divisões de elite da União Soviética. Muitos soldados empunhavam a versão mais recente da espingarda Kalashnikov, a AKS 74. A norte da cidade, a 105.ª Divisão Aerotransportada cavara literalmente um labirinto de trincheiras, com quilómetros de comprimento, que atravessava o planalto na base das montanhas. À distância pareciam os soldados espalhados pelas linhas da Frente Ocidental daquelas fotografias antigas de cor sépia que o meu pai tirou há 62 anos. Os seus comandantes devem ter tido a esperança de que esta fosse a única semelhança óbvia entre as duas campanhas militares. 73 A Grande Guerra pela Civilização Quando os Russos mandaram parar o meu táxi, olharam fixamente para o meu passaporte, e torceram o nariz. O que estaria um inglês a fazer um Cabul? No Hotel Internacional, na pequena colina sobre a cidade, não houve estes problemas. O pessoal afegão da recepção era todo sorrisos, dirigindo discretamente os olhos para os polícias afegãos à paisana que se tinham instalado nos sofás da sala de entrada para que os clientes pudessem saber quando deveriam baixar a voz. A intensidade com que homens provenientes do Khad – o Khedamat-e Etelaat-e Dawlati ou «Serviço de Informação do Estado» – nos observavam apenas era igualada pela sua incapacidade para falar algum inglês. Havia um pequeno bar acolhedor cheio de garrafas de vodka polaca e cerveja checoslovaca e uma grande janela na qual a neve espessa se acumulara. Os quartos eram quentes e as varandas uma delícia para os espiões. Da minha, no quarto 127, podia ver toda a Cabul, o antigo forte Bala Hissur, onde se dera uma das últimas batalhas imaginadas no Tom Graham, e o aeroporto. Podia contar os jactos soviéticos que levantavam voo em direcção ao sol do entardecer, as explosões que ecoavam desde o Hindu Kush e depois novamente os aviões à medida que desciam de regresso à pista. Nas guerras, eu apenas viajava com quem confiava. Os jornalistas que entram em pânico não têm uma segunda oportunidade. Conor O’Clery, do Irish Times, falara impressivamente da ascensão desde o desfiladeiro do Khyber até Jalalabad. Já estava no velho escritório de telecomunicações da baixa da cidade a observar, com aquele seu brilho malévolo afivelado no olhar, o operador a fixar de novo a letra «w» na vareta de ferro do interior da máquina de telex. Gavin Hewitt, um jornalista de televisão de 29 anos de idade, da BBC, chegou com Steve Morris e Mike Viney, a equipa mais inteligente com que já trabalhei, uma câmara decrépita – eram tempos em que usava realmente película, com a sua maravilhosa definição de cor, agora perdida a favor da tecnologia do vídeo – e Geoff Hale. Eram também tempos das equipas verdadeiras, quando um operador de som – Morris, neste caso – e um operador de montagem – Hale – acompanhavam o jornalista no trabalho de campo. Hewitt descobrira um velho táxi amarelo, um Peugeot amolgado, com os vidros da frente e de trás cobertos com flores de plástico e outras folhagens artificiais, atrás das quais pensámos que nos podíamos ocultar ao passar pelos postos de controlo militar soviéticos e afegãos. Por 100 dólares por dia, o seu motorista, um tal Sr. Samadali, estava disposto a violar todas as regras e a levar-nos para fora de Cabul. Assim, na manhã brilhante e alva de 9 de Janeiro de 1980, partimos no nosso Peugeot desengonçado para ir observar a invasão do Afeganistão. Encaminhámo-nos para leste, em direcção à garganta de Cabul, entrando profundamente no vale que ficava no sopé das montanhas Spinghar. O exército soviético dirigia-se para baixo, para Jalalabad, e nós íamos fazendo o nosso caminho entre os grandes T-72 e os veículos blindados, todos eles barulhentos, a deitar fumo negro e quente dos seus escapes contra a neve. À beira da estrada, os afegãos observavam, com os rostos contraídos do frio e os olhos a registar todos os detalhes de cada veículo. Olhavam sem emoção, enquanto o vento enfunava os seus lenços e túnicas de cores laranja e verde. A neve espalhava-se pela estrada e revolteava a seus pés. Estavam dois graus abaixo de zero, mas tinham vindo observar a coluna do exército soviético a passar, com um zumbido característico, pela grande estrada a leste do desfiladeiro do Khyber. 74 «Eles Disparam sobre os Russos» As tripulações russas, com os seus gorros de pele enfiados na cabeça, olhavam para baixo para os Afegãos e por vezes sorriam, enquanto os seus veículos de transporte espalhavam lodo e neve ao passar na estrada cheia de lama. Um quilómetro mais à frente, a polícia militar soviética, em jipes de capota de lona, fazia sinais, orientando-os para uma coluna em que mais tanques e blindados de lagartas transportados em camiões aceleravam na estrada de Jalalabad. Estavam com pressa. Os generais em Cabul queriam que estes homens estivessem na fronteira com o Paquistão, ao longo da Linha Durand, o mais depressa que fosse possível. Controlem o país. Digam a Moscovo que o exército soviético controla agora a situação. Viajámos com eles durante 16 quilómetros, com o nosso carro entalado entre tanques, veículos de transporte e jipes, com os jovens soldados russos a observar-nos sob os seus gorros de pele e capacetes de aço enquanto a neve nos fustigava. A cada quilómetro, as tropas do exército afegão montavam guarda à beira da estrada de duas faixas. A oito quilómetros de Cabul, a coluna passou por um posto de controlo russo com dois soldados soviéticos a vigiar atentamente de cada lado da estrada, vestidos com casacos compridos verde-escuros, de abertura oblíqua. Quanto mais longe íamos mais seguros nos sentíamos. Sabíamos que estávamos a entrar numa zona perigosa, sabíamos que os Russos já tinham sido atacados nas cercanias de Jalalabad, todavia, uma vez ultrapassado o desconfiado primeiro posto de controlo da polícia, nos subúrbios de Cabul – estávamos apenas a dar uma volta pela cidade, mentiu Hewitt, com um ar inocente de menino de escola –, o posto militar seguinte, com gestos de indiferença, encaminhou-nos pelo meio das colunas. Se nos autorizaram a sair de Cabul, então devíamos ter autorização para prosseguir por esta estrada. Isso era, pelo menos, o que os soldados soviéticos e afegãos obviamente pensavam. Quem é que iria, afinal, contrariar tal autorização? Bendito seja Deus, dizíamos nós, por haver Estados policiais. A nossa maior preocupação era a velocidade a que nos víamos forçados a viajar. Os Russos movimentavam-se com rapidez. Até os seus veículos de transporte de tanques se ultrapassavam a 80 quilómetros por hora no nevão, obrigando por vezes o tráfego civil a utilizar a outra faixa. A certa altura quase esmagaram o nosso diminuto táxi entre um camião e um tanque. Durante toda a manhã ouvíramos rumores duma nova batalha em Jalalabad entre os Russos e as tribos afegãs. Estavam a enviar blindados em direcção à cidade de Herat, junto da fronteira iraniana, e para trás, em direcção a Salang, onde uma coluna acabara de ser atacada. O que os Soviéticos julgavam ser uma acção de confronto com «elementos contra-revolucionários» no Afeganistão demorava manifestamente mais tempo a consumar do que esperavam. A afirmação dos Americanos de que 85 000 militares soviéticos tinham entrado no país a partir de Tashkent e Moscovo parecia estar correcta. Poderiam ser 100 000. Apertados no superlotado Peugeot do Sr. Samadali, estávamos a registar para a história. Steve e Geoff sentavam-se atrás, com Mike ensanduichado entre ambos e segurando cuidadosamente a máquina fotográfica entre os joelhos, enquanto Gavin e eu observávamos as tropas soviéticas nos seus camiões. Quando víamos que nenhum deles olhava para nós, eu gritava «Vá!» e Gavin – ele era, afinal, o chefe da nossa pequena missão – gritava «Foto!» Nesta altura, ele e eu esticávamos as mãos e afastávamos a cortina de flores de plástico e 75 A Grande Guerra pela Civilização folhagens, Mike levantava a máquina – com a lente a tocar literalmente os nossos pescoços à frente – e começava a fotografar através do pára-brisas. Todas as fotografias eram importantes. Esta era a maior intervenção militar soviética desde a II Guerra Mundial e o rolo de Mike não só seria mostrado em todo o mundo, mas também guardado para sempre nos arquivos. A neve cinzenta, o verde dos blindados soviéticos, as silhuetas escuras dos Afegãos à beira da estrada, eram estas as cores e as imagens que comporiam o retrato do início da invasão. Se um soldado russo olhava para nós ou se um polícia militar nos dedicava uma atenção demasiado prolongada, então Gavin e eu gritávamos «Para baixo!», Mike escondia a máquina entre as pernas e nós deixávamos a folhagem artificial cobrir de novo o interior do pára-brisas. «Não sejam demasiado ambiciosos» continuava Gavin a dizer à sua equipa. Todos concordávamos. Se mantivéssemos a calma, se não nos tornássemos demasiado confiantes – se estivéssemos dispostos a perder uma bela fotografia para podermos voltar a fotografar noutro dia – conseguiríamos obter a nossa história. Acima da aldeia de Sarobi parámos o carro. A paisagem do Afeganistão é literalmente de tirar a respiração. Aqui no cimo, o sol dissolvera a neve da deslumbrante montanha de relva verde-clara e podíamos ver até uns 50 quilómetros para leste do desfiladeiro do Khyber, até aos subúrbios de Jalalabad, banhados em névoas. Quanto à descida do vale do Indo, era como sair duma tempestade de neve e entrar numa sauna. Se se estendesse a mão pela janela poder-se-ia sentir o ar a ficar cada vez mais quente. Gavin estava literalmente a saltar nas pontas dos pés enquanto permanecíamos na estrada, olhando o panorama de cumes e cordilheiras. Ao longe, para norte, podíamos ainda divisar as neves branco-púrpura do cume da cordilheira do Pamir. Estávamos muito perto da China e sentíamo-nos, nós, jovens, no topo do mundo. A tragédia desta epopeia ainda não nos afectara. Como poderia eu saber que 17 anos mais tarde estaria nesta mesma parte da estrada enquanto os homens armados de bin Laden rezavam sob o tal cometa ardente? Como poderia eu saber, enquanto permanecia com Gavin naquela encosta, que o próprio bin Laden, com apenas 22 anos de idade, estava a apenas alguns quilómetros de nós, na mesma cordilheira, insistindo com os combatentes árabes para que se juntassem aos seus irmãos muçulmanos em guerra contra os Russos? Estávamos a meio caminho da estrada estreita e íngreme que atravessava a garganta de Cabul quando um carro se dirigiu a nós, com os faróis a piscar e derrapando até parar. O motorista, com barba e de turbante, sabia apenas que havia «complicações» mais abaixo na passagem. Levantou as mãos num gesto de desconhecimento e receio e depois, tendo-se dignado dar esta vaga informação, afastou-se de nós a toda a velocidade. Nas montanhas do Afeganistão não se recebe este tipo de avisos de ânimo leve. Todos nós sabíamos o que acontecera ao exército britânico do general Elphinstone nesta mesma garganta no ano de 1842. Por isso, quando nos seguíamos com cautela estrada abaixo, olhámos os penedos acima de nós onde a linha da neve terminava e as rochas escarpadas permitiam emboscadas. Prosseguimos desta maneira durante 15 quilómetros sem encontrar mais nenhum carro, até que chegámos à pequena aldeia de Sarobi, onde um grupo de autocarros velhos e decrépitos e um táxi estavam estacionados ao lado duma barbearia. Estava um polícia 76 «Eles Disparam sobre os Russos» afegão parado na estrada, que se referiu em termos igualmente vagos a uma «emboscada» mais à frente. A estrada fora bloqueada, disse ele. Por isso, junto à estrada, com as montanhas a erguerem-se perante de nós e o rio Cabul a transportar ravina abaixo, numa corrente cheia de detritos, as neves derretidas, fomos bebendo chá quente doce até chegarem dois tanques russos, contornando a esquina, seguidos de soldados afegãos em dois camiões. Os tanques seguiram em direcção ao sul, com as lagartas a marcar o piso e os operadores de rádio a olhar em frente. Os soldados, cada um deles empunhando uma Kalashnikov, gritaram duas saudações quando passaram por Sarobi, mas não obtiveram resposta. Seguimo-los até mais abaixo, pelo desfiladeiro, no exterior da linha de neve e em direcção às planícies quentes onde as temperaturas negativas e o gelo das montanhas eram substituídos pelo pó e pomares de laranjeiras junto à estrada. Na estrada subitamente surgiu um camião cheio de soldados e ouvimos disparos mais acima nos penhascos. Observámos os soldados a subir apressadamente os rochedos até que os perdemos de vista entre grandes rochas, como se fossem figuras retiradas duma velha fotografia dos combates do Império travados no Khyber. No entanto, prosseguimos atrás dos tanques russos até à planície e depois duma curva chegámos a um posto de controlo e ao lugar da emboscada. Numa extensão de 400 metros, as árvores que bordejavam a estrada tinham sido cortadas. Havia agora ali militares e já tinham chegado de Jalalabad dois transportes de tropas russas, blindados, que haviam desimpedido a maior parte da estrada. Elementos das tribos tinham disparado a partir das árvores quando ainda antes de amanhecer os primeiros carros civis pararam na barricada da estrada. Mataram duas pessoas e feriram mais nove, uma delas nas costas e no peito. Havia ainda alguns vidros espalhados na estrada, mas ninguém sabia se os atacantes eram bandidos ou se tinham tomado os carros por veículos militares russos a viajar na escuridão. Estava um velho junto à estrada que julgava saber a resposta. Os homens que fizeram a emboscada, contou-nos ele, eram «mujahedines», «guerreiros sagrados». Gavin olhou para mim. Ainda não tínhamos ouvido essa palavra no Afeganistão. Tudo isto indicava que as autoridades do Afeganistão apoiadas pelos Soviéticos não podiam sequer garantir a segurança da principal estrada para o Paquistão, embora verificássemos que era ainda permitido ao exército afegão ter um papel importante nas operações. Os soldados que controlaram os nossos documentos no desfiladeiro e guarneciam os pequenos fortes de cimento junto à garganta eram todos afegãos. Alguns dos tanques que estavam parados nas montanhas fora de Jalalabad eram também afegãos e apenas o exército afegão patrulhava a cidade durante o dia. Não se veria um só soldado russo nas ruas ladeadas de árvores frondosas desta bonita cidade onde as carruagens puxadas a cavalos passavam com graciosidade colonial na confusão das ruas poeirentas e rapazes camponeses de pé descalço batiam em burros ajoujados de cereal a caminho do mercadito. Mas a cena era enganadora e Jalalabad forneceu um poderoso indicador do que estava a acontecer noutras cidades mais remotas do Afeganistão. Na verdade, apesar da deliciosa serenidade do lugar, os milhares de elementos das tribos pashtuns disparavam à noite contra as tropas afegãs nos campos perto de Jalalabad. Nos seis dias anteriores, ecoaram explosões pela cidade e duas grandes bombas destruíram por duas vezes a rede eléctrica e os transformadores que transportavam a energia 77 A Grande Guerra pela Civilização para Jalalabad, cuja população ficou sem electricidade durante cinco dias. O recolher obrigatório fora alargado das 20h às 4h e durante estas horas da noite o exército soviético pusera a circular pela cidade blindados pesados. Havia agora 1400 militares russos com tanques T-54 e veículos de lagartas alojados nos velhos quartéis do exército afegão, cinco quilómetros a leste de Jalalabad, na estrada que conduzia ao Paquistão. Se o exército afegão era incapaz de manter a paz, parece que os Russos se estavam a preparar para intervir e pacificar a província. Regressámos a Cabul antes que anoitecesse e tentámos visitar o hospital militar construído pelos Russos. Através das grades de ferro podíamos ver soldados com as armas à bandoleira, andando com o auxílio de paus ou muletas. Numa cena mais premonitória, um jacto da Aeroflot estava estacionado num ponto remoto do aeroporto de Cabul e quando o nosso carro se aproximou dele pudemos ver uma ambulância militar russa perto duma rampa de acesso na frente da fuselagem. Nos anos que se seguiram, os Russos dariam uma alcunha ao avião que retirava os seus mortos do Afeganistão: a «Tulipa Nega». Em oito anos, os Russos teriam 14 363 combatentes mortos e desaparecidos e fariam regressar 49 985 feridos. Nos anos seguintes, Gavin e eu recordar-nos-íamos das nossas viagens no exterior de Cabul, em 1980, como uma grande aventura. Eramos um grupo de caçadores que saía para um dia empolgante em busca de imagens. Adoptámos o velho silo de cereais construído pelos Russos como símbolo da dádiva da União Soviética ao mundo; representava, pensávamos nós, cerca da milionésima parte do valor das «dádivas» da União Soviética. «Havia uma certa inocência em relação ao nosso mundo», recordaria Gavin mais de 20 anos depois. «O silo de cereais era de certa forma típico. Quanto mais a sua presença se desfazia, mais verdadeiras eram as nossas imagens acerca da sua forma artística.» Como viajava com a sua equipa, tornei-me quase tão possessivo em relação à sua reportagem filmada, ou seja, quase tão ansioso por os ver obter um furo jornalístico por dia na BBC, quanto o próprio Gavin. Por seu lado, Gavin queria assegurar que todos os dias eu enviava de Cabul em segurança as minhas reportagens para o The Times. O nosso entusiasmo em nos ajudarmo-nos mutuamente não era apenas companheirismo jornalístico. Gavin era um dos poucos jornalistas de televisão que entraram no Afeganistão e as impressionantes reportagens filmadas que enviava estavam a moldar a forma como o mundo via a invasão soviética. William Rees-Mogg, o editor do The Times, e Ivan Barnes, o meu editor internacional, viam todas as reportagens de Gavin, embora elas demorassem por vezes 48 horas a chegar ao ecrã. Não havia transmissão por satélite em Cabul e estávamos proibidos de levar antenas de satélite para o país. Por isso, Geoff Hale levava pessoalmente as latas de filme para Londres, fazendo a viagem de ida e volta de dois em dois dias, um circuito de 13 500 quilómetros pelo menos três vezes por semana. Gavin descobriu que os seus próprios editores liam as minhas reportagens todos os dias no The Times e esperavam ansiosamente pelas fotografias que sabiam que ele levava, uma vez que Gavin lhes dissera que viajávamos juntos. Por seu lado, as suas reportagens alimentavam a ânsia do meu próprio editor em relação a notícias do Afeganistão. Éramos dois parasitas, costumávamos dizer, vivendo do trabalho um do outro. 78 «Eles Disparam sobre os Russos» O meu material chegava ao The Times duma maneira menos dispendiosa, mas quase igualmente cansativa. O pessoal do Intercontinental tinha ordens da polícia de segurança de Estado afegã para não permitir que os jornalistas enviassem as suas reportagens a partir do telex do hotel. Estava por isso limitado a enviar mensagens a Ivan Barnes e ao meu editor internacional, Louis Heren, dando indicações de como planeava enviar o meu despacho para Londres. As nossas delegações de Nova Iorque e Washington estavam a tentar contactar-me pelo telefone. O mesmo acontecia com Binyon em Moscovo. Mas durante todas as semanas que passei em Cabul nunca recebi um único telefonema de quem quer que fosse. Por isso, acordava todas as manhãs às quatro horas para escrever cinco cópias da minha reportagem para o The Times. Dava uma cópia à agência noticiosa Reuters, que enviava um estafeta a Deli quase todos os dias, e dava outra ao empregado paquistanês da Reuters que ia regularmente de avião até Peshawar e Islamabad. Dali, era-lhes pedido para baterem o meu texto e, uma vez que o jornal era cliente da agência noticiosa, o enviassem para Londres. Outra cópia era para quem quer que viajasse para a União Soviética, na esperança de que contactasse Binyon em Moscovo. Uma quarta cópia era para Geoff, que a levava nos seus voos regulares para a Grã-Bretanha. A quinta era para uma operação muito mais tortuosa – ainda hoje me admiro que tenha funcionado – e que envolvia o motorista paquistanês do velho autocarro de madeira que fazia todos os dias Cabul-Jalalabad e depois até Peshawar, no Paquistão, onde o pessoal do hotel local estava pronto para enviar as minhas páginas para Londres por telex. Montei o esquema na minha terceira manhã em Cabul. Vira o autocarro de Peshawar na estrada a sul da capital e soube que saía de Cabul todas as manhãs às 6:30h. Gostei do motorista, Ali, um pashtun extraordinariamente alegre com um lenço verde, um chapéu redondo afegão e um sorriso de dentes imaculadamente brancos que falava suficientemente bem inglês para compreender tanto o meu humor como o meu cinismo. «Sr. Robert, se isto prejudica os Russos, vou entregar a sua reportagem mesmo à porta do Hotel Intercontinental em Peshawar. Entregue-me dinheiro para pagar aos operadores deles e quando deixar o Afeganistão vai comigo a Peshawar e paga as contas dos telexes. Confie em mim.» Durante todo o tempo que passei no Médio Oriente, as pessoas pediram-me que tivesse confiança nelas. Quase sempre assim fiz e foram dignas dela. Ali recebia 50 dólares por dia, todos os dias, para levar o meu despacho dactilografado a Peshawar. Os operadores recebiam 40 dólares por dia para o enviar para Londres por telex. Nem mesmo os piores nevões que se abatiam sobre a garganta de Cabul impediram que o velho autocarro de Ali ultrapassasse a neve fustigada pelo vento ou os postos de controlo russos. Por vezes, ia com ele até Jalalabad. O exército afegão recebera ordens para mandar parar os jornalistas que andavam de carro pelo país, mas nunca se lembraram de controlar o autocarro. Por isso, sentava-me nos degraus junto de Ali quando penetrávamos e serpenteávamos pela garganta de Cabul, sentindo o calor do campo à medida que descíamos para o vale do Indo. Eu ficava no Hotel Spinghar, em Jalalabad, passava a manhã a visitar as aldeias num riquexó motorizado – uma cabina coberta de tecido montada na parte de trás de uma mota – para ir investigar quais teriam sido os resultados do combate nocturno entre os Russos e os mujahedines e à tarde apanhava o autocarro de Ali para Cabul. Ali nunca perdeu uma 79 A Grande Guerra pela Civilização só reportagem. Só quando recebi um telegrama do The Times pude ver como ele desempenhara bem a sua tarefa: «MUITO OBRIGADO… FICHEIROS STOP O JORNAL MAIS VENDIDO NA TERÇA-FEIRA<QUARTAS-FEIRAS ACOMPANHA PRIMEIRA PÁGINA STOP. Quando os jornalistas têm de contrabandear os seus despachos para fora dum país, chamam habitualmente «pombo» ao seu portador. Ali foi o melhor pombo que o The Times alguma vez teve e o seu velho autocarro o transporte mais adequado. Uma noite, no bar do Hotel Intercontinental, um jornalista do Daily Mail admitiu ter recebido um telegrama dos seus editores em Londres com a pergunta mal-humorada «Vês o Fisk a ter alguma dificuldade?». Depois disto, acrescentei 100 dólares ao pagamento seguinte efectuado a Ali. A pouco e pouco, eu e Gavin fomos alargando a nossa área de acção. A 200 quilómetros a oeste de Cabul, junto das muralhas dum forte turco destruído pelos Britânicos na I Guerra Afegã, fica a cidade milenar de Ghazni, um entreposto na estrada para Kandahar que foi destruído pelos invasores árabes em 869 e por Genghis Khan em 1221. O exército soviético, segundo nos disseram, ainda não chegara a Ghazni, por isso, metemos pela estrada para sul, para além dos grandes canhões soviéticos que rodeavam Cabul. Quando atravessámos o último posto de controlo russo, um rosto de feições europeias encimado por um chapéu de cossaco acenou-nos, sem um sorriso. Gavin e eu continuávamos a utilizar o procedimento habitual da folhagem de plástico, afastando as horrorosas flores artificiais roxas e azuis sempre que um tanque soviético se atravessava simpaticamente no nosso caminho, para que Gavin pudesse rodar mais um metro de filme. Na pequena e ventosa aldeia de Saydabad, a cerca de 70 quilómetros mais à frente nessa estrada, havia mais tanques russos, à beira da estrada, com os canhões apontados para oeste, fazendo parecer insignificantes os abrigos de lama e ramos em que os aldeãos viviam. Havia uma ponte guardada por quatro soldados com baionetas caladas e depois dela apenas uma estrada, vazia e desprotegida, com gelo e neve fustigada pelo vento, que se estendia para baixo em direcção às províncias de Paktia e Ghazni. Quando Gavin, a sua equipa e eu lá chegámos no Peugeot do Sr. Samadali, a velha cidade parecia um cenário de uma pintura medieval, com as defesas amuralhadas encostadas aos picos das montanhas Safid Kuh, cobertos pela neve, e aos céus dum azul-pálido que distorciam a perspectiva. De facto, ali não havia Russos, mas apenas uma série de camiões do exército que de meia em meia hora, mais ou menos, chegavam do norte em direcção aos aquartelamentos de Ghazni, ostentando a sua insígnia vermelha afegã como protecção precária contra ataques das tribos rebeldes e com os seus motoristas, vestidos anarquicamente, a olhar nervosamente do interior da cabine. O exército afegão, supostamente leal ao seu novo presidente e aos aliados soviéticos, em teoria controlava a província, embora fosse evidente quando entrámos em Ghazni que se estabelecera um cessar-fogo não oficial entre os soldados no local e as tribos pashtuns. Militares afegãos com capas e camisas de pele de carneiro – Ghazni é famosa pelos seus casacos Pustin bordados – andavam pelas ruas estreitas e enlameadas à procura de provisões num local que ficava abaixo do seu campo militar. Há quase mil anos, Mahmud de Ghazni impôs a sua autoridade à maior parte do Afeganistão, devastou o Noroeste da Índia e criou um império islâmico que consolidou o 80 «Eles Disparam sobre os Russos» poder do islamismo sunita num território que ocupava milhares de quilómetros quadrados. Ghazni tornou-se uma das maiores cidades do mundo persa e entre os seus 400 poetas residentes contava-se o grande Ferdowsi. Todavia, a cidade era agora a negação do seu glorioso passado. Algumas das suas fortificações há muito que se tinham desmoronado e o gelo fendera as antigas muralhas quando as temperaturas eram negativas. Isolados do mundo exterior, os seus habitantes eram desconfiados em relação aos forasteiros, uma obsessão perigosa e compreensível que se intensificara ainda mais por terem chegado à cidade notícias sobre a invasão soviética. Mal estacionámos o nosso carro, um homem alto com um grande bigode cinzento aproximou-se de nós. «São Russos?», perguntou ele, e um grupo de pashtuns com panos azuis e brancos na cabeça juntou-se à volta do veículo. Dissemos-lhes que éramos Ingleses e durante cerca dum minuto houve alguns sorrisos amigáveis. Gavin e eu teríamos de afivelar o nosso sorriso especial para esta gente, um sorriso largo e caloroso, de agrado, para esconder as nossas maiores preocupações. Meu Deus, como vocês devem odiar os Russos. Todos nós sabíamos como as coisas rapidamente podiam correr mal. Fora apenas há alguns meses que um grupo de trabalhadores soviéticos da construção civil e as respectivas mulheres decidira visitar em Herat a mesquita de Masjid Jami, coberta de azulejos azuis – um lugar de culto desde a época de Zoroastro –, sendo todos agarrados pela multidão e esfaqueados até à morte. Alguns deles foram esfolados vivos. Precisamente no dia anterior, embora eu não soubesse na altura, o The Times publicara uma fotografia de dois homens de rosto vendado às mãos de rebeldes afegãos. Eram professores universitários presos na cidade de Farah, 300 quilómetros a oeste de Kandahar, e o homem à direita, na fotografia, já fora executado como comunista. O Sr. Samadali precisava de óleo para o seu Peugeot e numa loja atulhada e suja de chão de cimento um velho desencantou uma lata de óleo de motor. Cavalos, carroças e burros, carregados de sacos de cereal, moviam-se com dificuldade, deslizando pela neve meio derretida e pela lama. Foi então que alguém murmurou «khar», e todos os sorrisos desapareceram. «Khar» significa burro e, embora à primeira vista pareça diver-tido, é um termo de aversão e ódio quando se refere a estrangeiros. «Eles estão a chamar--lhe ‘khar’», disse o Sr. Samadali, desesperado. «Eles ignoram a diferença entre Ingleses e Russos. Não querem aqui estrangeiros. Têm de partir.» Um grupo maior de Pashtuns aparecera entretanto e formava uma linha ao longo dum passeio de madeira ao lado da rua. Não empunhavam armas, embora dois deles tivessem facas compridas nos cintos. Um homem de meia-idade veio ter connosco. «Vão-se embora imediatamente», instou ele. «Não parem para ninguém. Se as pessoas quiserem fazer-vos parar na estrada, passem por cima delas. Vocês são estrangeiros, pensarão que são Russos e matar-vos-ão. Ficarão a saber quem são depois.» Deixámos Ghazni a toda a velocidade. Estivemos realmente em perigo? Mais de 22 anos depois confrontei-me com um grupo quase idêntico de afegãos furiosos e, quase perdendo a vida, descobriria o que significa ser objecto da sua fúria. Amedrontar estrangeiros era uma coisa, lutar contra um exército moderno bem equipado era outra completamente diferente. Novamente na estrada que vai para norte, vimos no cimo das encostas e enterradas na neve uma série de plataformas com os canos espetados 81 A Grande Guerra pela Civilização para fora. Os Russos já tinham assumido o controlo da estrada, embora não estivessem ao lado dela. Os tanques soviéticos foram lançados de pára-quedas nas montanhas a norte de Cabul e a artilharia no exterior de Ghazni fora também lançada do ar. A nossa folhagem deslocou-se subitamente para o lado para que Mike pudesse ver através do pára-brisas. Estávamos a ficar especialistas. Na verdade, Gavin argumentava que os Russos acabariam por ficar a conhecer a nossa floresta enquanto adereço e pensariam que todos os filmes contemporâneos seriam assim produzidos, que uma nova geração de realizadores soviéticos iria insistir em filmar todas as futuras produções através de janelas de carros atulhadas com flores roxas artificiais. De facto, havia muito mais a filmar no Afeganistão. Mesmo antes de chegarmos, o governo de Karmal tentara discretamente recuperar o apoio popular, libertando os prisioneiros políticos de Amin. Mas quando a prisão da cidade de Cabul se abriu, milhares de homens e mulheres apareceram para saudar os seus parentes e começaram a atirar pedras aos jovens militares soviéticos que estavam à volta dos muros. Ninguém duvidou de que o regime anterior era detestado pela população. Os funcionários recém-instalados de Karmal não perderam tempo a dar-nos a conhecer o seu ódio. Foi esta, afinal, a razão por que nos deram vistos para ir ao Afeganistão. Em Peshawar, grupos rebeldes tinham dito que o exército afegão lutaria contra os invasores russos, mas a 7.ª e a 8.ª Divisões afegãs, em Cabul, que estavam equipadas com tanques soviéticos, nunca dispararam um tiro contra os blindados soviéticos. Os seus conselheiros soviéticos garantiram que assim fosse. Quatro dias mais tarde, no entanto, a propaganda do governo correu mal. Milhares de Afegãos – parentes dos presos, muitos deles vestindo longas capas e turbantes – reuniram-se desta vez à porta da prisão de Polecharkhi, uma fortaleza terrível com muros de pedra, altos, arame farpado, blocos de celas e salas de tortura, para assistir à libertação oficial de 118 prisioneiros políticos. No entanto, enraivecida por tão poucos terem sido libertados, a multidão irrompeu através dum cordão do exército afegão e arrombou os portões de ferro. Corremos com ela prisão adentro. Um soldado russo próximo de mim quase que foi derrubado. Ficou pasmado, hipnotizado com o que via à medida que homens e mulheres – estas últimas todas cobertas com as burcas – começaram a gritar «Allahu akbar», «Deus é grande» ¶, no edifício exterior e começaram a escalar os portões de aço dos blocos de celas principais. Eu e Gavin olhávamo-nos surpreendidos. Era um protesto simultaneamente religioso e político. Nos telhados do edifício, um jovem oficial soviético, com a sua Kalashnikov a apontar para a multidão, começou a gritar em russo que ficaram apenas oito pessoas no interior da prisão. Conor O’Clery, do The Irish Times, estava no pátio com o seu grande capote russo. Estava colocado em Moscovo e falava bem russo. Virou-se para mim com o seu incontornável sorriso desdenhoso. «Aquele tipo pode estar a dizer que só ficaram oito homens», disse ele, «mas desconfio que iremos ver que está a mentir.» Literalmente «Deus é maior» ou «Deus é o maior». Dado que [em inglês] a expressão «é o maior» tende a ser utilizada com equipas de futebol, e não com a divindade, utilizei «Deus é grande», que é menos rigorosa, mas mais tradicional e reflecte com mais impacto esta fé aos ouvidos ocidentais. ¶ 82 «Eles Disparam sobre os Russos» Por um momento a multidão parou quando o oficial virou o cano da espingarda na sua direcção, depois deixou de lhe prestar atenção e avançou subitamente em vagas sucessivas pelo segundo portão recém-arrombado. Irremediavelmente suplantado pelo seu número, o soldado baixou a arma. Centenas de familiares doutros prisioneiros partiam agora à pedrada as janelas dos blocos de celas e utilizavam tubos de aço para arrombar as portas do primeiro edifício. Três prisioneiros foram trazidos de súbito para a luz do inverno pelos seus libertadores. Eram homens de meia-idade em farrapos, magros e frágeis, confusos e pestanejando por causa da neve e do gelo que cobriam os muros. Na prisão, um jovem aproximou-se de mim, enquanto a multidão começava a penetrar no telhado dum segundo bloco de celas em cimento. «Queremos que os Russos se vão embora», disse ele em inglês. «Queremos um Afeganistão independente, queremos as famílias libertadas. O meu irmão e o meu pai estão algures por aqui.» Fiquei comprimido na multidão desordenada no interior do bloco de celas e havia certamente mais do que os oito prisioneiros a que o oficial russo se referira. No chão de pedra os presos tinham postos cobertores como única protecção contra o frio extremo. Havia um cheiro a bafio e a bolor nas celas exíguas e sem ar. No edifício, outros prisioneiros acenavam através das barras das janelas, gritando para a multidão para que os libertasse. Um homem com calças de camponês enfoladas bateu numa clarabóia do tecto de metal da cela, abriu-a, e entrou por ela, gritando para os amigos para o seguirem. Trepei por uma janela no fim do mesmo bloco de celas e vi-me perante 20 homens, pelo menos, sentados no chão no meio de correntes e palha, com os olhos abertos de horror e alívio. Um deles estendeu-me a mão. Estava tão magra que só lhe senti os ossos. As suas faces estavam encovadas e azuladas, não tinha dentes, o peito nu estava coberto de cicatrizes. Enquanto tudo isto se passava, os soldados russos e os guardas afegãos ficaram a observar, incapazes de controlar os milhares de homens e mulheres, cientes de que qualquer derramamento de sangue público provocaria danos irreparáveis ao regime de Karmal. Alguns dos elementos da multidão lançaram impropérios aos Russos e um jovem que disse ser da província de Paktia gritou-me que «os Russos estão a bombardear e a matar no Sul do Afeganistão». No entanto, o fenómeno mais notável acerca desta extraordinária invasão da prisão foram os cantos islâmicos das multidões. Vários homens gritaram, reclamando uma revolução islâmica, algo que os Russos há muito temiam no Afeganistão e nas suas próprias repúblicas muçulmanas. Muitos dos jovens que procuravam os seus familiares vinham de áreas rurais a sul de Cabul, onde a rebelião tribal estava a crescer há pelo menos 14 meses. No total, nas três semanas anteriores o governo libertara mais de 2000 prisioneiros políticos. Foi o primeiro acto de Babrak Karmal enquanto presidente. Todavia, a decisão teve o efeito não pretendido de fazer lembrar às massas os milhares de prisioneiros políticos que não tinham sido libertados e cujos companheiros há muito tinham sido executados por Amin. Apenas ao início da tarde os soldados soviéticos formaram um cordão atrás do portão principal de Polecharkhi com as espingardas para baixo, aparentemente para evitar que aquelas centenas de homens e mulheres dali saíssem. Conor aconchegou o seu capote, com as mãos nos bolsos, um exemplar perfeito do moderno major-general do KGB e dirigiu-se 83 A Grande Guerra pela Civilização directamente para o oficial mais próximo no cordão dos militares. «Dos vidanya», disse ele em russo. O oficial e outro soldado puseram-se em sentido rapidamente e nós saímos da prisão ¶. Nesse mesmo dia, Babrak Karmal, filho dum oficial superior pashtun do exército, homem bem constituído, de nariz proeminente, maçãs do rosto salientes, cabelo a ficar grisalho e maneiras de segurança de discoteca, deu a sua primeira conferência de imprensa, um acto sombrio em que o novo presidente, colocado no poder pelos Soviéticos, denunciou o seu antecessor socialista como um criminoso e insistiu em que o seu país não era um reino vassalo da União Soviética. Este facto era algo difícil de aceitar quando a porta principal do Palácio Chelstoon, onde esta péssima actuação estava a ter lugar, era guardada por um soldado soviético com uma estrela vermelha no boné, quando no terreno envolvente se encontrava estacionado um carro blindado e quando militares de uma unidade antiaérea aguardavam junto dos seus canhões a cem metros do edifício. Por isso, quando Babrak Karmal nos disse que «a única coisa que é mais brilhante do que o a luz do sol é a amizade franca da União Soviética», apenas poderíamos considerar esta afirmação como um ponto de vista singularmente optimista, se não mesmo olímpico, sobre um mundo que o Dr. Fausto teria reconhecido. Contudo, até mesmo os funcionários afegãos reunidos ao lado de Karmal devem ter desejado a presença de um Mefistófeles subtil que atenuasse a retórica à medida que a conferência de imprensa do presidente degenerava numa disputa aos gritos e em manifestações iradas e ocasionalmente insultuosas. As questões que os jornalistas ocidentais dirigiam a Karmal eram muitas vezes mais interessantes do que as suas respostas, mas os esclarecimentos do novo homem de Moscovo incluíram as seguintes afirmações: que nenhum soldado soviético fora morto ou ferido desde que começara a «intervenção» soviética; que a dimensão do «contingente soviético muito limitado» enviado para o Afeganistão fora muito exagerada pela «imprensa imperialista ocidental»; que a União Soviética apoiara o «regime brutal» do falecido Hafizullah Amin porque «a União Soviética nunca interferiria nos assuntos internos de nenhum país»; e, finalmente, que as tropas soviéticas abandonariam o Afeganistão «no momento em que a política agressiva dos Estados Unidos, em consonância com a liderança de Pequim e as provocações dos círculos reaccionários do Paquistão, do Egipto e da Arábia Saudita, fosse eliminada». No entanto, o pitoresco da conferência de imprensa apenas poderia ser apreciado com a citação de extractos dela. Martyn Lewis, da ITN, por exemplo, quis saber como se dera a eleição de Karmal para presidência, após o seu antecessor ter sido derrubado por um golpe. Lewis: «Gostaria de saber se nos poderia dizer quando e em que circunstâncias o senhor foi eleito e, se tal eleição tiver sido democrática, por que razão foi necessário que as tropas soviéticas o viessem auxiliar a assumir o poder.» Fiel à máxima de que nenhuma prisão jamais perde a sua finalidade original, Polecharkhi foi o cenário da primeira execução oficial do Afeganistão pós-talibãs, em Abril de 2004. A sentença de morte do «bandido» foi assinada pelo presidente pushtun pró-americano Hamid Karzai. ¶ 84 «Eles Disparam sobre os Russos» Karmal: «Sr. Representante do Imperialismo Britânico, o imperialismo que invadiu abertamente por três vezes o Afeganistão, o senhor já teve uma resposta correcta e merecida por parte do povo do Afeganistão.» A esta troca de palavras seguiu-se uma explosão de aplausos dos funcionários afegãos e dos correspondentes soviéticos. Só depois deste excurso pelas três guerras afegãs do século XIX e início do século XX é que Karmal respondeu a Lewis, afirmando que durante o regime de Amin «uma esmagadora maioria dos principais membros do Partido Democrático do Povo do Afeganistão» o elegera presidente ¶. É claro que não esperá-vamos menos de Karmal e a sua afirmação corajosa – alguns diriam imprudente – de que «se poderia alcançar um verdadeiro não-alinhamento do Afeganistão com a ajuda material e moral da União Soviética» reflectia rigorosamente o ponto de vista de Moscovo. Em tempos, o novo homem opusera-se fortemente, no PDP, a Nur Mohamed Taraki, o presidente assassinado de cujo «martírio» Karmal acusava agora a CIA, e Gavin Hewit sentiu na pele o que significava ser alvo da fúria do novo ditador. De facto, quando Gavin comentou de forma moderada que «não parece haver muito apoio no Afeganistão, quer a si, quer aos Russos», Karmal inspirou profundamente e deu aos berros a primeira resposta que lhe veio à cabeça: «Sr. Correspondente da BBC, a primeira propagandista mentirosa em todo o mundo!», rugiu ele. E foi tudo. A sala estrondeou com os aplausos dos sátrapas que rodeavam Karmal e as gargalhadas incontroláveis dos jornalistas. «Bem», disse eu a Gavin, «o velho Babrak não pode ser um mau tipo, pelo menos derrotou-te completamente.» Gavin dirigiu-me um sorriso enviesado. «Espera só para veres, Fiskers», disse-me entre dentes. Tinha razão. Passadas poucas horas a resposta absurda de Karmal já dera a volta ao mundo, provando que o novo homem de Moscovo em Cabul era apenas mais um factótum com uma única mensagem. No entanto, este era um sinal claro de que a nossa presença no Afeganistão não iria ser tolerada indefinidamente. Isso tornou-se-me claro dias mais tarde quando três membros do Khad, a polícia secreta, apareceram na recepção do Hotel Internacional para falar comigo. Vestiam todos casacos de cabedal – como é de rigueur nos polícias à paisana dos países satélites da União Soviética – e não sorriam. Um deles, um homem pequeno com um bigode fino e voz queixosa, mostrou-me um papel. «Viemos ter consigo por causa disto», disse abruptamente. Peguei no papel que me mostrava, um telegrama que tinha o carimbo dos correios afegãos. À medida que lia o seu conteúdo fui engolindo várias vezes, o género de engolir em seco culpado que os criminosos fazem nos filmes quando são confrontados com provas dalgum crime medonho: «URGENTE. BOB FISK CLIENTE HOTEL CONTINENTAL CABUL», assim dizia. «ALGUMA POSSIBILIDADE OBTER ACTUALIZAÇÃO DOIS MINUTOS AUMENTO PRESENÇA MILITAR SOVIÉTICA NO AFEGANISTÃO PARA DOMINGO MANHà ESTA SEMANA? ABRAÇO Lewis haveria de apresentar mais tarde o noticiário da ITN, em Londres, mas também se entreteria a escrever livros sobre cães e gatos, um passatempo que era provavelmente mais gratificante do que fazer reportagens sobre as conferências de imprensa de Karmal. ¶ 85 A Grande Guerra pela Civilização SUE HICKEY». Sustive a respiração. «Valha-me Deus», gritei. Como é que a Sue poderia ter enviado da delegação londrina da CBC um telegrama destes? Durante dias enviei fitas gravadas para a CBC que descreviam a atmosfera de medo e perigo no Afeganistão e aqui estava a Sue a enviar-me um telegrama aberto a pedir pormenores sobre a disposição das forças militares soviéticas num Estado governado por comunistas pró-Moscovo. Suspeitava que isto fazia parte de um problema muito antigo. Algures entre os jornalistas e as suas sedes distantes em Londres ou Nova Iorque há um muro de leve descrença e um fascínio absoluto perante os despachos dos jornalistas a partir das zonas de guerra, mas, inconscientemente, a convicção de que tudo faz parte duma produção hollywoodiana, que a fita gravada ou o filme, embora, evidentemente, não sejam falsos, constituem, na verdade, uma enorme produção teatral que o exército russo está a representar para nós, imprensa mundial, que o Khad – que é sempre referido nas reportagens noticiosas como a «temível» polícia secreta – de certa forma não seria tão temível assim, que de facto poderia estar no Afeganistão apenas para dar um pouco de excitação às nossas histórias. Olhei para o homenzinho do Khad. Estava a olhar para mim com uma certa excitação estampada no rosto. Era um dos poucos que sabiam falar um inglês aceitável. Apanhara o seu homem. O espião ocidental fora encontrado com provas irrefutáveis das suas actividades ilícitas, um pedido de informações militares sobre o exército soviético. «O que significa isto?», perguntou suavemente o homenzinho. Na verdade, o que significava aquilo? Precisava de tempo para pensar. Por isso, comecei a rir. Deitei a cabeça para trás e dei gargalhadas sonoras por todo o átrio da recepção do hotel que até os recepcionistas se viraram para ver qual era a piada. Vi que um dos polícias esboçava um sorriso. Também queria saber qual era a piada. Deixei que o meu riso fosse esmorecendo lentamente e abanei a cabeça, cansado. «Olhe, esta senhora quer que eu faça uma reportagem para um programa de rádio que se chama Domingo de Manhã, no Canadá», disse eu. «Não há nenhum ‘aumento presença militar soviética’. Todos o sabemos, porque o presidente Karmal no-lo disse: o que veio para o Afeganistão foi «um contingente soviético muito limitado». É óbvio que esta senhora o desconhece. Tenho de esclarecer este assunto e fazer uma reportagem que reponha a verdade. Peço desculpa se se incomodaram com esta estúpida mensagem e posso certamente entender porque se preocuparam com ela.» E ri-me de novo. Até o policiazinho sorriu com ar mortificado. Devolvi-lhe o telegrama incriminatório. «Não, você fique com ele», disse de maneira agastada, agitando o dedo à minha frente. «Nós sabemos, você sabe», disse. «Peço desculpa, mas o que é que sabe?», perguntei-lhe. Mas os rapazes do Khad viraram-me as costas e foram-se embora. Obrigado Sue. Semanas mais tarde fomos jantar e falámos deste episódio… e ela pagou a conta. No entanto, era demasiado fácil fazer da ocupação soviética um drama de contornos a preto e branco, de brutais invasores russos e corajosas guerrilhas afegãs, ou seja, apresentar uma espécie de versão B da II Guerra Afegã, de que fala o livro Tom Graham. Uma série de ditadores pró-soviéticos governou o Afeganistão com crueldade, com lemas socialistas e planos económicos piedosos, mas também através de alianças tribais. Os Pushtuns e os Hazaras, que eram muçulmanos xiitas, e os Tajiques, os Ghilzais, os Durranis e os Usbeques podiam ser manipulados pelo governo de Cabul. Este podia conceder poder a um líder 86 «Eles Disparam sobre os Russos» disposto a controlar a sua cidade em nome das autoridades comunistas, mas podia reter fundos e apoio a quem quer que não estivesse disposto a isso. A prisão, a tortura e as execuções não eram as únicas formas de assegurar a submissão política. No entanto, nas tribos do interior do deserto e dos vales do Afeganistão, os mesmos governos comunistas tentaram exercer a persuasão e depois obrigar estas sociedades rurais a ter um sistema de educação moderno, que integrasse as raparigas, para além dos rapazes, em que elas não tivessem de usar o véu, em que a ciência e a literatura fossem ensinadas para além do islamismo. Vinte e dois anos depois, um presidente americano haveria de afirmar com ostentação que estes eram alguns dos seus próprios objectivos para o Afeganistão. Aliás, recordo-me duma excursão fora de Jalalabad nos primeiros dias da invasão soviética. Ouvira dizer que uma escola havia sido queimada numa aldeia a 25 quilómetros da cidade e fui num táxi de marca soviética, que deitava muito fumo, para ver se era verdade. De facto era, mas havia muito pior. Ao lado da escola esventrada, pendurado duma árvore, estava um pedaço de carne negra, balançando suavemente com a brisa. Um dos aldeãos, pressionando o motorista para me levar para fora da aldeia, disse-nos que aquilo era tudo o que restava do director. Também tinham enforcado e queimado a sua mulher, que era professora. O pecado do casal era obedecer às regras do governo segundo as quais as raparigas e os rapazes deveriam ser ensinados na mesma sala de aula. E que dizer daqueles Paquistaneses, Egípcios e Sauditas que estavam, segundo Karmal, a apoiar os «terroristas»? Até em Jalalabad ouvi que os árabes foram avistados no campo que rodeava a cidade, mas considerei falsos estes relatos, o que era característico da nossa inocência nesta altura. Como é que os Egípcios e os Sauditas conseguiriam aqui chegar? Todavia, quando ouvi os meus colegas, sobretudo os jornalistas americanos, a referirem-se à resistência como «combatentes da liberdade», senti que algo não estava bem. Guerrilheiros, talvez, até combatentes, mas combatentes da «liberdade»? Que género de «liberdade» estava eles a querer dar ao Afeganistão? Da sua bravura não havia que duvidar. Três semanas após a invasão soviética apareceram os primeiros sinais de oposição política muçulmana unificada ao governo de Karmal e aos seus apoiantes russos. Os poucos diplomatas que permaneceram em Cabul chamaram-lhes «cartas nocturnas». Toscamente impressos em papel de má qualidade, as declarações e os manifestos eram atirados para os edifícios das embaixadas e introduzidos nos gradeamentos dos consulados nas horas de recolher obrigatório, com as respectivas mensagens habitualmente encimadas por um desenho do Alcorão. A mais recente das cartas – estávamos nesta altura em meados de Janeiro de 1980 – dizia provir dos «Guerreiros Muçulmanos Unidos do Afeganistão» e ostentava o signo da Frente Afegã Islâmica, um dos grupos que lutavam no Sul do país. Das páginas abertas do Alcorão saíam três espingardas. A carta denunciava o regime por «crimes inumanos» e condenava os militares soviéticos no país por «tratar os Afegãos como escravos». Os muçulmanos, dizia, «não abandonarão a luta nem os ataques de guerrilha até ao nosso último suspiro […] os militares orgulhosos e agressivos da potência russa não pensam nos direitos e na dignidade humana do povo do Afeganistão.» A carta ameaçava de morte Karmal e três ministros do seu executivo, referindo-se ao 87 A Grande Guerra pela Civilização presidente como «Khargal», um jogo de palavras em persa que significa «ladrão de trabalho». O primeiro homem a ser condenado foi Asadullah Sawari, membro do presidium afegão, que fora o chefe da polícia secreta de Taraki, considerado o homem que ordenara a tortura de milhares de opositores àquele. Na lista de indivíduos a abater incluía-se Shah Jan Mozdooryar, um ex-ministro do Interior que era agora o ministro dos Transportes de Karmal. A «carta nocturna» também alegava que o exército soviético estava a «cometer actos que eram intoleráveis ao povo», acrescentando que os soldados soviéticos tinham raptado mulheres e raparigas que trabalhavam numa padaria, no subúrbio de Darlaman, junto a Cabul, e que as devolveram na manhã seguinte, após terem ficado com elas toda a noite. Um incidente semelhante, dizia a carta, ocorrera no subúrbio de Khaire Khana, «um acto de agressão contra a dignidade das famílias muçulmanas». Quando investiguei estas afirmações, os trabalhadores da padaria em Darlaman disseram-me que as trabalhadoras que normalmente fazem o pão para os soldados afegãos recusaram trabalhar para as tropas soviéticas e que os Russos, por isso, retiraram as mulheres da padaria e as obrigaram a fazer o pão noutro sítio. No entanto, não foram explícitos sobre o tratamento que as mulheres receberam e estavam demasiado assustados para falar. Os autores da carta diziam que os muçulmanos haveriam de derrubar Karmal e judiciosamente acrescentavam que se recusariam a honrar qualquer contrato com o estrangeiro celebrado pelo seu governo ¶. Depois acrescentavam, desesperadamente e talvez de forma um tanto patética, que a sua declaração deveria ser difundida pela BBC às 20:45h «sem censura». No entanto, Gavin e eu aventurámo-nos na maior parte dos dias com Steve, Geoff, Mike e o fiel Sr. Samadali. A 12 de Janeiro, estávamos a meio caminho do desfiladeiro de Salang, a 130 quilómetros a norte de Cabul, quando o nosso carro deslizou no gelo e um jovem pára-quedista russo da 105.ª Divisão Aerotransportada desceu a estrada a correr, agitando a sua espingarda automática na nossa direcção e gritando em russo. Fora ferido na mão direita e o sangue escorria pelo buraco feito pela bala para a ligadura improvisada e encharcava a manga do uniforme de combate. Tinha menos de 20 anos, um belo cabelo, olhos azuis e o rosto revelava medo. Era evidente que nunca estivera debaixo de fogo. Ao nosso lado, um camião de transporte do exército soviético com a parte traseira desfeita por uma mina permanecia virado ao contrário numa vala. Havia dois veículos de transporte blindados e com lagartas logo acima na estrada e um capitão pára-quedista russo correu na nossa direcção para se juntar ao colega. ¶ Karmal foi mandado de avião para Moscovo pelos Russos em 1986, sendo substituído por Mohamed Najibullah, o chefe do Khad, a polícia secreta. Foi subsequentemente deposto por facções mujahedines e refugiou-se nos escritórios das Nações Unidas, em Cabul, em 1992, três anos após a retirada soviética. Em 1996, os talibãs retiraram Najibullah aos seus duvidosos protectores – «estão aqui uns homens para falar consigo», anunciou tristemente um dos funcionários da ONU ao ex-servidor de Moscovo – e depois de terem castrado o antigo funcionário dos serviços secretos, enforcaram-no com o seu irmão numa árvore, tendo-lhe enchido a boca e os bolsos com dinheiro afegão. Este era, sem dúvida, o destino que os autores da «carta nocturna» esperavam dar a Karmal, que morreria de cancro em Moscovo anos mais tarde. 88 «Eles Disparam sobre os Russos» «Quem são vocês?», perguntou em inglês. Tinha cabelo escuro e estava cansado, vestia uma túnica enrugada e o fecho do cinto ostentava a foice e o martelo. Dissemos-lhe que éramos correspondentes, mas o soldado mais novo estava demasiado absorvido com a dor que lhe vinha da ferida. Voltou a colocar a segurança da espingarda e depois ergueu a mão na nossa direcção para que a examinássemos. Fê-lo com dificuldade e apontou para a montanha acima, coberta de neve, onde um helicóptero militar russo ia lentamente descrevendo círculos. «Eles disparam sobre os Russos», disse ele. Estava incrédulo. Ninguém sabia quantos Russos tinham sido mortos pelos guerrilheiros, embora um aldeão quilómetro e meio mais a sul insistisse com uma indisfarçada satisfação que os seus compatriotas mataram centenas deles. No entanto, a emboscada fora cuidadosamente planeada. A mina explodira ao mesmo tempo que uma carga explodira sob uma ponte na estrada principal. Por isso, durante quase 24 horas, metade duma coluna russa que ia a caminho de Cabul desde a fronteira soviética estivera isolada na neve a uma altitude de mais de 2000 metros. Os engenheiros russos fizeram reparações temporárias e observámos como os camiões soviéticos atravessaram as montanhas, deslizando pelo gelo compacto e enlameado: 156 veículos blindados, veículos com oito rodados para transporte de militares e 300 camiões de transporte de gasolina, munições, alimentos e tendas. Os motoristas pareciam exaustos. A ironia, evidentemente, era que os Russos tinham construído esta estrada pavimentada através de um desfiladeiro de 3600 metros como símbolo da cooperação entre a União Soviética e o Afeganistão e para as colunas militares soviéticas que estavam agora a fluir em direcção ao sul debaixo de ataques diários. Nessa noite, o departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que tinham sido mortos 1200 soldados russos. Parecia um exagero. No entanto, o aldeão, com a sua disposição sangrenta, pode ter dito a verdade quando falou de centenas de mortos. Um «contingente muito moderado», de facto. O governo de Karmal decretou um «dia de luto» pelos que foram mortos pelo «carniceiro Amin». A embaixada britânica colocou mesmo a sua bandeira a meia haste. No entanto, apenas uma centena de pessoas apareceu na mesquita pintada de amarelo da ponte Polekheshti para rezar pelas suas almas e eram na sua grande maioria funcionários bem vestidos do PDP. Às quatro jovens que se aproximavam da mesquita, no Norte de Cabul, e tentaram evitar a cerimónia foi recordado por um soldado com a baioneta calada os deveres que tinham para com o partido. Assinaram o livro. O resto da cidade de Cabul manteve a atitude desconfortável da sua nova vida. Os bazares estavam abertos como era habitual e os vendedores de rua com os seus doces e óleos continuaram a fazer as suas vendas ao lado do rio Cabul coberto de gelo. Na cidade velha, a equipa de uma televisão ocidental era apedrejada por uma multidão que os tomou por Russos. Cabul, assente na sua bacia gelada, nas montanhas, tinha naquele inverno um ar de normalidade quase aborrecido, com o fumo da madeira a subir para um céu azul-pálido. A primeira coisa em que reparámos no céu foi um exército de papagaios – papagaios de caixa larga, papagaios triangulares e papagaios rectangulares com pequenos papéis, pintados em tons de azul e vermelho e muitas vezes decorados com um olho humano grande e amistoso. Ninguém parecia saber por que razão os afegãos eram tão obcecados por papagaios, embora 89 A Grande Guerra pela Civilização houvesse uma qualidade poética na maneira com as crianças – pequenas como bonecos, com finos traços chineses, enfaixadas em casacos e capas bordadas – observavam os seus papagaios a flutuar no ar gelado, aqueles grandes olhos de papel com os seus longos cílios a flutuar na direcção das montanhas. Gavin e eu pedimos uma vez ao Sr. Samadali para nos conduzir ao jardim zoológico. Passado o portão, um sinal enferrujado que dizia «abutres» indicava a direcção para alguns dos pássaros mais horríveis que há na Terra, esqueletos vivos, mais do que aves descarnadas. Ultrapassado o fosso dos porcos, um caminho levava-nos até às jaulas dos ursos polares. No entanto, as portas das jaulas estavam abertas e não havia ursos. Ainda mais perturbador era o grupo silencioso de homens de turbante que nos seguiu até ao parque das zebras, aparentemente convencidos de que éramos Russos. Deve ter sido o único jardim zoológico do mundo em que os visitantes eram potencialmente mais perigosos do que os animais. Conseguimos até encontrar a única locomotiva do Afeganistão, uma grande máquina a vapor do início do século XX, comprada pelo rei Amanullah a um fabricante alemão. Estava estacionada, irreparável, e a enferrujar perto de um palácio em ruínas, com todos os pistões congelados e guardada por polícias que se apressaram em direcção às nossas máquinas quando tentámos tirar fotografias daquela velha locomotiva, uma atitude ainda mais absurda por não haver uma única linha de caminho-de-ferro em todo o Afeganistão. Talvez para compensar, os motoristas dos camiões do Afeganistão transformaram os seus veículos em obras-primas de pop art afegã, com toda a superfície da carroçaria coberta com pinturas e desenhos coloridos. A arte afegã dos camiões tinha uma história muito própria, tendo sido criada em 1945 quando foram acrescentados pedaços de metal à carroçaria de madeira nos camiões de longo curso. Os painéis foram transformados em telas pelos artistas de Cabul e, mais tarde, de Kandahar. Os proprietários dos camiões pagavam quantias avultadas a estes pintores – quanto mais intrincada fosse a decoração mais apreciado era o proprietário – e a arte era copiada de cartões de Natal, calendários, banda desenhada e mesquitas. Podia encontrar-se o Tarzan e o cavalo do Imã Ali lado a lado com papagaios, montanhas, helicópteros e flores. Taipais com três painéis em camiões Bedford permitiam fazer uns trípticos perfeitos. Um autor francês perguntou uma vez ao proprietário dum camião por que razão pintava a sua carroçaria e recebeu a resposta de que «é um jardim, porque a estrada é comprida» (7). Inevitavelmente, Karmal tentou apaziguar os mujahedines, procurando obter um cessar-fogo nas áreas rurais numa série de encontros secretos entre os mediadores governamentais e os líderes tribais, na cidade fronteiriça paquistanesa de Peshawar. Uma declaração do PDP anunciou que «teriam início negociações amigáveis com […] progressistas democráticos nacionais e círculos e organizações islâmicos». Esta nova abordagem, intrigante, embora condenada ao fracasso, foi acompanhada dum esforço desesperado por parte do governo para se convencer a si mesmo de que estava a ganhar legitimidade internacional. Os jornais de Cabul traziam notícias, que dificilmente seriam de surpreender, de que houvera reacções favoráveis da Síria, do Camboja e da Índia, bem como da União Soviética e dos seus satélites europeus. Num longa carta dirigida ao aiatolá Khomeini, cuja revolução islâmica no Irão no ano anterior tanto assustara os Soviéticos, Karmal criticava a resposta adversa do Irão ao 90 «Eles Disparam sobre os Russos» seu golpe, pois fora condenada pelos líderes religiosos iranianos, e procurava tranquilizar o aiatolá de que com o derrube de Amin o assassínio dos elementos tribais muçulmanos no Afeganistão acabara. «O meu governo nunca permitirá a quem quer que seja utilizar o nosso território como base contra a revolução islâmica no Irão e contra os interesses do povo fraterno iraniano», escrevia ele. «Esperamos que os nossos irmãos iranianos adoptem idêntica atitude.» O Irão, escusado será dizer, não estava com disposição para assim fazer. Passados alguns dias sobre a invasão soviética (8), o ministro dos Negócios Estrangeiros de Teerão afirmara que «o Afeganistão é um país muçulmano […] a intervenção militar do governo da União Soviética no país vizinho dos nossos correligionários é considerada uma medida hostil […] contra os muçulmanos de todo o mundo». Passados alguns meses, e cientes de que os Estados Unidos estavam a enviar ajuda aos guerrilheiros, o Irão iria preparar o seu próprio programa de assistência militar aos insurrectos. Em Julho, Sadeq Qotbzadeh, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, dizia-me que esperava que o seu país entregasse armas aos rebeldes (9), se a União Soviética não tivesse retirado o seu exército. «Uma proposta [neste sentido] foi enviada ao Conselho Revolucionário», disse-me ele em Teerão. «[…] Tal como fomos contra a intervenção militar americana no Vietname, pensamos exactamente da mesma maneira sobre a intervenção soviética no Afeganistão […] A União Soviética afirma que foi para o Afeganistão a pedido do governo afegão. Os Americanos estavam no Vietname a pedido do governo vietnamita.» Porém, nesta fase Karmal enfrentava problemas mais prementes do que o Irão. Desesperado por manter a lealdade do exército afegão – ouvimos notícias de que apenas 60% das forças obedeciam agora às ordens – Karmal fez mesmo um apelo ao seu patriotismo, prometendo uma maior atenção às suas «necessidades materiais». Estes «oficiais heróicos, estes cadetes patriotas e estes valentes soldados» foram estimulados a «defender a liberdade, a honra e a segurança do nosso povo […] com grandes esperanças num futuro brilhante.» As «necessidades materiais» referiam-se claramente aos prés em atraso. O próprio facto de um tal apelo ter de ser feito dizia muito sobre o baixo moral do exército afegão. Mal tentou apaziguar os seus soldados, Karmal virou-se para os islamistas, que há tanto tempo se opunham aos regimes comunistas de Cabul. Anunciou que mudaria a bandeira do Afeganistão para reintroduzir o verde, a cor do Islão tão imprudentemente retirada da bandeira nacional por Taraki, o que enfurecera o clero. Ao mesmo tempo – e Karmal tinha uma capacidade quase única de anular cada uma das novas iniciativas políticas com contramedidas impopulares – avisou que o seu governo trataria «os terroristas, os bandidos, os assassinos e os ladrões de estradas» com «mão firme revolucionária.» Por «terroristas» entenda-se «guerrilheiros» ou – como o presidente Ronald Reagan lhes chamaria nos anos seguintes – «combatentes da liberdade». Terroristas, terroristas, terroristas. No Médio Oriente, em todo o mundo muçulmano, esta palavra tornar-se-ia uma praga, um sinal de pontuação sem significado em todas as nossas vidas, um ponto final colocado para acabar com todas as discussões sobre as injustiças, erigido como um muro por Russos, Americanos, Israelitas, Britânicos, Paquistaneses, Sauditas e Turcos para nos calar. Quem é que iria dizer uma palavra para defender os terroristas? Que causa poderia 91 A Grande Guerra pela Civilização justificar o terror? Por isso, os nossos inimigos são sempre «terroristas». No século XVII, os governos usavam a palavra «herético» de forma muito semelhante para assim acabarem com todo o possível diálogo e forçar a obediência. A política de Karmal era simples: ou estão connosco ou contra nós. Ouvi durante décadas esta afirmação perigosa formulada por capitalistas e comunistas, presidentes e primeiros-ministros, generais e elementos dos serviços de informação e, é claro, por editores de jornais. No Afeganistão não havia estas fórmulas de recurso. No meu simpático quarto do Hotel Intercontinental, todas as noites abria o mapa. Que nova viagem se poderia fazer pelo planalto gelado antes de os Russos nos expulsarem? Com isto em mente, verifiquei que a medida exacta da invasão soviética poderia ser avaliada da fronteira russa. Se pudesse chegar a Mazar-e-Sharif, muito ao norte, no rio Amu Darya, estaria perto da fronteira da União Soviética e poderia observar as suas grandes colunas a entrar no país. Pus no saco um macio chapéu afegão e um xaile castanho com franjas verdes que comprei no bazar, bem como dólares suficientes para passar várias noites num hotel em Mazar, e parti antes de amanhecer para a estação central rodoviária de Cabul, fria, mas já apinhada. Os Afegãos que esperavam o autocarro para Mazar eram amigáveis quanto baste. Quando disse que era inglês os sorrisos afloraram e vários jovens apertaram-me a mão. Outros observaram-me com as mesmas suspeitas que os homens do Khad no Hotel Intercontinental. Havia mulheres com burcas, que se sentavam em silêncio na parte traseira do veículo de madeira. Coloquei o meu chapéu afegão a tapar a testa e pus o xaile pelos ombros. Envolto pelo fumo dos cigarros dos passageiros, ocupei um lugar no lado direito do veículo, porque os soldados nos postos de controlo abordam sempre os veículos pela esquerda. Funcionou. O autocarro lá foi ruidosamente estrada acima em direcção a Salang enquanto os primeiros raios de sol brilhavam timidamente por cima das planícies cheias de neve. Gavin e eu já tínhamos percorrido esta estrada tantas vezes de automóvel que, apesar dos perigos, ela era familiar, quase amistosa. À direita ficava a grande base soviética a norte do aeroporto de Cabul. Neste ponto ficava o posto de controlo afegão no exterior de Charikar. Aqui foi onde o jovem soldado russo mostrara a ferida que tinha na mão. Os soldados nos postos de controlo afegãos tinham demasiado frio para entrar no autocarro e olhar para os passageiros. Quando os soldados soviéticos fizeram uma inspecção superficial, enrolei-me no meu lugar com o xaile à volta da cara. Três horas mais tarde, o autocarro parou à beira da estrada, muito perto do túnel Salang. Estavam veículos blindados russos ali estacionados a poucos metros e um grupo de soldados de olhos azuis e cabelos castanhos a despontar sob os seus chapéus de pele. Foi aqui que as coisas correram mal. Um oficial russo entrou no autocarro pela direita e os seus olhos cruzaram-se com os meus. Então um homem no interior do autocarro, um afegão com um bigode fino, apontou para mim. Caminhou até ao lado, ficou junto ao meu lugar e ergueu o dedo, apontando directamente para a minha cara. Atraiçoado. Foi essa a palavra que me cruzou a mente. Já vira esta cena numa dúzia de filmes. O mesmo se passava, sem dúvida, com o informador. Este homem deveria estar a trabalhar para a polícia secreta afegã, vira-me entrar no autocarro em Cabul e aguardara até chegar a um posto de controlo fortemente guardado para me entregar. Outro jovem afegão saltou do autocarro, caminhou junto ao lado direito 92 «Eles Disparam sobre os Russos» do veículo e depois apontou para mim através da janela. Duas vezes atraiçoado. Estávamos a 160 quilómetros de Cabul. Se tivesse passado esta última barreira importante estaria no túnel e a caminho de Mazar. O oficial russo ordenou-me que abandonasse o autocarro. Notei um emblema de Lenine na sua lapela. Lenine parecia zangado, com os olhos fixos num qualquer sonho bolchevique longínquo em que eu não estava autorizado a entrar. «Passaporte», disse o soldado, com indiferença. Era como o episódio do terrível telegrama que Sue Hickey me enviara, mais uma prova do meu falso papel no Afeganistão. Nos anos 80, a capa dos passaportes britânicos era preta. O brasão de armas dourado do Reino Unido reflectiu em direcção ao russo. Estudou-o cuidadosamente. Quase esperava que me perguntasse o significado de «Dieu et mon droit» ou, pior ainda, «Honi soit qui mal y pense». Passou as mãos por ele para o abrir, olhou para a cara do inglês sem óculos e mal penteado da terceira página e depois para a palavra «profissão». A palavra «jornalista» não é de molde a permitir muitos vistos no Médio Oriente, pelo que o British Passport Office tem sido suficientemente tolerante e escreveu «representante» no espaço respectivo. O russo, que percebia tanto de caracteres latinos como eu os cirílicos, bateu com o dedo na palavra e perguntou num inglês bastante aceitável: «O que é que o senhor ‘representa’?» Um jornal, admiti eu. «Ah! Correspondente.» E dirigiu-me um grande sorriso de entendido. Fui conduzido a uma pequena cabana de comunicações, situada na neve, e da qual saiu um capitão pára-quedista seminu e de óculos escuros. O capitão Viktor, de Tashkent, não mostrou animosidade quando lhe disseram que eu era jornalista e os seus homens reuniram-se à minha volta, ansiosos por falar e utilizando um inglês que tinha alguns erros, mas não era de forma alguma mau. Ouviu-se o ruído do motor do meu autocarro e vi-o partir sem mim do posto de controlo em direcção ao túnel. O que me atraiçoara olhava-me fixamente e com ódio da janela traseira. O soldado Tebin, da cidade estónia de Talin – se sobreviveu ao Afeganistão, penso que será agora um orgulhoso cidadão da União Europeia, apresentando com satisfação o seu novo passaporte nos balcões de imigração britânicos –, declarou várias vezes como as montanhas se tinham tornado perigosas depois de os rebeldes terem começado a disparar todos os dias sobre as tropas soviéticas. O capitão Viktor quis saber por que razão escolhera ser jornalista, mas o que mais sobressaiu era que todos estes soldados estavam fascinados pela música pop. O tenente Nikolai, de Tashkent, interrompeu em certo momento para perguntar: «É verdade que Paul McCartney foi preso em Tóquio?» E juntou as mãos como se tivesse algemado. «Por que razão prenderam o McCartney?», queria ele saber. Perguntei-lhe onde ouvira a música dos Beatles e dois homens fizeram de imediato coro com ele: «Na rádio ‘Voz da América’.» Eu agora sorria, não porque os Russos fossem amigáveis – todos tinham analisado o meu passaporte e todos me chamavam agora «Robert», como se fosse um camarada de armas, e não um cidadão duma potência inimiga –, mas porque estes soldados soviéticos, com o seu interesse declarado pela música ocidental, não representavam os guerreiros de ferro de Estalinegrado. Eram parecidos com qualquer soldado ocidental: ingénuos, alegres em frente de estranhos, confiando em mim porque eu era – e aqui nas neves afegãs, é claro, o facto acentuava-se – um europeu como eles. Pareciam genuinamente pesarosos de não 93 A Grande Guerra pela Civilização poderem permitir que eu prosseguisse a minha viagem, mas pararam um autocarro que ia na direcção contrária. «Para Cabul!» anunciou o capitão Viktor. Recusei. As pessoas daquele autocarro viram-me a falar com os Russos. Pensariam que eu era russo também. Nenhuma garantia de que eu era britânico os iria convencer. Duvidava que pudesse chegar alguma vez a Cabul, pelo menos vivo. Por isso, o tenente Nikolai fez sinal de paragem a um camião militar russo que ia a passar, integrado no fim duma coluna, e fez-me subir para ele. Ergueu a mão: «Dos vidanya», disse. «Adeus e dê cumprimentos meus a Linda McCartney.» Assim, vi-me a descer o Hindu Kush na coluna n.º 58 do exército soviético de Tashkent para Cabul. Era incrível. Nenhum jornalista ocidental conseguira falar com as tropas soviéticas que invadiram o Afeganistão, e muito menos viajar nas suas colunas, e ali estava eu, sentado junto a um soldado soviético armado, que conduzia o seu camião carregado de alimentos e munições para Cabul, sendo-me permitido observar este vasto aumento da presença militar a partir dum veículo do exército soviético. Isto era melhor do que Mazar. Quando iniciámos a descida da garganta, o condutor russo a meu lado puxou a sua mochila de trás do assento, abriu as correias e ofereceu-me uma laranja. «Olhe para cima, por favor», disse ele. «Olhe para o cimo das colinas.» Quase incrédulo, percebi o que estava a acontecer. Enquanto ele se debatia contra o gelo com o volante do camião, pedia-me que vigiasse o cimo da montanha à procura de homens armados. A laranja era a minha paga por o ajudar. Lentamente, começámos a ficar atrasados em relação à coluna. «Agora, vigie o lado direito da estrada», acrescentou ele. «Diga se vir alguém.» Fiz o que me mandou, tanto por causa dele como por minha causa. O nosso camião estava pintado de azul no interior com a palavra Kama gravada no tabliê. Era um dos camiões construídos com assistência americana na fábrica situada junto do rio Kama, na União Soviética, e perguntei-me sobre o que o presidente Carter pensaria se soubesse para que servia agora a tecnologia do seu país. O condutor tinha coberto a cabina com postais de Natal. No fim do desfiladeiro encontrámos a sua coluna e um oficial alto com uns estranhos e inteligentes olhos verde-pálido e calças de caqui enfiadas em pesadas botas do exército aproximou-se da porta do meu lado do camião. «Você é inglês», disse ele sorrindo. «Eu sou o major Yuri. Venha comigo até à frente.» Por isso, fizemos uma difícil viagem a pé pela neve semiderretida até à frente da coluna, onde um tanque soviético estava a tentar manobrar para subir a passagem na direcção oposta. «É um T-62», disse ele, apontando para a manga que fazia a ligação do cano ao veículo. Achei prudente não lhe dizer que já havia reconhecido de que classe se tratava. Aliás, tenho de admitir que o major Yuri me pareceu um soldado profissional, manifestamente apreciado pelos seus homens – disse a todos para me apertarem a mão – e na crise em que muito em breve todos nos encontraríamos agiu com calma e eficiência. Com os mal-humorados soldados afegãos, de que parecia pessoalmente desconfiar, era duma urbanidade irrepreensível. Quando cinco soldados afegãos apareceram ao lado da coluna para se queixar de que militares russos agitaram as armas na sua direcção, o major Yuri falou-lhes como a um igual, tirando as luvas e apertando-lhes a mão a todos até que sorriram radiantes de prazer. No entanto, era também um homem do partido. 94 «Eles Disparam sobre os Russos» «O que pensava eu da Sr.ª Thatcher?», perguntou ele. Expliquei que as pessoas na Grã-Bretanha tinham perspectivas diferentes da nossa primeira-ministra – prudentemente coibi-me de dizer qual era a minha –, mas era-lhes permitido expressá-las com liberdade. Disse que o presidente Carter não era o homem mau retratado pela imprensa de Moscovo. O major Yuri ouviu em silêncio. Então, e o que pensava ele do presidente Brejnev? Eu agora ria-me abertamente e divertido. Sabia o que ele tinha de dizer. Ele também. Abanou a cabeça com um sorriso. «Penso», disse ele lentamente, «que o camarada Brejnev é um homem muito bom.» O major Yuri era um homem culto. Lera Tolstoi e admirava a música de Shostakovitch, sobretudo a sinfonia Leninegrado. Mas quando lhe perguntei se lera Alexander Soljenitsin abanou a cabeça e bateu no coldre do revólver. «Isto», disse ele, «é para Soljenitsin.» Fiquei apertado no camião do major, com o condutor e eu próprio nos assentos das pontas e Yuri no meio. Assim fomos em direcção a Cabul. «Inglaterra bom país?», perguntou. «Melhor do que Afeganistão?» Não, o major Yuri não queria estar no Afeganistão, confessou. Queria estar em casa, no Cazaquistão, com a sua mulher e a filha de nove anos e pensava voltar para elas numa coluna de regresso daqui a três dias. Passara 13 dos seus 30 anos no exército, não tinha dinheiro suficiente para comprar um carro e nunca poderia ir ao estrangeiro por ser oficial. Era a sua maneira de me dizer que a vida na União Soviética era dura, que a sua vida não era fácil, que talvez o camarada Brejnev não fosse assim um homem tão bom. Não fora Brejnev, aliás, que o enviara para aqui? Quando lhe fazia perguntas a que não podia responder, sorria em silêncio, reconhecendo que gostaria de o poder fazer. No meio dum grande exército há sempre uma falsa ideia de à-vontade. Até o major Yuri, com os seus olhos pálidos sempre a perscrutar os terrenos cobertos de neve de cada um dos lados, parecia ter uma autoconfiança perigosa. Era verdade que os Afegãos estavam a atacar os Russos, mas quem poderia parar este Leviatão, esta centopeia blindada que estava agora a rastejar através da neve e das montanhas do Afeganistão? Parámos num posto de controlo afegão e os soldados que lá estavam não sabiam falar russo. O major Yuri mandou chamar um dos seus oficiais tajiques para fazer a tradução. Enquanto o fazia, o major apontou para o tajique e disse: «muçulmano». Sim, compreendi. Havia muçulmanos na União Soviética. Na verdade, havia muitos muçulmanos na União Soviética e, em parte, era disso que se tratava em toda esta invasão. A neve estava a tapar o pára-brisas do nosso camião, quase demasiado depressa para que os limpa-pára-brisas a pudessem afastar, mas através das janelas laterais podíamos ver os campos cheios de neve que se estendiam por quilómetros e quilómetros. Estávamos agora a meio da tarde e arrastávamo-nos a uma velocidade que não excedia os 25 quilómetros por hora, acompanhando a velocidade do camião mais lento. Era uma grande e velha serpente com comida, cobertores, munições pesadas, no meio de tanques e veículos de transporte – 147 camiões no total –, comprimidos na estrada principal, uma artéria estreita de alcatrão e gelo compacto que tornava cada um dos soldados soviéticos num alvo para os «terroristas» do Afeganistão, ou assim parecia aos homens da Coluna 58… e a mim. Todavia, fomos tomados de surpresa quando os primeiros tiros começaram a fazer-se ouvir à nossa volta. Estávamos mesmo ao norte de Charikar e as balas passavam entre o 95 A Grande Guerra pela Civilização nosso camião e o que estava à frente, enchendo as bolsas de ar atrás deles com pequenas explosões e assobiando na direcção dos pomares cobertos de gelo à nossa esquerda. «Para fora!», gritou o major Yuri. Queria que os soldados se defendessem no meio da neve, não que ficassem encurralados nas cabinas. Caí no meio do esterco e da neve ao lado da estrada. Os Russos à minha volta saltavam dos camiões. O tiroteio parou e ao longe, à nossa frente, num nevoeiro feito de neve e chuva, ouviam-se gritos. Uma espiral de fumo azul ergueu-se no ar à nossa direita. As balas voltaram a silvar por cima de nós e uma delas cravou-se com um som reconhecível na cabina do condutor. À minha volta, os soldados estavam deitados sobre os detritos. O major Yuri gritou algo para os homens que estavam mais próximos dele e houve uma série de pequenas explosões enquanto as suas Kalashnikovs repercutiam nos seus ombros. Poderiam eles ver para onde disparavam? Caiu um grande silêncio sobre a paisagem. Algumas figuras movimentaram-se ao longe à nossa esquerda, nas proximidades duma árvore morta. Yuri estava a olhar atentamente para o pomar. «Estão a disparar dali», disse ele em inglês. Lançou-me um olhar penetrante. Isto já não era uma conversa amena entre soldados. Ouvi os estalidos dos rádios, os gritos dos oficiais a interromper-se uns aos outros e vi os soldados na neve a olhar por cima dos ombros. O major Yuri retirara o seu boné de pele, o cabelo castanho estava a rarear e parecia mais velho do que os seus 30 anos. «Preste atenção, Robert», disse ele, puxando do uniforme de combate um longo tubo com um foguete luminoso. Permanecíamos juntos na neve, com a terra enregelada sob os joelhos, enquanto puxava por um pequeno cordão que estava pendurado por baixo do tubo. Ouviu-se uma pequena explosão, sentiu-se um forte cheiro a cordite e viu-se um rasto de fumo a elevar-se no céu. Tudo foi visto por uma dúzia de soldados mais próximos de nós, sabendo cada um deles que as nossas vidas podiam depender deste foguete. O rasto de fumo percorreu uns trezentos metros em altura, após o que rebentou numa chuva de estrelas e passados 50 segundos um jacto Mig da Força Aérea Soviética passou a rasar por cima de nós, fazendo oscilar as asas. Um minuto mais tarde, um camião de lagartas para transporte de pessoal com o número 368 chegou em força pela neve com dois dos seus tripulantes inclinados nas suas escotilhas e deslizou até parar ao lado do camião do major Yuri. O rádio crepitou, ele ouviu em silêncio por uns momentos e depois ergueu quatro dedos para mim. «Mataram quatro Russos na coluna da frente», disse ele. Permanecemos na estrada, protegidos atrás da primeira coluna. Deram ordem a uma fila de soldados para penetrarem 200 metros na direcção dos campos. O major Yuri disse aos seus homens que podiam abrir as rações. O soldado tajique que traduzira para o major ofereceu-me comida e segui-o até ao seu camião. Estava decorado com imagens islâmicas, citações do Alcorão, curiosamente misturadas com fotografias de dançarinas de ballet do Bolshoi. Sentei-me perto do camião com dois soldados ao meu lado. Comemos biscoitos secos e grandes pedaços de porco cru. A única forma de conseguir comer o porco foi pegar na pele e rasgar a gordura salgada com os dentes. A cada soldado eram distribuídas três laranjas e sardinhas em lata. As latas continham cerca de 10% de sardinhas e 90% de óleo. De poucos em poucos minutos o major Yuri passava pela estrada e falava pelo rádio-telefone e quando finalmente nos fomos embora com a nossas escoltas blindadas espalhadas pela 96 «Eles Disparam sobre os Russos» coluna, parecia não ter a certeza de qual era a nossa localização exacta na estrada. «Será que eu», perguntou, «lhe podia emprestar o meu mapa?» E de súbito tornou-se-me evidente que esta longa coluna não trazia consigo um simples mapa do Afeganistão. Havia poucos vestígios da coluna que fora emboscada mais à frente, excepto os pés dum homem morto que estavam a ser puxados à pressa para uma carrinha do exército soviético, perto de Charikar, e um grande rasto de neve carmesim e cor-de-rosa que se estendia por vários metros para um dos lados da estrada. A estrada tornou-se mais gelada quando o sol se pôs, mas íamos mais depressa. Quando avançávamos durante a noite com os faróis dos nossos 147 camiões a correr como diamantes sobre a neve que íamos deixando para trás, entregaram-me gentilmente uma Kalashnikov com um carregador cheio. Um soldado destravou o fecho de segurança e disse-me para vigiar através da janela. Eu não queria empunhar a arma e ainda menos disparar sobre guerrilheiros afegãos, mas se fôssemos novamente atacados – se os Afegãos se dirigissem directamente para o camião como haviam feito em muitas outras ocasiões com estas colunas – pensariam que eu era russo. Não iriam pedir a todos os membros do Sindicato Nacional dos Jornalistas para se afastarem antes de dispararem sobre os soldados. Nunca tinha empunhado uma arma em tempo de guerra e espero nunca mais o voltar a fazer. Sempre amaldiçoei os jornalistas que envergam uniformes militares e fazem de soldados com uma arma junto à anca, ficando naquela zona cinzenta entre o jornalista e o combatente, tornando as nossas vidas ainda mais perigosas, porque os exércitos e as milícias passam a encarar-nos como uma extensão dos seus inimigos, potenciais combatentes, alvos militares. Mas eu não me tinha oferecido para viajar com o exército soviético. Eu não estava «integrado» [embedded], termo repugnante que se tornaria o modo de se lhe referir em guerras futuras. Eu era, por um lado, prisioneiro deles e, por outro, seu convidado. À medida que as semanas se foram passando, os Afegãos aprenderam a subir, após cair a noite, para os camiões soviéticos que viajavam em coluna e apunhalavam os seus ocupantes. Sabia que ao aceitar uma espingarda, embora nunca a tivesse usado, daria azo a uma reacção dos puristas entre os jornalistas, mas pareceu-me preferível admitir o facto do que eliminá-lo da minha narrativa ¶. Se eu seguia numa coluna do exército soviético de arma na mão, então esta era a verdade acerca deste assunto. Por três vezes passámos por vilas e aldeias onde os aldeãos e os camponeses se alinhavam à beira da estrada para nos ver passar. É claro que era uma experiência estranha Do seu gabinete executivo (The Times, 22 de Janeiro de 1980) na Fleet Street, em Londres, a aproximadamente 6500 quilómetros de Cabul, o director geral da Reuters, Gerald Long, enviou uma carta ao The Times, condenando-me por empunhar a Kalashnikov. «Muito embora todos percebam o instinto natural de autoconservação», escreveu Long, «ele [Fisk] deveria ter recusado empunhar a arma. Se devemos pedir protecção para os jornalistas que fazem reportagens de conflitos, os jornalistas devem recusar usar armas em quaisquer circunstâncias. Os que têm responsabilidade pela segurança dos jornalistas dir-lhes-ão como evitar riscos evitáveis. O risco para todos os jornalistas que levem uma arma é, na minha perspectiva, maior do que a protecção duvidosa que uma arma lhes possa dar.» Apesar da sintaxe estranha da carta, não podia concordar mais com ela. Mas como é que nós, jornalistas, haveríamos de «evitar riscos evitáveis» no Afeganistão? Eu tentei fazer uma viagem de autocarro para Mazar, não numa coluna soviética para Cabul. ¶ 97 A Grande Guerra pela Civilização e inédita para mim sentar-me com uma espingarda no colo numa coluna militar soviética, junto de tropas russas armadas e uniformizadas, e ver aqueles Afegãos, a maioria deles com turbantes, longos xailes e sapatos de borracha, a fixar o olhar em nós, com desprezo e aversão. Um homem de casaco azul que estava no taipal traseiro dum camião afegão, observou-me com os olhos semicerrados. Tinha o mais intenso olhar de ódio que eu já vira. Gritou qualquer coisa que foi abafada pelo barulho da nossa coluna. O major Yuri não parecia perturbado. Enquanto atravessávamos Qarabagh, disse-lhe que pensava que os Afegãos não gostavam dos Russos. Começava novamente a nevar com intensidade, O major não tirou os olhos da estrada. «Os Afegãos são um povo astuto», disse ele sem malícia evidente, e depois caiu num grande silêncio. Estávamos ainda a arrastar-nos pela estrada para Cabul quando me virei novamente para o major Yuri. «Então por que razão está o exército soviético no Afeganistão?», perguntei. O major pensou na pergunta durante um minuto e depois devolveu-me um sorriso. «Se ler o Pravda», disse ele, «verá que o camarada Leónidas Brejnev já respondeu a esta questão.» O major Yuri era até ao fim um homem do partido ¶. Em Cabul as portas estavam a fechar-se. Todos os jornalistas americanos foram expulsos do país. Uma declaração do politburo afegão denunciava jornalistas britânicos e europeus por «calúnias». A polícia secreta fizera uma visita ao Sr. Samadali. Gavin estava à minha espera no átrio da recepção, com uma cara severa. «Disseram-lhe que lhe retirariam os filhos se voltasse a conduzir-nos outra vez para fora de Cabul», disse ele. Encontrámos o Sr. Samadali na fila de táxis à porta do hotel, no dia seguinte, com um sorriso de desculpas e quase a desfazer-se em lágrimas. O meu visto estava prestes a expirar, mas eu tinha uma ideia. Se viajasse no autocarro de Ali durante todo o trajecto para Peshawar, no Paquistão, talvez pudesse dar a volta e tornar a atravessar a fronteira afegã no desfiladeiro Khyber antes de o governo de Cabul deixar de conceder vistos aos jornalistas britânicos. Era mais provável que os funcionários duma fronteira terrestre me deixassem regressar ao Afeganistão do que os polícias no aeroporto de Cabul. Assim, tomei o autocarro de regresso à garganta de Cabul, desta vez permanecendo nele quando passámos por Jalalabad. Tive um sentimento estranho quando atravessei a linha Durand e dei por mim num Paquistão que parecia livre, quase democrático, após os perigos e as tensões do Afeganistão. Admirei as grandes plumas dos soldados dos Fuzileiros do Khyber, no lado paquistanês da fronteira, o primeiro símbolo do antigo domínio ¶ A única coisa de que o meu despacho para o The Times precisava era duma fotografia. O major Yuri tirara fotografias de mim para o seu álbum pessoal – ou para o KGB –, mas eu não tinha nenhuma dele. Por isso, quando me dirigi com dificuldade através da neve compacta para o portão da base sovié-tica, já em Cabul, e vi um boné russo, com o emblema vermelho com o martelo e a foice e com correias de pele para as orelhas, no assento vazio do condutor dum camião, apoderei-me dele rapidamente e escondi-o no meu xaile castanho afegão. Durante anos, apresentei com orgulho esta recordação da potência militar soviética em jantares e festas realizados em Beirute. Porém, passados 10 anos, a União Soviética entrou em colapso e os turistas, infelizmente, puderam comprar milhares de bonés militares idênticos – bem como de generais e almirantes e filas de medalhas ganhas no Afeganistão – na rua Arbat, em Moscovo, por apenas alguns rublos. 98 «Eles Disparam sobre os Russos» britânico da Índia, um regimento criado há 101 anos, ainda estacionado no Forte Shagai, com o velho serviço de prata britânico e um livro de visitas que vinha do tempo dos vice-reis. Mas é claro que se tratava dum ilusão. O presidente, o general Mohamed Zia ul-Haq, chefiava uma ditadura islâmica cada vez mais forte em que as mutilações e as chicotadas se tornaram castigos oficiais. Governava através da lei marcial e enforcara o seu único rival, o antigo presidente Zulfikar Ali Bhutto, há menos dum ano, em Abril de 1979. É claro que respondeu à invasão soviética do Afeganistão expressando publicamente receios de que o exército russo planeasse entrar no Paquistão. Os Estados Unidos enviaram imediatamente milhões de dólares em armas ao ditador paquistanês, que se tornou subitamente um poderoso «capital» na guerra contra o comunismo. Porém, no autocarro de madeira de Ali, parecia mesmo a liberdade. E à medida que descíamos pelo esplendoroso desfileiro Khyber, à minha volta havia relíquias dos velhos regimentos britânicos que durante mais de século e meio lutaram neste terreno, muitas vezes contra os ghazi (*) pashtuns com as suas espingardas primitivas jezails (**). «Um lugar estranho, inquietante […] uma vale mortífero» (10), foi como o descreveu um autor britânico, em 1897, e acolá, nas grandes penedias que deslizavam ao lado do autocarro de Ali, estavam as insígnias do 40.º de Infantaria, do Leicestershires, do Dorsetshires, do Cheshires – o regimento de Bill Fisk antes de ser enviado para França, em 1918 – e a 54.ª Força Sikh da Fronteira, cada um dos quais com o seu lema e datas de serviço. A pintura estava estalada nas insígnias do 2.º Batalhão; as do Regimento Baluch, dos Voluntários do Lancashire do Sul e dos Voluntários do Príncipe de Gales há muito que tinham perdido as suas cores. Os homens das tribos pashtuns, todos muçulmanos sem excepção, tinham destruído parte da insígnia dum regimento hindu que incluía um orgulhoso pavão. Havia grafitos a cobrir a placa do 17.º Leicestershires (1878-1879). O único memorial que fora restaurado pertencia ao Corpo de Guias da Rainha Vitória, uma unidade maioritariamente pashtun cujo excêntrico comandante insistia que deveriam usar cáqui em vez de vermelho e um daqueles elementos indianos inspirou provavelmente o Gunga Din, de Rudyard Kipling. As letras tinham sido pintadas de novo e a pedra limpa de grafitos. Peshawar era uma grande cidade palpitante, com um nevoeiro fuliginoso, jacarandás vistosos, grandes relvados e quartéis. No sombrio Hotel Intercontinental encontrei uma equipa de operadores de telex, todos eles enriquecidos pelo The Times e agora ainda mais recompensados pela sua lealdade ao enviarem as minhas notícias para Londres. Este acto não representava apenas generosidade da minha parte. Se pudesse voltar a entrar no Afeganistão eles seriam o meu futuro canal de segurança para o jornal. O mesmo se poderia dizer de Ali. Sentámo-nos no relvado do hotel a tomar chá ao estilo indiano com um grande bule de porcelana, um prato de scones e um bando de grandes pássaros (*) Ghazi é um termo de origem árabe que designa – e por vezes é título – os muçulmanos que combateram com sucesso pela sua fé. (N. T.) (**) A espingarda jezail era um mosquete utilizado nos países muçulmanos da Ásia Central e do Médio Oriente. Este mosquete tinha um cano longo, pelo que era conveniente ser disparado com apoio numa vara em garfo. Era frequentemente feito à mão nas partes mais simples e ricamente decorado. (N. T.) 99 A Grande Guerra pela Civilização que desceram rapidamente das árvores para apanhar avidamente os nossos bolos. «Os Russos não vão sair, Sr. Robert», garantiu-me Ali. «Receio que esta guerra vá durar muito tempo. É por isso que os árabes aqui estão.» Árabes? De novo ouvia falar de árabes. Não, Ali não sabia onde é que eles estavam em Peshawar, mas fora aberto um gabinete na cidade. O general Zia ordenara às embaixadas do Paquistão em todo o mundo muçulmano para conceder vistos a quem quer que desejasse combater o exército soviético no Afeganistão. Na recepção aguardava-me um monte de telexes. O The Times recebera devidamente todos os parágrafos que eu escrevera ¶. Comprei os jornais londrinos e devorei-os tão avidamente como se fossem o melhor manjar. O porteiro tinha uma faixa vermelha enorme e imperial. Na parede, junto à sala do telex, num quadro feito pelo gerente do hotel paquistanês, encontrei o lamento da escola pública pelos seus compatriotas, de Kipling, retirado de Aritmética na Fronteira: Uma escaramuça num posto fronteiriço – Um trote largo a descer um desfiladeiro escuro – Duas mil libras de educação Tombam sob o tiro duma jezail de dez rupias – Publicaram todos à excepção de um. Ivan Barnes pensara que um parágrafo, num artigo importante, em que dizia que, fora de Jalalabad, Gavin e eu víramos um elemento duma tribo, de pé, em cima de uma caixa, a sodomizar um camelo era excessivo para os leitores do Times. ¶ 100 III Os Coros de Kandahar Ninguém falou de ódio aos Russos, porque o sentimento que tinham […] do mais novo ao mais velho, era mais forte do que o ódio. Não era ódio, porque não viam os cães como seres humanos, mas uma repulsa tal, uma aversão tal e uma perplexidade tal perante a crueldade insensível destas criaturas […] Leão Tolstoi, Haji Murat Os fantasmas do domínio britânico pareciam assombrar Peshawar. Nas livrarias encontrei uma centena de reimpressões de dicionários de termos geográficos e memórias ingleses. 18 anos no Khyber, de Sir Robert Warburton, aparecia junto das histórias inverosímeis de Woosnam Mills: «A Nobre Conduta dos nossos Sipaios», «A Imolação de 21 Sikhs» e «Como Morrem os Oficiais Britânicos». Outros livros recordavam os feitos de Sir Bindon Blood, tendo um dos seus subalternos, Winston Churchill, sido emboscado pelos Pashtuns nos montes Malakand, ao norte de Peshawar ¶. Não eram apenas os fantasmas que frequentavam Peshawar. Ao contrário dos Russos que ocupavam o Afeganistão, os Britânicos não podiam levar para casa os seus mortos e na periferia de Peshawar havia ainda um velho cemitério britânico cujas lápides elaboradas com prosa florida e muito confiante contavam a história do império. Consideremos, por exemplo, o major Robert Roy Adams de Her Majesty’s Indian Staff Corps, um antigo vice-administrador do Punjab. Repousa agora num dos lados da estrada do Khyber, uma garganta cheia de trânsito e de burros reticentes cujo ruído faz vibrar a parede do cemitério. Segundo a inscrição da sua sepultura, o major Adams foi convocado para Peshawar «por ser um oficial com uma rara capacidade para estar na fronteira. Inteligente, justo e corajoso, de confiança em todos os aspectos, chegou ¶ Como é hábito, Churchill reservou o seu ponto de vista para a última frase: «Um dos homens foi atingido no peito e jorrava sangue, outro estava de costas, esperneando e contorcendo-se. O oficial britânico estava enrolado mesmo atrás de mim, com a cara transformada numa massa de sangue e um olho vazado. Sim, foi de facto uma grande aventura.» [vd. Winston Churchill, My Early Life: A Roving Commission (Londres, Thornton Butterworth, 1930), p. 156.] 101 A Grande Guerra pela Civilização e morreu pouco depois no seu posto, derrubado pela mão dum assassino.» Foi morto em 22 de Janeiro de 1865, mas não há informações sobre as razões do seu assassinato. Também não há quaisquer explicações nas outras lápides. Em 1897, por exemplo, John Sperrin Ross teve um fim semelhante, «assassinado por um fanático na cidade de Peshawar, no Dia do Jubileu». A pouca distância da sepultura de Ross repousa o músico de banda Charles Leighton, do 1.º Batalhão, o Regimento Hampshire, «assassinado por um ghazi na sua base na Sexta-Feira Santa». Talvez a política tenha ficado para trás com a morte, embora tenha sido impossível evitar estabelecer um paralelo entre estas lápides e a linguagem do governo soviético. Os bisnetos dos homens das tribos afegãs que mataram os Britânicos eram condenados pelo Kremlin como «fanáticos» – ou terroristas – na Rádio Moscovo. Os dois impérios, ao que parecia, falavam de maneira muito semelhante. Para ser justo, os Britânicos colocaram de facto os seus mortos num certo contexto histórico. Por baixo dum roseiral com o seu bazar de pássaros tropicais, repousam os soldados Hayes, Macleod, Savage e Dawes, que «morreram em Peshawar durante os distúrbios fronteiriços de 1897-1898». Não muito longe estava o tenente Bishop, «morto em combate em Shubkudder num recontro com as tribos dos montes, em 1863». Tinha 22 anos. O tenente John Lindley Godley, da 24.ª Brigada de Atiradores, temporariamente destacado na 266.ª Companhia de Metralhadoras, teve o mesmo fim em Kacha Garhi, em 1919. Havia outras sepulturas, é claro, montículos inocentes com lápides estreitas que abrigavam as vítimas inevitáveis da actividade de domesticação de todos os impérios. «Beatrice Ann, um ano e 11 meses, filha única do maestro da banda e da Sr.ª A. Pilkington», repousa no cemitério das crianças com «Barbara, dois anos, filha do segundo sargento e da Sr.ª P. Walker». Morreu três dias antes do Natal de 1928. Algumas das crianças morreram tão novas que não tinham nome. Havia homens novos, também, que sucumbiram ao calor e à doença. O soldado Tidey, do 1.º do Sussex, morreu de uma «insolação» e o soldado Williams de «febre entérica». E. A. Samuels, funcionário de Bengala, sucumbiu devido a «febre contraída no Afeganistão». A enfermeira-chefe Mary Hall, do Serviço de Enfermagem Militar da Rainha Alexandra – cuja missão em Salonica e na Mesopotâmia incluiu provavelmente a campanha de Galípoli, na Turquia, bem como a invasão do Iraque, em 1917 – morreu «em serviço». Havia algumas sepulturas inesperadas. O Reverendíssimo Courtney Peverley estava também ali. Administrador apostólico de Caxemira e do Kafiristão, fora manifestamente um grande trabalhador, porque, para além das lápides britânicas, havia outros lugares de enterro da comunidade cristã ainda existente em Peshawar. Cruzes de papel e bandeiras roxas estavam dispostas à maneira tribal ao lado das sepulturas cavadas há pouco tempo. Muitas sepulturas imperiais exibiam uma fé que seria compreendida por qualquer muçulmano. A favorita era retirada do Apocalipse de João: «Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor.» Havia também uma cruz gaélica por cima dos restos mortais do tenente Walter Irvine, da Polícia de Fronteira do Noroeste, «que perdeu a vida no rio Nagoman quando chefiava a Caçada do Vale Peshawar, em que era Mestre». Nenhum soldado soviético teria 102 Os Coros de Kandahar memorial tão romântico. Nas sepulturas dos soldados russos que agora morriam ao norte deste cemitério, apenas seria friamente recordado que morreram no cumprimento do seu «dever internacionalista». O agente local da CIA já tivera uma intuição do que isto significava. Era um homem magro, muito falador, que tinha um cargo nominal no consulado dos Estados Unidos, situado mais abaixo na rua do Hotel Intercontinental, e que dava festas muito aborrecidas na sua villa. Tinha por hábito projectar repetidamente uma comédia sobre a guerra do Vietname. Era uma época em que eu ainda falava com espiões e quando apareci por lá uma noite ele recebia um grupo de uma dúzia de jornalistas, mais ou menos, e mostrava a todos eles um bilhete de identidade soviético. «Um rapaz bem-parecido», disse ele da cara chupada do homem da fotografia a preto e branco. «É um piloto abatido. Os mujahedines apanharam os papéis dele. Que maneira de morrer, é uma enorme tragédia que um rapaz morra desta maneira.» Não atribuí muita importância às lágrimas de crocodilo do homem da CIA, mas fiquei impressionado com a expressão «abatido». Com quê? Os guerrilheiros teriam mísseis terra-ar? E se esse era o caso, quem lhos fornecera? Os Americanos, os Sauditas, os Paquistaneses ou aqueles árabes misteriosos? Eu vira milhares de Russos, mas ainda não vira de perto no Afeganistão a guerrilha armada. Não teria de esperar muito. O autocarro de Ali regressou à fronteira numa tarde quente e eu voltei a atravessar a linha Durand em direcção a um pequeno e sujo cubículo no lado afegão da fronteira. O guarda da fronteira olhou para o meu passaporte e foi passando o polegar pelas suas páginas. Depois parou e inspeccionou uma das páginas utilizadas do documento. Como era hábito, eu escrevera «representante» no meu registo de imigração. Mas aquele homem magro deu um estalido com a língua. «Jornalista», disse ele. «Regresse ao Paquistão.» Como é que ele sabia? Havia vistos para países árabes no passaporte que me identificavam como jornalista, mas o funcionário afegão não devia saber árabe e devia desconhecer que «sahafa» significava «jornalista». Um grupo de homens empurrou-me e regressei a pé para junto de Ali. Como é que eles teriam sabido? Ali examinou o meu passaporte e encontrou a página que me denunciou. Uma página do Irão pós-revolucionário estava marcada com a palavra persa «khabanagor» que significa «jornalista» em persa, e o persa ou dári era uma das línguas do Afeganistão. Raios. Tomei um táxi para Peshawar e enviei uma mensagem para o The Times: «Sem efeito.» Todavia, no dia seguinte Ali estava de regresso ao hotel. «Sr. Robert, tentamos de novo.» «Para quê?», perguntei. «Tentamos», disse ele. «Confie em mim.» Não compreendi, mas voltei a fazer as malas, entrei no seu simpático autocarro de madeira e parti de novo em direcção à fronteira. Tudo isto se estava a parecer com uma versão real de Carry On up the Khyber, mas Ali estava estranhamente confiante em que eu conseguiria passar. Sentei-me à luz do sol vespertino, enquanto o autocarro fazia penosamente o seu caminho pelas curvas apertadas. Temos uma sensação estranha e enervante quando tentamos atravessar uma fronteira sem o consentimento das autoridades. Gavin e eu já a tínhamos sentido em quase todos os postos de controlo que atravessámos no Afeganistão. Deixar-nos-iam atravessar, mandar-nos-iam regressar ou prender-nos-iam? Suponho que era 103 A Grande Guerra pela Civilização um regresso a todos aqueles filmes sobre a Europa ocupada pela Alemanha em que os heróis e heroínas da resistência tinham de convencer os guardas nazis a deixá-los passar. A polícia de fronteira afegã não se regia propriamente pelos padrões da Wehrmacht – e nós não éramos heróis –, mas não era de admirar que sentíssemos uma mistura de excitação e temor quando chegámos uma vez mais àquele pequeno e desagradável cubículo no lado afegão da fronteira. No entanto, ainda antes de me levantar, Ali já lá chegara. «Dê-me o seu passaporte», disse ele. «E dê-me 50 dólares.» Desapareceu com o dinheiro. Mas passados dez minutos regressou, ostentando um grande sorriso. «Vou levá-lo a Jalalabad», acrescentou, devolvendo-me o passaporte com um novo carimbo. «Dê-me mais 50 dólares, porque tive de dar o seu dinheiro a um homem pobre.» Os Russos tinham feito a sua invasão, mas não podiam derrotar a mais eficaz e corrupta de todas as instituições que existem entre o Mediterrâneo e a baía de Bengala: o Suborno. Estava tão contente que me pus a rir. Fui cantarolando para mim mesmo durante todo o percurso até Jalalabad. Até combinara com Ali que ele passaria todas as manhãs pelo Hotel Spinghar para recolher os meus textos e levá-los até Peshawar, regressando à tarde se houvesse alguma mensagem do The Times para mim, via Paquistão. Entretanto, poderia acantonar-me no Spinghar e ficar fora das vistas das autoridades. Escusava de me ter preocupado. A cada noite os rebeldes ficavam mais perto de Jalalabad. Quatro dias antes tinham feito explodir uma ponte fora da cidade e naquela primeira noite, depois de escurecer, abriram fogo contra uma patrulha afegã a partir duma plantação que ficava atrás do hotel. Hora após hora, permaneci na cama, ouvindo as metralhadoras a matraquear nos pomares de laranjeiras, pondo os pássaros tropicais em debandada e aos gritos. No entanto, era um episódio de opereta, porque, logo após o chamamento para as orações da manhã, Jalalabad acordava como se as batalhas se tivessem travado em sonho e reassumia o seu papel de cidade poeirenta de fronteira, com o seu bazar a apregoar tecidos paquistaneses de má qualidade e os legumes de produção local, enquanto os soldados afegãos que guardavam ostensivamente o mercado cabeceavam, fatigados, apoiando-se nas suas vetustas espingardas britânicas Lee Enfield. Tomava então um riquexó para fora da cidade para observar um tanque atingido ou algum edifício governamental incendiado, dactilografava a minha notícia sobre a escaramuça para o jornal e a meio da manhã chegava Ali com o autocarro de «descida» – a altitude de Peshawar é quase 1600 metros inferior à de Cabul – para a recolher. As casas de chá, as tendas chaikhana na rua principal, estavam cheias de camionistas, muitos deles de Kandahar, e todos falavam da resistência cada vez mais forte por todo o país. A sul de Kandahar, como me contou um homem, os aldeãos fizeram parar alguns engenheiros civis russos e mataram-nos a todos com facas. Acreditei no seu relato, porque, independentemente da coragem que os mujahedines possam ter – e era inquestionável –, a sua selvajaria era um facto comprovado. Não necessitava da ficção de Tom Graham, nem do relato de Durand sobre o destino do 7.º de Lanceiros, para a ficar a conhecer. «Tomaremos Jalalabad», disse-me um jovem com quem bebi chá numa das manhãs. «Os Russos aqui estão liquidados.» Um estudante adolescente, com o falcão de caça do seu pai no seu 104 Os Coros de Kandahar pulso – os editores adoram estes pomenores, mas ali estava aquela ave de rapina, real, viva, presa ao braço do rapaz por uma correia –, afirmou com rudeza que «os mujahedines tomariam Jalalabad nesta noite ou na próxima.» Admirei o seu optimismo, mas não a sua competência militar. No entanto, os seus pontos de vista eram partilhados também no exército afegão. Ao almoçar num restaurante sujo que ficava perto da estação dos correios, encontrei numa mesa junto à minha um soldado que estava de folga, comendo um frango mal cozinhado com uma faca e um garfo pouco usuais. «Não queremos lutar contra os mujahedines. Porque haveríamos de o fazer?», perguntou. «O exército costumava ter aqui soldados locais, mas juntaram-se aos mujahedines e por isso o governo recruta-nos em Herat e noutros lugares do Norte do Afeganistão. Mas nós não queremos lutar contra esta gente. Os mujahedines são muçulmanos e nós não disparamos contra eles. Se atacarem algum edifício disparamos para o ar.» O jovem queixou-se amargamente de que o seu comandante recusara conceder-lhe uma licença para ir ver a família em Herat, que fica a 750 quilómetros, junto da fronteira com o Irão. Na sua raiva, atirou com a faca e o garfo para cima da mesa, despedaçou selvaticamente o frango com ambas as mãos e ficou com a gordura a escorrer pelos dedos. «Jalalabad está liquidada», acrescentou. Também ele estava enganado. Nessa mesma manhã a força aérea afegã fez uma tentativa bastante barulhenta para intimidar a população, fazendo voos a baixa altitude sobre a cidade com quatro dos velhos Mig-17 estacionados na sua base. Passaram atroadoramente sobre a avenida principal, com as palmeiras a vibrar com o som dos motores a jacto, e deixaram no seu rasto um grande silêncio apenas quebrado pelas maldições dos homens que tentavam controlar os seus cavalos que haviam fugido e estavam aterrorizados. Então, a cada manhã, os grandes helicópteros soviéticos Mi-25 levantavam voo do estreito aeroporto de Jalalabad e seguiam por sobre a cidade para metralhar as aldeias das montanhas Tora Bora. Quando estava a fazer compras no mercado, passaram a apenas alguns metros acima dos telhados e quando olhei para cima pude ver o piloto e o atirador, bem como os rockets fixados aos seus suportes por baixo da aeronave, que ostentava na fuselagem uma grande estrela vermelha brilhante com uma envoltura dourada. Estas manifestações ostensivas de poder eram, na verdade, contraproducentes. No entanto, pensei que estas tácticas pudessem ter sido planeadas para evitar que os guerrilheiros tivessem tempo suficiente para utilizar os seus mísseis terra-ar. Os pilotos de helicóptero americanos adoptariam precisamente a mesma táctica no Iraque, 23 anos mais tarde. Se havia alguma acomodação militar entre o exército afegão e os mujahedines, porém, os revoltosos sabiam como atingir o governo. Tinham incendiado a maioria das escolas das aldeias vizinhas, dizendo que eram centros de ateísmo e de comunismo. Assassinaram os professores e vários aldeãos contaram-me em Jalalabad que as crianças eram mortas acidentalmente com as mesmas balas com que matavam os seus mestres. Os mujahedines não eram, por isso, queridos por todos e o seu costume de fazer emboscadas ao tráfego civil na estrada que se dirigia para oeste – duas semanas antes tinham assassinado um camionista da Alemanha Ocidental – não tinha acrescentado grande glória ao 105 A Grande Guerra pela Civilização seu nome. Os mujahedines moravam nas aldeias, que era onde os Russos os atacavam. A 2 de Fevereiro observei nada menos de quatro helicópteros de combate a voar rapidamente na semiobscuridade para atacar a aldeia de Kama e, segundos mais tarde, vi uma série de bolas de fogo a brilhar com intensidade no meio da escuridão. Todos os dias às oito da manhã, os donos das casas de chá relatavam ao estranho inglês o que fora destruído nas batalhas nocturnas e eu partia de riquexó para os lugares dos acontecimentos. Numa manhã bem cedo, cheguei a uma ponte que tinha sido minada durante a noite. Ficava na estrada de Cabul e a cratera interrompera todos os movimentos das tropas soviéticas entre Jalalabad e a capital, para grande contentamento da multidão que se reunira para ver os estragos. Foi então que um deles se dirigiu a mim. «Shuravi?, perguntou. Fiquei siderado. «Shuravi» significa russo. Se pensasse que eu era russo seria um homem morto. «Inglistan, inglistan», gritei bem alto e com um enorme sorriso. O homem assentiu com a cabeça e regressou para junto da multidão com estas notícias. No entanto, passado um minuto parou junto de mim outro homem que falava um pouco de inglês. «Donde o senhor é, de Londres?», perguntou. Disse que sim, porque duvidava que as pessoas de Nangarhar soubessem alguma coisa de East Farleigh, que fica na margem do rio Medway, no Kent. Regressou para junto da multidão com estas notícias. Alguns segundos depois estava de volta, «Eles dizem», revelou-me, «que Londres está ocupada pelos Shuravi.» Não estava a gostar nada do rumo dos acontecimentos. Se Londres estivesse ocupada pelo exército soviético, então eu só poderia estar ali com autorização russa, logo, era um colaborador. «Não, não», gritei. «Inglistan é livre, livre, livre. Haveríamos de lutar contra os Russos se lá entrassem.» Esperava que a tradução do homem para pashtun fosse mais rigorosa do que o conhecimento que aquela multidão podia ter da geografia política. Mas depois de terem ouvido estas novas notícias, alargaram-se em sorrisos e saudaram decididamente o suposto heroísmo britânico. «Eles agradecem-lhe por o seu país estar a lutar contra os Russos», disse o homem. Só quando o riquexó me levou aos solavancos de regresso a Jalalabad é que entendi o que se passara. Para estas camponeses afegãos, Cabul, que ficava a apenas uns cem quilómetros por aquela estrada, era uma cidade distante e que a maioria deles nunca visitara. Londres era apenas mais uma cidade distante e era por isso muito lógico que tenham pensado que os Shuravi estivessem a fazer patrulhas em Trafalgar Square. Regressei exausto a Jalalabad e sentei-me num áspero sofá duma casa de chá que ficava perto do Hotel Spinghar. As almofadas tinham sido mal empilhadas sob um xaile castanho-claro e estava prestes a dar-lhes um arranjo quando o dono da casa de chá chegou com a cabeça à banda e as mãos enclavinhadas uma na outra. «Senhor, por favor!» Olhou para o sofá e depois para mim. «Houve uma família que trouxe um velho para a cidade para lhe fazer o funeral, mas a sua carroça partiu-se e tiveram de a ir reparar. Depois voltam para vir buscar o morto.» Pus-me de pé, contrito. Colocou a mão no meu braço como se ele é que se tivesse sentado sobre o morto. «Peço muita desculpa», disse ele. Era eu que devia desculpas, insisti. Foi por isso, penso eu, que ele colocou uma cadeira junto ao corpo coberto e me veio servir a minha chávena de chá matinal. 106 Os Coros de Kandahar Agora, à noite, os polícias locais e os líderes partidários voltavam ao Spinghar para dormir, chegando antes do toque de recolher obrigatório das 20:00. Eram homens ansiosos com vestuário castanho puído e óculos escuros, que subiam à sala de estar do primeiro andar para tomar um chá antes de se deitarem. Eram seguidos por homens mais novos com espingardas automáticas que tilintavam de forma sinistra de encontro ao corrimão. Por vezes, os homens do partido convidavam-me para lhes fazer companhia às refeições e, num bom inglês, perguntavam-me se acreditava que o exército soviético obedeceria ao prazo dado pelo presidente Carter para uma retirada militar. Estavam compreensivelmente obcecados com os detalhes mortíferos das rivalidades partidárias em Cabul e com a confissão de um tal tenente Moahamed Iqbal, que admitira ter participado no assassinato do presidente «mártir» Nur Mohamed Taraki. Iqbal disse que ele e dois outros membros da guarda do palácio de Cabul receberam ordens do «carniceiro» Amin para matar Taraki. Apanharam o infeliz, ataram-no, colocaram-no numa cama e depois sufocaram-no, apertando-lhe uma almofada sobre a cara. Os três cavaram depois a sepultura do presidente e cobriram-na com fragmentos de metal obtidos na loja dum pintor de dísticos. Os homens do partido eram tão amigáveis que me convidaram a encontrar-me com o governador de Jalalabad, um homem de meia-idade de cara redonda, cabelo curto acinzentado e uns óculos antiquados de aros grossos. Mohamed Ziarad, um ex-gestor de exportações da companhia nacional afegã do algodão, mal dava conta de todos os seus visitantes matinais. O chefe da polícia estava lá com um relato dos danos provocados pelos combates nocturnos. O comandante local do exército afegão, que chamava a atenção devido à sua túnica dois números abaixo do que devia ser, apresentou uma pilha enorme e intimidante de relatórios de incidentes. Uma multidão ruidosa de agricultores encheu a sala com pedidos de indemnizações. De minuto a minuto o telefone tocava com mais relatos de sabotagens por parte das aldeias, embora, por vezes, fosse difícil ao Sr. Ziarid ouvir os que ligavam, devido ao ruído dos helicópteros de combate que pairavam por cima das árvores que ficavam para lá da janela de sacada. Fora uma má noite. O governador de Jalalabad não permitia que estas coisas o perturbassem. «Não há razão para dramatizar excessivamente estes acontecimentos», disse ele, como se as batalhas nocturnas de armas ligeiras fizessem parte há anos do quotidiano de todos. Bebia chá enquanto assinava os relatórios, trocando graçolas com um tenente do exército e ordenando que levassem dali um velho mendigo que conseguira entrar na sala a gritar por dinheiro. «As revoluções são todas iguais», afirmou. «Defendemos a revolução, falamos, combatemos, dizemos mal dos nossos inimigos e os nossos inimigos tentam iniciar uma contra-revolução e, por isso, defendemo-nos deles. Mas havemos de vencer.» Se o Sr. Ziarad parecia ser algo filósofo – quase fantasioso, na minha opinião – na sua atitude para com a revolução socialista afegã, há que ter em conta que ele não pertencia a nenhum partido. Encontrara forma de não pertencer nem ao Parcham nem ao Khalq. A sua única concessão à revolução era uma imponente, mas ligeiramente torcida, miniatura de prata de um avião de combate Mig, precariamente colocada num dos bordos da secretária. 107 A Grande Guerra pela Civilização Admitia que os revoltosos estavam a causar problemas: «Não podemos impedi-los de disparar no país. Não podemos impedir que façam explodir os cabos eléctricos e as condutas de gás, nem que coloquem bombas à noite. É verdade que eles tentam conquistar Jalalabad e estão mais perto da cidade. Mas não conseguirão.» Neste momento, o Sr. Ziarad desenhou um diagrama num papel colocado sobre a secretária. Mostrava um pequeno círculo, que representava Jalalabad, e uma série de setas que apontavam para o círculo que representavam os ataques dos rebeldes. Depois desenhou a lápis uma série de setas que saíam de Jalalabad. «Estes», disse ele orgulhoso, «são os contra-ataques que vamos lançar. Já passámos pelo mesmo antes e alcançámos sempre o mesmo resultado. Quando o inimigo se aproxima mais do centro de Jalalabad, está mais agrupado e as nossas forças podem disparar contra ele mais facilmente. Depois lançamos contra-ataques e expulsamo-los.» Que fenómeno estranho é a droga da esperança. Eu iria ouvir esta explicação a inúmeros governadores e soldados, tanto ocidentais como muçulmanos, em todo o Médio Oriente, no quarto de século seguinte, insistindo todos que as coisas estavam a ficar pior porque eles estavam a obter vantagem, que quanto piores fossem as coisas melhores haveriam de tornar-se. O Sr. Ziarad afirmou que nas escaramuças da semana passada em redor da cidade só tinham morrido três soldados afegãos. Dada a trégua tácita entre o exército e os mujahedines, as estatísticas do governador estavam provavelmente correctas. Negou, contudo, que houvesse tropas soviéticas em Jalalabad. Só havia um punhado de conselheiros agrícolas e professores russos, disse ele, não tomando em linha de conta os mil soldados soviéticos que estavam instalados no aquartelamento a leste da cidade. Não se preocupava com a presença russa no seu país. «O problema são os grupos de bandidos e os senhores das terras que foram expropriados pelo nosso decreto n.º 6 e são apoiados pelos estudantes do imperialismo. Estas pessoas são treinadas em campos do Paquistão. São treinados pelos imperialistas para disparar, lançar granadas e colocar minas.» O governador ainda visitava as aldeias mais próximas durante o dia, na companhia de três soldados, para inspeccionar a reforma agrária e o novo plano de irrigação de Jalalabad. Mas entendia por que razão as reformas tinham provocado animosidade. «Tentámos que todos os homens e mulheres tivessem direitos iguais e a mesma educação», disse ele. «No entanto, nós temos duas sociedades no nosso país, uma nas cidades e a outra nas aldeias. As pessoas da cidade aceitam direitos iguais, mas as das aldeias são mais tradicionais. Por vezes avançámos demasiado rapidamente. Leva tempo alcançar os objectivos da nossa revolução.» As últimas palavras do Sr. Ziarad, ditas quando saíamos do seu gabinete, foram abafadas pelo rugido de mais quatro helicópteros de combate soviéticos em alta velocidade sobre o bazar, que levantavam nuvens de poeira em espiral na direcção das casas de paredes de lama dum só piso. Perguntou-me se eu queria regressar ao hotel no seu carro. Perante as caras iradas dos afegãos que observavam os helicópteros, pensei que o governador fizera uma oferta que era mais seguro recusar. No entanto, os polícias que estavam no Spinghar estavam a ficar metediços, pretendendo saber quanto tempo tencionava permanecer em Jalalabad e por que razão não ia até Cabul. Era tempo de 108 Os Coros de Kandahar deixar que Jalalabad «arrefecesse». Como Gavin costumava dizer, não nos devemos tornar demasiado ambiciosos ¶. Eram os Russos que estavam a ficar demasiado ambiciosos. Mais umas centenas de militares e veículos anfíbios blindados BMB estavam a ser enviados para Cabul numa frota de aviões de carga Antonov. Nalguns aquartelamentos os soldados russos e afegãos foram integrados em novas unidades de infantaria, presumivelmente para elevar o moral do exército afegão. Os novos camiões do exército afegão transportavam forças afegãs, mas tinham condutores soviéticos. Karmal fez mais discursos, no último dos quais atacava os que considerava serem «assassinos, terroristas, bandidos, elementos subversivos, ladrões, traidores e mercenários». Passado mais dum mês sobre a invasão soviética, que ele tivesse de apelar a «grupos de resistência voluntária» para guardar estradas, pontes e colunas – contra uma «resistência» muito mais poderosa e genuína, é claro – demonstrava precisamente como o problema dos insurrectos se tornara grave e quão grande era a área do Afeganistão que agora efectivamente controlavam. Os Russos nem conseguiam eliminar as guerrilhas, nem dar esperança aos aldeãos afegãos de que a sua presença iria melhorar as suas vidas. Grandes áreas do Afeganistão não tinham comida subsidiada pelo governo e os Soviéticos estavam a efectuar carregamentos de cereais e até de tractores para Cabul, por via área. Entretanto, um dos seus generais apareceu na base aérea de Bagram a afirmar que apenas permaneciam alguns «terroristas residuais» nas montanhas. «Residuais» – «bakoyaye» em dári – tornou-se a palavra em voga para designar os revoltosos na rádio afegã. Todavia, era impossível «reformar» o Afeganistão nestas circunstâncias. O governo estava a perder. Era apenas uma questão de tempo. Aliás, quanto mais o governo dizia que estava a vencer, menos eram as pessoas que acreditavam nele. No átrio do Hotel Intercontinental, um diplomata polaco disse-me que pensava que os Russos necessitariam de 200 000 militares, pelo menos, para ganhar a sua guerra ¶¶. De facto, os homens de Karmal tinham encerrado as mesquitas da capital por serem centros de resistência. Quando encontrei no centro de Cabul o almuadém da mesquita Polekheshti, um homem de pequena estatura com um rosto magro e aspecto doentio, cujos traços traíam a sua ansiedade e que recusou inclusivamente a dizer o nome, ele não quis sequer responder às perguntas mais inócuas sobre o bem-estar do seu povo. Chegou imediatamente antes das orações da manhã, atravessando com rapidez o pátio de entrada, Inquieto por poder incriminar Ali se este fosse obrigado a entregar a minha reportagem na sua viagem para Peshawar, enviei para o The Times, em Londres, uma mensagem convenientemente disfarçada sobre os polícias, dizendo que estava a ter «problemas com o Maigret», uma referência ao famoso inspector da polícia francês dos livros de Georges Simenon. No entanto, em tempo de guerra, os jornalistas não se devem armar demasiado em espertos. Na verdade, houve alguém do departamento internacional que transmitiu a minha mensagem à delegação londrina da CBC, que enviou de imediato um telex a solidarizar-se como os meus problemas com as «dores de cabeça». [Jogo de palavras intraduzível entre «Maigret» e «migraine». N. T.] ¶¶ Por esta altura, muitos Afegãos também acreditavam que os Polacos, os Alemães de Leste, os Checos e outros soldados dos Estados-satélites soviéticos estavam a chegar ao seu país para apoiar as tropas russas. Estes falsos rumores começaram provavelmente quando se ouviu Russos a falar alemão no bazar de Cabul. No entanto, eram militares soviéticos da zona do Volga, de língua alemã. ¶ 109 A Grande Guerra pela Civilização coberto de gelo, com um turbante de seda enrolado de forma apertada e um taqiyah dourado e foi-se embora imediatamente após ter cumprido as suas devoções. Quando me dirigi a ele, olhou imediatamente por cima do ombro direito e quando lhe apresentei uma lista de perguntas em pashtun – qual é a função do Islão no Afeganistão desde Novembro, perguntei-lhe – agitou o papel no ar gélido com um gesto de desesperança. «As suas perguntas são todas políticas», gritou-me. «Uma das suas perguntas é se as pessoas estão felizes com o novo regime de Babrak Karmal. Não vou responder a perguntas sobre ele. Eu não represento o povo. Só responderei a perguntas sobre a religião.» Era previsível. Enquanto khatib da mesquita Polekheshti, apenas tinha de interpretar o Alcorão, não de fazer sermões sobre a moralidade do governo. Uma vez que os khatibs tinham sido todos nomeados pelos governos revolucionários nos últimos dois anos, era ainda menos provável que desse livre curso a qualquer sentimento que tivesse em relação à invasão soviética. Alguns dias após o golpe de Taraki de 1978, foram lidos apelos à jihad nas mesquitas de Cabul. Toda a independência política do clero muçulmano sunita fora anulada quando, passados alguns dias, a polícia invadiu todas as instituições religiosas da cidade e enviou os mulás dissidentes para a prisão de Polecharkhi, de onde nunca saíram. Mas esta repressão brutal não era a única explicação para a ausência de qualquer liderança política efectiva por parte do clero. Uma igreja decapitada dificilmente pode orientar o seu rebanho, mas a história do Islão no Afeganistão sugeria que não iria haver um líder religioso messiânico para guiar o povo na guerra contra os seus inimigos. Os muçulmanos xiitas, cuja tradição de abnegação e ênfase no martírio tanto contribuíra para o derrube do regime do xá, eram uma minoria no Afeganistão. Na cidade de Herat, a oeste, a 100 quilómetros da fronteira iraniana, poder-se-ia encontrar cartazes de Khomeini e do aiatolá Shariatadari nas paredes, mas os sunitas constituíam a maioria da comunidade e havia uma desconfiança profunda no Afeganistão relativamente ao tipo de poder exercido pelos clérigos mais importantes do Irão. Os Afegãos não se iriam mostrar subservientes para com os religiosos. O Islão é uma religião formalista e entre os sunitas os que conduzem as orações nas mesquitas têm vocação burocrática e não política. O poder da ortodoxia religiosa no Afeganistão era forte, mas não extremista, e a ausência de qualquer estrutura hierárquica entre os sunitas impedia os mulás de fazer uso da sua posição para dar origem a uma unidade política no país. Para além disso, em Cabul o Islão era também uma religião com consciência de classe. A mesquita Polekheshti fornecia muita assistência aos pobres, ao passo que os militares favoreciam a mesquita Azul e o que restava das elites da classe média assistia aos funerais na mesquita Do Sham Shira de dois andares. Enquanto existiu, a monarquia proporcionou uma unidade ao mosaico do país, mantendo-o mais ou menos consolidado. No entanto, se se brindava ostensivamente ao último rei nas casas de chá, agora que potentados mais perversos tinham aparecido em Cabul, verificava-se que os perdulários dirigentes que governaram outrora o Afeganistão nunca foram verdadeiramente populares. Quando a monarquia desapareceu o único denominador comum era a religião. Esta foi identificada com o nacionalismo – em oposição ao comunismo –, razão por que Karmal reintroduzira o verde na bandeira nacional. Todos 110 Os Coros de Kandahar os discursos ministeriais, mesmo os produzidos por membros do executivo que eram conhecidos por terem sido sempre marxistas, começavam agora por fazer referências obsequiosas ao Alcorão. O vice-primeiro-ministro afegão acabava precisamente de visitar Mazar para orar no túmulo de Hazarate Ali, primo e genro do profeta Maomé. Porém, no Afeganistão, tal como na maior parte dos países predominantemente rurais, a religião era encarada com o maior respeito nas aldeias, mas não tanto nas cidades, e foi das aldeias que surgiram os mujahedines. Embora constituísse uma força reaccionária, que se opunha à emancipação e à igualdade das mulheres e à educação secular, dirigiu a atenção dos pobres para as realidades da política duma forma que nunca acontecera antes. Não era por acaso que circulava uma piada entre os Afegãos de Cabul segundo a qual, para além das cinco obrigações tradicionais do Islão, era preciso obedecer agora a uma sexta: todo o verdadeiro muçulmano devia ouvir a BBC. Já não seria uma piada, é claro, se emergisse uma nova força islâmica de resistência que não fosse o clero. Havia agora tão poucos jornalistas no Afeganistão que ninguém prestava grande atenção ao correspondente do The Times, que não andava com máquinas fotográficas, mas tinha ainda um visto válido. Em Cabul, fui comprar tapetes ao bazar no meio dos soldados soviéticos de licença, que ainda se sentiam seguros a passear na Rua das Galinhas. Os Russos compravam recordações, pérolas e colares para as suas mulheres e namoradas, mas os soldados tajiques soviéticos iam às livrarias e compravam exemplares do Alcorão. Acabei por adquirir um tapete com dois metros por três, em carmesim e dourado, que estivera posto no pavimento húmido. O Sr. Samadali, que ainda estava autorizado a conduzir-nos de automóvel dentro dos limites da cidade, lançou o seu olhar crítico para o meu tapete, disse-me que pagara demasiado por ele – todos os motoristas de táxi do Sudoeste da Ásia têm por missão desanimar os seus clientes estrangeiros, dizendo que tinham sido enganados – e atou-o sobre o tejadilho. Em Cabul tomei uma vez mais o autocarro de Ali para Jalalabad, pensando passar uma noite no Hotel Spinghar antes de regressar à capital. No bazar de Jalalabad fui procurar um saco de cetim para transportar a minha enorme carpete para fora do Afeganistão. Depois de me assegurar que sabia a palavra pashtun que significava saco (atlasi kahzora), comprei um grande saco de cânhamo, bem como um conjunto de postais de Jalalabad ainda no tempo da monarquia: era uma cidade afável, sonolenta, de brilho colorido que se perdeu para sempre. Visitei o consulado paquistanês da cidade, cujo pessoal – algum, pelo menos – já deveria estar ligado aos guerrilheiros. Falaram dos receios soviéticos de que Jalalabad pudesse cair parcialmente nas mãos dos rebeldes e que a estrada para Cabul pudesse ficar permanentemente cortada. Aliás, os diplomatas paquistaneses não pareciam estar muito insatisfeitos com tal perspectiva. Mal regressara ao Hotel Spinghar, o recepcionista, num estado de grande emoção, disse-me que os Russos estavam a utilizar helicópteros para atacar a aldeia de Sorkh Rud, a 20 quilómetros para oeste. Aluguei um riquexó e passada meia hora encontrava-me numa povoação de ruas sujas e casas de paredes feitas de lama. Disse ao condutor para esperar na estrada principal e entrei na aldeia. Não se via ninguém, apenas o dump-dump dos helicópteros soviéticos Mig-25, que apenas avistei ocasionalmente quando voavam como setas 111 A Grande Guerra pela Civilização no final das ruas. Uns quantos cães uivavam perto dum esgoto a céu aberto. O sol estava alto e uma onda de calor deslocava-se pelas ruas com a brisa. Então, onde se estava a dar o ataque que tanto perturbara o recepcionista do hotel? Só avistei a máquina com forma de insecto a voar baixo alguns segundos antes de começar a disparar. Ouviu-se um som parecido com uma centena de bolas de golfe a ser batidas ao mesmo tempo pelos tacos e as balas começaram a subir rapidamente pelas paredes das casas, levantando pequenas bolhas de cal castanha quando atingiam os edifícios. Uma linha de balas começou a subir a rua na minha direcção e em pânico entrei a correr por uma porta aberta, atravessei um pátio de terra e entrei na primeira casa que encontrei. Atirei-me pela entrada e caí de lado, perto de um velho tapete. Perto da parede à minha frente estava sentado um afegão de barba cinzenta e um grupo compacto de crianças com a boca aberta de medo e atrás deles uma mulher com um lenço preto na cabeça. Olhei fixamente para eles e tentei sorrir. Estavam sentados em silêncio. Concluí que tinha de os convencer de que não era russo, de que vinha da Inglaterra da Sr.ª Thatcher, de que era um jornalista. Mas entenderia esta família o que era a Inglaterra? Ou o que era um jornalista? Estava sem fôlego, apavorado e interrogava-me como chegara a um lugar tão perigoso com uma tal rapidez, de maneira tão impensada, mal abandonara a segurança do Hotel Spinghar. Tive presença de espírito suficiente para me lembrar de como se dizia jornalista em pashtun e tentei dizer àquela pobre gente quem eu era. «Za di inglisi atlasi kahzora yem!» anunciei triunfante. Mas a família olhou para mim com ainda maior preocupação. O homem chegou ainda mais as crianças para junto de si e a mulher esboçou um grito. Eu sorri, eles não. O medo espalhava-se pela família. Apenas lentamente me dei conta de que não lhes dissera que era jornalista. Talvez fosse o tapete em que aterrara na casa. Foi com certeza a minha visita ao bazar algumas horas antes. Foi, de facto, com um terror cada vez maior que tomei consciência de que o desgrenhado correspondente que irrompera no seu lar sagrado se apresentara em pashtun, não como jornalista, mas com a afirmação imperecível «Sou um saco inglês de cetim.» «Correspondente, jornalista», repetia eu em inglês e pashtun. Todavia, o mal estava feito. Este inglês não só era perigoso e estranho, um intruso infiel no santuário dum lar afegão, mas era também louco. Acerca disso também eu não tinha dúvidas. Onde quer que nós, jornalistas, nos encontremos em grande perigo, há sempre uma voz que pergunta: «Para quê?» Por que razão, afinal, chegamos nós a arriscar a vida desta forma? Pelo editor? Pela aventura? Ou simplesmente por não termos pensado, não termos calculado os riscos, não nos termos dado ao trabalho de pensar que toda a nossa vida, a nossa educação, a nossa família, os que amamos e a nossa felicidade tinham agora sido entregues à sorte para obter meia dúzia de parágrafos. Sorkh Rud era o «posto fronteiriço» em que o soldado britânico de Kipling trotara largo, a estrada ao lado desta casa o seu «desfiladeiro escuro», o helicóptero a jezail inimiga. O chavão diz-nos é que a vida não vale nada. Não é verdade. É a morte que não vale nada. É fácil, é terrível e extremamente injusta. Sentei-me no tapete talvez durante uns dez minutos, sorrindo de forma idiota para aquela família de cara fechada à minha frente até que uma rapariguinha de vestido cor-de-rosa 112 Os Coros de Kandahar atravessou descontraidamente o espaço que nos separava, se aproximou de mim e sorriu. Sorri também. Apontei para mim e disse «Robert.» Ela repetiu o nome. Apontei para ela. Como se chamava? Não me respondeu. Ouvi lá fora o trotar dum burro a passar junto ao portão e um homem a gritar. O som dos helicópteros desaparecera. Ao longe ouvia-se o choro de uma mulher lamentosa. Levantei-me e espreitei pela porta. Havia outras pessoas a descer a rua. Era o que acontecia todas as madrugadas em Jalalabad quando a noite de morte se transformava magicamente em dia de trabalho, de pó e jacarandás floridos. A guerra tinha passado por Sorkh Rud e agora tinha-se transferido para outro lugar qualquer. Virei-me para aquela família e agradeci-lhes a protecção que não me ofereceram. «Shukria», disse eu: obrigado. Então, muito lentamente, o homem de barba inclinou uma só vez a cabeça e ergueu a mão direita num adeus. O condutor do riquexó aguardava na estrada principal, com receio de que eu tivesse morrido e sobretudo, pensei eu, de que eu não tivesse sobrevivido para lhe pagar. Lá fomos lentamente de regresso a Jalalabad. Nessa noite os líderes do Partido regressaram ao hotel com notícias que, como é óbvio, me perturbaram. Os mujahedines tinham feito um raide numa residência de estudantes da Universidade de Jalalabad, levaram 20 raparigas do edifício, transportaram-nas para Tora Bora onde lhes entregaram dinheiro (mil afeganis, cerca de 22 dólares), um véu preto e lhes disseram para deixarem de estudar. Nesse mesmo dia um engenheiro técnico russo foi enviado para os subúrbios de Jalalabad para reparar um cabo eléctrico que fora várias vezes sabotado. Quando estava no cimo dum poste alguém o matou a tiro e o corpo ficou pendurado nos fios a 10 metros do solo durante várias horas, enquanto homens e mulheres se aproximavam para olhar para o cadáver. Ir-me-ia embora no dia seguinte no primeiro autocarro que se dirigisse a Cabul. Era um autocarro de luxo que saiu com o raiar da aurora, muito antes de o velho veículo de Ali chegar à cidade. O meu visto era válido durante apenas mais três dias. O autocarro de Jalalabad estava cheio, não com os aldeãos e Paquistaneses que viajavam no autocarro de Ali, mas de estudantes governamentais afegãos, militantes do partido Parcham, que regressavam à Universidade de Cabul após as férias. Ainda antes de termos abandonado os subúrbios da cidade, estavam a ordenar a todos para fechar as cortinas para que ninguém pudesse ser visto, e esticavam o pescoço a cada curva para espreitar de esguelha através das frestas em caso de cairmos em alguma emboscada pela frente. Não percebia em que é que as cortinas poderiam ajudar. Um autocarro misterioso atrairia muito maior atenção dos mujahedines do que um veículo com janelas abertas e passageiros a dormir lá dentro. Quando parámos a 25 quilómetros a norte, ao depararmos com o cadáver de um homem, coberto com um cobertor, a ser colocado num camião, os estudantes comunistas olharam com um silêncio horrorizado. Segundo um afegão de meia-idade que ia noutro autocarro, era o corpo de um condutor de camião que não parara à ordem dos mujahedines. Havia ali cinco autocarros, todos para Cabul, e estavam agora todos parados junto a uma casa de chá enquanto os seus motoristas discutiam se deveriam tentar atravessar o troço da estrada em poder da guerrilha, negociando com ela, ou se deveriam regressar a Jalalabad. Passaram duas horas e os motoristas não eram capazes de tomar uma decisão. Os jovens afegãos estavam a ficar cada vez mais nervosos, e com boas razões. Os mujahedines só 113 A Grande Guerra pela Civilização concediam duas opções aos seus prisioneiros: ou se juntavam à resistência ou eram executados. Alguns dos rapazes afegãos retiraram os seus emblemas do partido. Só podia sentir pena deles. Talvez tivessem entrado para o Parcham para se promoverem na universidade ou porque os seus pais trabalhavam para o governo. Ora, apesar de toda a brutalidade do governo e de se ter apoiado numa invasão estrangeira, os seus funcionários tinham tentado criar uma sociedade secular e igualitária nas aldeias em redor de Jalalabad. Não era o governo que estava a incendiar as escolas e a matar os professores. Passou-se mais uma hora, o calor aumentava, os estudantes estavam ainda mais desanimados, os motoristas apanhavam sol. Em tempos, de guerra, perante qualquer grande perigo, a indecisão funciona como uma droga. Depois, subindo a custo a estrada, chegou o autocarro de madeira de Ali, com o brasão da Província da Fronteira Noroeste orgulhosamente pintado de cada lado da carroçaria. «Porque me abandonou?», quis Ali saber. Apontou para o seu autocarro. «Sr. Robert, por favor, venha connosco.» Por isso, sentei-me no lugar habitual no lado direito do seu veículo e os outros autocarros entraram na estrada atrás de nós como carneiros. «O senhor está melhor connosco, Sr. Robert», disse Ali. «Não deveria estar com eles.» Em breve saberia porquê. Depois de feita uma curva precisamente cinco quilómetros mais à frente, num vale estreito de penedos e pequenos pinheiros, seis mujahedines altos, tisnados pelo sol e de pernas afastadas estavam no meio da estrada. Um outro estava sentado numa rocha, levantando e baixando preguiçosamente o braço em sinal de paragem. Haviam-nos dito que não estavam bem armados, que apenas ousavam aparecer após o escurecer e que temiam as retaliações do governo. No entanto, aqui estavam os mujahedines em pleno dia, ao calor, com os seus turbantes e xailes afegãos, empunhando todos uma Kalashnikov novinha em folha, a controlar o tráfego duma das mais importantes estradas do Afeganistão. Era uma audaciosa manifestação de autoconfiança que impunha temor aos estudantes do autocarro de trás. Não havia ansiedade no autocarro de Ali e um passageiro paquistanês – um mercador de tecidos de Peshawar – estava tão aborrecido que começou a dissertar longa e enfadonhamente sobre a política interna do Paquistão. Pela janela traseira, contudo, podíamos ver os estudantes a descer do autocarro. Ali ficaram, de cabeça baixa como se fossem criminosos, procurando alguns deles ocultar-se atrás dos outros. Ali estava a conversar e chalacear com um dos guerrilheiros. Os outros motoristas ficaram ao lado dos seus autocarros sem exteriorizarem qualquer expressão. Os homens armados percorriam as fileiras de jovens afegãos. Deram ordem para alguns regressarem ao autocarro. Ordenaram aos outros, pálidos de pavor, que formassem uma linha junto à estrada. Ataram três deles, vendaram-nos e levaram-nos, aos tropeções e a cair, através dos pinheiros, em direcção ao rio que gorgolejava para a nossa direita. Observámo-los até que eles e os seus captores desapareceram. O mercador paquistanês deu um estalido com a língua e abanou a cabeça. «Pobres tipos», disse ele. Ali entrou para o autocarro e anunciou que, sendo este um autocarro paquistanês, os mujahedines não queriam causar-nos problemas. Quando nos afastámos, um jovem guerrilheiro com uma rosa atada à espingarda acenou-nos vigorosamente pela janela. Tinha-os visto finalmente. Eis os «guerreiros sagrados» que a CIA agora protegia, os «terroristas», os 114 Os Coros de Kandahar «bandidos», os «elementos subversivos contra-revolucionários», como Karmal lhes chamava, os «residuais», que fora aquilo a que o general soviético inocuamente os reduzira, os «estudantes do imperialismo» do Sr. Ziarad. Mas a mim não me pareciam «residuais». As suas Kalashnikovs eram as novas AKS 74 que os Soviéticos acabavam de trazer para o Afeganistão e traziam cintos de munições novos. O Hotel Kabul Intercontinental estava num estado lamentável. A maior parte dos jornalistas estrangeiros fora expulsa ou abandonara-o. Gavin e a sua equipa já tinham partido. O meu visto iria expirar em breve e não havia qualquer esperança de obter um novo. Na secção de vendas do hotel, uma das secretárias, Gina Nushin, pediu-me para levar o seu correio privado para fora do país. Nove meses mais tarde, na Irlanda, haveria de receber uma nota enigmática em que me agradecia por ter enviado as suas cartas. O selo do sobrescrito mostrava um sorridente e bondoso presidente Taraki compulsando os seus jornais matutinos. Todavia, uma carta muito mais importante acabava de chegar a Cabul, tendo sido retirada clandestinamente da União Soviética por um clérigo xiita que fora preso após a revolução de Rataki, em 1978, e que se acreditava ter sido assassinado pela polícia secreta afegã. O mulá, que se chamava Waez e obtivera a ajuda dum trabalhador soviético compreensivo e um estudante afegão da Universidade de Moscovo para levarem em mão a sua carta para Cabul, contou à família que ele e centenas doutros afegãos estavam prisioneiros na cidade russa de Tula, 200 quilómetros a sul de Moscovo. Waez era estimado entre os sunitas bem como entre os xiitas pela sua oposição ao poder comunista. Rumores de que milhares de afegãos estavam a ser retidos secretamente na União Soviética, numa violação do direito internacional, tinham vindo a circular há mais dum ano. Muitas das famílias que observei quando invadiram a prisão de Polecharkhi, nos arredores de Cabul, em Janeiro, procuravam parentes que, ao que agora se afigurava, poderiam ter estado todo aquele tempo na Rússia. Segundo a carta de Waez, ele e outros afegãos presos em Tula era considerados «prisioneiros do Estado», embora todos tivessem sido detidos no Afeganistão. Em 1979, o embaixador americano em Cabul, Adolph Dubbs, fora assassinado por homens armados que, de forma intrigante, exigiram de início a libertação de Waez em troca da vida do diplomata. Estariam os Soviéticos pouco dispostos a libertar Waez porque isso revelaria quantos Afegãos estavam presos em Tula? Eu sabia que o governo afegão estava a obrigar os últimos de nós a sair do país, mas a porta ainda estava aberta e pensei que havia uma fenda por onde poderia forçar a passagem ¶. Fiz uma última viagem a Jalalabad com Ali e descobri que o meu hotel era o local dum encontro secreto entre seis oficiais soviéticos de alta patente e o ministro afegão do Interior, Saed Mohamed Gulabzoi, e os seus funcionários locais, todos ansiosos por evitar um cerco em larga escala a Jalalabad por parte dos rebeldes. A estrada era tão perigosa que os Russos tiveram de vir de Cabul de helicóptero. Vi-os chegar ao Spinghar, protegidos pela polícia Foi instrutivo verificar que os jornalistas soviéticos tinham tanta dificuldade em tornar conhecida a realidade desta fase inicial da guerra que os jornais moscovitas estavam reduzidos a publicar extractos das notícias ocidentais, incluindo as minhas. (Vd., por exemplo, Literaturnaya Gazeta, 20 de Fevereiro de 1980, p. 9) ¶ 115 A Grande Guerra pela Civilização de segurança equipada com visores antimotim, que montou metralhadoras de fita em tripés colocados sobre mesas de bar a toda a volta dos jardins de rosas do hotel. Havia agora 3000 militares soviéticos fora da cidade. Estava nessa altura em curso a destruição das aldeias que rodeavam Jalalabad. Alisingh e Alinghar, nas imediações de Metarlam, foram bombardeadas pelos Russos, mas uma viagem de 40 quilómetros pelo território controlado pelos mujahedines na província de Laghman revelava que todas as escolas e serviços governamentais tinham sido incendiados pelos rebeldes. Alguns aldeãos disseram que cerca de 50 mulheres e crianças tinham sido mortas pelos raides aéreos soviéticos nos três dias anteriores. Um velho com a barba por fazer dizia continuamente a palavra «napalm», fazendo gestos com as mãos num movimento para baixo e de sufocação. Numa pequena aldeia perto de Metarlam, mais de 200 homens rodearam o meu táxi quando pensaram que éramos Russos. Os mujahedines não deixavam de ter sentido de humor. Duas noites antes, um motorista de camião afegão encontrou um sinal na estrada principal que se dirigia para oeste. «Em nome de Deus», leu ele, «isto é para os tanques.» O motorista prosseguiu a viagem e logo depois espoletou uma mina. Um guerrilheiro armado apareceu então a exigir que o motorista pagasse 350 dólares pelos explosivos que acabava de desperdiçar. Muito menos divertido foi o relato de três fontes independentes de Jalalabad de que um museu de Hadda que tinha uma estátua de Buda que datava, pelo menos, do século II a. C., para além doutras antiguidades de valor incalculável, fora destruído. O que significava isto? Se os relatos fossem verdadeiros, que confiança poderia ter o mundo de que os Budas gigantes de Bamyian, que tinham 1500 anos, não iriam ser também destruídos? No meu regresso a Cabul os guerrilheiros estavam novamente na estrada, sendo 20 desta vez, e já não havia rosas atadas às espingardas. Regressei por pouco tempo ao Afeganistão, no verão de 1980, voando até Cabul, com uma raquete de ténis, afirmando, implausivelmente, que era turista. O Khad desta vez destacou um polícia e fui escoltado até ao Hotel Intercontinental, onde lhe paguei para se ir embora e eu poder dar uma volta de táxi pela capital. O pó ficava suspenso nas camadas de calor que inundavam Cabul e os soldados soviéticos estavam agora na defensiva, escoltando automóveis civis em longas colunas que atravessavam as estradas do Afeganistão. De três em três minutos, saíam da sua base de Bagram aviões destinados a bombardear os mujahedines. Os Soviéticos ocupavam agora altos cargos de «conselheiros» em todos os ministérios de Cabul, passeando ao meio-dia nas suas grandes limusinas pretas pelas ruas sufocantes da cidade, com as cortinas corridas nas janelas de trás e homens trajando à civil a espreitar nos lugares da frente. Os ocupantes não eram os comissários entroncados e fortes da mitologia popular, mas, na sua maior parte, homens respeitáveis com fatos cinzento-brilhante de homem de negócios, gravatas estreitas algo fora de moda e cabelos oleosos. Eram homens de família provenientes de repúblicas autónomas que precisavam de cumprir os planos quinquenais. 116 Os Coros de Kandahar No Verão opressivo, os soldados russos usavam sombreros descaídos de abas largas e os seus camiões enchiam as ruas de Cabul. A sua «intervenção limitada» gerou uma ofensiva da Primavera – essa táctica tão apreciada por todos os generais que se confrontam com uma insurreição armada – e transformara-se agora numa verdadeira campanha militar. Helicópteros de combate estacionavam em filas de cinco ao fundo do aeroporto de Cabul. Aviões de carga Ilyushin de quareo reactores com destino a Tashkent davam voltas sobre a cidade durante todo o dia, esgotando o combustível, e mergulhavam para o aeroporto internacional para evitar os mísseis terra-ar. No aeroporto, as duas faces da revolução do Afeganistão podiam ser vistas a uma distância de 800 metros uma da outra. Acima do edifício do principal terminal ainda se podia ver o desenho esbatido da saudação triunfante feita em Janeiro às tropas soviéticas – «Bem-vindos à Nova Revolução Modelar» –, embora as letras com 1,5 metros de altura há muito tivessem sido derrubadas e o sol tivesse transformado a tinta vermelha num cor-de-rosa desbotado. Do outro lado do aeroporto, na extremidade leste da pista principal, estava outro símbolo do conflito revolucionário do Afeganistão: um míssil soviético SA-2, com uma ogiva de 130 quilos, 50 quilómetros de alcance e altitude máxima um pouco superior a 15 000 metros. Era a arma que fora utilizada com efeito devastador em Hanói contra os bombardeiros americanos B-52, durante a guerra do Vietname. Aliás, Vietname era uma palavra que cada vez mais Afegãos usavam para descrever o seu próprio conflito. O presidente Carter e a Sr.ª Thatcher estavam a lançar apelos ao mundo para que boicotasse os Jogos Olímpicos de Moscovo. As crianças de Cabul em idade escolar recusavam-se a ir às aulas, pois centenas delas ficaram doentes. Segundo o governo, os rebeldes tinham adicionado enxofre à água fornecida às escolas. Só numa semana foram enviadas mil crianças para o Hospital Aliabad. À noite, havia batalhas com armas de fogo em volta da cidade quando homens armados atacavam patrulhas russas e os membros dos partidos Parcham e Khalq se atacavam mutuamente. Um médico que era membro do partido Parcham do presidente Karmal foi morto a tiro quando visitava um doente em Bandeghazi, dentro dos limites da cidade, mas a polícia não conseguiu descobrir se fora assassinado por mujahedines ou por agentes do Khalq. Um dos polícias que me foi atribuído era um homem do Khalq que, na privacidade do elevador do hotel, explodiu subitamente com fúria: «Isto está mau aqui e estou doente. Queremos a ajuda soviética – precisamos dela. Mas se alguém ficar mais tempo do que desejamos – quem quer que seja, incluindo a União Soviética – matamo-los.» A 14 de Junho, Karmal ordenou a execução de 13 ex-funcionários do Khalq por «fomentarem conspirações contra o Estado». A maior parte deles era constituída por funcionários pouco importantes – Sidaq Alamyar, o ex-ministro do Planeamento, por exemplo, e Saeb Jan Sehrai, que estava encarregado das «questões fronteiriças» –, ao passo que o vice-primeiro-ministro Asadillah Sawary, que chefiara o serviço secreto de Taraki, permaneceu intocável. O seu nome constava da lista de assassinatos da «carta da noite» atirada para os edifícios diplomáticos quatro meses atrás. Tive sorte em ter ficado 48 horas em Cabul, embora sob vigilância da polícia secreta. 117 A Grande Guerra pela Civilização Quando fui conduzido de volta ao aeroporto de Cabul para apanhar o avião, havia um jacto da Aeroflot na placa de estacionamento, ostentando uma prova do profundo cinismo da Sr.ª Thatcher em relação aos Soviéticos. O avião trazia pintado de ambos os lados da fuselagem, em inglês, o orgulhoso slogan da Aeroflot «Transporte Olímpico Oficial», mas das suas portas saíam tropas de combate soviéticas, homens novos, alguns de cabelo loiro, com as suas espingardas ao sol quente enquanto desciam as escadas. Pareciam muito satisfeitos – um deles levantou os braços em direcção ao Sol e disse algo que fez rir os camaradas –, embora as suas probabilidades de regressar a casa com a mesma disposição tivessem diminuído nas últimas semanas. Mais de 600 militares soviéticos feridos deram entrada no hospital militar de Cabul, outros 400 foram para as clínicas soviéticas que ficavam perto da estação de autocarros de Khai Khana. Destes 1000 morreram 200. Este número, é claro, apenas incluía os que morreram em consequência de ferimentos, não os que foram mortos em combate. Os mortos foram colocados em caixões quadrados de madeira num avião Antonov-12 e ninguém sabia o que continham até que um jovem soldado soviético foi visto a fazer continência a uma das caixas. Até o polícia secreto do Khad que me seguira com tanta assiduidade concordou que o exército soviético estava a ter «muitos problemas». No entanto, regressando a esse Fevereiro gelado de 1980, tive ainda dois dias duma preciosa e solitária liberdade antes de o meu visto caducar e me ver forçado a deixar o Afeganistão. Desta vez decidi ser ganancioso, tentar uma vez mais uma viagem de autocarro de longo curso, agora para uma cidade cujas pessoas, conforme me disseram em Cabul, tinham redescoberto a sua fé colectiva no combate aos invasores do seu país: Kandahar. Tomei o autocarro antes de amanhecer, na mesma estação em que partira para a minha viagem frustrada a Mazar, levando o mesmo chapéu afegão e enrolado no mesmo xaile castanho. Homens e mulheres sentaram-se juntos – pareciam todos ser famílias – e quando disse qual era a minha nacionalidade fui inundado com maçãs, queijo, laranjas e um pão enorme, espalmado e em forma de lágrima que os Afegãos costumam utilizar para envolver a comida. Quando expressei de forma vaga a minha preocupação de que pudesse haver pessoas «más» no autocarro – a própria palavra «Khad» tinha habitualmente por consequência que se instalasse o silêncio nas conversas durante uma hora –, asseguraram-me que não havia nenhuma. Eu estaria seguro. Deste modo, os passageiros, que quase não falavam inglês, deram-me a sua protecção silenciosa na viagem de 14 horas através da paisagem lunar e gelada em direcção a Kandahar. Foi uma epopeia dum país em guerra. O nosso autocarro passou pelos destroços de inúmeros veículos à beira da estrada. A 65 quilómetros a oeste de Ghazni, a cidade de que Gavin, eu e a sua equipa fugimos no mês anterior – parecia ter já sido noutra vida –, uma coluna de autocarros e camiões civis acabava de sofrer uma emboscada. Todos os veículos estavam em violentas chamas, emitindo um cone de fumo negro da planície coberta de 118 Os Coros de Kandahar neve. Havia pequenos montículos escuros ao lado dos autocarros − o que restava de alguns dos seus passageiros. Colunas soviéticas passaram por nós na direcção contrária, tendo cada veículo na parte de trás um soldado russo de pé e pistola na mão. Os Soviéticos estavam agora demasiado ocupados em assegurar a sua própria segurança para se preocuparem com os civis que supostamente tinham vindo salvar dos «bandidos». Numa aldeia, três soldados afegãos, incluindo um oficial, entraram no nosso autocarro e tentaram prender um carteiro que desertara do exército. Ouve um combate brutal a soco entre soldados e passageiros até que dois militares uniformizados que estavam a fumar haxixe nos bancos de trás caminharam pelo corredor e correram literalmente o oficial a pontapé para fora do veículo. Isto diz o suficiente do moral do exército afegão de Karmal. Noutra aldeia, os passageiros assobiaram as tropas tajiques soviéticas que estavam junto ao arame farpado dum depósito militar. Porém, o passageiro que estava atrás de mim tocou-me com insistência no ombro: «Olhe!», arfou ele, apontando para a sua testa. Olhei para a cara dele, mas não entendi. «Olhe!», disse ele ainda com maior insistência e colocou a palma da mão direita no cimo da sua cabeça, como se fosse um chapéu. Chapéu. Sim, faltava algo nos chapéus de pele cinzentos dos soldados soviéticos tajiques. Tinham retirado a estrela vermelha. Continuavam a olhar para nós, com uma pele mais escura do que a dos seus camaradas russos, privados agora da irmandade comunista em que cresceram. Deveria ter compreendido logo. Se as tropas soviéticas no Afeganistão – soldados soviéticos muçulmanos – retiravam o próprio símbolo do seu país, o emblema que os seus pais usaram tão orgulhosamente na Grande Guerra Patriótica entre 1941 e 1945, então o cancro do Afeganistão já deveria ter entrado bem fundo nas suas almas. Foram enviados para a guerra contra os seus correligionários muçulmanos e decidiram que não os combateriam. Não poderia ter encontrado no Afeganistão um presságio mais evidente do colapso iminente do império. No entanto, a minha difícil e penosa viagem pelas terras cobertas de neve era tão extensa, os perigos tão grandes, a minha exaustão tão completa, que apenas anotei apressadamente no meu caderno de notas a observação de que, «por qualquer razão», os soldados tinham retirado os emblemas do seu chapéu ¶. Alguns quilómetros mais à frente, vimos um soldado afegão no deserto a disparar para o escuro com uma espingarda semiautomática, em direcção a um inimigo que não poderia ver. Quando o nosso autocarro parou junto duma venda de chá na semiescuridão gelada, um velho da coluna incendiada pela qual passáramos contou-nos que foram retirados 300 passageiros dos autocarros, 50 foram presos por mais duma centena de rebeldes armados e a todos eles foi dito, de forma clara, que seriam «provavelmente» executados por serem membros do partido. Cada cena falava por si mesma: era uma imagem gravada de violência e impotência do governo, que os nossos aterrorizados passageiros compreendiam claramente. A noite caíra quando entrámos em Kandahar, a antiga capital do Afeganistão. O nosso autocarro passou pelo santuário em que está o manto do profeta Maomé e rodeou um (¶) Escrevi exactamente o mesmo no despacho para o meu jornal, como se este acontecimento extraordinário quase não merecesse ser referido. Vd. The Times, 18 de Fevereiro de 1980. 119 A Grande Guerra pela Civilização conjunto de canhões do século XIX que pertencera ao exército do general Roberts na II Guerra Afegã. Eu estava sujo e cansado. Fui para um hotel degradado da velha cidade, cheio de fumo de cigarros, suor e carne demasiado cozinhada. A minha cama era pequena, os lençóis cheiravam mal, o tapete desfiado estava cheio de queimadelas de cigarros. No entanto, duas grandes portas cheias de ferrugem davam para uma varanda estreita donde podia ver a lua e as estrelas a brilhar no céu invernoso. Estava deitado na cama quando ouvi a primeiro voz. Allahu akbar. Deus é grande. Era um lamento em tom agudo e alto. Allahu akbar. Deus é grande. Olhei para o relógio. Não eram horas de rezar. Eram 21 horas. O recolher obrigatório começara agora. Allahu akbar. O cântico vinha agora do tecto mais próximo, a apenas 20 metros do meu quarto, e era mais um canto com notas de falsete do que um apelo ao Todo-Poderoso. Abri uma das portas que davam para a varanda. O clamor atravessava o ar. Era uma dúzia, uma centena de Allahu akbar, descoordenados, sobrepondo-se uns aos outros, mas constituídos pelas mesmas palavras, muitos altos, tenores, sopranos e infantis, um exército de vozes a gritar dos telhados de Kandahar. Aumentavam de volume, eram agora mil, dez mil, um coro que enchia os céus, que flutuava sob a lua e as estrelas, a música das esferas. Vi uma família – marido, mulher e um rancho de crianças – todos a cantar, mas as suas vozes perdiam-se agora na onda de sons que cobria a cidade. Este fenómeno extraordinário não era um mero protesto, um lamento pela perda da liberdade. Quando o profeta entrou em Meca no ano 630 d. C., dirigiu-se à grande pedra negra, a Kaaba, tocou-lhe com o seu bastão e entoou bem alto aquela suprema invocação do Islão: Allahu akbar. Os seus 10 000 seguidores fizeram coro das mesmas palavras e foram conduzidos pelos membros da tribo Qureishi, que era a do próprio profeta, que se haviam reunido nos seus telhados e varandas, em Meca. Agora estas mesmas palavras sagradas eram entoadas por outras 10 000 vozes, desta vez nos telhados e varandas de Kandahar. Um ocidental, ou um russo, poderiam interpretar tudo isto como uma manifestação semipolítica, como um acontecimento simbólico. Mas, na verdade, os coros de Kandahar eram uma proclamação irresistível de fé religiosa, a repetição aberta e deliberada dum dos momentos mais sagrados do Islão. No seu último ano de vida, o profeta entrou no recém-purificado santuário de Meca e entoou mais sete vezes o Allahu akbar. Em Kandahar, as vozes eram desesperadas, mas infinitamente poderosas, hipnóticas, intermináveis, ensurdecedoras. Um povo que noutra ocasião estaria silencioso reconhecia a sua união com Deus. Era uma força imparável, uma afirmação de identidade religiosa que nenhum sátrapa afegão nem nenhum exército soviético conseguiria destruir. Os protestos terrenos e políticos da Kandahar eram pouco eficazes. Os lojistas fecharam o bazar durante mais de duas semanas, mas um pelotão de soldados afegãos obrigou à sua reabertura, ameaçando destruir as lojas cujos donos não obedecessem às suas ordens. Podia ver-se os militares afegãos a fumar cigarros uns atrás dos outros nos seus camiões, ao lado da mesquita Khalkisherif. Contudo, os cinco grupos de rebeldes que operavam a sul de Kandahar tinham-se unido e os mulás, que noutras circunstâncias seriam obedientes, avisaram a população muçulmana da cidade para «estar atenta aos acontecimentos», uma referência muito discreta, mas sem precedentes, à invasão soviética. 120 Os Coros de Kandahar Para além disso, nos últimos dias, uma série de cartazes mal impressos fizera o seu aparecimento nas paredes do bazar de novo aberto. «O povo está a dormir», censurava um. «Porque não acordam?». Outro, dirigido às tropas soviéticas, perguntava apenas: «Filhos de Lenine, o que estão aqui a fazer?» No entanto, o cartaz dirigido aos Russos estava escrito em pashtun, língua que seria improvável que as tropas soviéticas dominassem. Cinco dias antes a população de Kandahar assistira daquelas mesmas varandas e telhados à passagem de uma coluna de tanques, veículos blindados e camiões pela sua cidade. O primeiro tanque foi avistado depois das nove da noite e o fim da coluna só abandonou Kandahar às quatro da madrugada. A maior parte desta coluna soviética acabou por se dirigir para estrada a caminho de Spinboldak, na fronteira com o Paquistão. Em Kandahar, os preços dos alimentos tinham duplicado. A inflação reduzira o poder de compra dos salários. Na cidade, os preços da carne e do arroz subiram 80% e o dos ovos 100%. Um lojista entre 50 e 60 anos de idade, educado, que combinava o casaco e a camisola europeus com as calças largas e o turbante afegãos tradicionais, afirmou que o governo de Karmal não conseguiria manter-se se não fosse capaz de controlar os preços da comida. «O governo diz todos os dias que os preços da comida vão baixar», disse. «Todos os dias nos dizem que as coisas estão a melhorar graças à cooperação com a União Soviética, mas isso não é verdade.» O homem irrompeu em obscenidades. «Não vê que o governo nem sequer consegue controlar as estradas? Que se fodam. Apenas estão a controlar as cidades.» Isso já eu sabia. A viagem de regresso a Cabul, 450 quilómetros através de lagoas de neve e desertos na posse de rebeldes salteadores, era a prova do futuro terrível que o Afeganistão teria de suportar. Da janela do meu autocarro vi, a oito quilómetros da estrada, uma aldeia inteira a arder, com as chamas douradas a contrastar com a neve das montanhas, enquanto a estrada ficava, por vezes, nas mãos de homens armados – alguns deles, conforme vi, tinham lenços árabes – ou de camiões cheios de soldados afegãos aterrorizados. Os militares russos estavam a deslocar-se agora pelas estradas secundárias, dispersando o exército pelas planícies, entrando imperialmente pelas aldeias mais insignificantes. Num cruzamento estava estacionada uma patrulha soviética com os soldados nos veículos blindados BMB a observar-nos com um desinteresse rotineiro, já encarando a sua missão como algo normal. Esta era agora a sua terra, na verdade, a sua perigosa herança, mas era também parte da sua vida, um dever a cumprir. Todavia, a sua missão não permitia qualquer esperança e era ilusória. «Mesmo que matem um milhão de afegãos», disse-me mais tarde em Cabul um afegão do bazar, «há mais um milhão que está pronto a morrer. Nunca iremos permitir que as pessoas permaneçam no nosso país.» Ambas as afirmações eram verdadeiras. Apenas alguns dias após ter abandonado Cabul, os militares afegãos e os homens da segurança esmagaram brutalmente uma grande manifestação contra a invasão soviética, matando centenas de manifestantes, incluindo mulheres estudantes, nas ruas da capital. Muito mais de um milhão de afegãos seriam mortos na guerra contra os Russos nos nove anos seguintes, pelo menos 4 milhões seriam feridos e 6 milhões teriam de sair do país 121 A Grande Guerra pela Civilização como refugiados, mesmo antes da guerra afegã ter dado lugar à tragédia do conflito civil entre os mujahedines, o poder talibã e o subsequente bombardeamento americano. O que este sofrimento significava só mais tarde iríamos descobrir. Os assassinos mais eficazes eram os exércitos de minas espalhadas pelas montanhas e pelos campos do Afeganistão pelos Soviéticos. Estimou-se que a guerra custou aos Russos cerca de 35 mil milhões de dólares – só num ano perderam-se 2,5 mil milhões de dólares em aviões russos – e os Americanos disseram que despenderam 10 mil milhões de dólares no conflito (1). A Arábia Saudita, conforme admitiu em 1986 (2), gastou 525 milhões de dólares em apenas dois anos com os partidos afegãos da oposição e com os seus apoiantes árabes. Fontes paquistanesas confessariam mais tarde que entre 3000 e 4000 combatentes árabes estiveram em acção no Afeganistão durante toda guerra do Afeganistão e que 25 000 árabes participaram nos combates (3). No entanto, depois de o urso russo ter queimado as suas patas e a União Soviética caminhar para a sua própria perdição, os Americanos e os seus fornecedores árabes e paquistaneses abandonariam o Afeganistão ao seu destino e ignoraram os milhares de árabes que nele combateram. Também nenhum príncipe saudita arriscou a vida pelos Afegãos, nem nenhum líder árabe ousou sequer ir para a guerra pelos seus correligionários muçulmanos, nem sequer Yasser Arafat, que compreendia o significado de ser espoliado, criticou o exército de ocupação que haveria de permanecer durante tanto tempo em terras muçulmanas entre Amu Darya e a linha Durand. Apenas Bin Laden e os seus homens representaram os árabes. Deixei Cabul num pequeno avião paquistanês a hélices, que mergulhava violentamente nos poços de ar por cima do Hindu Kush e me deixou no exposto e tórrido aeroporto de Peshawar, donde Francis Gary Powers levantara voo 20 anos antes no seu infeliz avião-espião U-2 para sobrevoar a União Soviética. Eu estava com uma óptima disposição, entusiasmado por ter sido testemunha da história e ter sobrevivido, manifestando uma imaturidade digna de um menino de escola. O Correspondente de Guerra, de Hitchcock, não tinha nada disto ¶. No meu hotel recebi uma mensagem de Ivan Barnes, o meu editor do internacional, que me dizia que ganhara um prémio pela minha reportagem sobre a revolução iraniana. «Tome um grande copo por mim hoje à noite…» dizia ele no telex. O editor anunciava-me também que ganhara um bónus de 1000 dólares. Haveria de chegar ainda uma carta de parabéns do velho soldado que era o meu pai. «Fizeste um bom trabalho, pá», escreveu ele. Nessa noite não consegui dormir. Na manhã seguinte, dei largas à minha inocência fazendo a viagem no velho comboio britânico a vapor, de regresso ao desfiladeiro Khyber, a fim de olhar de novo para o Afeganistão antes de regressar a Beirute. O maquinista, Mohamed Selim Khan, um Mas pelo menos o Huntley Haverstock, de Hitchcock, continuaria a ver a guerra com os seus próprios olhos. Charles Douglas-Home haveria de me falar depois do receio de todos os editores de não efectuarem a cobertura noticiosa dum evento. «Agora que não temos cobertura regular a partir do próprio Afeganistão», escreveu ele, «gostaria que tomasse todas as providências para não deixarmos escapar qualquer oportunidade de apresentar notícias, a partir de fontes de confiança, sobre o que se passa naquele país […] Não podemos deixar que os acontecimentos do Afeganistão desapareçam do jornal só porque não temos correspondente no país.» (Carta de Douglas-Home ao autor, 26 de Março de 1980.) ¶ 122 Os Coros de Kandahar pashtun enérgico, de bigode, com um capacete colonial na cabeça e 18 anos de experiência nos Caminhos-de-Ferro do Estado do Paquistão, limpou com o seu oleado a fornalha da máquina a vapor, que já tinha 65 anos, bateu com conhecimento de causa no lubrificador – construído em Londres EC4 sob patente da Wakefield – e fez sair a locomotiva n.º 2511 da estação ferroviária quente e fumarenta de Peshawar. Qualquer miúdo de escola haveria de gostar da locomotiva n.º 2511 da classe SGS, e o mesmo aconteceu comigo. Tinha seis rodas propulsoras, uma chaminé com um opérculo com a forma dum bule de chá, uma caldeira enferrujada constantemente a ser reparada, um esquadrão de válvulas que deixavam passar vapor e uma plataforma que exalava um forte cheiro a óleo, fumo e chá acabado de fazer. A locomotiva fazia um barulho parecido com um trovão e eu agarrava-me como uma criança às saliências da plataforma do Sr. Khan. O ministério da Defesa de Islamabad pagava a manutenção dos 60 quilómetros de via – poderia precisar dela algum dia destes para enviar o seu próprio exército para Landi Kotal, se as colunas russas passassem pela fronteira –, mas o seu subsídio permitia que fizéssemos o nosso caminho a subir com uma inclinação de 33%, a mais íngreme do mundo, com o fumo a invadir-nos nos mais de 30 túneis ao longo da linha. Um silvo agudo, longo e penetrante afastava da via os búfalos, as cabras, as ovelhas, as crianças e os velhos. A 1000 metros de altitude, a n.º 2511 fez uma curva tão apertada numa crista de grandes penedos e muito acentuada que ficava por cima dum rio revoltoso que o Sr. Khan e eu tivemos de nos segurar às portas de ferro da cabina para não sermos projectados para o exterior. Deste modo, lá entrámos a vapor em Landi Kotal, vindos de Jamrud Fort, com a nossa locomotiva a lançar o seu fumo à brisa cortante daquela altitude. Saltei então para a plataforma e caminhei com ruído pela gravilha da via permanente, ali onde as montanhas azul-pálido do Afeganistão tremeluziam a norte e a oeste, banhadas pelo sol, frias, zangadas, familiares, perigosas. Olhei então para elas com afecto, como sempre fazemos em relação a uma terra sombria de onde saímos vivos. Ali, com Gavin e a sua equipa, cheguei ao topo do mundo. Nunca poderia ter imaginado aquilo a que déramos origem no Afeganistão, nem o que este reservava a este mesmo mundo daqui a 20 anos, nem a dor que haveria de me provocar. 123 A Grande Guerra pela Civilização IV Os Tapeteiros […] os Homens que, devido aos seus fins desesperados, Arrancaram a misericórdia pela raiz estavam contentes Com este novo inimigo. Tiranos, antes fortes Em diabólicas súplicas, estavam agora dez vezes mais fortes, E, por isso, assedeada por todos os lados pelos adversários, A Terra acicatada ficou mais louca. Os crimes de poucos Transformaram-se na loucura de muitos, brados Do Inferno desceram santificados como árias do céu […] [William Wordsworth, The Prelude, 1805 Livro Décimo] Christopher Montague Woodhouse perguntava-se a si mesmo se ajudara a criar a revolução islâmica no Irão. Era agora um homem idoso – tinha 79 anos –, alto, digno, corajoso e impiedoso, mas era visível a energia que ainda tinha. Estávamos em 1997. Nevava nessa manhã em Oxford, mas ele viera até ao portão da sua casa de retiro para me saudar com o seu fortíssimo aperto de mão. Sentou-se na sua biblioteca direito que nem um fuso, revelando o espírito de um jovem, respondendo às minhas perguntas com o rigor dum professor de Grego: cada frase sua era cuidadosamente elaborada. Fora o agente secreto britânico mais importante da «Operação Bota», em 1953, que derrubara o único primeiro-ministro democrático do Irão: Mohamed Mossadeq. Em colaboração com os seus colegas da CIA, foi «Monty» Woodhouse quem ajudou a trazer o xá do Irão do seu exílio e quem deu início a um quarto de século em que o Xá dos xás, «A Luz dos Arianos», governaria obedientemente o Irão, isto é, repressiva, selvática e corruptamente e num isolamento arrogante, em nosso nome. Woodhouse era a prova de que A Conspiração – a conspiração internacional, moamara em árabe – nem sempre fora o produto da imaginação do Médio Oriente. Woodhouse estava nos últimos anos duma vida em que fora guerrilheiro na Grécia, eleito pelos conservadores para o parlamento e um linguista e académico de Grego muito conceituado. Quase todos os que destruíram a democracia iraniana estavam agora mortos: Kermit Roosevelt, o homem mais importante da CIA em Teerão, o seu chefe Allen Dulles, Robin Zaehner, do ministério dos 124 Susangerd Shalamcheh KUWAIT Bassorá Shatt al-Arab 500 quilómetros ARÁBI A SA U DI TA Qazvin I G Ilha de Kharg O L R à Shiraz Teerão F O Shush Ahwaz Khorramshahr Abadan Dezful n Mar Cáspio Qom Qasr-e Shirin Kermanshah Piranshahr I R A Q U E Bagdad Tamarchin Tabriz u K ar T U RQU I A Golfo Bandar Abbas de ito tre Es O Mashad de N Harper Collins Great War For Civilisations Map 4. Iran Artist: PW, Hardlines Omã PAQUISTÃO A F E G ANISTÃO TURQUEMENISTÃO z mu Or A Grande Guerra pela Civilização Negócios Estrangeiros britânico, os dois misteriosos irmãos Rashidian, que organizaram o golpe, o próprio Mossadeq e o último xá do Irão. «Monty» era o último sobrevivente. Conhecemo-nos há nove anos, desde que o The Times me enviara para investigar a história secreta do ex-secretário-geral da ONU e antigo Oberleutnant da Wehrmacht Kurt Waldheim, durante a II Guerra Mundial, na Bósnia ¶. Woodhouse, bem como Gerald Fleming, um académico britânico brilhante, perseguiu continuamente o antigo oficial da espionagem austríaca no exército alemão por razões pessoais e morais. A inicial «W», de Waldheim, aparecia por baixo do resumo dum interrogatório a um dos oficiais do Corpo de Operações Especiais (SOE) de Woodhouse que foi capturado na Jugoslávia e mais tarde executado pela Gestapo. Woodhouse foi um homem que começou por viver na sombra – nos Balcãs, durante a guerra, e em Teerão – e depois foi membro do parlamento. Eu pretendia saber, antes que morresse, por que razão a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, – o «Ocidente», nós, no fundo –, tinham decidido derrubar a única democracia secular do Irão. Woodhouse olhou para mim com uns olhos penetrantes e firmes. «Têm-me dito, por vezes, que sou responsável por ter aberto as portas ao aiatolá, ao Khomeini e aos outros», respondeu-me. «Mas é extraordinário que tenha decorrido um quarto de século entre a Operação Bota e a queda do xá. Por fim, foi Khomeini quem prevaleceu, mas isso só aconteceu anos mais tarde. Penso que o tempo que decorreu entre os dois factos poderia ter sido mais bem aproveitado.» Fiquei atónito. O golpe contra Mossadeq e o regresso do xá eram, segundo Woodhouse, uma acção de travagem, um adiamento da história. Havia também aquele pequeno problema da AIOC, a Anglo-Iranian Oil Company – que se transformaria mais tarde na British Petroleum (BP) – que Mossadeq acabara de nacionalizar. Podia-se dizer, pela maneira como falava, pelo movimento agitado das suas mãos, que esse fora um dos momentos mais empolgantes da vida de Woodhouse. O regresso do jovem Mohamed Reza Shah Pahlavi era o objectivo final. Custou dois milhões de libras, um avião carregado de armas e talvez cinco mil vidas. Passados vinte e cinco anos tudo se transformou em pó. Os Americanos chamaram à sua conspiração «Operação Ájax», o que, pelo menos, deve ter agradado a um académico como Woodhouse, mesmo se as suas origens clássicas não (¶) Durante o tempo em que foi secretário-geral da ONU, Waldheim conseguiu ocultar o seu papel no Grupo de Exércitos E da Wehrmacht, na Jugoslávia, quando militares alemães e os seus aliados croatas participaram em massacres de Sérvios e muçulmanos. Embora não houvesse provas de que participou nesses massacres, a afirmação de Waldheim de que desconhecia que se estavam a cometer crimes de guerra na Bósnia no auge das batalhas entre os nazis e os guerrilheiros comunistas de Tito, em 1943, era contrariada pela minha própria investigação na região. Quando visitei a cidade bósnia de Banja Luka, em 1988, descobri que um dos gabinetes de informação de Waldheim ficava próximo dum campo de execuções durante a guerra e apenas a 35 quilómetros do campo de extermínio de Jasenovac, acerca do qual Waldheim disse nada saber nessa altura. O homem mais importante da ONU faria mais tarde no Médio Oriente prelecções aos líderes políticos sobre a guerra de guerrilha sem revelar que era um especialista na matéria. O que recordo ao deixar a Bósnia nesse Verão é um telefonema que fiz para Ivan Barnes, do The Times, para lhe dizer que vira tantas semelhanças entre a Jugoslávia actual e o Líbano nas vésperas do conflito de 1975 que pensava que iria eclodir uma guerra civil na Bósnia num futuro pró-ximo. Barnes riu-se da minha ingenuidade. «Noticiamo-la se acontecer», respondeu-me ele. Em 1992, eu fazia reportagem sobre a Guerra da Bósnia… para o The Independent. 126 Os Tapeteiros sugerissem sucesso. Ájax só era suplantado em coragem por Aquiles, mas suicidou-se num acesso de loucura, destino que os Americanos gostariam que fosse também o de Mossadeq. Em todo o caso, ainda haveria um longo caminho a percorrer até às campanhas posteriores mais ambiciosas de «mudança de regime» no Médio Oriente. Alguns neoconservadores do Pentágono em 2003 devem ter tirado o pó dos arquivos relativos ao início dos anos 50 para ver como derrubar os líderes do Médio Oriente, antes de embarcarem na «Operação Liberdade Iraquiana». Mas, nessa altura, a Operação Bota/Ájax, embora estivesse indiscutivelmente relacionada com o petróleo, nunca pretendeu mudar o mapa do Médio Oriente e muito menos levar a «democracia» ao Irão. «A «democracia», na forma que assumiu com o popular e algo caduco Mossadeq, era precisamente o que Washington e Londres não tinham interesse em promover. A mudança de regime era para ser feita pelo barato. O projecto não agradou ao presidente Truman, mas quando Eisenhower chegou à Casa Branca, em 1953, os Estados Unidos receavam já que Mossadeq entregasse o seu país aos Soviéticos. O final da operação da CIA foi conduzido por Kermit Roosevelt – que nome esplêndido –, neto do aventureiro ex-presidente Theodore, e a sua vítima era exactamente o oposto de Saddam Hussein. «Nenhuma nação pode ir a lado algum à sombra de uma ditadura», disse uma vez Mossadeq, palavras que bem podiam ter saído dos que, meio século depois, escrevem os discursos do presidente George W. Bush. Mas havia uma coisa que Mossadeq tinha em comum com aquele que seria mais tarde ditador do Iraque: foi vítima duma longa campanha de ofensas pessoais pelos seus adversários internacionais. Referiram-se à sua cara «amarela», de como o seu nariz estava sempre a pingar. O escritor francês Gérard de Villiers descreveu Mossadeq como «um desordeiro minorca» com a «agilidade duma cabra». Quando morreu, o The New York Times afirmou que ele «reunia conselhos de ministros enquanto ficava recostado na cama sobre três almofadas e era alimentado por transfusões de plasma americano». É verdade que Mossadeq, um aristocrata de educação europeia, tinha o hábito de vestir pijamas cor-de-rosa e de se desfazer em lágrimas no parlamento. Mas parece que foi um democrata genuíno – foi um diplomata e parlamentar notável –, tendo a condenação da tirania do xá e a recusa de aprovar mais concessões petrolíferas trazido o apoio popular à sua coligação da Frente Nacional. Quando Woodhouse chegou a Teerão – formalmente era o «oficial de informações» da embaixada britânica –, o Irão estava já à beira da catástrofe. As negociações com a AIOC tinham cessado. Os funcionários da empresa, confessa Woodhouse, eram «enfadonhos, estupidamente teimosos e cansativos». O embaixador britânico era, na opinião de Woodhouse, «um solteirão desanimado dominado pela sua irmã viúva» e o seu homólogo americano era um magnata que estava a ser recompensado pelos seus donativos ao Partido Democrata ¶. (¶) Os estudiosos da bestialização posterior de Saddam Hussein devem ter em atenção que Loy Henderson, o então novo embaixador americano, escreveu ao departamento de Estado sobre Mossadeq, dizendo que «Estamos confrontados com uma situação desesperada e perigosa e com um louco que se irá aliar aos Russos.» (Vd. Roosevelt, Countercoup, p.18.) Substituam Russos por al-Qaeda e poderia ser o presidente Bush ou o primeiro-ministro Blair a falar em 2002. 127 A Grande Guerra pela Civilização «Uma das primeiras coisas que tive de fazer foi trazer para o Irão um carregamento de armas por via aérea», disse Woodhouse. Viajou no avião a partir da base aérea iraquiana de Habbaniya – décadas mais tarde, seria uma das bases de caças-bombardeiros de Saddam Hussein e, mais tarde ainda, um aquartelamento do exército de ocupação americano – e depois comprou milhões de riais iranianos, entregando-os num lugar secreto aos irmãos Rashidian. Estes deveriam ser os organizadores das multidões que iriam desencadear o golpe. As armas seriam também para eles, a menos que a União Soviética invadisse o Irão, e nesse caso seriam utilizadas para combater os Russos. «Aterrámos em Teerão depois de nos termos perdido sobre as montanhas de Zagros. Eram sobretudo espingardas e metralhadoras ligeiras. Fomos de camião para norte, por estradas secundárias, evitando os postos de controlo. Ser mandado parar é o tipo de coisa em que nunca se pensa. Enterrámos as armas. Penso que foram os meus subordinados que cavaram os buracos. Tanto quanto julgo saber, essas armas continuam ainda escondidas algures no Norte do Irão. Foi tudo planeado no pressuposto de que haveria uma guerra com a União Soviética. Mas permita-me que esclareça algo. Quando fui enviado para Teerão, o objectivo não era interferir politicamente. De facto, na embaixada britânica de Teerão a interferência política estava nas mãos de uma personalidade muito diferente, Robin Zaehner. Era uma companhia muito agradável, muito inteligente, mas muito estranha. A sua função era livrar-se de Mossadeq. Esta só se tornou a minha própria missão quando Zaehner desesperou de a cumprir e abandonou Teerão.» De facto, Zaehner, que mais tarde se tornou professor de Religiões Orientais em Oxford, estivera envolvido na tentativa desastrosa da Grã-Bretanha de fazer uma revolução na Albânia comunista, a partir de Malta, e foi mais tarde acusado por agentes americanos de atraiçoar a operação – no que Woodhouse nunca acreditou – e era na altura a ligação principal com o xá. Foi Zaehner que foi aliciando os irmãos Rashidian, os quais tinham trabalhado durante a II Guerra Mundial para contrariar a influência alemã no Irão. O país estava prestes a expulsar o pessoal da embaixada britânica em Teerão, pelo que Woodhouse entrou em contacto com o chefe da agência da CIA na cidade, Roger Goiran, «um colega verdadeiramente admirável […] originário de uma família francesa, era bilingue, extremamente inteligente e simpático, com uma mulher encantadora. […] um aliado de valor incalculável para mim quando Mossadeq nos estava a expulsar». Regressado a Londres, Woodhouse foi a Washington levar os seus planos aos Americanos: os Rashidians, bem como uma organização de oficias do exército e da polícia desencantados, deputados, mulás, editores e grupos do bazar, todos financiados com o dinheiro de Woodhouse, obteriam o controlo de Teerão, enquanto os chefes tribais tomariam as grandes cidades com as armas que Woodhouse enterrara. Mossadeq rejeitou as últimas propostas de acordo com a AIOC e ameaçou o xá, que já abandonara o Irão. A partir desse momento o seu destino era óbvio. Roosevelt viajou secretamente para Teerão enquanto Woodhouse se encontrava com a irmã do Xá, Ashraf, na Suíça, numa tentativa de convencer o irmão a permanecer no trono. O próprio xá recebeu um emissário secreto com a mesma finalidade, um tal general H. Norman Schwarzkopf, pai do Norman Schwarzkopf que chefiou as forças dos Estados Unidos na Guerra do Golfo contra o Iraque em 1991. O xá foi ao encontro dos desejos das superpotências suas aliadas. 128 Os Tapeteiros Assinou um decreto de demissão de Mossadeq do cargo de primeiro-ministro e quando este recusou obedecer e prendeu o coronel Nimatullah Nassiri, que lhe levara a ordem do xá, as multidões que Roosevelt e Mossadeq compraram apareceram nas ruas de Teerão, como era esperado. Woodhouse nunca se arrependeu. «Tudo se ficou a dever aos erros de Mossadeq. Recebeu o decreto do xá para abandonar o lugar. Foi ele que chamou os seus próprios capangas e foi ele quem provocou todo aquele banho de sangue. Não foram os nossos: eles procederam como estava planeado. O que teria acontecido se não tivéssemos feito nada? O que teriam sido as relações de Mossadeq com os mulás? As coisas apenas teriam sido piores. Não teria havido regresso da AIOC. Por outro lado, o xá teria sido derrubado imediatamente, em vez de 25 anos depois.» ¶ Reformado, e ainda a fazer luto pela sua mulher, Davina, que morrera dois anos antes, Woodhouse mantinha a sua mente em actividade traduzindo para inglês uma história da Grécia moderna que fora escrita pelo seu velho amigo e colega académico Panayotis Kanellopoulos ¶¶. Velhote afável que acabara de se tornar o 5.º barão de Terrington, era fácil vê-lo como uma figura romântica da história. Afinal era um homem que conhecera Churchill e Eden e os homens mais importantes da CIA em Washington. No entanto, os agentes britânicos que congeminam golpes podem ser pessoas sem remorsos e impulsivos. Em dado momento da nossa conversa, Woodhouse falou sobre os seus próprios sentimentos. «Não quero ser exibicionista», disse ele. «Mas nunca – nem em Atenas durante a ocupação alemã, nem em Teerão durante esta operação – tive medo. Nunca tive medo de saltar de pára-quedas, mesmo nos lugares errados. Deveria tê-lo tido, reconheço. Aliás, quando olho para este passado sinto um arrepio. Sempre fiquei fascinado pelo perigo e fascinado pelas descobertas que resultam de estar em perigo.» Havia um lado mais obscuro neste carácter determinado. Na sua autobiografia, Woodhouse descreve como no período em que prestou serviço na Grécia, durante a II Guerra Mundial, foi capturado um cigano que tinha em seu poder um passe italiano e estava a trabalhar para as potências do Eixo. Com dois líderes da guerrilha, Napoleon Zervas e Aris Veloukhiotis, Woodhouse formou um tribunal marcial. «O resultado foi inevitável», escreveu ele (1). «Não podíamos desviar pessoal para guardar o prisioneiro e não podíamos correr o risco de que escapasse. Foi enforcado no largo da aldeia.» Pensaria ainda Woodhouse neste jovem? Fiz-lhe esta pergunta com discrição no fim da nossa conversa, enquanto lá fora, fortíssimo, o vento uivava, fustigando com neve a ¶ Foi sem surpresa que a CIA anunciou em 1997 que quase todos os seus documentos sobre Mossadeq tinham sido destruídos no início dos anos 60, o que foi uma «terrível quebra de confiança no povo americano», segundo o ex-director da CIA James Woolsey, que em 1993 prometera publicamente que os registos sobre o Irão seriam divulgados. Um historiador da CIA observou que no início dos anos 60 houvera «uma cultura de destruição» na agência. Quando faleceu, em 2001, foi a carreira de Woodhouse durante a II Guerra Mundial que foi recordada. O seu obituário no The Independent de 26 de Fevereiro de 2001 não fazia qualquer menção às suas actividades persas. ¶¶ 129 A Grande Guerra pela Civilização janela da biblioteca. Instalou-se um longo silêncio. Depois Woodhouse abanou muito lentamente a cabeça. «Foi terrível. Senti-me terrivelmente. Ainda recordo, por vezes, a cena. Ele era um jovem miserável. Não disse nada, na verdade. Estava tão abalado. Era algo lerdo. Assisti ao enforcamento. Foi enforcado numa árvore. Tiraram simplesmente a cadeira debaixo dos seus pés. Julgo que não levou muito tempo a morrer, mas não sei exactamente quanto. Éramos apenas cerca de 100 homens. Isto passou-se nos primeiros dias da ocupação. Se o tivéssemos deixado ir embora teria ido contar o que acontecera aos Italianos […] Vinha a seguir-nos de aldeia em aldeia. Depois deste episódio disse a Zervas para não fazer prisioneiros.» Penso que Woodhouse encarava o golpe no Irão com a mesma frieza. Tinha com certeza tão pouco tempo para o aiatolá Abul Qassim Kashani como teve para Mossadeq. Kashani foi o precursor de Khomeini, um clérigo – mas dum género algo mais suave – cuja oposição aos Britânicos lhe valeu credenciais nacionalistas sem ter feito dele automaticamente um aliado de Mossadeq. Woodhouse não se deixou impressionar. Kashani, disse ele, era «um homem que ninguém levava a sério – tornou-se membro do Majlis [parlamento], o que era estranho no caso de um aiatolá. Não tinha base de apoio […] Kashani era um solitário. Não se pensaria nele em termos dum movimento de massas. Era um estorvo, um perturbador.» Outros pensaram de maneira diferente. Kashani, diz-se, propôs a «democracia do Islão». Era um homem «sem receio algum, sem escrúpulos, completamente liberto de interesses próprios […] A estas qualidades associa a humildade e a disponibilidade, a gentileza e o humor, amplos conhecimentos e uma eloquência que agrada ao povo.» (2) Em Novembro de 1951, Kashani afirmou que «não queremos que um governo exterior interfira nos nossos assuntos internos […] Os Estados Unidos deveriam deixar de seguir a política britânica, porque, caso contrário, nada mais conseguirão do que ódio e perda de prestígio no mundo em geral e no Irão em particular». Um aviso muito semelhante foi feito aos Britânicos, no Médio Oriente, 52 anos mais tarde, quando o governo de Tony Blair seguiu a política americana a respeito do Iraque. Num sentido, Woodhouse tinha razão: após o derrube de Mossadeq e o posterior julgamento – foi condenado a três anos de cadeia e faleceu em prisão domiciliária dez anos mais tarde – deixou de se falar de Kashani. Woodhouse haveria de registar que o aiatolá enviou mais tarde um telegrama de felicitações ao xá, depois do seu regresso ao Irão. Mas o poder de Mossadeq e o golpe que acabou com a independência do Irão em 1953 constituiria uma amarga lição para os revolucionários de 1979. Para derrubar o xá não poderia haver respeito pelos direitos constitucionais, não podia haver meias medidas, não poderia haver contra-revolucionários para voltar a instalar o poder ocidental no Irão. A futura revolução haveria de provocar mais de 5000 mortos. Seria final, absoluta e inclemente. Os espiões, o ancien régime teriam de ser imediatamente liquidados. Havia lições a tirar pelos Americanos, os Britânicos e o xá, mas não lhes prestaram atenção. O xá seria doravante considerado um instrumento dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. A queda de Mossadeq, como escreveu James A. Bill, «deu início a uma nova era de intervenção e crescente hostilidade em relação aos Estados Unidos por parte das forças nacionalistas iranianas então despertas» (3). Woodhouse haveria de ficar 130 Os Tapeteiros muito abalado com a futura revolução de Khomeini. «Senti que o trabalho que fizemos se tinha perdido, que houve uma certa complacência depois de o xá ter recuperado o trono», disse ele. «Pensou-se com demasiada facilidade que as coisas estavam garantidas.» Após Mossadeq ter sido escorraçado, Allen Dulles elogiou Woodhouse por visitar Washington e convenceu a administração de Eisenhower a apoiar o golpe: «Foi uma bela sementinha que deixou quando esteve aqui da última vez!», disse ele ao homem do MI6 (4). No entanto, já não nos interessam as «sementinhas». Há projectos ideológicos mais ambiciosos, exércitos mais vastos – para além de egos maiores – envolvidos nas «mudanças de regime» hoje em dia. Talvez seja por essa razão que podem fracassar tão rapidamente e de forma tão sangrenta. O golpe contra Mossadeq foi a primeira acção deste tipo realizada pelos Americanos na Guerra Fria… e a última pelos Britânicos. Pelo menos nunca dissemos que Mossadeq tinha armas de destruição maciça. Mas a palavra final deve ser concedida ao homem da CIA Kermit Roosevelt: «Se alguma vez tentarmos novamente fazer algo deste género», escreveu ele com grande presciência, «devemos estar absolutamente certos de que [o] povo e o exército querem o que nós queremos.» A «certa complacência» que Woodhouse definiu baseava-se nos serviços de segurança que o xá criou depois de regressar. A Savak (Sazman-i Etelaat va Amjiniat-i Keshvar, a «Organização Nacional de Informação e Segurança») tornar-se-ia a mais infame e assassina do seu género e as suas câmaras de tortura contavam-se entre as instituições mais terríveis em todo o Médio Oriente. Havia uma missão secreta permanente dos Estados Unidos ligada à sede da Savak. Para além dos convencionais arames apertados nos genitais, pancadas nas solas dos pés e extracção das unhas – os métodos de interrogatório incluíam a violação e «cozinhar», sendo este, como o nome indica, uma forma de causar sofrimento em que a vítima era atada a uma cama de arames que eram depois electrificados para se transformarem numa torradeira incandescente ¶. Mohamed Heikal, esse grande jornalista egípcio que foi editor do Al Ahram e confidente de Nasser, descreveu como a Savak filmou a tortura de uma jovem iraniana, como a despiram e lhe aplicaram cigarros acesos nos mamilos. Segundo Heikal, o filme foi mais tarde distribuído pela CIA a outros serviços de segurança que trabalhavam para regimes de todo o mundo apoiados pelos Americanos, incluindo Taiwan, a Indonésia e as Filipinas. O coronel Nimatullah Nassiri, o homem que entregou a Mossadeq a ordem de demissão decretada pelo xá, controlou a Savak quase durante os últimos quinze anos do reinado ¶ Uma das suas vítimas foi Massoud Ahmadzadeh, um engenheiro mais tarde executado pelo regime (Halliday, Iran, p.87). Em 1972, Nuri Albala, um advogado francês, esteve presente no seu julgamento e descreveu como Ahmadzadeh levantou o seu pulóver para mostrar as marcas da tortura. «Toda a parte central do seu tronco e do seu estômago era uma massa de cicatrizes torcidas resultantes de queimaduras muito profundas. Tinham um aspecto horrível […] As suas costas estavam ainda em piores condições. Tinham uma forma oblonga perfeitamente desenhada, formada por uma linha de tecido cicatrizado. No interior dessa forma a pele estava também coberta de cicatrizes brilhantes provenientes de queimaduras.» Ashraf Dehqani, uma militante da oposição que fugiu da prisão depois de ter sido torturada, escreveu a contar como fora violada pelos seus torturadores da Savak e como lhe colocaram serpentes no corpo. 131 A Grande Guerra pela Civilização deste e utilizou um total de 60 000 agentes. Pensou-se a certa altura que havia um terço da população masculina do Irão envolvido com a Savak, quer pagos directamente, quer ocasionalmente, quer como informadores chantageados. Neles se incluíam diplomatas, funcionários públicos, mulás, actores, escritores, executivos da indústria petrolífera, trabalhadores, camponeses, pobres e desempregados. Era toda uma sociedade corrompida pelo poder e o medo. Para o Ocidente, o xá era o seu polícia, o «autocrata» sábio – nunca, é claro, um ditador – que servia de bastião contra o expansionismo soviético no Sudoeste da Ásia, o guardião dos nossos fornecimentos de petróleo, alguém que poderia ser um democrata – sendo mais relevante o «poderia» do que o «ser» – e um reformador dedicado à condução do seu povo na direcção dum futuro económico brilhante. No quarto de século que se seguiria, a indústria internacional do petróleo exportou 24 mil milhões de barris e o «polícia do Golfo» era mais importante do que nunca, sobretudo numa altura em que os Britânicos estavam a retirar a «Leste do Suez». Mas o poder do xá nunca foi tão estável quanto os seus apoiantes gostariam que o mundo julgasse. Houve tumultos contra o regime ao longo dos anos 60 e 400 ataques à bomba entre 1971 e 1975. No início de 1963, o aiatolá Khomeini condenou por várias veazes o poder do xá. Em 3 de Junho, o dia em que se assinala o martírio do imã Hussein em Kerbala, o neto do profeta Khomeini denunciou publicamente a corrupção do xá e foi imediatamente preso e levado para Teerão. Uma explosão de ira popular foi a confirmação de que Khomeini era um líder da oposição com expressão nacional. Dezasseis meses mais tarde, a 4 de Novembro de 1964, fez um discurso em que condenou uma nova lei que permitia às forças americanas que cometessem crimes no Irão não serem julgadas no país. Por isso, um americano que assassinasse um iraniano poderia abandonar o país. Um iraniano que assassinasse um iraniano poderia ser enforcado ¶. No dia seguinte Khomeini foi exilado para a Turquia. A «Revolução Branca» do xá conseguiu afastar as classes médias, ao aprovar a reforma agrária, e os clérigos, ao incrementar a natureza secular do regime e, sobretudo, ao conceder direito de voto às mulheres. Em 1977, menos de dois anos antes da Revolução islâmica, o xá previa que dentro de 10 anos o Irão seria tão avançado como a Europa Ocidental e, pouco tempo depois, um dos cinco países mais poderosos do mundo. A administração americana do presidente Jimmy Carter, assoberbada com o desejo liberal de promover os direitos humanos em todo o mundo, mas querendo ansiosamente manter a estabilidade do poder do xá, deu continuidade às políticas americanas de apoio a reformas que estavam a provocar tanta inquietação entre os Iranianos. Os líderes israelitas iam frequentemente ao Irão: David Ben Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir, Abba Eban, Yitzhak Rabin e Yigal Allon visitaram todos Teerão, muitas vezes em segredo. Os oficiais iranianos iam a Telavive para conversações com oficiais superiores do exército israelita. Havia voos regulares da El Al entre Telavive e Teerão. (¶) Uma lei quase idêntica, aprovada por Paul Bremer, o pró-consul dos Estados Unidos em Bagdad na sequência da invasão americana do Iraque em 2003, provocou protestos generalizados dos Iraquianos e contribuiu para a mobilização da oposição popular à ocupação pelos Estados Unidos. 132 Os Tapeteiros Como todos os monarcas absolutos, o xá mudava constantemente de imagem. Em 1971, convidou vários líderes mundiais para celebrar o trigésimo aniversário do seu regime com uma grandiosa e espaventosa festa na antiga cidade de Persépolis, a capital do império persa de Dario I. A cidade tornar-se-ia «o centro de gravidade do mundo» e todos e quase tudo – de Imelda Marcos ao vice-presidente americano Spiro Agnew, do rei Hussein da Jordânia aos excelentes vinhos e ao mobiliário da tenda de dimensão circense que ficou situada junto das ruínas – foi importado do estrangeiro. O xá deveria ser reverenciado como herdeiro espiritual de Ciro, o Grande, cujo poder se exercia num território que se estendia até ao Mediterrâneo e chegou mais tarde até ao Egipto e ao Leste do rio Indo. Alexandre, o Grande conquistou Persépolis em 330 a. C. e, segundo reza a lenda, mandou que fosse destruída a pedido duma cortesã. Para o «aniversário» do xá, os militares iranianos vestiram-se como Medos, Persas, Safávidas, Kajares e Partos. A única coisa que faltava era uma referência ao profeta Maomé e às invasões muçulmanas que introduziram o Islão na Pérsia. Mas não era isso que importava. O xá apresentava-se, não como muçulmano, mas como o herdeiro real da Pérsia pré-islâmica. Khomeini, como é natural, condenou toda a comezaina como obscena. Este acto de auto-engrandecimento não valeu de nada quando o fim chegou. De facto, os próprios detritos do banquete foram sem esforço transformados pelo regime do aiatolá em símbolos de frivolidade. Quando o xá, há muito exilado, estava a ser operado em Nova Iorque, fui a Persépolis, vindo de Teerão, e encontrei aquela tenda especial ainda de pé junto das ruínas da cidade. Cheguei mesmo a entrar na banheira de ouro maciço e abri as suas torneiras de ouro maciço também. Não tinham água. O xá também não tinha nas veias o sangue de Ciro. Não possuía uma linhagem tão ilustre – a dinastia Pahlavi só foi fundada em 1925 –, embora houvesse um mar de sangue a unir os vários xás da história iraniana. O escritor polaco Ryszard Kapuscinski revelou de forma muito eloquente os horrores do monarca setecentista Aga Mohamed Kan, que mandou matar ou cegar a população da cidade de Kerman por ter dado abrigo ao xá anterior (5). Para isso, a guarda pretoriana do rei «formou uma linha com os habitantes, cortou a cabeça aos adultos, vazou os olhos às crianças […] Mais tarde, filas intermináveis de crianças cegas abandonaram a cidade […]». O xá foi finalmente convencido pelos Americanos a permitir que a Cruz Vermelha Internacional visitasse as prisões do Irão em 1977. Tiveram autorização para ver 3000 «presos de segurança» – prisioneiros políticos – em dezoito prisões diferentes. Divulgaram que os detidos tinham sido espancados, queimados com cigarros e produtos químicos, torturados com eléctrodos, violados e sodomizados com garrafas e ovos a ferver. Os interrogadores introduziram cabos eléctricos no útero de mulheres prisioneiras. A Cruz Vermelha registou o nome de 124 prisioneiros que morreram sob tortura (6). Um ano depois, o xá disse ao The Sunday Times que em matéria de direitos humanos «não temos lições a receber de ninguém» (7). Quando a revolução islâmica acabou por inundar o Irão, espantar-nos-íamos muitas vezes com a capacidade do Irão de ser, por um lado, cruel e, por outro, sensível, para ter explosões de ira e aos mesmo tempo desenvolver uma actividade intelectual intensa, 133 A Grande Guerra pela Civilização duradoura e esforçada. Sendo um país com uma história plena de violência, as suas praças estavam cheias de estátuas de poetas – Ferdowsi, Hafiz e Saadi –, e não de conquistadores, embora o xá e o seu pai ocupassem, naturalmente, pedestais imponentes. Um político árabe comparou uma vez a persistência do país, apesar da adversidade, à habilidade do país em tecer tapetes. «Imagine que um tapete, feito por um ror de gente, leva 10 anos a completar. Um povo que gasta anos a fazer um simples tapete há-de poder esperar muitos mais anos para obter a vitória na guerra. Não subestime a paciência e a perseverança dos Iranianos […]». E assim seria. Khomeini mudou de exílio da Turquia para a cidade santa xiita de Najaf, no Iraque, governado por Saddam Hussein, onde apoiou sem peias os Palestinianos. Os seus sermões circularam por todo o Irão em gravações clandestinas. Saddam Hussein fizera um acordo com o xá que fixara a fronteira comum no meio do rio Shatt al-Arab, no Golfo Pérsico, o que também reprimiu a revolta curda no Norte do Iraque, uma traição que teve a conivência do secretário de Estado Henry Kissinger e do xá. Quando o xá se revelou incapaz de estancar as cassetes com os sermões, Saddam recebeu ordem para deportar Khomeini. Desta vez, foi para Neauphle-le-Château, nos arredores de Paris, onde teve garantida a admiração constante e quase aduladora da imprensa internacional, instituição pela qual, mais tarde, expressaria todo o seu desprezo. Quando o terramoto político acabou por atingir o Irão, o The Times enfrentava um longo encerramento decidido pelos proprietários. É destino dos jornalistas estar no lugar certo à hora certa e, com mais frequência, no lugar errado à hora errada. Todavia, estar no lugar certo sem jornal onde escrever é um inferno jornalístico. Quando devia estar a noticiar o martírio de dezenas de milhares de iranianos às mãos dos Guardas Javidan do xá – os «Imortais» –, estava a demitir-me do Sindicato Nacional dos Jornalistas, que, invocando todas as boas razões socialistas, se estava a opor ao filantrópico dono do jornal, Lord Thomson, na sua disputa com os tipógrafos sobre as novas tecnologias. O sindicato acabou por amarrar o The Times à venda a Rupert Murdoch. No entanto, a Canadian Broadcasting Company veio em minha salvação, pedindo-me que fizesse a cobertura da revolução iraniana para um documentário de meia hora para a rádio. Levei o enorme gravador que nesse tempo a CBC dava aos seus jornalistas – estávamos ainda longe da era da digitalização –, uma pasta com cassetes e um caderno de apontamentos, se se desse o caso de encontrar algum jornal que quisesse publicar as minhas reportagens. O derrube do xá foi um acontecimento épico. A sua queda tinha algo de uma moralidade medieval e até de tragédia antiga. Tê-la ia considerado grega se o xá tivesse sido um homem verdadeiramente grande que tivesse caído em desgraça devido a uma falha apenas. Mas ele não era um grande homem e muitos eram os seus pecados. A hybris (*) foi talvez o seu maior crime, embora os Iranianos vissem a questão por um prisma algo diferente. No entanto, sentiam que existia este elemento mítico na sua revolução mesmo antes do Rei dos Reis se colocar aos comandos do seu Boeing pessoal e descolar pela última vez, em 16 de Janeiro de 1979, do aeroporto de Meharabad. (*) Palavra grega que significa desmedida, desafio, violência feita às leis da cidade e às prescrições dos deuses. (N. T.) 134 Os Tapeteiros Um dos cartazes revolucionários que causaram maior impacto retratava o xá com todos os seus símbolos reais: a coroa na sua cabeça calva e deslocando-se a alta velocidade em direcção a uma fogueira eterna enquanto o aiatolá vingador, com asas de ouro, passava por cima dele. Se algum potentado do Médio Oriente foi retratado tão frequentemente como sendo o Diabo, por certo que nunca a arte islâmica pintou um ser humano – Khomeini – duma forma que se assemelhasse tanto à Divindade. Quando eu vagabundeava pelas ruas cheias de neve de Teerão, um miúdo da escola pediu-me para parar, aos portões da Universidade de Teerão, porque me pretendia vender por alguns riais um exemplo notável das artes gráficas da revolução. Era uma máscara do xá em cartão com a mandíbula descaída e doente e a coroa no lugar devido apenas a dois grandes chifres negros. Retire-se os olhos destacáveis, coloque-se a máscara e poder-se-ia observar através da própria imagem do Diabo os xadores pretos e os jovens de cara séria no centro de Teerão. O efeito foi curioso. Quando algum transeunte comprava uma máscara, ou onde quer que eu na rua a pusesse na cara, os jovens gritavam com grande intensidade Marg ba Shah («morte ao xá»). Era como se o cartão assumisse, de facto, a substância do homem. O Diabo feito carne. Khomeini já tinha regressado de Paris e a sua revolução islâmica de início seduziu os mais liberais dos nossos irmãos jornalistas. Edward Mortimer, um jornalista do The Times igualmente encalhado – um dos mais importantes do jornal, membro do All Souls College, da Universidade de Oxford, e também meu amigo íntimo –, foi vítima deste falso romantismo na sua forma mais embaraçosa num artigo que escreveu para o The Spectator em que encontra semelhanças entre a revolução iraniana, por um lado, e a queda da Bastilha, em 1789, e o derrube do czar, em 1917, por outro. Para Mortimer, o acolhimento de Charles Fox à Revolução Francesa – «De longe o maior acontecimento que alguma vez ocorreu no mundo! E também o melhor!» – parecia «totalmente apropriado» no lar de Teerão em que se encontrava e em que ouvia as canções revolucionárias transmitidas a partir da sede da Rádio Nacional Iraniana, recentemente tomada. Os acontecimentos do Irão, escreveu Mortimer, «são uma revolução genuinamente popular no sentido mais pleno da expressão. Ela é, provavelmente, a mais genuína em todo o mundo desde 1917, talvez ainda mais genuinamente popular do que a Revolução Bolchevique e, possivelmente […] de não menores implicações para o resto do mundo […] O próprio Khomeini opôs-se ao conservadorismo religioso e, por isso, será improvável que o queira impor ao resto da sociedade.» (8) De facto, esta foi uma peça jornalística duma ousadia terrível – alguns diriam mesmo suicida. Embora não pudesse discordar das observações de Edward sobre as amplas implicações da revolução iraniana, a sua confiança nas intenções liberais de Khomeini era mais expressão de fé do que resultado da experiência. A queda de Mossadeq demonstrara que apenas uma revolução que se alimenta do sangue dos inimigos – para além do dos seus mártires – se conseguiria impor no Irão. A Savak fora acusada de ter incendiado um cinema em Abadan, em 1978, em que morreram queimados 419 Iranianos. O xá, segundo disseram os seus inimigos, quis que os revolucionários muçulmanos fossem acusados do massacre. Cada período de luto era seguido por maiores manifestações de protesto e por maiores chacinas. As marchas nas ruas de Teerão tinham mais de um milhão de participantes. 135 A Grande Guerra pela Civilização A bibliografia revolucionária ainda diz que o exército do xá matou 4000 manifestantes na Praça Jaleh, em Teerão, em 8 de Setembro. Quando o aiatolá Khomeini regressou ao Irão, vindo de Paris – os Franceses, que tinham fornecido o vinho para a festa do xá em Persépolis, forneceram o avião que o trouxe de volta a casa –, foi de imediato levado de helicóptero ao cemitério de Behesht-i-Zahra. Quatro dias mais tarde, a 5 de Fevereiro de 1979, anunciou um governo provisório chefiado por Mehdi Bazargan. Poderia ser que o Irão ainda se tornasse uma democracia, mas seria também uma necrocracia: um governo dos mortos, pelos mortos e para os mortos. Depois de os mártires da revolução já terem sido honrados, era tempo dos homens do xá pagarem as favas. Em Teerão, acordava todas as manhãs com a primeira página dalgum jornal a chamar-me a atenção para os homens condenados, os interrogadores da Savak a cair perante pelotões de fuzilamento ou a pender das forcas. Em 9 de Março, houve 40 condenações à morte emitidas por tribunais revolucionários. Nenhum dos 60 000 agentes pôde salvar Nimatollah Nassiri, o chefe da Savak. Grisalho, nu e pequeno, jazia numa gaveta frigorífica com um buraco no lado direito do peito. Foi o mesmo Nassiri que entregou o decreto do xá a Mossadeq para que se demitisse em 1953, o mesmo Nassiri que negociou as visitas de Ben Gurion, Dayan e Rabin a Teerão. O general Jaffar Qoli Sadri, o chefe da polícia de Teerão – que chefiara antes a mal-afamada prisão de Komuteh – foi executado, juntamente com o coronel Nasser Ghavami, chefe da esquadra de polícia do bazar de Teerão, e o capitão Qassem Jahanpanar, o homem acusado de ser um dos torturadores mais selváticos da Savak na prisão de Qasr. Foram todos condenados nessa noite e executados passadas 12 horas. Muitos dos que enfrentaram os pelotões de fuzilamento nesse mês de Março foram considerados culpados de disparar sobre os manifestantes durante as grandes marchas contra o xá. Em 11 de Março, o tenente Ahmed Bahadori foi executado por ter morto pessoas que protestavam em Hamadan. Em Abadan, mais 4 ex-polícias foram executados por terem assassinado um jovem de 19 anos durante as manifestações. A 13 de Março, os tribunais revolucionários enviaram aos pelotões de fuzilamento mais 13 homens acusados de ser censores e agentes da polícia secreta. Entre eles encontrava-se Mahmoud Jaafarian, o chefe da Agência Noticiosa Nacional iraniana, formado pela Sorbonne, e o ex-director da televisão Parviz Nikkah. Antes de morrer, Jaafarian, que tinha 56 anos de idade, diria apenas: «Espero que quando eu morrer a minha família e os meus compatriotas vivam em liberdade.» Pensa-se que Nikkah foi o jornalista que escreveu o artigo inflamatório contra Khomeini que provocou os primeiros tumultos religiosos sangrentos na cidade santa de Qom, em 1978. Um dos jornais trazia fotografias de todos os onze condenados com os seus nomes escritos em cartões postos ao pescoço. Jaafarian olha sem esperança para a câmara. Nikkah olha com raiva para a direita. Os olhos de um dos elementos da polícia secreta fixam o chão. Nas suas mentes já devem estar mortos. O Kayhan publicou duas fotografias de Agha Hosseini, ex-oficial da polícia de Qom. Numa delas está atado a uma escada, tem os olhos cobertos com um pano branco, a boca aberta e os dentes cerrados enquanto espera as primeiras balas. Na outra os joelhos estão dobrados e ele encontra-se inclinado em direcção à escada. 136 Os Tapeteiros Mehdi Bazargan apareceu na televisão, condenando os julgamentos-farsa como uma desgraça para «uma revolução maravilhosa de valores religiosos e humanos». Em Abril Bazargan ficou furioso quando soube que antigo primeiro-ministro do xá, Amir Abbas Hoveyda, fora retirado da prisão – em que o xá o tinha confinado numa última tentativa para cair nas boas graças da revolução, antes de fugir do país – e acusado de «corrupção na Terra» e de conduzir «uma batalha contra Deus». Apenas horas antes de Hoveyda ter de enfrentar o pelotão de fuzilamento, Bazargan dirigiu-se a toda a velocidade para Qom para falar com Khomeini, que estabeleceu de imediato novas regras para os tribunais revolucionários. Em vão. Hoveyda, um homem urbano e intelectual, que se interessava por Bach, Oscar Wilde e James Bond e cujo desprezo pela corrupção que envolvia o xá lhe merecera a confiança de estadistas e diplomatas, mas não dos Iranianos comuns, fora arrancado da cama, na prisão de Qasr, pouco antes da meia-noite, exausto e queixando-se porque «o meu médico deu-me uns sedativos e tenho dificuldade em falar e muito menos me poderei defender adequadamente» e levado perante um tribunal revolucionário ¶. Mas sabia o que se aproximava. «Se as ordens que têm são de me condenar, então não tenho mais nada a dizer. A vida dum indivíduo não vale muito em comparação com a vida de toda uma nação.» Hoveyda perguntou ao tribunal o que significava «uma batalha contra Deus». Se significava que era um membro do «sistema», então havia 700 000 pessoas que trabalharam como funcionários públicos do xá. «Fiz parte do sistema – chamem-lhe o regime duma batalha contra Deus, se assim o desejarem –, mas o mesmo aconteceu convosco e todos os outros», disse ele ao tribunal. Pretendia ter tempo para coligir provas para a sua defesa. «A minha mão não tocou em sangue, nem em dinheiro», argumentou. «[…] Trouxeram-me aqui como primeiro-ministro, mas outros cinco primeiros-ministros deixaram o país. Não poderia eu estar também a passear nos Campos Elísios ou nas ruas de Nova Iorque?» Não controlava a Savak, disse ele. «Se nos papéis da Savak encontrarem algum documento que mostre que o primeiro-ministro teve alguma influência na organização, então nada mais direi em minha defesa.» Hoveyda virou-se para os jornalistas que estavam na audiência. «Que novidades há?», perguntou-lhes. «Há algum tempo que não vejo jornais, nem oiço a rádio.» Hoveyda acabou por ser condenado à morte como «praticante de más acções na Terra». Imediatamente após a sentença o aiatolá Sadeq Khalkhali, o «juiz dos enforcamentos» da revolução, desligou os telefones da prisão, fechou as portas e mandou que arrastassem Hoveyda para o pátio da prisão, o atassem a um poste e fuzilassem. «As primeiras balas atingiram-no no pescoço, mas não o mataram», escreveu William Shawcross no seu relato impressionante dos últimos dias do xá (9). «O seu executor, um mulá, ordenou-lhe que erguesse a cabeça. A bala seguinte atingiu-o na cabeça e morreu.» O Paris Match traria uma fotografia do seu cadáver com um homem armado a sorrir enquanto o observava. Ao lado, a revista trazia uma fotografia da família real exilada a nadar na ilha Paraíso. Não se deve confiar nos xás. (¶) O relato mais longo em língua inglesa sobre a primeira vez que Hoveyda apareceu no tribunal de Teerão surgiu na edição internacional de Kayhan, em 17 de Março de 1979. 137 A Grande Guerra pela Civilização Naqueles primeiros dias da revolução o Irão era uma anarquia demasiado grande para que as autoridades conseguissem controlar os jornalistas. Nas estradas, os Guardas da Revolução mandavam os jornalistas regressar a Teerão, mas nunca se lembraram de nos procurar nos comboios. Ora, com um cartão de estudante – eu aproveitava o meu tempo livre devido à paragem do The Times para me doutorar em Política, no Trinity College, em Dublin – comprei um passe que me permitiu viajar de comboio por todo o Irão. Eram longos comboios revolucionários com as janelas partidas e retratos de Khomeini e cartazes de túlipas – símbolos do martírio – colados nas carruagens, servindo galinha, arroz e chá ao pequeno-almoço, ao almoço e ao jantar, nas carruagens-restaurante. Não podendo escrever para o meu próprio jornal, enviei uma longa carta a Ivan Barnes, o editor do internacional, a descrever a revolução inacabada do Irão. Os acólitos do xá, contei-lhe eu, tinham sido quase sempre insuportavelmente arrogantes. Verifiquei que esta arrogância desapareceu com a revolução. Fui tratado com cortesia e amabilidade em quase toda a parte onde fui e vi que os Iranianos estavam muito mais a par das implicações dos acontecimentos mundiais do que […] os cidadãos dos países árabes. Havia uma frontalidade nos Iranianos, tanto do campo, como da cidade, que eu não podia deixar de admirar. Tinham uma grande necessidade de falar sobre o que quer que fosse. O único problema que tive foi no comboio para Qum [sic], quando um bando de Guardas Islâmicos (com braçadeiras verdes e espingardas M-16) abriu a porta do compartimento e me viu a gravar os sons do comboio numa cassete. Fui logo acusado de ser um espião da CIA (que mais poderia ser?), mas expliquei que era um jornalista a trabalhar para uma rádio canadiana. O intérprete, um estudante esquerdista que viajava comigo para todo o lado […] repetiu a mesma coisa e eles descontraíram-se um pouco. Tinham-me dito em Teerão para dizer sempre Deroot do Khomeini, marg ba Shah! («Longa vida a Khomeini, morte ao xá!») a quem quer que se revelasse desagradável. Representei a minha parte da cena, ao que todos os guardas de Khomeini ergueram o punho direito no ar e gritaram a sua aprovação. Em seguida, todos me apertaram a mão com enormes sorrisos, vagueando depois pelo comboio para atormentar mais alguém noutro compartimento (10). Do deserto até ao norte, Qom é uma espécie de distante ilha de ouro e as cúpulas das suas mesquitas e os seus minaretes amplos e generosos são um oásis de beleza ao entardecer. Como as espirais duma universidade medieval inglesa, o seu centro histórico parece atingir o céu. No entanto, o meu comboio entrou na estação depois de ter anoitecido. Os subúrbios estavam cheios de fumos de escapes e poeira e uma multidão de homens com coletes pretos e barba e de mulheres com véus negros, que se movimentava como uma onda em direcção a um edifício ameaçador de tijolo vermelho, rodeado por homens de forte compleição com espingardas automáticas. O meu estudante esquerdista virou-se para mim. «Há um julgamento», gritou. «Vão julgar um dos homens do xá.» Esvaziei a mala num hotel que estava entalado entre duas lojas em frente da mesquita principal, 138 Os Tapeteiros retirei o meu velho e decrépito gravador e regressei a correr para o que já era designado como «tribunal». O primeiro-sargento Rustomi, do Exército Imperial do Xá, estava sentado numa cadeira de armação de metal no palco do tribunal revolucionário, tinha as mãos juntas à sua frente e o seu olhar fixava o chão de madeira do teatro adaptado onde estava agora a ser julgado. Era um homem de meia-idade e tinha uma barba desleixada cinzento-acastanhada. Há muito que lhe haviam retirado o uniforme do regimento de artilharia e apareceu no tribunal com um anoraque amarrotado de cor verde e uns jeans sujos. Era uma figura abatida, apenas mitigada por um par de sapatos franceses da moda. Olhava para toda a gente como se fosse um réu enfastiado, que estivesse a aguardar julgamento por causa de uma violação menor do código da estrada, e não um homem que está apenas à espera das formalidades legais – se «legais» é a palavra adequada – da sentença de morte. Era acusado de ter morto manifestantes contra o xá. O tribunal islâmico de Qom enviara a sua quinta vítima ao pelotão de fuzilamento há apenas seis dias. Era um polícia local acusado de ter morto manifestantes durante a revolução, o homem que apareceu na primeira página dos jornais, atado a uma escada, a cerrar os dentes em frente do pelotão de fuzilamento. Alguém mostrara cruelmente o jornal a Rustomi. Talvez fosse a inevitabilidade da sentença que lhe dava aquela calma, enquanto permanecia sentado na plataforma que ficava por cima de nós. De vez em quando, retirava um pacote de cigarros americanos do bolso e um homem com uma espingarda a tiracolo – aliás, uma espingarda americana – aproximava-se amavelmente dele com um fósforo. Rustomi aspirava profundamente o fumo dos cigarros e olhava ocasionalmente na nossa direcção com uns olhos sem vida. Havia mais de 600 homens, mas nenhuma mulher, na assistência e a maioria deles falava da execução dessa manhã, embora fosse difícil compreender por que razão tal acontecimento despertaria alguma excitação. Até àquele momento ninguém fora declarado inocente nos tribunais revolucionários e apenas tinham sido proferidas sentenças de morte. A multidão viera observar o prisioneiro para ver se ele gritava, pedia clemência ou caminhava de modo desafiador em direcção ao pelotão de fuzilamento, para ver os poderosos caídos. George Bernard Shaw afirmou uma vez que se os cristãos fossem lançados aos leões no Royal Albert Hall, em Londres, haveria casa cheia todas as noites. Estes homens excitados na assistência devem ter a mesma expressão que as multidões que se juntavam junto à guilhotina durante a Revolução Francesa. Logo que teve início o julgamento de Rustomi, percebeu-se por que razão a morte seria a única sentença possível. Um clérigo islâmico de vestes compridas castanhas e um advogado civil nomeado pela mesquita subiram para o palco do teatro que fora reconvertido e anunciaram que iriam intervir como conselheiros e juízes de acusação. Rustomi nem sequer olhou para eles. Sentaram-se a duas secretárias de ferro. Por trás deles, num enquadramento de raios de luz em forma de estrela, estava um quadro rudimentar a óleo do aiatolá Khomeini. Não havia qualquer dúvida da autoridade de que dependia este tribunal. O mulá fez um breve discurso à multidão, afirmando que o julgamento seria realizado de acordo com as regras do Alcorão e que seria permitido ao prisioneiro responder às acusações 139 A Grande Guerra pela Civilização que lhe eram feitas. O mulá era um homem alto e distinto, tinha uma longa barba branca e um rosto amável e franco. O advogado civil parecia zangado e vingativo e proferiu um insulto qualquer a Rustomi antes deste se sentar. O mulá acenou com um maço de papéis na mão. Era uma série de depoimentos escritos de testemunhas das manifestações contra o xá e todos eles afirmavam que Rustomi ordenara à sua companhia de soldados para disparar sobre os civis. Uma a uma, as testemunhas foram chamadas para saírem da assistência e irem apresentar o seu depoimento, um processo ocasionalmente interrompido pelos gritos no fundo do teatro, onde havia homens que estavam a forçar a passagem pelas portas e a lutar por lugares no tribunal. Rustomi puxou a cadeira para junto da secretária do mulá e ouviu. A primeira testemunha era um homem novo com o ombro engessado e a segunda testemunha subiu para o palco a coxear. Tinham visto Rustomi ordenar aos seus homens para disparar sobre os manifestantes, disseram, e um terceiro homem correu para o palco e bradou que Rustomi tinha irrompido pela porta duma mesquita e morto um rapaz que se escondia no santuário. Houve muita discussão sobre as datas e os nomes das ruas −, houve, de facto, uma tentativa genuína, embora caótica, de delimitar os acontecimentos que estavam relacionados com os disparos − antes de Rustomi se levantar. A multidão lançou-lhe vaias e durante alguns momentos o mulá nada fez. Rustomi olhava para baixo, para nós, com uma expressão de incompreensão. Queria falar. Sim, disse ele, dera ordens aos seus homens para dispersarem os manifestantes, mas dissera-lhes para dispararem para o ar. Se alguém foi atingido, deve ter sido por ricochete. Estabeleceu-se um silêncio momentâneo no tribunal até que outro homem, com cerca de 20 anos, subiu com esforço para o palco e, apontando para Rustomi, gritou: «Estás a mentir, filho da puta», antes de o juiz o mandar retirar. Rustomi defendia-se como podia contra um adversário impossível de vencer. Não dispunha de advogado de defesa. Admitiu que noutra data tinha de facto disparado a espingarda em direcção a uma multidão que exigia o derrube do xá. Discutira as ordens para abrir fogo, disse ele, no seu rádio-telefone, mas o seu major ameaçara-o com um tribunal marcial se não obedecesse. Depois desta afirmação, um velho que estava no teatro avançou para junto dele. «O Alcorão sagrado não permite que nenhum homem tome essa atitude», gritou. «Se um muçulmano mata outro muçulmano nessas circunstâncias não está a ser fiel à sua religião.» O velho prosseguiu longamente, ofendendo Rustomi, e o mulá de rosto amável e sábio acenou com a cabeça com modos agradáveis e permitiu que as ofensas continuassem. Rustomi parecia prestes a irromper em lágrimas. Então o advogado civil deu uma volta e gritou ao ouvido do prisioneiro: «Mentiroso!» Durante um momento terrível recordei-me daqueles filmes de arquivo, cheios de riscos, do Tribunal Popular nazi a proceder ao julgamento dos conspiradores contra a vida de Hitler, em 1944, quando o juiz Roland Freisler praguejou na direcção deles. No final do primeiro dia em Qom, o advogado civil dirigiu-se a mim ostentando um sorriso. «É um julgamento justo que lhe estamos a fazer», disse ele. «Como pode ver, permitimos que Rustomi responda às acusações.» O tribunal retomou a audiência na manhã seguinte e Rustomi assistiu com ar infeliz a dois membros do seu próprio esquadrão antimotim a acusá-lo de ser um assassino. 140 Os Tapeteiros Outro soldado avançou corajosamente para defender o prisioneiro, mas mandaram-no calar-se depois de ser acusado de confundir a data do incidente. Quando o mulá fez um intervalo para almoço, um homem com cerca de 30 anos caminhou na minha direcção já no exterior do teatro. Foi observado com suspeição por um grupo de Guardas Islâmicos, homens armados que tinham a característica braçadeira verde que provava que tinham sido nomeados pela mesquita. Era o irmão de Rustomi. Era um homem muito assustado. Não podiamos falar ali no meio do passeio, pelo que descemos juntos uma rua, sendo seguidos pelos homens armados do tribunal. «Acha que isto é um julgamento justo?», perguntou-me ele. «O meu irmão não tem advogado de defesa. Dizem-lhe para encontrar um, se quiser, mas eu estive em Teerão no comité dos advogados e falei com vinte advogados. Não há nenhum que queira tomar conta deste caso. O tribunal mandou matar todos os prisioneiros que já julgou.» Houve um intervalo triste em que o homem tentou parar de chorar. «O meu irmão tem um filho pequeno. Disse às outras crianças da escola que se matará se o tribunal matar o pai.» Depois despedimo-nos e o irmão de Rustomi afastou-se, com os homens armados no encalço, andando de maneira afectada. Nessa mesma tarde perguntei ao aiatolá Kazem Shariatmadari, um dos conselheiros mais próximos de Khomeini, por que razão não era concedido um advogado de defesa a Rustomi. O aiatolá de barba branca sentou-se de pernas cruzadas nuns ricos tapetes ornamentais. «Um prisioneiro dum tribunal islâmico deve poder ter um advogado para o defender», respondeu ele. «Desconheço o que se está a passar nesse julgamento em Qom, desconheço as circunstâncias desse julgamento. Não sei responder à sua questão.» Era um velho afável e moderado que pertencia ao clero da cidade de Qom. Mas será que a palavra «moderado» tem ainda algum significado? Shariatmadari não fazia simplesmente ideia nenhuma do que se passava nos tribunais e estou certo de que preferia não saber. Ainda possuo as gravações das desculpas do velho e, muito mais difíceis de ouvir, do «julgamento», do advogado a gritar «Mentiroso!» aos ouvidos de Rustomi, do homem condenado a tentar explicar quais eram as suas regras militares e das lágrimas do seu irmão à porta do «tribunal». Dão conta da realidade autêntica e dolorosa da injustiça praticada por muitos sobre uma minoria. A decisão de Khomeini após a visita emotiva de Bazargan a Qom não poupou os prisioneiros que foram levados ao teatro reconvertido. As execuções recomeçaram na manhã após eu deixar Qom e embora a identidade das vítimas não fosse de início divulgada com clareza, uma delas era um ex-soldado do exército do xá. Conhecia o seu nome. Não haveria contragolpes nesta revolução, não haveria nenhuma «Operação Ájax», não haveria homens da CIA a actuar a partir da embaixada dos Estados Unidos para comprar os homens do bazar. De facto, em breve não haveria sequer embaixada dos Estados Unidos. As exigências de regresso do xá não pretendiam recolocá-lo no trono, mas levá-lo a julgamento. Só quando a cabeça da cobra fosse cortada a revolução se iria sentir segura. Tal como os Americanos acreditaram 24 anos depois que só a captura de Saddam Hussein proporcionaria tranquilidade ao Iraque, também Khomeini e o seu séquito estavam convencidos de que só a morte do xá – de preferência enforcado no Irão 141 A Grande Guerra pela Civilização como culpado de «crimes contra Deus» – libertaria o Irão do seu passado corrupto ¶. Na verdade, o xá já estava a morrer de cancro. Muitos Iranianos viram no seu patético exílio a verdadeira justiça de Deus, o seu cancro como a vingança final de Deus contra o homem que «pecara na Terra». A horrível odisseia do xá pelos hospitais da América Central, de Nova Iorque e, por fim, do Cairo encheu de cruel satisfação os mulás, que já tinham ordenado o seu assassínio. Não muito tempo após a sua partida, sentei-me aos pés do hojatolislam (*) Khalkhali, o «juiz dos enforcamentos», enquanto ele enumerava os elementos da família do xá que tinham sido condenados à morte in absentia. À sua volta estavam uns 20 Guardas Revolucionários que tinham sido gravemente feridos na guerra revolucionária contra os Curdos do Noroeste do Irão, cada um deles a fazer tilintar os seus novos dedos, mãos e pés artificiais em metal, enquanto o prelado traçava o destino que tão seguramente aguardava os seus inimigos aristocratas. Fora Khalkhali que condenara à morte um rapaz de 14 anos, que autorizara que algumas mulheres de Kermanshah fossem apedrejadas até à morte, que anteriormente, na sua cela de prisioneiro, num asilo para doentes mentais, estrangulava gatos. Gorbeh, o Gato, era como o designavam. «O xá será enforcado, ceifado e esmagado», disse-me o Gato. «Ele é um instrumento de Satã.» De facto, o xá era um fraco substituto do Diabo e nem sequer se aproximava dum Fausto, porque se vendeu a uma promessa de poder militar mundial e, ao que parece, de apoio americano permanente. O coro de harpias que perseguiu o xá por meio mundo eram os conflituosos e cúpidos cirurgiões, médicos e enfermeiros que bombardearam com comprimidos, plaquetas sanguíneas e falsas esperanças este homem já condenado a morrer, agentes das trevas que representavam exemplarmente a tecnologia mundial a que o xá há muito vendera a alma. Os seus antigos amigos desse mundo – o rei Hussein da Jordânia, o rei Khaled da Arábia Saudita, o rei Hassan de Marrocos, os Suíços, os Austríacos, o presidente Carter e Margaret Thatcher –, ou deram por findo o estatuto de residente, ou lhe viraram as costas, ou quebraram a promessa de o aceitar quando se deram conta do custo político que implicava. Estava a ser justo ao pensar que o seu único amigo, o único potentado que honrou a palavra dada a Carter quando os Americanos quiseram que o homem deixasse Nova Iorque, foi o presidente Sadat do Egipto. O presidente Torrijos do Panamá, que concedeu temporariamente refúgio ao xá e quis seduzir a rainha Farah, mas foi rapidamente rejeitado com desdém pela Shahbanou, expressou o obituário mais preciso sobre a «Luz dos Arianos»: «Isto é o que acontece aos homens que são espremidos pelas grandes nações», afirmou ele. «Depois de esgotado o sumo, deitam-no fora.» (11) (¶) Houve outras semelhanças singulares com o revés posterior da América no Iraque. O xá, enquanto permaneceu no poder, insistiu sempre que os seus inimigos eram «comunistas» e «fanáticos». O presidente Bush afirmava sempre que os inimigos da América eram os «restos de Saddam» e os «terroristas estrangeiros». Nem o xá nem Bush poderiam admitir que enfrentavam uma revolta popular no Irão e no Iraque. (*) Hojatolislam é um título honorífico atribuído a todos os clérigos xiitas. Significa «autoridade do Islão» e «prova do Islão». (N. T.) 142 Os Tapeteiros Na verdade, o xá morreu no Cairo a 27 de Julho de 1980 e foi enterrado numa modesta sepultura da mesquita al-Rifai. Seis anos mais tarde, no calor do Verão, fui ver a sua tumba com um amigo iraniano. Estávamos em pleno dia e havia apenas um guarda na mesquita, um homem velho de cabelo prateado, que, por uma insignificância, prometeu conduzir-nos junto da última morada do homem que se julgou o herdeiro espiritual de Ciro, o Grande. Só lá havia uma laje de mármore e, sobre ela, um poema escrito à mão que declarava ao xá a fé eterna dum membro dos Guardas Javidan. Um ramo de rosas murchas repousava sobre a tumba. O velho guarda dirigiu-se a nós e murmurou Baksheesh. Concordou com 50 piastras. Afinal, sentarmo-nos aos pés do Rei dos Reis custara o equivalente a 40 cêntimos. Os revolucionários islâmicos que agora surgiam por trás do aiatolá Khomeini eram, estranhamente, da classe média. Homens como Sadeq Qotbzadeh, director da televisão, mais tarde ministro dos Negócios Estrangeiros e mais tarde ainda executado por conspirar contra o aiatolá, eram diplomados pelas universidades americanas. Falavam inglês com pronúncia americana, o que significava que podiam aparecer surpreendentemente à vontade nos canais de televisão americanos. Muitos deles, como o novo primeiro-ministro adjunto Amir Abbas Entezam, ostentavam as suas origens não proletárias. «Orgulho-me por esta ter sido uma revolução da classe média», afirmou-me um dia Entezam. Inclinou-se para a frente na cadeira e bateu no peito. «Orgulho-me disso», repetiu ele. Pelos padrões dos ministros, este gabinete era modesto, tendo apenas duas secretárias, um sofá, umas quantas cadeiras e um telefone que, num canto, tocava baixinho sem ser atendido. Teria sido difícil encontrar alguém que, com a sua formação nos Estados Unidos e uma carreira de engenheiro muito viajado, fosse mais típico da classe média do que Entezam. Contudo, à sua maneira, estava a dizer a verdade. Se o poder físico por trás da revolução residia naquelas colossais manifestações de rua por parte dos pobres das cidades e dos islamitas revivalistas, foi a classe média proveniente do bazar, as dezenas de milhares de mercadores do maior souk do Médio Oriente que o xá procurara domesticar com um sistema de guildas, que forneceu o apoio económico ao regresso de Khomeini. Esta classe mercantil e a sua aliança com os mulás emergiram numa associação decisiva de oposição secular e religiosa. Foi por esta razão que a revolução do Irão evitara até então o rumo tradicional de tais acontecimentos – a pilhagem das casas e das propriedades dos ricos. Essa é a razão por que se pode ainda tomar um táxi em Teerão e ir aos subúrbios a norte, entre as montanhas, para encontrar os luxuosos apartamentos e as opulentas casas citadinas com as suas varandas térreas à sombra das árvores e com pequenos lagos de peixes dourados, que permaneceram intocados. A riqueza acumulada não foi apropriada pelo Estado. No final de Março de 1979, no entanto, esta situação começou a mudar. No Norte do Irão, em redor do mar Cáspio, houve fábricas que foram tomadas pelos trabalhadores – os esquerdistas conduziram a revolução a leste do Curdistão e a mesquita nunca ali reinou – e propriedades que foram confiscadas. O governo provisório nomeado por Khomeini estava a receber relatórios de mais confiscações perto de Mashad e o padrão estava espalhar-se para Teerão. Precisamente uma semana antes, Faribourz Attapour, um dos jornalistas mais prolíficos e sinceros da cidade, soube que o seu pai tinha sido preso. O que aconteceu foi que o velho Attapour, que tinha uma pequena propriedade na costa do mar Cáspio, fora ao 143 A Grande Guerra pela Civilização seu banco local, em Teerão, para levantar um cheque e fora preso pelo caixa, que pensara que se o seu cliente parecia rico, então deveria sê-lo e se o era de facto, então deveria ser também corrupto. O velho Sr. Attapour, que fora soldado no exército imperial, mas se reformara do serviço militar há 27 anos, tinha 70 anos e estava fortemente endividado. Não obstante, foi levado do banco por um comité revolucionário fortemente armado e transportado para a prisão de Qasr. Pelo menos, era aí que Faribourz Attapour pensava que o pai estava detido. Não foi divulgado nenhum comunicado oficial pelo komiteh e nem o governo podia sequer ter acesso à prisão. Havia então cerca de 8000 prisioneiros no seu interior – tinha cerca de 2000 nos tempos do xá – e a Cruz Vermelha só lá pôde entrar passadas várias semanas. Não surpreende, por isso, que Attapour estivesse enfurecido. «Esta revolução degenerou em mera vingança e tirania», disse ele. «Só se pode comparar ao terror jacobino da Revolução Francesa. Os mercadores do bazar têm mais dinheiro do que o meu pai, mas não se importam com o seu destino. Os supostos líderes religiosos também não. Falei ao telefone com o aiatolá da nossa zona, no Cáspio, e ele disse que o meu pai devia ser corrupto, porque era rico. Nem sequer permitiu que respondesse à sua acusação ao telefone. Desligou simplesmente.» Attapour estava todos os dias à espera de ser preso, mas três dias depois disse-se que a sua voz jornalística fora silenciada, porque dois jornais de língua inglesa anunciaram que suspendiam a publicação. O Tehran Journal, para o qual Attapour escrevia, invocou razões económicas para o seu encerramento, mas quatro komitehs revolucionários tinham denunciado o jornal como «anti-islâmico». A maior parte dos funcionários recebeu telefonemas anónimos com ameaças de morte. O paralelo de Attapour com a Revolução Francesa – em contraste tão flagrante com o entusiasmo de Edward Mortimer – não deixou de ter eco entre os mais dogmáticos do novo regime iraniano. O Dr. Salamtian, um conselheiro político do ministério dos Negócios Estrangeiros, encontrou uma comparação mais favorável. Houve menos execuções no Irão do que nas Revoluções Francesa ou Russa, disse ele. Quando lhe chamei a atenção para o facto de que não houvera qualquer pelotão de fuzilamento na revolução portuguesa de 1974, ripostou-me: «Mas em Portugal estavam apenas a ver-se livres de Caetano, nós temos estado a derrubar mais de 2000 anos de monarquia.» Era uma resposta curiosa, porque a ideia de que a Pérsia vivera sob tal monarquia durante 2300 anos era uma ficção imaginada pelo xá, um mito propagado para justificar o seu poder autoritário. Que este poder fora autoritário era um dos poucos pontos em comum entre aqueles que apoiavam a revolução, porque a esquerda no Irão já verificara que os clérigos se estavam a instalar no poder. «Porquê condenarem-nos por darmos caça aos assassinos do xá?», perguntou Salamatian. «No Ocidente, vocês mantiveram o nazi Rudolf Hess na prisão, na Alemanha. Nós consideramos os agentes da Savak como criminosos de tipo nazi. Vocês no Ocidente levaram os nazis a julgamento. Por que razão não haveríamos de julgar os nossos nazis?» E o que se poderia argumentar contra isto quando jornalistas como Derek Ive, da Associated Press, conseguiram olhar durante breves momentos para o interior da casa 144 Os Tapeteiros dum agente da Savak, mesmo antes de a revolução triunfar? Entrou na casa quando uma multidão irrompeu tempestuosamente pela porta da frente. «Havia um lago com peixes no exterior», contou-me ele. «Havia vasos com flores na sala de entrada. Mas ao descer as escadas havia celas. Em cada uma delas havia uma cama de ferro com correias e por baixo dois fogões. Havia dispositivos de descida na armação das camas para que as pessoas amarradas a elas pudessem ser postas sobre as chamas. Noutra cela, encontrei uma máquina com uma engenhoca que mantinha um braço humano sob uma faca e próximo dela estava um revestimento de metal onde podia entrar uma mão. Numa das extremidades estava uma máquina de cortar fiambre. Tinham andado a cortar mãos às fatias.» Ive encontrou num canto uma pilha de braços e noutra cela descobriu pedaços dum cadáver a flutuar em vários centímetros do que parecia ser ácido. Precisamente antes dos soldados do xá regressarem de supetão às traseiras do edifício, tirou umas rápidas fotografias aos instrumentos de tortura. Depois da revolução, pudemos conhecer alguns dos agentes da Savak mais importantes. Sentados na prisão de Evin, com as suas camisas de colarinho aberto, casacos de bombazina e de malha, fumando nervosamente cigarros americanos, os 18 prisioneiros não se pareciam nada com a imagem popular dos polícias secretos. No momento em que foram introduzidos na sala – um gabinete rectangular cheio de sujidade, que também servia ocasionalmente como tribunal revolucionário –, estes homens de meia-idade e muitíssimo amistosos ou sorriam ou ficavam simplesmente a olhar-nos enquanto os funcionários governamentais os apresentavam como criminosos. Porém, eles tinham histórias perturbadoras e, por vezes, aterradoras para contar. Hassan Sana, o conselheiro económico e de segurança do subdirector da Savak, referiu a colaboração da espionagem britânica com o xá, uma ligação amistosa que, segundo disse, incentivou os agentes britânicos a entregar informações sobre os estudantes iranianos na Grã-Bretanha aos seus homólogos do Irão. Sanam, um fumador inveterado, de óculos escuros e que pelos vistos gostava de camisas muito coloridas, afirmou que a cooperação britânica permitiu à Savak vigiar ou prender estudantes quando regressavam a Teerão, vindos de Londres. Falou também de como os agentes da Savak eram levados de avião de Nova Iorque para uma base militar secreta americana pela CIA para receberem instrução sobre técnicas de interrogatório, uma viagem misteriosa que durava quatro horas de voo através dos Estados Unidos num avião com janelas escurecidas. Já tínhamos visitado o centro de interrogatórios da Savak, no centro de Teerão, onde antigos prisioneiros descreviam como tinham sido torturados. Uma sala de telhas pretas e chão de cimento era tudo o que restava da câmara – quase igual à que Ive descobrira – onde os prisioneiros eram assados deitados em camas por cima de bicos de gás. Em Evin, durante um terrível momento, Mohamed Sadafi, um agente da Savak que fora halterofilista, foi confrontado com um homem cuja filha morrera à sua guarda pessoal. «Você matou a minha filha», gritou o homem. «Ela foi queimada em toda a parte até que ficou paralisada. Foi assada.» Sadafi olhou brevemente para o homem. «A sua filha enforcou-se depois de estar sete meses presa», respondeu ele tranquilamente. O pai disse 145 A Grande Guerra pela Civilização que não havia sequer um lençol na prisão com que um preso se pudesse enforcar. Havia sim, respondeu Sadafi. Ele próprio vira as contas da lavandaria em Evin. Foi com este horror que o regime do xá se manteve e foi destas cenas terríveis que a revolução se alimentou. Se havia motivo para ficar surpreendido no Irão, nesta fase inicial do novo regime, não era por a revolução ter provocado tantas vítimas nas fileiras do xá, mas por ter provocado tão poucas. Mas a revolução não acabara ainda. Não iria terminar naquela fase cordata e burguesa que haveria de cansar os Portugueses, nem havia nada de comum entre a nova república islâmica e a democracia popular que os grupos iranianos de esquerda tinham propagandeado. A esquerda estava agora mais activa – havia recontros armados nas ruas todas as noites – e a situação seria exacerbada pela deterioração constante das condições sociais no Irão. Até Khomeini descreveu o seu país como «um bairro miserável» ¶. As autoridades de segurança do novo Estado islâmico continuaram convencidas, contudo, de que alguns participantes no governo encaravam os Estados Unidos como um parceiro potencial, e não como o «Grande Satã» das manifestações de rua. Tinham razão. Após a embaixada dos Estados Unidos ter sido tomada, em Novembro de 1979, pelos «estudantes muçulmanos que seguiam a linha do imã», os homens da segurança iranianos encontraram toneladas de correspondência diplomática dos Estados Unidos feita em tiras, que eles levaram meses a reconstruir, colando laboriosamente os documentos (12). Entre estes encontrava-se uma quantidade embaraçosa de material sobre Abbas Amir Entezam, o vice-primeiro-ministro, e os seus contactos com o governo dos Estados Unidos. De início, os documentos referiam-se a a aspectos formais – a embaixada americana permanecera aberta após a revolução e os funcionários americanos encontravam-se habitualmente com funcionários do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano para organizar o repatriamento do pessoal militar e de civis norte-americanos – e a embaixada disse a Entezam, em Março de 1979, que «os Estados Unidos desejavam normalizar rapidamente as suas relações com o Irão». Entezam respondeu, de acordo com os documentos, que «o seu governo também desejava uma boa relação com os Estados Unidos […] o primeiro-ministro Bazargan […] expressara recentemente em público este mesmo sentimento.» Passados alguns dias, todavia, Entezam manifestava o desejo do seu governo em «partilhar informações secretas com o GEU [governo dos Estados Unidos]». Por incrível que possa parecer, os Americanos já tinham entregado a Entezam um «documento sobre o Afeganistão» – os Iranianos estavam cada vez mais receosos de que a União Soviética invadisse o seu vizinho de leste –, mas nesta altura Entezam explicou que o seu governo estava mais preocupado com «ameaças internas à sua segurança». Segundo o relatório da embaixada dos Estados Unidos sobre uma reunião que ocorreu depois, no mês de Maio, Entezam dissera que o «GPDI [governo provisório do Irão] estava preocupado com possíveis (¶) Havia então 3,5 milhões de desempregados, representando 25% da força de trabalho, e 50% da população vivia em cidades enormemente superpovoadas. As carências alimentares não eram provocadas apenas pela insistência de Khomeini de que os muçulmanos deveriam no futuro recusar comer carne congelada. Resultaram da orgulhosa recusa do Irão em importar mais produtos estrangeiros. No entanto, até ao Inverno anterior o país dependera da importação de alimentos no montante de 2 mil milhões de dólares. 146 Os Tapeteiros interferências dos Iraquianos na província do Cuzistão, bem como com as actividades da OLP e dos Líbios.» Entezam disse que «o GPDI tinha informações de que George Habash [o líder da Frente Popular da Palestina, apoiada pelos Sírios] visitara recentemente vários países do Golfo […] presumivelmente com o objectivo de provocar dificuldades ao Irão.» O gabinete da OLP na cidade de Ahwaz, no Sul do Irão, estava também a causar preocupação, mas «abanando a cabeça, ele [Entezan] disse que o seu governo nada podia fazer quanto a isso […] porque Khomeini desejava que a questão continuasse em aberto.» Este material era incendiário. Aqui estava Entezam – que apenas umas semanas antes me apregoara que esta era uma revolução da «classe média» – a discutir com a CIA os seus receios quanto à segurança do Irão, não apenas revelando as suas informações secretas, mas manifestando exasperação com a figura islâmica mais venerada no país por estar a colocar em perigo essa mesma segurança. Em Junho, Entezam solicitou informações aos Estados Unidos sobre «as intenções do Iraque em relação ao Irão». Nesta altura, já se tinham dado frequentes trocas de tiros de artilharia ao longo da fronteira entre os dois países e o adido de negócios da embaixada americana, «após dizer que não tinha a certeza de quem lançara a primeira pedra […] considerava a hipótese de os Iraquianos tentarem criar uma «barreira espinhosa» ao longo da fronteira do Iraque com o Irão», tal como ocorrera noutra época com a política britânica em relação à linha Durand». Bruce Laingen, o adido de negócios da embaixada, teve outros encontros com Entezam e passadas algumas semanas este último – conhecido nas comunicações por telegrama com os Estados Unidos pelo código nada romântico «SD/PLOD/1» – estava a receber visitas directas de altos funcionários da CIA. Quando foi nomeado embaixador do Irão na Suécia, Entezam teve uma reunião de troca de informações com o agente da CIA George Cave, que seria mais tarde uma das figuras mais proeminentes do escândalo Irão-Contras de 1985-1986. Em Teerão, houvera mais reuniões entre a CIA e Bazargan, Entezam e Ibrahim Yazdi, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano. O próprio Cave visitou mais tarde Teerão e concordou com Entezam em que deveria haver reuniões – estou a citar, uma vez mais, os documentos reconstruídos – «no mínimo de três em três meses e no máximo de seis em seis, com transmissão de informações sintéticas, se houvesse algo de particular importância. Entezam perguntou se poderia existir um contacto em Teerão para troca regular de informações.» (Nota: Cave foi apresentado como oficial superior para consultas da comunidade de informação. A sigla CIA nunca foi utilizada.) Quando a embaixada americana em Teerão foi invadida, após o xá ter sido autorizado a entrar nos Estados Unidos, a natureza explosiva dos contactos de Entezam com a CIA ficou a ser conhecida devido aos ficheiros destruídos que os jovens rapazes e raparigas iranianos estavam reconstruir meticulosamente. Bazargan e Yazdi foram desacreditados e Entezam foi preso e julgado por traição, escapando por pouco à execução, sendo condenado em 1981 a prisão perpétua. Entezan continuou sempre a dizer que era um verdadeiro revolucionário e que procurava manter relações com os Americanos no interesse do Irão. Massoumeh Ebtekar, um dos principais «invasores» da embaixada, viu o assunto duma perspectiva completamente diferente. «A CIA parecia acreditar que podia manipular politicamente qualquer revolução ou regime político se conseguisse infiltrar desde o início 147 A Grande Guerra pela Civilização os seus níveis mais elevados», haveria ele de escrever (13). «No Irão, a agência estava particularmente determinada a fazê-lo. Afinal, tinha disso uma grande experiência.» Segundo Ebtekar, os «estudantes do imã» encontraram também na embaixada bilhetes de identidade e passaportes falsos destinados aos agentes da CIA, incluindo selos e selos brancos destinados a vistos de entrada e saída nos aeroportos da Europa e da Ásia, bem como 1000 passaportes ganeses falsos. Havia outros documentos cujo assunto eram os apoiantes da monarquia «que estiveram envolvidos nos assassinatos de terror». No entanto, se chegou a ser ponderada em Washington outra «Operação Ájax», morreu com certeza em Novembro de 1979. Nestas primeiras semanas da república islâmica, a nossa própria vida não deixava de ter um certo humor. Enquanto o Irão continuasse a manter aberto o sistema de vistos livres do tempo do xá, podíamos entrar e sair do Irão tantas vezes quantas desejássemos. Eu até fui de avião passar um fim-de-semana a Dublin para descansar, deixando Teerão numa sexta-feira de manhã e regressando na segunda-feira à noite. Só a pouco e pouco as novas leis do regime começaram a afectar-nos. Durante meses, no Hotel Intercontinental de Teerão – mais tarde chamado Laleh, «Rosa», o símbolo da revolução – ainda podíamos beber vodka com blinis. Porém, em breve foi imposta a proibição do álcool. Ainda tenho em meu poder uma nota admirável que a direcção do hotel meteu por baixo da minha porta em 21 de Março de 1979. «Devido ao fornecimento limitado de bebidas alcoólicas no país e ao <inesperado> do aumento dos preços destes <atrigos>», rezava ela, «a direcção não vê alternativa senão proceder a um aumento dos preços em 20%. Obrigado.» (*) Não demoraria muito a que um komiteh revolucionário convidasse os jornalistas a ver a destruição dos stocks remanescentes do álcool satânico que se encontrava nas caves do hotel. Com as máquinas de filmar a zumbir, homens armados lançaram para dentro da piscina vazia garrafas de champanhe Pol Roger, os melhores vinhos franceses e esvaziaram nela caixas de gin Gordon. Dos 60 centímetros de vidros do fundo da piscina libertava-se um fedor a álcool que empestou o hotel durante dias. Um restaurante sul-coreano continuou a iludir as autoridades, tendo o seu pessoal enterrado no seu jardim caixas de cerveja alemã. Os clientes tinham de aguardar 10 minutos antes de cada cerveja, cheia de terra, chegar à mesa. Aliás, a classe média tão querida por Entezam continuava a divertir-se. Uma noite fui convidado para jantar numa villa com o chão em mármore e pinturas pseudobarrocas de mau gosto na zona norte de Teerão, onde um jovem casal entreteve vários escritores iranianos e eu próprio com a leitura de poesia e uma refeição duma abundância pré-revolucionária, bem como os obrigatórios copos de vodka feita em casa. Fiquei intrigado com a atraente anfitriã, porque se dizia que ela fora uma das últimas amantes do xá. Segundo os rumores, sempre que o xá queria fazer amor com uma mulher, ela era convidada a entrar por uma porta lateral do palácio, passava duas horas com ele num discreto salão e, antes de se ir embora, era presenteada com um cachorro labrador como prova do afecto do Rei dos Reis. Dada a grotesca reputação do homem, interrogava-me, por vezes, por que razão (*) Introduzimos entre <>, nesta citação, um termo inusitado e um erro ortográfico análogos aos da nota e que são assinalados pelo autor. (N. T.) 148 Os Tapeteiros não via em Teerão centenas de labradores a vadiar. Pus de parte todos estes pensamentos quando o jantar terminou e me despedi dos meus anfitriões. Foi nesse momento que a porta da cozinha se abriu de repente e uma coisa grande e peluda saltou na minha direcção, para consternação do casal. Virei-me e vi o focinho amigável dum labrador dourado, a olhar para mim como se tivesse estado toda a noite à espera de me conhecer. O que era precisamente a vida do xá apareceu à luz do dia quando o novo ministro da Informação, rejubilando em nome do «Ministério da Orientação Islâmica», nos solicitou que víssemos o Palácio Niavaran, na zona norte de Teerão. Se Ricardo III ofereceu, de facto, o seu reino por um cavalo, então o xá do Irão pagou a sua liberdade por uma série de palácios, um monte de tapetes persas de valor incalculável, um esboço de Marc Chagall, um modelo do século XVII dum navio de escravos chinês em ouro de 22 quilates, uma biblioteca de dois pisos, um conjunto de pianos que poria em êxtase uma faculdade de música e dois telefones em ouro maciço. De pé sob as bétulas prateadas do relvado ventoso do Niavaran, um funcionário governamental iraniano fez com que uma das vendas mais históricas do século não parecesse mais do que um soluço no progresso da revolução, que foi o que acabou por ser. «Vamos pôr o conteúdo a leilão», anunciou ele. «Depois os palácios serão transformados em museus.» Foi-nos então dado observar um mulá de turbante e dois homens armados com espingardas automáticas G-3 a puxar e arrastar um tapete dourado de Isfahan com 10 metros de lado, tecido num tear manual, pelo chão de madeira embutida do gabinete do xá. Princesas orientais, pássaros emplumados e animais carnívoros exóticos misturavam-se com os arabescos bordados. Todos os tapetes tinham um número de inventário, prova de que, embora a revolução pudesse ter tido os seus altos e baixos, os novos senhores do Irão eram capazes de se mostrar eficazes. Foi afirmado que nas semanas anteriores os tapetes do xá valeram 15 milhões de dólares. Há que admitir que o xá possuía um gosto horroroso para mobílias. Cadeiras barrocas francesas encostadas a espelhos e mesas de aço, enquanto que as urnas mais grotescas – transformadas por alguma magia negra de ourives em pavoas feias –, encimavam as secretárias de madeira delicadamente talhadas e incrustadas de mosaicos. Paredes de vidro talhado cobertas de pó pareciam o cinema britânico dos anos 30. Foi assim que o xá e a mulher deixaram o seu palácio em Janeiro de 1979 quando partiram para um exílio «de férias» eterno. O destino não concede habitualmente às pessoas comuns o direito de vaguear pelo palácio dourado do xá e há coisas estranhas que acontecem quando meros mortais são deixados ao pé de tanta opulência. Quando a imprensa internacional foi convidada para aquilo que Abolhassan Sadeq, do ministério da Orientação, sarcasticamente designou como «casa miserável do xá», houve cenas dignas da incursão dos Ostrogodos em direcção a Roma. Subimos por cima de pilhas de tapetes, entrámos na grande biblioteca e descobrimos o que o xá lia no seu tempo livre. Havia volumes com capas de couro de Voltaire, Verlaine, Flaubert, Plutarco, Shakespeare e Charles de Gaulle. As obras completas de Winston Churchill estavam junto de A Balada do Velho Marinheiro, de Coleridge – uma obra que o xá deveria julgar de leitura adequada na sua longa viagem de exílio –, e as biografias do Mahatma Gandhi. O Meu Povo, 149 A Grande Guerra pela Civilização de Abba Eban, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros – de facto, o livro foi escrito em parte por um editor da revista Commentary –, estava na prateleira de baixo com uma dedicatória manuscrita do autor e dirigida a «Sua Majestade Imperial, o Xá dos Xás». Noutra estante estavam The Goebbels Diaries. No gabinete pessoal do xá os guardas tinham dificuldade em impedir-nos de marcar um número nos telefones de ouro. Num andar de sacada que ficava sobre a sala de estar, um jovem com uma espingarda ao ombro observava com uma expressão de evidente preocupação enquanto eu tocava uma versão execrável da Ária na Corda Sol, de Bach, num cravo oferecido ao xá pelo rei Balduíno e a rainha Fabíola da Bélgica. Os caçadores de recordações poderiam licitar na venda dos brinquedos da princesa Leila, a filha do xá, de oito anos. Havia miniaturas de aviões perto dum guarda-louça que não ficava distante da sua cama de dossel. Num aparador estava uma fotografia da família do presidente americano com uma dedicatória manuscrita: «Com os melhores votos, Rosalynn e Amy Carter». Um quadro preto registava a giz os primeiros esforços de Leila na escrita da versão europeia dos algarismos árabes. No escritório do xá, o calendário de secretária ainda estava no dia 16 de Janeiro, o dia em que o monarca deixou o seu reino. No cinzeiro dourado encontrei cinco pontas de cigarros empoeiradas, testemunhas das últimas horas de esmorecimento do poder imperial. Tínhamos sido levados antes aos bairros pobres do Sul de Teerão, num esforço grosseiro, mas muito eficaz, do ministro da Orientação para evidenciar as diferenças entre os estilos de vida do xá e do seu povo. As crianças brincavam no andar térreo do n.º 49 do Largo Gord Najhin e as mulheres levavam a sua roupa lavada passando por cima de esgotos a céu aberto. Os bairros pobres de Teerão tinham uma pobreza menos aparente do que as casas miseráveis do Cairo e o palácio do xá era modesto pelos padrões sauditas, mas percebemos onde se queria chegar, ainda que o cheiro dos esgotos se misturasse estranhamente com os perfumes caros das meninas do ministério. Havia muitas coisas estranhas em relação a Teerão. A total normalidade da cidade enorme, suja e cheia de engarrafamentos de trânsito era mais surpreendente do que a crise das relações iraniano-americanas. Apesar de tudo o que se dizia das multidões fanáticas e do caos económico, eu ainda podia apanhar o autocarro n.º 20 – um Leyland de dois andares pintado de verde – para o centro da cidade, comprar roupas francesas em lojas caras ou entrar para tomar uma refeição no Kentucky Fried Chicken. Os Iranianos que cresceram na dependência do estilo de vida americano já não podiam comprar manteiga de amendoim Skippy, nem pasta de queijo Kraft no supermercado de Forshagh Bozorg e, em obediência ao que Khomeini pensava da aparência das mulheres, os cosméticos franceses e americanos tinham sido banidos. Pelos padrões ocidentais ou orientais, Teerão não era uma cidade atraente. Os seus quarteirões quadrados e a pobreza arquitectónica das fachadas das lojas, construídas nos anos 60, conferiam-lhe uma aparência estéril, curiosamente semelhante à do Leste europeu. No entanto, até os habitantes de Teerão continuavam a ter problemas com a geografia política da sua cidade, porque quase todas as ruas principais da capital registaram uma mudança de identidade, de acordo com as instruções revolucionárias. Por exemplo, a Rua Pahlavi desapareceu, transformando-se em Rua Hossein Fatimi, o nome 150 Os Tapeteiros do ministro dos Negócios Estrangeiros de Mossadeq, que foi executado dois meses após a «Operação Ájax» ¶. O escritório da agência noticiosa Reuters, em Teerão, tornou-se um lugar de renovação espiritual. Quando abri a porta pela primeira vez encontrei o seu director, Harvey Morris, rodeado por nuvens espessas de fumo de cigarro, com uma garrafa de whisky aberta na secretária e um ar de penosa surpresa estampado na cara. Com o seu bigode à Mark Twain e o cabelo despenteado, Harvey julgava que a revolução era vergonhosa, mas revelava coragem, que era uma farsa, mas de tipo cruel. Tinha de proteger o seu pessoal dos komitehs, tirar da prisão os seus jornalistas freelancers e dar graxa ao Ministério da Orientação Islâmica. Ora, era este ministério que lhe estava provocar a última crise. «Disseram-me que querem conhecer a história da agência noticiosa Reuters», anunciou ele com um esgar. «Por isso, os importantes lá de Londres acabaram de me enviar um volume sobre o nosso querido fundador, Paul Julius, Freiherr von Reuter, para o dar ao ministério. Mas acontece que o bom do barão construiu metade dos malditos caminhos-de-ferro deste país e a Concessão Reuter de 1872 garantiu aos súbditos britânicos o monopólio sobre todos os recursos económicos e financeiros do Irão. Meu Deus! Como é que vou dizer aos imbecis do ministério que o fundador da nossa agência noticiosa era pior do que o maldito do xá?» Percebi o que ele queria dizer. Mas Harvey era um tipo esperto, a sua aparência descontraída e cansada era um disfarce por trás do qual havia um espírito competente, com humor e, por vezes, maldoso. Todas as noites passava por lá para enviar o meu relato pelo seu telex e lhe contar o que soubera com as minhas andanças jornalísticas pelas ruas ou nas viagens que fazia fora de Teerão. Ele fazia umas confidências sobre as conferências de imprensa e os escândalos, como aquele em que Qotbzadeh, o director da televisão, deu ordem à sua secretária para fotocopiar um maço de papéis oficiais em que ela encontrou uma carta da sua amante francesa. A carta foi fotocopiada inúmeras vezes. O meu telefone tocava às vezes pela manhã com uma chamada de Harvey. «Fisky, penso que gostarias de saber que os rapazes de Khalkhali juntaram mais um grupo de pessoas por serem ‘corruptos na Terra’.» Mais frequentemente, anunciava-me que ia ocorrer «uma manifestação à porta da embaixada americana. É melhor que vás tu do que eu!» É estranho que a tomada da embaixada americana e as suas sequelas se tivessem tornado num trabalho tão aborrecido para os jornalistas. Por fim, haveria de conduzir a uma missão militar americana de resgate que acabou em fracasso e, depois, à deterioração da presidência de Jimmy Carter. Provocou um sentimento de humilhação muito intenso nas administrações americanas posteriores, o que conduziu a América a uma série de desastres políticos e militares no Médio Oriente. A maioria dos diplomatas dos Estados Unidos e outros reféns americanos ficaram cativos durante 444 dias. Só foram libertados quando os governos americano e iraniano celebraram a uma série de acordos económicos e bancários, ¶ Estas mudanças eram mínimas quando comparadas com as que em Londres afligiam os editores do Time Atlas. Em 13 de Dezembro, recebi uma mensagem de Barry Winkleman, da Times Books, que me solicitava os novos nomes de Pahlavidezh, no Curdistão, do reservatório Reza Shah Pahlavi, a norte de Dezful e de Shareza, a sul de Isfahan. «[Q]ual era o antigo nome da Avenida Taleghani», em Teerão, pretendia ele saber. Resposta: Rua Takht-e-Jamshid. 151 A Grande Guerra pela Civilização sendo então os prisioneiros levados ao aeroporto Meharabad e escoltados para fora do Irão por comandos argelinos. Talvez resultasse do impasse da situação complexa que a ocupação da embaixada representava, mas a verdade é que nem os Americanos iriam entregar o xá à «justiça» iraniana, nem os Iranianos libertariam os seus prisioneiros até que Washington tivesse sido suficientemente humilhada. Retirar o xá do seu hospital em Nova Iorque e despejá-lo no Panamá não iria satisfazer os revolucionários de Teerão. Por isso, todos os dias víamos milhares de manifestantes, estudantes, guardas armados e membros de organizações muçulmanas a passar defronte da embaixada – referida então oficialmente como o «ninho de espiões dos Estados Unidos» – bradando aos céus a sua exigência do regresso imediato do xá e condenando o presidente Jimmy Carter como «promotor da guerra». Tornaram-se tão habituais que caíram na monotonia. O seu grito «Abaixo Carter, abaixo o xá» era retomado durante seis ou sete minutos, sendo intercalado com «Yankees vão para casa». Quiosques de hambúrgueres, vendedores de sumo de raiz de beterraba e suportes de venda de postais atulhavam os passeios. As multidões eram estrategicamente colocadas para serem captadas pelas câmaras de televisão e os jornalistas tinham permissão para – ou melhor, eram encorajados a – se aproximar da embaixada e olhar pelos portões pretos de ferro forjado. Os reféns, fechados nos edifícios principais da embaixada – os homens com as mãos atadas –, não podiam ser vistos, embora os estudantes tivessem palavras de ordem pintadas com spray no telhado do bloco de recepção. Mesmo no interior do pátio da frente, tinham erigido uma pintura com cinco metros de altura, uma obra simbólica inspirada na fotografia de Joe Rosenthal dos fuzileiros americanos a erguer a bandeira nacional em Iwo Jima, em 1945. Neste caso, porém, os revolucionários muçulmanos tomavam o lugar dos fuzileiros e esforçavam-se por erguer uma bandeira verde islâmica, estando um dos seus cantos transformado miraculosamente numa mão a estrangular a bandeira americana. A ocupação transformara-se assim num teatro a que nem faltava um cenário pintado. Era um Carnaval. Era também um erro acreditar que isto representava uma falsidade. Individualmente, os Iranianos expressavam com muita eloquência o seu desprezo pelo xá e também muitas vezes com pronúncia americana. «Quer saber por que razão queremos o maldito do xá?», perguntou-me um estudante da Universidade Politécnica de Teerão. «Bem, eu digo-lhe: é porque esse homem roubou 50 mil milhões de dólares ao Irão.» Um soldado da força aérea do Irão deambulava à nossa volta para entrar na conversa. «Esse bastardo cometeu o maior roubo da história», disse ele. A pronúncia do homem da força aérea parecia provir da zona oriental de Nova Iorque e traduzia melhor o relacionamento do Irão com a América do que qualquer retórica política, por eloquente que fosse. Ao que parecia, nunca antes acontecera que tantos revolucionários tivessem vivido, trabalhado ou sido educados no país que agora responsabilizavam pelos seus sofrimentos passados ¶. Enquanto o xá teve o poder, havia por vezes meio milhão de Iranianos nos Estados Unidos. Muitos deles estavam nas universidades americanas, alguns fugiam do regime do xá. ¶ Também fazia lembrar a Irlanda dos anos 20. 152 Os Tapeteiros Muitos milhares estavam a receber treino militar. Uma das benesses dos oficiais do exército iraniano era uma viagem de vez em quando a Nova Iorque num dos jactos da força aérea. O Dr. Ibrahim Yazdi, que acabava de se demitir de ministro dos Negócios Estrangeiros, trabalhou na América durante 17 anos como médico, tendo-se aliado a estudantes iranianos que se opunham ao xá. O Dr. Mustafa Chamran, que fora nomeado vice-primeiro-ministro em Julho de 1979 e acabaria por morrer como «mártir» na guerra Irão-Iraque, ajudou a criar a Associação dos Estudantes Islâmicos da América, em 1962, juntamente com Yazdi e Sadeq Qotbzadeh, que era agora o ministro da «Orientação Nacional». Uma rapariga iraniana que estudara jornalismo em Nova Iorque – que, nas suas palavras, tivera a experiência dos frutos da democracia americana –, exigia saber por que razão os Americanos se dispuseram a apoiar o regime do xá, se ele se opunha à liberdade individual e às divergências. «Nos Estados Unidos, aprendemos tudo sobre a liberdade e sobre a liberdade de dizer o que se quer. No entanto, a América apoiou o xá e obrigou-o a desbaratar em armas a riqueza do Irão. Por que motivo o fez? Por que razão é a América internamente uma democracia e age como uma ditadora no estrangeiro?» Havia aqui, é claro, uma contradição. O facto de o presidente Carter, cuja campanha pelos direitos humanos era bem conhecida no Irão, ter continuado a honrar o compromisso político com o xá antes da revolução – por mais cauteloso que fosse o seu procedimento – era considerado uma hipocrisia. No entanto, a administração Carter opunha-se à natureza antidemocrática do regime do xá e, dentro dos limites da diplomacia, Carter tinha pressionado o monarca iraniano a liberalizar o seu país. Os Iranianos argumentavam que tal posição era demasiado ambígua para ser respeitada e que era difícil interpretar algumas afirmações de Carter nos últimos meses de poder do xá sem notar uma certa ingenuidade da parte do presidente americano. Em Novembro de 1978, por exemplo, Carter referia-se ao xá como «um amigo, um aliado leal». Apenas diria que as críticas ao Estado policial do xá seriam «por vezes talvez justificadas», acrescentando que não conhecia essas críticas em «detalhe». No entanto, as condenações ao Irão pareciam ser frequentemente dirigidas às acções de administrações americanas anteriores, nomeadamente aos governos de Eisenhower, Kennedy e Nixon. Os estudantes, quando gritavam insultos a Carter, pareciam estar a dar voz a sentimentos que vinham do tempo das políticas de Henry Kissinger, que tivera um papel de muito poder (como secretário de Estado americano) quando eles mesmos trabalharam e viveram nos Estados Unidos. Comparativamente havia poucos que tivessem experiência da administração Carter, à excepção de saberem que o presidente recusara deportar o xá do Irão. Poucos estudantes fora da embaixada reflectiram durante muito tempo nos resultados a longo prazo da ocupação dela, como, por exemplo, na possibilidade de que pudesse levar à eleição de Ronald Reagan, que teria muito menos interesse pelos problemas mundiais e revelaria muito mais entusiasmo pelos inimigos externos do Irão. A reacção do Irão às potências «satânicas» mais pequenas era quase quixotesca. À embaixada britânica, ainda coberta da tinta de manifestações anteriores, chegou uma multidão para expressar a sua satisfação por Shapour Bakhtiar, o último primeiro-ministro do xá, não ter obtido asilo no Reino Unido. Quando os mesmos manifestantes chegaram à 153 A Grande Guerra pela Civilização embaixada francesa – o país que concedeu residência temporária a Bakhtiar –, mostraram a sua gratidão pelo direito de asilo que a França concedera antes da revolução ao aiatolá Khomeini. Porém, nenhuma démarche política poderia resolver a questão do cerco à embaixada dos Estados Unidos. Os europeus, o núncio papal, Sean McBride – um fundador da Amnistia Internacional – e 75 embaixadores que representavam todo o corpo diplomático em Teerão viram os seus apelos ignorados. Os embaixadores nem sequer puderam visitar Bruce Laingen, que estava no ministério dos Negócios Estrangeiros quando a embaixada foi tomada e ali permaneceu até ser libertado em 1981. O aiatolá Khomeini informou severamente o papa de que «Jesus Cristo teria punido o xá». A televisão iraniana interrompeu a exibição do filme O Terceiro Homem para anunciar que o Irão iria interromper o seu fornecimento diário de 600 000 barris de petróleo aos Estados Unidos – uma resposta bastante apressada à decisão já tomada pela administração Carter de suspender as importações de petróleo a partir do Irão. A 14 de Novembro, o Irão anunciou a retirada de 12 mil milhões de dólares de reservas governamentais dos bancos americanos e Carter de imediato congelou os fundos iranianos nos Estados Unidos. Cada novo passo reforçava o poder da teocracia que governava o Irão e reduzia a influência dos esquerdistas. Meio milhão de estudantes reuniu-se perto da Universidade de Teerão, em 15 de Novembro, para apoiar os fedayeen, o movimento de guerrilha de esquerda que era agora ilegal no Irão e que não apoiara a tomada da embaixada. No entanto, no campus universitário encontrei Mehdi Bazargan, para as orações de sexta-feira, sentado de pernas cruzadas com uma camisola cinzenta e a ouvir o aiatolá Hussein Ali Montazeri, o líder do comité de peritos que acabara de redigir a nova constituição islâmica do Irão. Estava a contar ao seu público que «a vontade do povo iraniano estava por trás da ocupação» da embaixada. Yazdi estava sentado junto de Bazargan, que acabara de se demitir porque a ocupação estava a minar o seu governo. O artigo 5.º da nova constituição de Montazeri estipulava que um líder religioso com apoio maioritário – «uma pessoa justa, piedosa, esclarecida, corajosa e sagaz» – se tornaria guardião da nação. Era óbvio que este papel árduo, para não dizer espiritualmente esgotante, não seria entregue a outro que não fosse o aiatolá Khomeini. Nesta nova teocracia, não iria haver lugar para o partido comunista Tudeh. Após o derrube de Mossadeq, em 1953, o xá executara alguns dos seus líderes e outros fugiram do país. Dentro de pouco tempo, o destino do partido seria o de ser novamente esmagado, desta vez por Khomeini. Todavia, no Inverno de 1979, ainda era apoiado oficialmente pelo aiatolá, ainda que as paredes do gabinete de Nouredin Kianouri fossem as únicas em Teerão sem um retrato do imã. Havia um prato em cobre de Lenine por cima das escadas e o secretário-geral do Tudeh franziu o sobrolho quando lhe perguntei a razão por que o aiatolá não estava a olhar fixamente para baixo sobre a sua secretária. «O culto da personalidade não existe aqui no Irão», respondeu. «Não somos como os Ingleses, que têm um retrato da rainha pendurado em todas as salas.» Kianouri riu demasiado com a sua piada, ciente de que a semelhança era algo forçada. Era um homem rigoroso e com algum humor, a quem a cabeça calva, os olhos grandes e o bigode cinzento e denso dava um ar de personagem de grande romance francês, mas a linguagem política 154 Os Tapeteiros deste antigo professor da Universidade de Teerão e da Academia de Arquitectura de Berlim Leste tinha mais em comum com a Pravda do que com Zola. O Tudeh estava envolvido num «combate radical contra o imperialismo» e «o combate era pela reorganização da vida social, sobretudo a favor das camadas oprimidas da sociedade». O partido queria uma «democracia popular», e não a variante burguesa que era tão popular no Ocidente. Assim, na medida do possível, o Tudeh, o partido político mais antigo do Irão, queria as mesmas coisas que o aiatolá Khomeini. Esta era a teoria e Kianouri defendia-a com coragem. A verdade era que os pontos de vista do Tudeh sobre o novo Irão eram quase idênticos aos da União Soviética, a qual, de momento, estava do lado do aiatolá Khomeini. «Criticámos o establishment», disse Kianouri. «Criticámos a posição do Estado sobre a liberdade e os direitos das mulheres. Criticámos o fanatismo islâmico: somos contra as ideias não progressistas desses elementos conservadores. Mas para nós o lado positivo do aiatolá Khomeini é tão importante que o chamado lado negativo não significa nada. Pensamos que ele é um obstáculo ao fanatismo. Ele é mais progressista do que outros elementos.» Interrompi Kianouri. Há três meses, disse eu, Khomeini condenou o governo afegão de Hafizullah Amin, apoiado pelos Soviéticos, por combater os rebeldes muçulmanos. Não representava isto uma diferença de opinião? «Isso foi há três meses», respondeu Kianouri. «Mas agora a perspectiva do aiatolá é diferente. Está mais bem informado sobre a situação naquele país.» Então o aiatolá estava enganado? «Não utilizei a palavra ‘enganado’», corrigiu-me Kianouri. «Apenas disse que a perspectiva do aiatolá mudara e que sabe agora que o movimento contra-revolucionário muçulmano é um instrumento dos agentes americanos da CIA.» Não estaria uma voz soviética a dirigir-se a mim? Não seria o Tudeh apenas um porta-voz da União Soviética, como disseram os seus críticos? «Isso não é verdade. Os maus críticos em tempos acusaram Victor Hugo de ser um espião inglês e grandes figuras já foram consideradas agentes estrangeiros, porque esse é o género de insulto que é utilizado contra as forças que combatem o imperialismo. O Tudeh não é voz oficial da União Soviética.» No meu relato da entrevista para o The Times sugeri que o aiatolá poderia em breve aceitar com menos benevolência as ligeiras críticas do Tudeh. Só falhei no calendário. Seria em 1983, no auge da guerra Irão-Iraque, que Khomeini dirigiria a sua atenção «progressista» para o partido que queria a «democracia popular». Quando Vladimir Kuzichkin, um major do KGB estacionado em Teerão, desertou para a Grã-Bretanha, em 1982, entregou uma lista de agentes soviéticos que estavam a operar no Irão, lista que foi partilhada então com as autoridades do Irão. Mais de 1000 membros do Tudeh foram presos, incluindo Kianouri, que foi rapidamente convencido a confessar que o partido era «culpado de traição e espionagem a favor da União Soviética». Kianouri apareceu na televisão iraniana, dizendo que mantivera contactos com agentes soviéticos desde 1945 e que os membros do seu partido entregavam documentos militares e políticos altamente secretos à embaixada soviética em Teerão. Dezoito diplomatas soviéticos foram expulsos. Kianouri e a sua mulher, Mariam Firouz, foram condenados a dez anos de prisão. Ele morreu pouco depois de ter sido libertado. Assim acabou a esquerda no Irão. Foi apenas em Novembro de 1979 que, por fim, me sentei frente a Khomeini. Há muito tempo, quando a Grã-Bretanha possuía um império, o correspondente do The Times 155 A Grande Guerra pela Civilização teria a atenção e a simpatia dum homem de Estado ou dum senhor da guerra. Os xás e os príncipes pediriam para ser entrevistados. Mas um novo império garantia agora que eram os pivots de televisão americanos, os rapazes do The New York Times e os jornalistas que desempenhavam o papel de porta-vozes do departamento de Estado que conseguiam as entrevistas. O melhor que consegui fazer foi «ir a reboque», juntar-me aos homens da nova pax americana a quem os aiatolás – que tinham tanto faro para o poder como qualquer outro político – pretendiam falar. Por isso, fui a Qom com duas cadeias de televisão americanas, por cujos jornalistas – John Hart and Peter Jennings – eu nutria grande admiração, o que não sucedia em relação aos seus patrões. Era preciso ter coragem para um americano fazer reportagens sobre a revolução iraniana com compaixão e equidade. Eu viajara muitas vezes para Teerão em companhia de Hart. «Penso que podemos deixar que este jovem, o Bob, venha connosco, não achas, Peter?», perguntou bem alto Hart a Jennings, comigo ao lado. «Quer dizer, ele não nos vai atrapalhar e, aliás, sabe sempre bem dar uma mão àqueles pobres dos Britânicos. De qualquer forma, penso que o Bob vai ficar muito agradecido à América.» O sarcasmo era forçado, mas ele tinha perfeita consciência do meu estatuto menor na casta dos escribas. Estava uma bela manhã de Inverno naquele domingo quando nos aproximávamos de Qom, com as suas casas de telhados azuis e minaretes dourados a reflectir a luz. Penso muitas vezes que deveria ser esta a aparência das nossas cidades da Idade Média: um surgir repentino de espirais e de torres por cima dum monte ou ao longo dum vale. Antes de chegarmos às oficinas de reparação de automóveis, às garagens fechadas e às áreas pobres, Qom tinha um aspecto místico quando vista do deserto. Nas nossas reportagens não precisávamos de a adjectivar como «sagrada»: após quilómetros e quilómetros de dunas cinzentas de areias grossas, era um milagre de luz e poder. Podíamos compreender como os peregrinos, após dias e dias na inclemência das pedras, da gravilha e da areia poeirenta, olhariam para as cúpulas e os reflexos doirados no horizonte e sentiriam uma fé renovada. Allahu akbar. Descendo sobre cada praça, de todos os altifalantes da cidade chegava a mesma exortação. Uma vez, a meio dum seco dia de Verão, cheguei a Qom para entrevistar um dos seus clérigos e um estudante muçulmano – por acaso, um britânico que se convertera ao Islão – ofereceu-me água fresca numa taça brilhante de bronze. Enquanto levava a taça aos lábios, lá fora, para além da janela, um jacarandá cor-de-rosa oscilava com a brisa. Foi como se me enchessem de vida. Não surpreende que Khomeini tenha decidido regressar a Qom. Esta era a cidade donde atacou pela primeira vez o xá. Aqui nasceram e aqui morreram os primeiros mártires da revolução. Disseram que tivera uma vida humilde e tinham razão. Mostraram-me o quarto de Khomeini, um tapete grosseiro no chão, um colchão, uma almofada e um copo para o seu iogurte da manhã. Era um fenómeno interessante, este desejo oriental de mostrar a pobreza dos seus líderes. No Cairo, membros do Jemaa Islamiya, clandestino, deliciavam-se a mostrar-me os pardieiros onde passaram as suas vidas. Bin Laden ordenara aos seus homens que me mostrassem as tendas em que as suas mulheres iriam viver. Agora os guardas de Khomeini abriam a porta do quarto do ancião. Não havia palácios para o imã, porque, como verifiquei 156 Os Tapeteiros rapidamente, edificava os seus palácios com pessoas. Os seus fiéis – a adoração nas faces de dezenas de homens que pressionavam, empurravam, comprimiam e pontapeavam para abrir caminho em direcção à pequena sala de audiências de paredes brancas e nuas – eram os alicerces e os muros da sua mansão espiritual. Eram os seus servos e os seus guerreiros leais, os seus protectores e os seus guardas pretorianos. Deus tem de proteger o nosso imã. Mas a sua devoção ainda aumentou mais quando este proclamou que, pelo contrário, ele era o servo deles e, mais propriamente, que era o servo de Deus. Não o vi entrar na sala, embora se fizesse ouvir um grito de quase histeria entre a multidão quando ele entrou. Apenas o vislumbrei por um momento, avançando com a velocidade dum gato, um pequeno redemoinhar de vestes negras, com o seu turbante negro a mover-se entre as cabeças, e depois ficou sentado à minha frente, de pernas cruzadas, num pequeno tapete de padrão geométrico azul e branco, sem sorrir, grave, quase zangado, com os olhos postos em baixo. Tive sempre reacções más nestes momentos. Quando vi Yasser Arafat pela primeira vez – é verdade que não era nenhum Khomeini – fiquei hipnotizado pelos seus olhos. Que olhos tão grandes, tive vontade de dizer. Quando conheci Hafez al-Assad da Síria, fiquei cativado pela sua nuca totalmente plana, tão direita que poderia ter-lhe encostado uma régua sem registar qualquer afastamento. Passei uma noite a jantar com o rei Hussein, constantemente surpreendido por ele ser tão pequeno e irritado por não poder fazê-lo deixar de brincar com a cigarreira que estava na mesa que se situava entre nós. E agora aqui estava um dos titãs do século XX cujo nome permaneceria em todos os livros de história durante mil anos, o flagelo da América, o Savonarola de Teerão, o «décimo segundo» imã, um apóstolo do Islão. Olhei atentamente para o seu rosto e notei duas pequenas manchas na face e as sobrancelhas muito espessas, as olheiras, a barba completamente branca, a sua mão direita sobre o joelho e o braço esquerdo oculto na veste. Mas os seus olhos, esses eu não podia ver. A sua cabeça estava inclinada, como se não nos visse, como se não tivesse notado os ocidentais à sua frente, ainda que, para os homens pobres e suados que se empurravam na sala nós fôssemos o símbolo do seu poder e fama internacionais. Nós éramos os cônsules estrangeiros que chegaram à corte oriental e esperávamos para ouvir a palavra do oráculo. Qotbzadeh estava sentado à direita de Khomeini, olhando obsequiosamente para o homem que haveria mais tarde de o condenar à morte, com a cabeça inclinada na sua direcção, ansioso por não perder dele uma só palavra. Afinal, ele seria o seu intérprete. Então – queríamos nós saber –, o que se passa com os reféns da embaixada? Khomeini sabia que haveríamos de fazer tal pergunta. Ele percebia as estações de televisão. As suas últimas e cínicas observações sobre os jornais, nos últimos dias da sua vida, revelavam que também nos compreendia a nós, jornalistas. «Serão julgados», disse ele. «Serão julgados e os que forem considerados culpados de espionagem receberão o veredicto do tribunal.» Khomeini sabia – e, mais propriamente, nós sabíamos – que desde a revolução todos os que foram considerados espiões foram condenados à morte. Depois aconteceu o que sempre designei como técnica do «chão escorregadio», a súbita retractação num assunto que, pelo contrário, pareceria já estar 157 A Grande Guerra pela Civilização arrumado. «Seria apropriado dizer», continuou o aiatolá, «que enquanto aqui estiverem permanecerão sob a bandeira do Islão e não poderão ser molestados […] mas, obviamente, enquanto este problema persistir, ficarão, e até que o xá seja entregue ao nosso país eles podem ser julgados.» A extradição do xá para o Irão, segundo decisão de Khomeini, deveria dominar todos os aspectos da política externa do país. É claro que Hart e Jennings referiram o direito internacional, o respeito que todas as embaixadas devem merecer. A questão foi traduzida sotto voce por Qotbzadeh. A resposta de Khomeini foi tranquila, mas a sua voz era dura, como gravilha sobre o mármore. Foi o presidente Carter que violou o direito internacional ao manter «espiões» em Teerão. A imunidade diplomática não se aplica aos espiões. Pensava durante muito tempo antes de cada resposta. Neste aspecto tinha algo em comum com bin Laden, embora os dois homens tivessem poucos motivos para partilhar mais do que a sua herança islâmica, ela mesma dividida. Só quando utilizou a palavra «espionagem» a sua voz perdeu o tom monótono e ficou encolerizada. «Os diplomatas em qualquer país devem fazer trabalho diplomático. Não devem cometer crimes nem fazer espionagem […] Se fizerem espionagem então já não podem ser diplomatas. O nosso povo capturou um certo número de espiões e, segundo as nossas leis, devem ser julgados e punidos […] Ainda que o xá regresse, a libertação dos reféns será um gesto de benevolência da nossa parte.» Ainda procurava ver-lhe os olhos e nesse momento verifiquei que fixava um ponto no chão, uma simples emanação brilhante, um raio de sol que passava pelas janelas altas e sujas e formava um círculo de luz no tapete. A sua cabeça estava inclinada na sua direcção como se a própria luz trouxesse consigo alguma inspiração. O braço esquerdo permanecia oculto no seu manto. Estaria a olhar para aquele ponto iluminado pelo Sol por alguma razão teológica? Facilitaria a sua concentração? Ou estaria entediado, cansado das nossas perguntas ocidentais, com pedidos egoístas de informação sobre algumas dezenas de vidas americanas, quando milhares de Iranianos tinham sido ceifados na revolução? No entanto, ele tinha decidido o que diria muito antes da entrevista. Já saberia que três Americanos seriam libertados cinco horas mais tarde, dois elementos negros do contingente de fuzileiros que fazia a guarda da embaixada e uma mulher, Kathy Gross. Mas Khomeini regressava repetidamente à mesma linha de argumentação. De forma muito semelhante às estações de televisão americanas, parecia obcecado por um tema apenas: retaliação. Não iria fazer-nos uma pregação, não nos iria falar de Deus ou da história, nem, de facto, do seu lugar nela. «Carter fez algo contra o direito internacional: alguém cometeu um crime e esse criminoso deveria ser mandado de volta ao seu país para ser julgado.» A sua voz continuava a explicar-nos. «Enquanto Carter não respeitar as leis internacionais, estes espiões não poderão regressar.» Depois levantou-se, uma criatura que deixara de ter qualquer interesse por nós e os homens das primeiras filas caíram uns sobre os outros com a excitação da sua partida. Um dos nossos motoristas avançou, o nosso próprio tradutor curvou-se na direcção de Khomeini e sussurrou que seria o maior momento da vida terrena do motorista se ele pudesse apertar a mão do aiatolá, o motorista 158 Os Tapeteiros tomou a mão direita do imã e beijou-a e quando ergueu a cabeça as lágrimas corriam-lhe pela cara. E Khomeini saiu ¶. Isto não era apenas um anticlímax, era a transição do sublime ao ridículo. Quando um dos fuzileiros americanos libertados, o sargento Dell Maple, anunciou nessa noite que a revolução iraniana fora uma «boa coisa», foi quase tão interessante. Por isso, a partir deste momento decidi ler Khomeini, ler todos os discursos que proferisse – graças a Deus, o ministério da Orientação Islâmica inundava-nos com as suas palavras – para ver o que conquistara os corações de tantos milhões de Iranianos. Então, lentamente, compreendi. Ele usava a linguagem da gente comum, sem complicações, não a linguagem da exegese religiosa, mas como se estivesse a falar com o homem que se sentasse a seu lado. Não, embora não tivesse sabido quem era Osama bin Laden em 1979 – o saudita só iria para o Afeganistão no mês seguinte –, Khomeini sabia demasiado bem quais eram os perigos que a fé sunita dos Sauditas wahhabitas trazia aos xiitas, bem como ao mundo ocidental. Na sua famosa «última mensagem», precisamente antes de morrer, depois ter ouvido, provavelmente, o nome de bin Laden, Khomeini queixou-se amargamente das «ideias contrárias ao Alcorão que propagavam o culto infundado e supersticioso do wahhabismo» (14). Aliás, ele sabia como argumentar contra aqueles conservadores americanos que afirmavam, e afirmam ainda, que o Islão é uma religião de atraso e isolamento. «Afirma-se, por vezes, com argumentos explícitos e rudimentares, que as leis de há 1400 anos não podem servir para administrar o mundo moderno», escreveu ele. Noutras ocasiões, afirmam que o Islão é uma religião reaccionária que se opõe a todas as ideias e manifestações novas da civilização e que, actualmente, ninguém pode manter-se afastado da civilização mundial […] Na linguagem diabólica e louca própria da propaganda, asseveram a santidade do Islão e garantem que as religiões divinas têm por missão mais nobre a tarefa de purificar os egos, de convidar as pessoas ao ascetismo, ao monaquismo […] Isto não passa duma acusação estúpida […] A ciência e a indústria têm grande relevo no Alcorão e no Islão […] Estes indivíduos ignorantes devem reconhecer que o Sagrado Alcorão e as tradições do profeta do Islão contêm mais lições, decretos e mandamentos sobre o exercício do governo e da política do que sobre qualquer outro assunto […] ¶ Lições de jornalismo: quando nessa noite enviei de Teerão a minha reportagem, fiz questão de dizer ao The Times que deveria respeitar as duas estações de televisão norte-americanas e que em circunstância alguma deveria alterar a ordem em que eu colocara os nossos nomes no texto que enviara, com o meu a figurar no fim. O departamento internacional prometeu que iria assegurar-se de que assim seria. Depois, já a noite ia longa, um editor-adjunto pensou que o The Times deveria ter o seu próprio jornalista antes das estações dos Estados Unidos e alterou a ordem dos nomes, dando a impressão de que os Americanos tinham «ido a reboque» da minha própria entrevista. Amaldiçoei o jornal. Jennings, que morreria de cancro em 2005, amaldiçoou-me a mim. Levou dias até me perdoar pelo comportamento não profissional do The Times. . 159 A Grande Guerra pela Civilização Harvey Morris estava cheio de admiração por Khomeini quando entrei no seu gabinete para enviar a minha reportagem naquela noite de Novembro de 1979. «Tens de dar crédito ao velhote», disse ele, fumando outro cigarro. «Ele sabia bem como vos manobrar. Sim, o nosso ‘AK’ sabe exactamente como manobrar o género de masturbadores que lhes enviamos para o entrevistar. Não perde tempo com assuntos teológicos sérios que não iríamos entender. Vai direito ao assunto e fornece-nos os nossos malditos títulos.» No seu modo cínico, Harvey respeitava Khomeini. O aiatolá sabia como se dirigir a nós, tal como sabia como se dirigir aos Iranianos. Quando estes anunciaram a sua «Última Mensagem», após a sua morte em 1989, as palavras de Khomeini encarnavam a própria humildade. «Necessito das vossas orações e imploro o perdão e a absolvição de Deus Todo-Poderoso pelos meus erros e pelas minhas faltas», escreveu ele. «Espero que a nação também perdoe as minhas insuficiências e falhas […] Quero que saibam que a partida dum servo não deixará uma beliscadura sequer no escudo de aço que é a própria nação.» Percebia-se como os seguidores de Khomeini eram convencidos pela sua santidade a obedecer duma maneira quase ingénua. Recordo-me da maneira como Qotbzadeh me falou dele, com a sua voz a suavizar-se num sussurro quase feminino enquanto tentava convencer-me de que o descontentamento do aiatolá com o ritmo lento da revolução não envolvia nenhuma mudança de carácter. «O homem é tão santo como era, tão honesto como sempre tem sido, tão determinado como sempre foi e tão puro como tem sido sempre.» Este era o homem cuja execução Khomeini aprovaria. O que Qotbzadeh pensou em frente do pelotão de fuzilamento é coisa que nunca saberemos. «Então, de regresso ao ‘covil da iniquidade’, hem, Bob?» perguntou-me Harvey quando cheguei sem fôlego às instalações da Reuters para enviar o meu texto. O fumo dos cigarros era mais espesso do que o habitual. Havia outra garrafa de whisky na secretária. «Que tal estar novamente no ‘centro do vício e das saturnais’?» Harvey tinha razão, é claro. «Saturnais» era uma das palavras favoritas de Khomeini. Aliás, era fácil troçar da revolução iraniana, dos seus constantes sermões, da integridade inalterável e infindável das suas disputas, da sua autoconfiança infantil. No entanto, havia uma tal perseverança e uma tal assiduidade nesta revolução que podiam ser utilizadas com grande efeito logo que um alvo fosse claramente identificado. Nada poderia ter simbolizado melhor esta dedicação do que a reconstituição de milhares de documentos diplomáticos fragmentados que os Iranianos encontraram quando saquearam a embaixada americana. Uma mulher «seguidora do Islão» haveria de descrever mais tarde como um estudante de engenharia concluíra que os fragmentos de cada documento deveriam ter caído perto uns dos outros e poderiam, por isso, ser reconstituídos na sua forma original: Ele era um exemplo extremo de concentração: de barba, magro, nervoso e intenso. Estas qualidades, associadas ao seu grande conhecimento do inglês, à sua mente matemática e ao seu entusiasmo fizeram dele a pessoa perfeita para a tarefa […] Numa tarde pegou numa mão cheia de fragmentos que estavam no barril, colocou-os numa folha de papel branco e começou a agrupá-los de 160 Os Tapeteiros acordo com as suas características […] Após cinco horas apenas conseguíramos reconstruir entre 20% e 30% dos dois documentos. No dia seguinte visitei o centro de documentos com um grupo de irmãs. «Vejam. Com a ajuda de Deus, com fé e um pequeno esforço podemos realizar o impossível», disse ele com um sorriso (15). Uma equipa de 20 estudantes estava reunida a trabalhar nos papéis. Um quadro plano estava cheio de elásticos para manter os fragmentos no seu lugar. Podiam reconstruir entre cinco e dez documentos por semana. Eles eram os tapeteiros, refazendo cuidadosamente, quase amorosamente, os seus tapetes. Os tapetes persas são preenchidos com flores e pássaros, uma recreação do jardim do deserto. Destinam-se a dar vida a quem permanece na areia e no calor, a criar pastos eternos no meio da desolação. Os Iranianos que trabalharam durante meses naqueles documentos destruídos estavam a criar o seu próprio e singular tapete, um tapete que revelava o passado e era transformado num livro vivo de história, em contraste com a propaganda árida da revolução. Estudantes do liceu e veteranos de guerra deficientes eram arregimentados para trabalhar neste tapete de papéis. Levaria seis anos a completar, 3000 páginas que continham 2300 documentos, perfazendo finalmente 85 volumes (16). Noite após noite, à medida que cada edição era publicada, mergulhava nestes notáveis documentos, um arquivo vivo de história secreta contemporânea desde 1972 até ao caos do Irão pós-revolucionário, tendo por autora a nação que estava então a ameaçar este país com acções militares. Tínhamos o embaixador William Sullivan, em Setembro de 1978, a referir-se desdenhosamente à «coligação extremista de fanáticos muçulmanos liderados pelo aiatolá Khomeini no Iraque (que foi alegadamente infiltrado e é auxiliado por vários terroristas, criptocomunistas e outros extremistas de esquerda) […]» ou o xá, que «persiste em dizer que reconhece a mão soviética em todas as manifestações e distúrbios que ocorreram». Algumas das análises diplomáticas estavam completamente erradas. «Figuras como os aiatolás Khomeini e Shariatmadari […] têm poucas possibilidades de fazer valer os seus muitos seguidores para obter o controlo do governo», confidenciava um dos telegramas secretos. Outros documentos eram bastante incriminatórios. Robert R. Bowie, subdirector do National Foreign Assessment Center da CIA, agradece a Sullivan por ter organizado uma recepção em 14 de Dezembro de 1978 que lhe permitiu encontrar-se com o xá e «ter algumas conversas menos formais com diversos militares iranianos e pessoas da Savak». Um memorando com a mesma data, proveniente do consulado dos Estados Unidos em Isfahan, regista uma conversa com Ibrahim Peshawar, o director local da televisão iraniana, em que se pergunta a este «se era verdade que as suas equipas tinham feito a cobertura manifestação (*) a derrubar as estátuas do xá e se a tinha fornecido às forças de segurança para investigação. Ele disse que fora feita a cobertura, que a RTNI [Rádio e Televisão (*) Omitimos o termo «de», à semelhança da omissão de «of the» que ocorre no memorando e que o autor assinala. (N. T.) 161 A Grande Guerra pela Civilização Nacionais Iranianas] decidira não a exibir na televisão e que estes filmes são partilhados habitualmente com «outras agências do governo». Ele […] pediu-me para não divulgar isto.» Entre os documentos reconstituídos encontrava-se um livrinho da CIA de 47 páginas com a designação de «Secreto» e datado de Março de 1979 – escrito, portanto, já depois da revolução, mas esquecido incrivelmente nos arquivos da embaixada –, dedicado à estrutura interna dos «Serviços Secretos e de Informação Externa» de Israel. Os esforços de Israel para quebrar o «anel» árabe que cercava Israel, dizia o documento, levaram a que: uma ligação trilateral chamada organização Tridente […] criada pela Mossad com os Serviços Secretos Nacionais da Turquia (SSNT) e a Organização Nacional de Informação e Segurança (Savak) […] A organização Tridente envolve a contínua troca de informações e encontros semi-anuais (*) ao nível das chefias […] O objectivo principal da relação israelita com o Irão era o desenvolvimento duma política pró-israelita e antiárabe por parte dos funcionários iranianos. A Mossad envolveu-se em operações conjuntas com a Savak desde os anos 50. A Mossad auxiliou em actividades da Savak e apoiou os Curdos no Iraque. Os Israelitas também transmitiram aos Iranianos relatórios de informação sobre as actividades do Egipto nos países árabes, as tendências e os desenvolvimentos no Iraque e actividades comunistas que afectavam o Irão. Alguns dos memorandos internos revelavam uma percepção considerável dos acontecimentos políticos e compreendiam a cultura do Irão, ainda que este saber não fosse aceitável em Washington. George Lambrakis enviou em 2 de Fevereiro de 1979 um memorando ao departamento de Estado que chamava a atenção para o facto de que: Os porta-vozes do gov. iraniano impingiram durante muito tempo a acusação de que os seguidores de Khomeini são na sua maior parte criptocomunistas ou esquerdistas de linhagem marxista […] em grande parte baseia-se na fantasia de que os comunistas se infiltraram na juventude nas escolas religiosas e são agora os mulás e outros organizadores do movimento religioso […] A ocidentalização do Irão alcançou um estatuto e uma legitimidade durante o reinado dos dois monarcas Pahlavi que praticamente apagou as memórias do passado islâmico em grande parte da população que frequentou o sistema escolar ocidentalizado do Irão e fez a maior parte dos seus estudos superiores no estrangeiro […] os xás Pahlavi procuraram rotular o establishment islâmicocomo um resíduo do passado, reaccionário e ignorante, que se está a tornar rapi-damente obsoleto. Foram dados passos para que esta afirmação se tornasse um facto. O gov. tem feito esforços para que os mulás deixem de receber apoio financeiro do povo iraniano […] (*) Introduzimos um erro ortográfico análogo ao da citação e que o autor assinala. (N. T.) 162 Os Tapeteiros No entanto, tem-se tornado óbvio que o Islão está firmemente enraizado nas vidas da vasta maioria do povo iraniano. Na sua fórmula xiita, veio ao longo dos anos a identificar-se fortemente com o nacionalismo iraniano […] Os Pahlavi tentaram fazer suplantar este antigo nacionalismo por uma versão moderna que se baseia no regresso às tradições, lendas e glórias do passado pré-islâmico […] Uma avaliação feita pela embaixada à sociedade iraniana em 1978 é semelhante a um relato da sociedade iraquiana antes da queda de Saddam em 2003 – se os Americanos o tivessem lido antes da invasão do Iraque – e termina com conclusões com as quais Khomeini iria com certeza concordar: Há muita coisa na história iraniana que predispõe os governantes e os governados a exercer e a esperar um comportamento autoritário. Não há uma tradição de transferência ordeira da autoridade, não há experiência efectiva das formas democráticas […] Há no Irão […] uma tradição estabelecida dum governante forte à frente dum governo autoritário e de obediência geral a qualquer autoridade que manifeste a sua vontade pela força. A experiência do xá actual, por exemplo, sugere aparentemente que a estabilidade política do Irão é mais bem assegurada por um governo autoritário e que os períodos de maior instabilidade política surgem quando o governante […] partilha a sua autoridade, como sucedeu durante a crise Mossadeq de 1951-1953, ou tenta introduzir liberdades adicionais, como aconteceu com o programa de liberalização de meados dos anos 70 […] A incapacidade da sociedade iraniana para conseguir digerir estas mudanças sociais resulta em larga medida da influência da religião e dos líderes religiosos, que dura há longo tempo e é profunda […] O Islão xiita não é apenas uma religião, mas um sistema religioso, económico, legal, social e intelectual que controla todos os aspectos da vida. Por outro lado, acredita-se que os líderes da seita, ao contrário do que sucede com os correspondentes líderes do Islão sunita, completam na Terra as revelações de Deus. Embora este documento chegue a conclusões totalmente infundadas –«não se prevê que venham a reunir-se condições para que um governo controlado por líderes religiosos possa chegar ao poder», escrevem os seus autores –, já outros documentos contemporâneos revelavam uma notável perspicácia. John Washburn escreveria em 18 de Setembro de 1978 que «a repressão da religião no Irão tornou dogmáticos e conservadores os grupos xiitas predominantes à medida que se defendiam, tal como sucedeu com o catolicismo romano nos países comunistas.» Já em 1972, o então embaixador Richard Helms, ex-director da CIA, recebeu um extenso memorando «secreto» sobre o «carácter» iraniano que sugeria que as sucessivas humilhações nacionais tinham «inculcado na personalidade iraniana características acentuadamente negativas», mas «sob ocupação (árabes, Mongóis, Turcos) ou manipulação estrangeiras (Britânicos, Russos), os Iranianos conservaram o sentimento nacional através da sua cultura […] O mundo exterior era considerado justamente hostil». 163 A Grande Guerra pela Civilização Mas foram os esforços mais prosaicos dos diplomatas dos Estados Unidos que se aproximaram mais da verdade. Uma nota dos consulados americanos no Irão, de 21 de Novembro de 1978, dava conta da opinião pública fora de Teerão. «Por que razão, pergunta-se, precisará o Irão de aviões F-14 quando os aldeãos a menos de cinco quilómetros da base da Força Aérea de Tadayon, em Shiraz […] ainda vivem sem água corrente e electricidade?» ¶ O que nenhum dos ficheiros da embaixada dos Estados Unidos previu foi a brutalidade da revolução iraniana, a extraordinária crueldade que se manifestava entre os chamados juízes e juristas, que estavam predispostos a torturar e a matar mais por capricho do que por reflexão. No final da guerra Irão-Iraque, que durou oito anos, este modo de proceder atingiu o seu auge com os enforcamentos em massa de milhares de opositores presos. Mas as suas características tornaram-se muito evidentes alguns dias após o derrube do xá e ninguém lhes deu ênfase duma maneira mais arrepiante do que o juiz supremo dos tribunais islâmicos, o hojatolislam Sadeq Khalkhali, o Gato, que me disse em Dezembro de 1979 como pensava «enforcar» o xá. Quando disse isto, e apesar da sua reputação de ferocidade, comecei por pensar que se tratava duma brincadeira, um chavão, um observação inócua. Evidentemente, não se tratava nada disso. Os Guardas Revolucionários que se sentavam ao redor de Khalkhali, quando visitei pela primeira vez o hojatolislam, tinham sido todos feridos na luta contra os rebeldes curdos no Noroeste do Irão. Fazia calor na pequena sala de Qom. O religioso tinha óculos e vestia apenas umas calças largas e um manto branco. «O senhor é do The Times, de Londres?», perguntou ele, olhando na minha direcção. «Bem, olhe para estes homens.» Fez uma pausa e depois começou a rir nervosamente e em tom muito alto. «Os rebeldes fizeram isto. Vou arrancá-los pela raiz, vou matá-los a todos.» Na verdade, Khalkhali não parecia adequado a esse papel. Era um homem pequeno com um sorriso amável – parecia que todos os juízes islâmicos desta altura sorriam bastante –, que contradizia quando fazia piadas deslocadas. Quando duas semanas antes um jornalista lhe perguntou o que sentia por o número de execuções no Irão estar a diminuir, respondeu com um riso abafado: «Sinto-me zangado.» Contudo, seria um erro grave imaginar que o juiz mais temido do Irão – a «ira de Deus», para os seus admiradores – não levava a sério a sua vocação. «Se um juiz islâmico vê que alguém é culpado de corrupção na Terra ou de fazer guerra contra Deus», disse ele, «o juiz condenará o acusado, mesmo que este afirme estar inocente. A coisa mais importante na justiça islâmica é a sabedoria do juiz […] Ainda que um homem negue a acusação que lhe é (¶) Parecia não haver fim para estas revelações. Entre os últimos documentos divulgados pelo governo encontravam-se os de natureza secreta inexplicavelmente abandonados no deserto oriental do Irão, em 24 de Abril de 1980, quando os Americanos abortaram a sua tentativa de resgatar os reféns da embaixada, após um Hércules C-130 e um helicóptero terem colidido, matando oito soldados americanos. Os documentos, publicados sob a forma de livro pelos Iranianos e onde se incluíam fotografias medonhas dalguns dos corpos calcinados dos Americanos mortos, continham dezenas de fotografias feitas a grande altitude e por satélite da cidade de Teerão e campos de aterragem de emergência iranianos, mapas, coordenadas e palavras em código que os salvadores deveriam utilizar nas suas transmissões para o porta-aviões americano Nimitz. 164 Os Tapeteiros dirigida, isso nada significa se o juiz decidir doutra forma.» O hojatolislam Khalkhali, como é natural, não tinha tempo para os jornalistas que perguntavam por que razão tinham sido executados tantos iranianos depois da revolução. «As pessoas que foram executadas eram os principais usurpadores do odiado regime anterior. Eles exploraram esta nação. Foram responsáveis por assassinatos, torturas e prisões ilegais. Acho surpreendente que me faça tais perguntas.» Khalkhali mostrava também pouca paciência quando lhe perguntavam se a sua determinação, muito publicitada, de planear o assassínio do antigo xá estava conforme os princípios da justiça islâmica. «Sabemos que a América não irá entregar o xá», disse ele, com um notável realismo, devemos reconhecer, «por isso, temos de o matar. Não há alternativa. Se fosse possível trazê-lo aqui e julgá-lo, matá-lo-íamos depois. Mas como não o podemos julgar, e como estamos certos de que deveria ser executado, vamos matá-lo de qualquer forma. Ninguém julgou Mussolini. E quem julgou os franceses que foram executados por terem colaborado com os soldados de Hitler na II Guerra Mundial?» Enquanto ele falava, os Guardas Revolucionários massajavam os seus membros feridos, ou o que deles restava, e exercitavam as suas mãos artificiais. A chiadeira e os estalidos dos dedos de aço pontuavam a conversa, enquanto Khalkhali andava à volta da sala sem sapatos nem meias ou massajava os pés. O que sentia ele pessoalmente, perguntei, quando condenava um homem à morte? «Sinto que estou a cumprir o meu dever e o que de mim exige o povo iraniano. Essa é a razão por que nunca fui criticado por estas execuções.» Mas não recusara ele a Hoveyda ou a Nassiri, o ex-chefe da Savak, qualquer direito a apelar da sentença de morte? «Eles apelaram», replicou. «E também pediram ao imã e ao tribunal para lhes perdoar. Muitos vieram ter comigo e pediram-me para perdoar a estas pessoas. Mas eu era responsável perante a nação iraniana e perante Deus. Não podia perdoar Hoveyda e Nassiri. Eles destruíram as vidas de 60 000 pessoas.» Segundo disse, mandara um pelotão de comandos ao Panamá, onde o xá permanecia então com a sua família, para os matar todos. «Não sei se já saíram do Irão», acrescentou, e depois voltou àquele familiar sorriso abafado à medida que se aventurava a falar espanhol. «Todos eles têm pistolas». Desde o assassinato do sobrinho do xá, em Paris, duas semanas antes, a Interpol e as vítimas visadas por Khalkhali passaram a prestar muita atenção às ameaças do juiz. Aliás, Khalkhali apresentou gentilmente a lista dos alvos dos seus pelotões. «Estamos à procura de Sharif Emami [ex-primeiro-ministro], do general Palizban, de Hushang Ansari [ex-ministro das finanças], Ardeshir Zahedi [ex-embaixador em Washington], Gholamali Oveisi [ex-administrador da lei marcial], Gharabagi [ex-chefe de Estado-Maior do Exército do xá], Farah [a ex-imperatriz], Hojab Yazdani [ex-banqueiro], Valian [ex-ministro da Agricultura], Jamshid Amouzegar [ex-primeiro-ministro] e Shapour Bakhtiar [o último primeiro-ministro do xá, que vive agora em Paris]. Também queremos o xá e o seu irmão e Ashraf [a irmã gémea do xá]. Onde quer que os encontremos, matá-los-emos.» Khalkhali não tinha vergonha de nomear publicamente a sua própria «lista de alvos» e era óbvio que falava a sério. Mais duma década depois encontrar-me-ia com o chefe do esquadrão da morte enviado a Paris para assassinar Bakhtiar. Pensa que Khalkhali era verdadeiramente a «ira de Deus?», perguntei. «Cresci na pobreza e por isso posso compreender 165 A Grande Guerra pela Civilização a gente pobre. Sei tudo sobre o regime anterior. Tenho lido livros sobre política. O imã ordenou-me que fosse o juiz islâmico e fiz um trabalho perfeito. Por isso é que nenhum dos agentes do xá no Irão escapou às minhas mãos.» ¶ Só sete meses depois é que veria novamente Khalkhali. A sua reputação monstruosa não fora afectada por uma redução temporária do número de execuções. Em Julho de 1980, a sua ira caía sobre novos e mais ricos pastos. Esta formidável luminária judicial estava agora no pátio ensolarado da prisão de Qasr, brandindo uma pequena colher de plástico cor-de-rosa, dando estalidos com os lábios e atacando um grande recipiente de cartão com gelado de baunilha. Para um homem que acabava de ordenar a primeira execução pública em Teerão ao fim de 15 anos estava com uma excelente saúde mental. Cinco dias antes, criara-se um novo e horroroso precedente quando quatro pessoas, sendo duas delas mulheres casadas de meia-idade, foram apedrejadas até à morte na cidade de Kerman, no Sul do Irão. Tinham sido todas condenadas por crimes sexuais por um dos tribunais revolucionários de Khalkhali e passadas algumas horas os condenados foram vestidos de branco, enterrados até ao peito e bombardeados com pedras do tamanho de punhos. Com um comentário característico e tipicamente desnecessário, o tribunal afirmou mais tarde que os quatro tinham morrido de «danos cerebrais». As mulheres foram condenadas por estarem «envolvidas em prostituição» e por «enganarem raparigas». Um dos homens foi condenado por homossexualidade e adultério e o outro por ter alegadamente violado uma menina de dez anos. Antes da execução, os quatro tomaram um banho ritual e as suas cabeças foram cobertas com um véu branco cerimonial. Os clérigos locais visitaram os condenados e escolheram as pedras destinadas à execução, que tinham entre 2,5 cm e 15 cm de diâmetro. As duas mulheres e os dois homens levaram 15 minutos a morrer ¶¶. «Não sei se aprovo o apedrejamento», disse Sadeq Khalkhali, esboçando um sorriso na direcção dos jornalistas e dum grupo de diplomatas incomodados que também fora convidado para a prisão de Qasr. «Mas no Alcorão diz-se que os que cometem adultério devem ser mortos por apedrejamento.» O hojatolislam mergulhou a sua pequena colher no gelado branco que derretia, ignorando os prisioneiros de cabeça descoberta que caminhavam atrás de si e que puxavam barricas carregadas com caldeirões de sopa de hortaliças. «Concordamos com tudo o que diz o Alcorão. Qual é a diferença entre matar as pessoas com pedras ou matá-las com balas? No entanto, atirar pedras dá com certeza uma lição às pessoas.» Khalkhali recusou modestamente a responsabilidade pelos apedrejamentos de Kerman (o seu barbudo das relações públicas informou-nos que fora um homem chamado Fahin Kermani que tomara esta ponderosa decisão), mas concordou que tinha ordenado mais Quando morreu do coração e de cancro em 2003, pensava-se que Khalkhali enviara para a forca e para os pelotões de fuzilamento pelo menos 8000 homens e mulheres. ¶¶ Tanto quanto se sabe, esta foi a primeira vez que muçulmanos foram apedrejados até à morte [lapidação] no Médio Oriente após um processo em tribunal. O apedrejamento foi um castigo comum nas aldeias do Irão e doutros países islâmicos durante centenas de anos e no século XIX membros da seita minoritária bahai foram mortos em Shiraz e Teerão. Todavia, morreram às mãos das multidões, não após um processo judicial. As prostitutas eram apedrejadas até à morte muito antes do tempo do profeta Maomé e a Bíblia descreve como Jesus Cristo tentou pôr cobro a esta prática. ¶ 166 Os Tapeteiros algumas execuções naquela manhã. Sete homens foram alinhados num dos topos da Rua Jamshid, às cinco horas, e abatidos por um pelotão de fuzilamento, enquanto uma grande multidão olhava à distância. Muitos dos que morreram foram condenados por crimes relacionados com droga e foi no seu papel de chefe do esquadrão iraniano antidroga e para que víssemos a sua última apreensão de contrabando que o hojatolislam nos recebera na prisão de Qasr. Tínhamos de ficar impressionados. Khalkhali juntara-a na mesquita da prisão, um edifício magnificente, com frescos e uma cúpula de azulejos vermelhos e azuis, que estava agora cheia com toneladas de ópio, sacos de quilo de heroína, grandes barras pegajosas de haxixe, frigoríficos roubados, tabuleiros de gamão com ornamentações gravadas, uma parede de 2,5 metros de cigarros – nesta altura pensei por momentos em Harvey Morris e na sua «saturnália» na Reuters – milhares de narguilés, tapetes, facas, espingardas automáticas e filas de garrafas de champanhe (Krug 1972). A bela mesquita tresandava literalmente a haxixe enquanto Khalkhali dava uma volta triunfal ao seu saque, abrindo caminho por entre 20 toneladas de ópio e pelo menos 100 quilos de heroína, tudo rigorosamente metido em sacos brancos limpos. Era inevitável que lhe perguntassem se os tribunais revolucionários estavam a lidar com suficiente entusiasmo com os traficantes de droga e era igualmente inevitável que o hojatolislam ostentasse um grande sorriso – dirigido aos diplomatas – antes de responder. «Se fizéssemos o que outros pretendiam de nós, teríamos de matar muitas pessoas, o que, na minha opinião, era simplesmente impossível», disse ele. «As coisas teriam acabado numa crise. Se fôssemos matar todas as pessoas que tivessem cinco gramas de heroína, teríamos de matar 5000, e isso seria difícil.» Honra lhe seja feita, há que dizer que o aiatolá começara bem. Nas últimas sete semanas, os seus tribunais enviaram sumariamente 176 homens e mulheres para os pelotões de fuzilamento por crimes relacionados com narcóticos, muitos deles condenados pelo próprio Khalkhali no inocente edifício de cimento situado à sombra das árvores e a 300 metros da pequena mesquita. Khalkhali fazia grandes esforços para não parecer um ogre. Negou repetidamente que fosse tal coisa. A sua pequena barba cinzenta, de contorno arredondado, e os olhos a piscar conferiam-lhe uma aparência paternal. Era o tipo de homem que se imaginaria talvez em casa, junto à lareira, de pantufas e o gato de família a ronronar a seu lado – pelo menos enquanto o gato de família permanecesse vivo. Gracejou frequentemente connosco enquanto fazia o circuito da mesquita, enfiando com bom humor o dedo nos sacos de ópio que estavam por baixo da cúpula principal. Mais ou menos de minuto a minuto um jovem de camisa verde-claro e com uma pistola enfiada nas calças subia para uma pilha de sacos de heroína e gritava «Deus é grande» a plenos pulmões, refrão que era retomado e ecoava por toda a mesquita. «Se olharem para mim, não vêem transparecer na minha cara qualquer luta interior», observou Khalkhali enquanto se dirigia para o sol. «Todavia, sou realmente uma pessoa revolucionária. Persigo agentes em toda a parte: em França, na Inglaterra e na América. É um facto. Persigo-os em toda a parte.» Reivindicou um «êxito de 200%» em acabar com a circulação de droga e uma vitória a 80% na prevenção do tráfego internacional de droga. Essa fora a razão por que os diplomatas tinham sido convidados a ouvir o juiz na prisão de Qasr. Disse que uma máfia intercontinental estava a dirigir um circuito de droga a partir do 167 A Grande Guerra pela Civilização Paquistão, da Birmânia e da Tailândia e relatou como um membro da família do ex-xá usou alegadamente um avião privado para transportar droga do Afeganistão para um pequeno aeroporto nos arredores de Teerão. O ópio apreendido, disse ele, poderia ser utilizado pelo governo para fins medicinais, o haxixe e a heroína seriam queimados. Com um passo enérgico, o hojatolislam dirigiu-se do pátio para uma vedação em arame, mas aconteceu algo muito estranho ao fazê-lo. Dezenas de mulheres com véus negros − as mulheres e irmãs dos homens que o aiatolá iria em breve condenar, correram por um relvado em direcção a ele, abraçando bebés e chorando, «Viva Khalkhali». O hojatolislam fingiu não as ter visto enquanto os soldados as mantinham à distância e continuou o seu caminho por um portão da vedação. Durante alguns momentos, falou em realizar uma conferência de imprensa formal e em seguida entrou no seu estreito tribunal. Mas depois um polícia dirigiu-se a nós e disse-nos que o juiz tinha ficado «furioso». Pensando que a fúria do hojatolislam poderia atingir um ou dois jornalistas, demos apressadamente por findo este extraordinário evento público. Fugimos ¶. Para os ocidentais, Khalkhali representava um perigo especial. Se os reféns americanos da embaixada fossem julgados por um tribunal islâmico, o que sucederia se Khalkhali tivesse mão livre em relação a eles? Todas as promessas de protecção por parte de Khomeini podiam ser reinterpretadas, porque naquela altura os documentos da embaixada estavam a ser lentamente reconstituídos e mostravam que as afirmações iranianas de que havia em Teerão um «ninho de espiões» não careciam totalmente de fundamento. Por isso, quando o xá se mudou dos Estados Unidos para o Panamá, viagem acerca da qual os Iranianos foram previamente avisados por três diplomatas ocidentais a pedido de Washington, os «estudantes do imã» divulgaram um comunicado que repetia a promessa de «julgar» os Americanos ¶¶. Por fim, é claro, não houve julgamento. Como seria inevitável, os Iranianos perderam a paciência com os jornalistas estrangeiros que estavam em Teerão. No dia a seguir ao comunicado sobre o «julgamento», Abolhassan Sadeq entrou no ministério iraniano da Orientação Islâmica com a expressão inquieta de um professor obrigado a enfrentar, por fim, uma turma continuamente rebelde. Harvey Morris, envolto no seu habitual fumo de cigarro – felizmente para ele, isto aconteceu mais de 10 anos antes de o Irão banir o tabaco dos edifícios públicos –, sabia o que estava para acontecer. «Bem, Fisky, vamos ver quem é que vai levar hoje o pontapé», Eu estava a gravar para a rádio CBC o périplo de Khalkhali pela prisão e na cassete do meu arquivo ainda é possível ouvir os lábios do hojatolislam a dar estalidos enquanto comia o seu gelado e analisava os aspectos mais delicados do apedrejamento. ¶¶ Todo o sabor deste comunicado algo portentoso, divulgado em inglês pela Agência Noticiosa Pars, em 16 de Dezembro, se pode verificar no seguinte excerto: «Em nome de Deus, o compassivo, o misericordioso, e da nação islâmica do Irão, o Grande Satã, os Estados Unidos, esta origem da <ocidental corrupção>, após ter sido derrotado pela nossa grande nação, está a tentar dar asilo ao seu servo corrupto, o xá desertor, e para evitar que a justiça seja feita […] Para sair do grande impasse em que caiu e enganar a sua própria nação, os EUA iniciaram um esforço fútil e enviaram o criminoso Mohamed Reza para fora dos EUA e enviaram-no para a sua <morioneta> Panamá. <Aquie> anunciamos que, para revelar as conjuras traiçoeiras dos EUA criminosos e os punir, os reféns espiões serão julgados.» [Introduzimos entre <> uma expressão e erros ortográficos análogos aos do comunicado e que o autor assinala. (N. T.)] ¶ 168 Os Tapeteiros murmurou ele. O ministério tinha um auditório subterrâneo que, de forma inquietante, se parecia com o hall de entrada de uma escola e ali ficámos à espera de ouvir o pior. Sadeq, o director da escola, tomou o seu lugar à secretária sobre um pequeno estrado e olhou para nós com severidade. Todos sabíamos que uma expulsão ou duas estariam no ar. «Meus senhores», começou ele – Harvey gostava sempre daquela parte dos «meus senhores» –, «pretendo partilhar convosco um pouco das tribulações por que passamos com os meios de comunicação estrangeiros. Com grande pesar nosso, vamos expulsar do Irão todo o pessoal da revista Time.» Pouco importava que «todo» o pessoal da Time no país se resumisse a duas pessoas. Não era assim que Sadeq via as coisas. Havia mais de 300 jornalistas estrangeiros no Irão, provenientes de mais de 30 países, disse ele, mas a Time foi longe de mais. Apresentou um maço de capas da revista prevaricadora, uma das quais ostentava um retrato pouco favorável de Khomeini. «Desde que surgiu o problema dos reféns», disse Sadeq, agitando na mão o último número da Time, «isto não fez mais do que incitar o ódio do povo americano. As capas têm sido como martelos a bater nos cérebros. A revista provocou uma reacção algo irracional por parte do povo americano.» A Time não foi o único órgão de comunicação social a sentir a ira iraniana. Oito dias antes, Alex Eftyvoulos, um correspondente da Associated Press – um barbudo cipriota meio russo, parecido com Rasputine – fora expulso por ter alegadamente distorcido notícias de insurreições na capital provincial azeri de Tabriz. Até os Britânicos foram vítimas da ira iraniana. No início de Dezembro, Enayat Ettehad, da televisão iraniana, estivera a ver a BBC News num hotel londrino e ficou zangado com uma reportagem sobre os reféns em que Keith Graves descrevia o pormenor desagradável de como as suas mãos estavam atadas com cordas e estavam proibidos de falar entre si ou de receber notícias do mundo exterior. Não fiquei surpreendido. Nas duas décadas e meia que se seguiram, Graves provocaria a fúria dos talibãs, do exército israelita, do governo dos Estados Unidos, do IRA, do exército britânico, da NATO, dos Egípcios, da OLP, do Hezbollah, dos Sírios, dos Turcos e até dos Cipriotas – neste último caso, um feito surpreendente até para um homem tão corrosivo como Graves – e sobreviveu a todos. Mas foi a BBC a pagar a factura. Ettehad deu ordens à televisão iraniana para negar às equipas da BBC a utilização dos equipamentos de satélite. A BBC viu-se obrigada a enviar a sua película não editada por via aérea para Londres, onde chegava habitualmente um dia mais tarde. Era evidente, contudo, que Ettehad estava muito mais inquieto pelo serviço radiofónico da BBC em língua persa e Sadeq brandiu acima da cabeça um maço de papéis: queixas, vindas de «todo o Irão», afirmou ele, contra o serviço persa. Sadeq estava seguro nas suas diatribes. Referiu-se em voz alta ao facto de um dos dois correspondentes da Time ter trabalhado em tempos para a CIA. «Apesar disso, deixei-o entrar no Irão.» Estava a referir-se a Bruce van Voorst, que trabalhou como funcionário de investigação da CIA no final dos anos 50, mas que dizia agora ter cortado todos os laços com a agência, cujas actividades no Irão eram naquele momento uma obsessão nacional, graças aos documentos da embaixada. A estação americana CBS tinha problemas por ter comparado os estudantes na embaixada ao grupo alemão Baader-Meinhof, a ABC devido 169 A Grande Guerra pela Civilização a uma análise do departamento de Estado «que faria com que qualquer iraniano parecesse um idiota». Mas havia uma certa mesquinhez na resposta do governo às coberturas jornalísticas estrangeiras. Era uma reacção emocional que provinha mais da ira patriótica do que da reflexão. Sadeq, que era dado a argumentar com semelhanças inadequadas relativamente a acontecimentos da história americana, revelou isso mesmo inconscientemente quando nos recordou que «em 1834, o coronel Travis defendeu o forte Álamo contra o exército mexicano e quando lhe pediram para se render respondeu com disparos. Foi fiel a princípios. Ora, isso é o que o Irão hoje faz.» Ouvi o suspiro de Harvey. «Santo Deus!», exclamou. «Julgava que Travis tinha perdido o raio da batalha do Álamo.» A revolução era uma tempestade e nós fomos apanhados na sua voragem. Entrevistámos Khomeini, vimos as manifestações épicas, vimos a América a contorcer-se de impotência. Os navios de guerra dos Estados Unidos fizeram a sua entrada no Golfo. Khomeini fez apelo a um exército de dezenas de milhares de voluntários em idade escolar para defender o Irão. Regressei do Curdistão iraniano num autocarro em que os passageiros passaram uma hora a ver um programa educativo sobre armas, na televisão especialmente instalada no autocarro: como desmontar e montar uma espingarda automática, como puxar a cavilha dum granada, como dominar o mecanismo duma metralhadora pesada. Fiquei a balançar na traseira do autocarro enquanto a assistência via, silenciosa e atenta. Hoje, pensei, vão dizer o nome das peças. No entanto, eu procurava uma maneira diferente de fazer as reportagens sobre o Irão, à margem dos acontecimentos que eram encenados com tanta obstinação para nosso benefício e, sobretudo, dos jornalistas televisivos americanos. Eu estava nas instalações de Harvey a olhar atentamente para o mapa manchado do Irão que havia na parede quando tive uma ideia. E se fechasse os olhos e espetasse um alfinete no mapa, fosse depois ao lugar assinalado e perguntasse às pessoas de lá o que pensavam da revolução? «Fecha os olhos que eu dou-te um alfinete», disse Harvey. «Aposto que vais pregá-lo no maldito Afeganistão.» Deu-me um alfinete, fechei os olhos, espetei o mapa e abri os olhos novamente. A pequena farpa prateada tinha aterrado no «h» duma aldeia chamada Kahak, a sudoeste da cidade de Qazvin. Parti na madrugada do dia seguinte. Kahak era o género de sítio que nunca ninguém visitaria. Era um rectângulo de casas dum só andar, feitas de lama e barro, no final duma estrada poeirenta, onde apenas havia a tagarelice das crianças e um monte de dejectos debicados por galinhas gordas a dar as boas-vindas a qualquer estranho. Através do pó e da neblina quente a norte, as montanhas Alborz estendiam-se pelo horizonte, formando o limite sul da bacia do mar Cáspio. Os estrangeiros nunca viram Kahak, excepto, talvez, os passageiros do comboio nocturno que se dirige para a fronteira soviética, evitando os pomares da aldeia. Mesmo naquela altura, era duvidoso que vissem alguma coisa. Kahak era tão pequena que os seus 950 habitantes nem sequer podiam sustentar uma mesquita que fosse deles. Tinha de vir de Qom um homem prematuramente envelhecido de 64 anos com um pingo de suor a correr-lhe pela cara, desde o turbante, e com a frente da camisa coberta de pó, para prestar assistência religiosa aos fiéis. No entanto, era um homem capaz de revelar uma energia extraordinária ao caminhar agilmente em volta dos montes de estrume e charcos de água fétida e dourada, falando da 170 Os Tapeteiros aldeia dum modo possessivo, levemente retórico e quase em jeito de sermão, com a voz a subir e a descer com as cadências dum discurso formal, e não duma conversa. O que é que a revolução fez por estas pessoas, perguntei eu, e o xeque Ibrahim Zaude apontou para os terrenos duros e sem água para lá das cabanas de lama, um deserto de terra cinzenta e infértil. «Os aldeãos possuem tudo o que há de ambos os lados da estrada», disse ele. «Mas desconhecem a quantidade de terra que têm». O calor vibrava e dançava nas valas de irrigação secas. Não havia registos de propriedade, não havia documentos nem contratos legais em Kahak, porque os proprietários tinham partido. O momento dessa partida era algo que preocupava o xeque Zaude. «No regime anterior», explicou ele, «havia dois grandes proprietários: Habib Sardai e Ibrahim Solehi. Os aldeãos viviam em condições muito difíceis. Alguns deles eram tão pobres que tinham muitas dívidas, mas Sardai e Solehi vinham cá e levavam os seus cereais em pagamento. Recordo-me de ver estes aldeãos ir a outras aldeias para recomprar os seus cereais a altos preços. Por isso, o povo tinha de pedir dinheiro emprestado e de pagar depois juros sobre os empréstimos.» Mais de uma dúzia de aldeãos se reuniram à minha volta enquanto o xeque Zaude continuava a falar. Eram gente pobre, a maioria de origem turca, com as maçãs do rosto brilhantes e ossos salientes. Os seus coletes cinzentos estavam rotos e tinham as calças puídas nos locais em que as pedras e os espinhos dos campos roçavam por elas. Calçavam sandálias baratas de plástico. Havia apenas uma rapariga entre eles. Tinha 13 anos de idade e cabelo escuro que se enrolara num xador rosa e cinzento como se fosse um sudário. «Então as coisas melhoraram para nós», disse o xeque Zaude. «Sardi e Solehi foram-se embora devido à reforma agrária.» Não se registara qualquer mudança perceptível na face do mulá. A pergunta era sobre a revolução islâmica daquele ano, mas ele falava da «revolução branca» do xá, que acontecera 17 anos antes quando as leis de reforma do monarca cercearam aparentemente o poder dos grandes proprietários. As propriedades privadas foram redistribuídas e os proprietários podiam ficar apenas com uma aldeia. Os agricultores pobres foram, por isso, integrados na economia, embora a maioria dos trabalhadores manuais e dos trabalhadores rurais nada tivesse beneficiado. Kahak, como era evidente, não beneficiou inteiramente com a «revolução» do xá. «Houve coisas boas para nós com as reformas», disse o xeque Zaude. «O número de ovelhas que eram propriedade dos aldeãos subiu de 2000 para 3000. Mas a própria aldeia, em vez de ser propriedade de dois homens era agora dirigida pelo agente do governo, um homem chamado Darude Gilani, um capitalista de Qazvin. Era um homem mau e recebia as rendas exigindo metade das colheitas dos aldeãos.» Havia um velho com o queixo por barbear e uma catarata no olho esquerdo que agora caminhava à frente dos aldeãos. Olhando para a sua camisa amarela suja e os sapatos rotos, nunca imaginaria que Aziz Mahmoudi fosse o chefe da aldeia e o agricultor mais importante. Olhou para o mulá por um momento e disse muito lentamente: «Darude Gilani está agora na prisão de Qazvin.» Mahmoudi atravessou o largo da aldeia, seguido por uma pequena multidão de crianças da escola. Apontou para uma casa de lama a desfazer-se, fortificada e de dois andares, um signo de opulência entre tantas dificuldades. «Era aqui que Solehi vivia», disse ele, fazendo gestos em direcção das janelas partidas. «Agora Gilani também se foi embora. Não irá regressar.» Não havia razão para Gilani regressar, mesmo que o 171 A Grande Guerra pela Civilização deixassem sair da prisão, porque no primeiro dia da revolução do passado mês de Fevereiro, quando os aldeãos assistiram numa pequena televisão a preto e branco à rendição do exército do xá em Teerão, foram para os campos que Gilani ainda possuía dos dois lados da linha de caminho-de-ferro. Neles plantaram o seu próprio centeio como um símbolo de que a revolução chegara a a Kahak. Por cima do quadro negro da escola estreita e de paredes de argila estava um cartaz do aiatolá Kohmieni. Representava o imã debruçando-se sobre as barras de uma prisão enquanto atrás dele milhares de prisioneiros iranianos aguardavam pacientemente por ser libertados. Um após outro, os rapazes da turma do 7.º ano levantaram-se e afirmaram a sua admiração por Khomeini. Jalol Mahmoudi tinha doze anos, mas falava da corrupção no regime do xá, Ali Mahmoudi, que, com 14 anos de idade, era chefe da turma, lançou-se num longo discurso sobre afabilidade do imã com as crianças. «Gosto muito do aiatolá, porque no anterior regime eu não era bem ensinado. Agora, há três aulas extra e podemos ficar mais tempo na escola.» Podia esperar-se que o mestre Ali recebesse um calduço de todos os seus colegas devido a este entusiasmo de aluno, mas os outros miúdos ficaram calados até lhes pedirem para falar. Penso, aliás, que se tivesse visitado a mesma aldeia após o golpe de 1953 contra Mossadeq, em que «Monty» Woodhouse desempenhara um papel tão importante, teria ouvido os pais destas mesmas crianças a falar da corrupção de Mossadeq e da amabilidade do xá com as crianças. Karim Khalaj era um professor a caminho dos 50 anos e pouco disse quando nos sentámos na sala do pessoal. Encheu copos de chá dum grande samovar de prata e adoçou o seu, bebendo-o com pequenos goles e mordiscando pedaços de açúcar ao mesmo tempo. Lá fora, caminhámos pelos campos poeirentos em direcção à linha de caminho-de-ferro. Foi preso durante um curto período na época do xá. Foi despedido do emprego por se ter queixado do suborno dum professor público. O vento estava a levantar-se e as árvores do pomar agitavam-se. Um círculo longínquo de fumo e nevoeiro descia sobre o horizonte. Mais de 25 anos antes, «Monty» Woodhouse deve ter enterrado as suas armas algures nas proximidades de Kahak. «Houve algum aldeão que tivesse apoiado o xá?», perguntei eu a Khalaj. «Nenhum», disse ele com firmeza. «Pelo menos nunca conheci ninguém que o tivesse feito.» A Savak nunca fora à aldeia. Era demasiado pequena para despertar a atenção de alguém. «Então de quem era a fotografia que estava pendurada sobre o quadro preto, na sala do 7.º ano, antes do regresso do aiatolá ao Irão?» O Sr. Khalaj encolheu os ombros. «Tinham de lá colocar uma fotografia. É claro que foi a do xá.» 172
Download