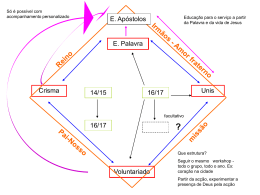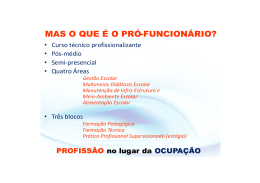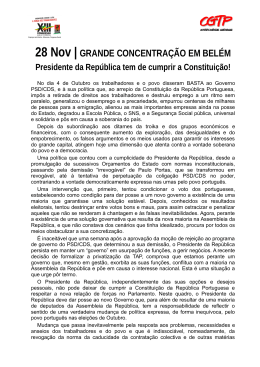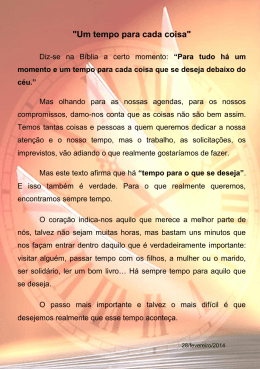Proposta de Orientação Política, Económica e Social A MARCHA DOS DESALINHADOS Introdução As Pessoas 1. A Liberdade 2. Educação 3. Cultura ao serviço das pessoas e diversidade cultural e o papel do Estado 4. Justiça e Segurança 5. Segurança Social As Empresas 1. Economia e Modelo Económico 2. Fiscalidade 3. Energia, Ambiente e Sustentabilidade O Estado 1. Modelo de Estado 2. As funções do Estado e o novo conceito de Serviço Público O CDS-PP 1. Identidade Ideológica 2. Posicionamento Político POPES subscrita pela JUVENTUDE POPULAR Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigilia é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro E a tua inteira força! Fernando Pessoa, in “A Mensagem” Introdução “Falta cumprir-se Portugal” foi este sentimento de inquietude que moveu Pessoa e que nos move, agora, a todos, fazendo-nos responder presente à chamada para servir Portugal. Este é o sentimento que move a nossa Geração, uma geração que se propõe mudar Portugal. Portugal conquistou a democracia, a liberdade de expressão, a educação universal. Há 35 anos houve vontade para mudar o regime, haja hoje vontade de mudar o sistema. Portugal tem que construir-se em Liberdade. Mas uma liberdade que não se esgota na liberdade de expressão. Queremos muito mais que isso: queremos a liberdade para inovar, a liberdade para escolher, a liberdade para crescer, a liberdade para confiar, a liberdade para ir mais longe. Temos uma visão mais alargada. Percorridos 35 anos sobre a mudança de regime, a liberdade individual continua por conquistar. Instalou-se em Portugal o sentimento de que o Estado seria o agente da mudança e não a sociedade a fazer as suas próprias escolhas. Começando pela educação, o Estado entende escolher o projecto educativo e a escola para os seus cidadãos substituindo-se assim às famílias. A educação universal é o propósito, o fim é uma comunidade escolarizada, mas muito longe de culta e educada. Temos uma sociedade onde a licenciatura é o propósito, criando uma comunidade desajustada da realidade do mercado de trabalho, onde a grande maioria exerce funções para as quais não se preparou ou está desempregada e onde cada vez mais, os melhores, procuram a sua liberdade fora de Portugal. Somos de uma geração que acredita e que anseia pela liberdade para inovar e criar. Hoje, como sempre, irrompe-nos da pele uma vontade de reinventar o mundo e dar novos mundos ao mundo. Assim o temos feito nas mais diferentes áreas. Investigação científica, saúde, energia, cultura. Porém, esbarramos sempre com um Estado que insiste em ditar qual o caminho que os criadores devem seguir, seja pelas escolhas que faz relativamente à criação, seja pelo país pobre e imóvel que criou, sem capacidade para aderir à novidade e promover a modernidade. Somos de uma geração que não hesita em afirmar que o país cresce sustentado numa economia privada, com respeito profundo pela propriedade, em que o Estado não deve ser actor e deve cumprir com máxima responsabilidade e com máxima autoridade o seu papel de regulador e promotor da concorrência. O caminho tem sido o inverso. Portugal mudou de regime: a imagem de marca foram as nacionalizações, o Estado forte, o Estado que pilhou aos ricos para entregar aos pobres, o Estado detentor da economia a garantir o mínimo a todos. Tem sido assim nos últimos 35 anos. Assim é hoje. Fez-se um percurso em que o controlo do Estado sobre o país, a economia e os cidadãos se refinou, mas em que não se atenuou. Instalou-se na sociedade portuguesa um poder de Estado. Um poder do Estado, em que o Governo controla a grande economia por intermédio das empresas em que é accionista. O Estado, pela mão dos sucessivos governos interfere nos negócios, escolhe os accionistas e gestores com quem quer negociar e que quer enriquecer nos acordos em que intervém. Instalou-se na sociedade portuguesa um poder de Estado. Um poder do Estado, em que as Autarquias controlam a pequena economia, controlam o emprego e fazem assim depender da simpatia partidária as suas encomendas e a manutenção de postos de trabalho. É esta a realidade da esmagadora maioria dos concelhos portugueses em que as autarquias são o maior empregador e o maior cliente. Instalou-se na sociedade portuguesa um sistema que é preciso alimentar, instalou-se a corrupção. Instalou-se na sociedade portuguesa a necessidade de a todos dar o mínimo, mesmo que não o mereçam e nada façam para o garantir. Assim, tem-se a sociedade anestesiada e amordaçada. Para o financiar, a solução tem sido cobrar impostos a todos os que trabalham e criam riqueza, apropriando-se o Estado de metade da riqueza que Portugal (os Portugueses) cria. Tenhamos coragem de afirmar que estes 35 anos de regime democrático têm sido protagonizados por dois partidos entre os quais se faz a alternância democrática, responsáveis por um país pobre, atrasado, limitado, sem condições para inovar, onde poucos conseguem criar e onde já ninguém consegue crescer. Por opção ou por obrigação, têm conquistado apoio, têm conduzido Portugal para a falência do Estado, para o fim das empresas, para a fuga dos melhores, para o fim da Nação. Não nos revemos nesta política, não nos revemos neste projecto para Portugal. Não nos move garantir o mínimo a todos. A nossa opção é criar as condições para que todos tenham a oportunidade de conseguir o máximo. É a possibilidade de alcançar o máximo que queremos garantir a todos os portugueses e a todos os povos que em liberdade escolham Portugal para viver e trabalhar. Acreditamos que a presença do Estado na sociedade e na economia deve ser mínima, acreditamos que recai na liberdade individual a escolha do percurso de vida, acreditamos que cabe à iniciativa privada a criação de riqueza, o empreendedorismo, o crescimento económico e o desenvolvimento. É tempo de sermos responsáveis e responsabilizáveis pelas nossas opções, é tempo de sermos proprietários da riqueza que criamos, do intelecto que estimulamos, da cultura que desenvolvemos. Não prescindimos de viver num país e num mundo que cresça e se desenvolva de uma forma sustentável, em equilíbrio e com respeito pelos recursos disponíveis. Estamos assim desalinhados do Portugal mínimo, do Portugal proprietário das mentes e consciências dos Portugueses, do Portugal condenado a servir o Estado. Queremos liberdade, queremos responsabilidade, queremos ser tudo aquilo que merecermos. Estamos desalinhados. As Pessoas A Liberdade Em Portugal, sobretudo depois do 25 de Abril de 74, Liberdade é a palavra-chave de qualquer discurso político, repetida vezes sem conta, mas muito pouco sentida e vivida. 34 (quase 35) anos após a revolução de Abril, sabemos que possivelmente ganhámos várias liberdades (de expressão, de circulação, de opinião, etc.) mas será que podemos dizer que, em Portugal, no ano de 2009, somos verdadeiramente livres? Não. Infelizmente continuamos a ver a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de iniciativa, a nossa liberdade de acreditar posta em causa por um Estado que continua opressor, controlador e omnipresente na vida dos cidadãos. Alguns exemplos: Em 2009, os pais não podem escolher, ainda, a escola dos seus filhos. Ou melhor, podem se tiverem dinheiro para pagar um colégio privado. Caso contrário, a sua liberdade de escolha esgota-se na rua onde moram e que determina a escola “territorialmente competente” para educar os seus filhos. Em 2009, um jovem trabalhador continua a não poder escolher como planear a sua reforma. Quer queira, quer não, é obrigado deixar o planeamento da sua velhice à Segurança Social, sem qualquer garantia de que as suas contribuições presentes assegurem um futuro digno e consentâneo com uma vida de trabalho. Em 2009, homens e mulheres portugueses continuam a não poder escolher, livremente, como organizar a sua família, de acordo com as suas escolhas, sem serem penalizados por elas por não obedecerem a um modelo de família “pronto-a-vestir” definido pelo Estado. Em 2009, o contribuinte é cada vez mais um presumível culpado de fraude ao fisco, despojado de direitos essenciais e sujeito a um sistema em que primeiro paga e depois logo se vê se tinha razão em contestar o pagamento. Em 2009, em nome da liberdade religiosa retiram-se nomes de santos de escolas, ruas, localidades e instituições; em nome da segurança permite-se a gravação e guarda dos registos telefónicos de todos nós; em nome da saúde pública inicia-se uma autêntica “caça às bruxas” dos tempos modernos sob a forma da Lei do Tabaco; em nome da higiene proíbem-se os piercings na língua; em nome do direito de informação o Estado (via Governo) interfere, como quer, nos órgãos de comunicação social; em nome do mercado vemos nacionalizações e intervenções duvidosas do Estado nos bancos e nas empresas; em nome da segurança alimentar incentivam-se os raides da ASAE, despropositados, desproporcionados e violadores das mais elementares liberdades. São apenas exemplos retirados das notícias do ano que passou. Exemplos que provam que Portugal (e, em geral, o mundo ocidental) sofre um gravíssimo défice de liberdade. É preciso restituir às pessoas o que é seu, por direito natural – a sua liberdade. Pessoas que têm o pleno direito de escolher o seu caminho sem interferência do Estado, desde que respeitem os limites da convivência social. Acreditando no modelo de construção social de Locke, os Homens abdicaram de parte da sua liberdade para construir o Estado, ao qual conferiram o monopólio da força da violência. Mas não passaram um cheque em branco a esse Estado que agora se augura o direito de nos dizer o que podemos comer, onde podemos fumar, com quem podemos casar e como nos podemos divorciar, como devemos poupar ou como (e onde) devemos gastar o nosso dinheiro. Não é esse Estado omnipresente que desejamos e que defendemos. Queremos um Estado mínimo na sua relação com as pessoas, com funções bem delimitadas, essencialmente um regulador atento e um garante da segurança colectiva, que respeite os indivíduos e que se mantenha neutro nos juízos morais sobre a conduta e as escolhas dos cidadãos. Um Estado que nos devolva a nossa liberdade de escolher o caminho que queremos seguir, que não nos sufoque fiscalmente e que não nos mantenha prisioneiros de um intrincado sistema de leis sobre comportamentos mais próprio de um Estado totalitário do que de um Estado de Direito democrático. Educação A educação está na espuma dos dias. Os últimos meses (para não dizer anos) têm sido pródigos a discutir o seu estado em Portugal. No entanto, neste intenso braço de ferro entre o Ministério, os sindicatos, os professores, os alunos e os pais, nada de novo tem surgido. Do lado do Governo uma intensa vontade de manter um sistema centralizado, com as mesmas dificuldades de sempre, mas maquilhado por estatísticas enganadoras e engenharias facilitistas. Do lado dos sindicatos, as palavras de ordem de sempre, apenas sobre direitos e nunca sobre deveres. Mergulhados nesta confusão, a aprender com os pecados políticos de cada um dos lados, estão os alunos, agora mais deseducados que ensinados, e os professores que vêem a sua autoridade, dia após dia, posta em causa na sala de aula, fruto de anos de políticas erradas vindas da 5 de Outubro. O estado da Educação em Portugal é o resultado deste sistema remendado, centralista, complicado e oneroso. Um cenário onde a taxa de desistência no ensino secundário é muito superior à média Europeia. Onde a pertinência e utilidade de continuar os estudos é diariamente questionada. Um cenário onde a assimetria entre frequência do ensino público e do particular é avassaladora. Um cenário onde o sistema de avaliação não assenta em critérios qualitativos, é terrivelmente burocrático e onde é “o doente que se ausculta a si próprio”! Comparativamente aos outros países da União Europeia teimamos em centralizar todo o sistema de ensino. Não descentralizamos sequer para as autarquias. Nem uma pequena parte, como por exemplo, a gestão e organização de espaços. Nada. Tudo serve para engordar o super “ME”, aumentar a burocracia, diminuir a liberdade de escolha e manter o modelo perfeitamente uniforme e totalmente formatado. É necessário, então, aumentar o grau de autonomia das escolas. Fazer com que essa autonomia funcione. Um grau de autonomia onde a escola possa escolher os seus professores, o seu programa, o seu currículo e o tipo de gestão que melhor se adapta ao seu modelo organizativo. Um grau de autonomia que atribua responsabilidades aos docentes e aos corpos dirigentes e que estes, nas suas escolhas, possam ser julgados pelos encarregados de educação que, cientes das diferenças entre estabelecimentos de ensino, irão assim optar pelo modelo e pela oferta que julguem mais adequados à educação dos seus filhos. Um grau de autonomia que ponha termo, de vez, à instabilidade no ensino, às reformas e contrareformas, à avaliação inconsequente e aos eternos problemas dos manuais escolares, dos exames incorrectos ou das colocações de professores atrapalhadas. Queremos que cada estabelecimento de ensino tenha autonomia para escolher a sua área de excelência, os seus horários de funcionamento, o seu modelo de ensino e outros tantos pormenores que julguem adequar-se mais à sua realidade ou à sua inserção socio-geográfica. Neste novo modelo, atribuímos ao Ministério da Educação apenas o papel regulador, definidor de mínimos a serem criteriosamente cumpridos, tendo o poder de avaliar, globalmente, docentes e discentes com rigor, justiça e consequência. Deverá ser o ME a escolher as regras básicas, a encontrar mecanismos, como o cheque-ensino, que esbatam as assimetrias e as desigualdades, a assegurar o acesso a todos os que da escola quiserem tirar proveito, a atribuir as dotações para o funcionamento normal dos estabelecimentos de ensino, sem que no entanto, os restrinja de melhorar, com receitas próprias, a sua oferta à comunidade educativa. Um Ministério que tendo abandonado o paradigma dos formatados, possa divulgar, sem receios, um ranking de escolas que verdadeiramente tenha consequências. Uma classificação que sirva pais, alunos e mercado de trabalho, pois espelhará também ela, o resultado da autonomia que queremos. Sabemos que é um novo modelo, que é um novo sistema. Mas só com ele terminaremos com as constantes alterações de gestão, com a constante instabilidade. Só com ele existirão projectos educativos verdadeiramente alternativos. Só com ele existirá um serviço público de educação. Cultura ao serviço das pessoas, diversidade cultural e o papel do Estado Não faz sentido falar em “cultura ao serviço das pessoas”, em “diversidade cultural” e, muito menos, no “papel do Estado” sem falar primeiro no conceito de cultura. Afinal de contas, o que é cultura? Desde o século XVIII que inúmeros pensadores, historiadores, filósofos se debatem sobre este tema. Os românticos definem cultura como “a essência que define uma nação, uma força espiritual partilhada que se manifesta em todos os costumes, crenças e práticas de um povo”. Para estes, a cultura “dá forma à linguagem, à arte, à religião e à história, deixando o seu carimbo no mais pequeno acontecimento. Nenhum membro da sociedade, por mais mal-educado que seja, está desprovido de cultura, uma vez que cultura e pertença social são a mesma coisa”. Para os clássicos, a cultura “estava associada não ao crescimento natural mas ao seu cultivo. Nem todos a possuiriam, uma vez que nem todos têm o tempo, a inclinação ou a habilidade para aprender o que é preciso. E entre as pessoas cultivadas, umas são mais cultas que outras”. Mais arrojados, os elitistas definem cultura como “propriedade de uma elite educada, um objectivo que envolve estudo e intelecto” trazendo, inclusivamente, o conceito de "alta cultura" que “é uma forma de "expertise" (domínio pericial)”. Como contraponto a esta “alta cultura” existe a "cultura comum" ou cultura popular que não é mais do que “a cultura do povo, através da qual o povo afirmou a sua solidariedade face à opressão e na qual exprime a sua identidade social e o seu sentido de pertença”. A “cultura comum” exprime-se através das formas de arte popular. “Qualquer actividade ou artefacto são considerados culturais, uma vez que são produtos formadores de identidade e interacção social”. Estas são apenas algumas das inúmeras concepções de cultura que atravessam as sociedades desde o século XVIII e que se vão adaptando à contemporaneidade. Mas, por muito distintas que estas concepções se nos apresentem, todas elas envolvem um mesmo conceito que, esse sim é na sua essência transversal a épocas, contextos e sociedades. Assim, talvez nos possamos atrever a dizer que tudo é cultura, ou melhor, que tudo pode ser cultura. O que existe são diversas formas de a criar, de a interpretar, de a viver, de a exprimir. A forma como comunicamos, como nos expressamos, como celebramos as vitórias e os falhanços. Como relembramos o passado e como educamos as nossas crianças para a construção de um novo futuro. É preciso entender que tanto é cultura o arroz doce e as tripas à moda do Porto, como o fandango do Ribatejo, um Miró na parede do CCB, um Caravaggio no Louvre ou um estádio cheio em dia de jogo. E é imprescindível perceber também que toda a cultura é da e para a sociedade. Mas nem sempre uma sociedade organizada ou planificada, porque a cultura não tem obrigatoriamente de obedecer a regras podendo ser, pelo contrário, espontânea e diversificada. Chegamos, assim, ao ponto fulcral da questão. A diversidade cultural é tanta e é tão natural e espontânea que a cultura está intrinsecamente ao serviço das pessoas. É criada por elas e para elas. Assim, a cultura como movimento transversal a toda a humanidade não pode, de modo algum, ser apropriada por qualquer Governo que, como dita a Democracia, é naturalmente transitório e interesseiro. A cultura não vai a votos de quatro em quatro anos porque é escrutinada todos os dias pelos seus produtores e consumidores, que somos todos nós. Perante este fenómeno imenso e imparável que é a cultura que, quer queiramos quer não, está ao serviço das pessoas, cabe ao Estado encontrar o seu papel que, no nosso entender, só pode ser o de facilitador do “acesso” à cultura, o de potenciador de condições de desenvolvimento e de fruição das mais variadas formas culturais. Consideraremos de seguida algumas das áreas mais importantes nas quais o Estado deverá ter um papel e nas quais a sua intervenção pode (e deve) ser determinante. De nada interessa à sociedade que Portugal tenha um vastíssimo espólio de monumentos mas que estes estejam devolutos, decadentes e sem uso. O Estado deve procurar “entregar” aos privados todo o património para o qual não encontra utilidade, de forma a que estes espaços sejam explorados de forma eficiente. Entendemos, e há muito que o defendemos, que o proprietário é o conservador mais barato uma vez que faz a preservação e conservação do seu património no dia-a-dia. Ligada a esta questão, está uma outra há muito, também, identificada: um dos grandes desafios que os municípios enfrentam é a desertificação das suas zonas históricas (geralmente os centros das cidades). O Estado deve apoiar os poderes locais a reabilitar este património, através da criação de novos espaços habitacionais (chamando aos centros das cidades aqueles que ao longo dos anos fomos afastando para as periferias), da melhoria de acessos, do policiamento, da iluminação ou da construção de zonas de estacionamento gratuitas para moradores. Há bons exemplos, no nosso país, de como isto pode ser feito com êxito. A “descentralização cultural” é imperiosa! Não sendo o consumo cultural um privilégio exclusivo dos habitantes de Lisboa e Porto, cabe ao Estado assegurar o acesso aos centros culturais de toda a população, bem como procurar uma distribuição mais uniforme dos serviços culturais prestados. A título de exemplo, identificamos as Casas-Museu. São muitas as autarquias do nosso país que possuem casas e espólios de grande qualidade mas que, por falta de políticas culturais, estão fechadas, ocultadas da população e à mercê do tempo e do desgaste. É muito importante que se fomentem políticas autárquicas para a cultura, suportadas por equipas eficientes de forma a que de uma vez por todas, a oferta cultural se desamarre de Lisboa e do Porto. Felizmente, já vamos encontrando autarcas sensibilizados para esta questão mas a intenção não é tudo e muito mais há a fazer. Uma boa e eficaz gestão cultural é imprescindível e entendemos que a gestão de organismos culturais públicos deve ser garantida, na sua maioria, por mecenato e fundos próprios. A direcção de Museus e Teatros deve ser escolhida segundo critérios de boa gestão e rentabilidade conjugados com parâmetros de qualidade. Não compete ao Estado financiar uma arte desejada por minorias que usam o orçamento público para se maravilharem com produções que a maioria não compreende nem deseja. Será que isto significa que queremos uma sociedade que vê como expoente máximo da cultura a produção em série de reality shows e programas do género? Certamente que não. Sabemos que a mudança cultural parte das pessoas e da sua educação. Sistemas de ensino com fortes apostas em aulas de música, artes plásticas, desenho ou teatro e, também, a aposta no ensino de história de arte entre outros, alargam os horizontes culturais dos jovens, isto é, das sociedades futuras conduzindo, assim, a uma procura da arte e da cultura mais consciente da diversidade e heterogeneidade que a elas estão inerentes. A Língua Portuguesa não é apenas a nossa Pátria, como disse o Poeta, mas é parte inalienável da nossa Cultura, por isso merece que haja uma verdadeira política da língua, Uma das coisas que mais orgulha os portugueses é o facto da nossa língua ser uma das mais faladas no mundo. São os portugueses a viver no estrangeiro, por um lado, e os escritores, por outro, os maiores embaixadores da nossa língua. Mas, na realidade, há muito tempo que o Português se separou dos portugueses. O Português é também a língua dos brasileiros, dos angolanos, dos moçambicanos, dos guineenses, dos cabo-verdianos, dos timorenses, entre tantos falantes do Português espalhados pelo mundo… Apesar de nos considerarmos os proprietários por direito, a verdade é que a universalidade do Português, ainda que se deva às nossas conquistas passadas, não se deve à situação presente de Portugal. O último acordo ortográfico pode ser difícil de aceitar por estarmos todos habituados à forma como escrevemos e da qual não queremos abdicar mas, na realidade, a ortografia que hoje usamos não é a mesma que usaram Eça ou Camões! Concessões e acordos devem ser feitos para permitir que o Português, que é a língua de 225 milhões de pessoas, continue a sua evolução e o seu caminho, sem impor uma pretensa uniformização por decreto, uma vez que uma língua viva e dinâmica, como a nossa, jamais poderá subjugar-se aos interesses de um legislador. Por fim, mas não menos importante, convém não esquecer que cabe ao Estado o papel de curador da História de Portugal. É uma função que naturalmente deve desempenhar. Deve garantir que os espólios das grandes figuras nacionais não se percam ou deteriorem. Deve garantir, também, um ensino completo e desmistificado da História de Portugal e da Europa. E deve, ainda, proporcionar a abertura ao público em condições dignas e com horários úteis de grandes Museus, onde a prova do que fomos estejam acessíveis a todos, para que a nossa História nunca se perca e para que as gerações futuras as admirem e dêem o devido valor ao seu Passado. A todos aqueles que se sintam incomodados ou pouco confortáveis com este papel tão ambíguo e ingrato do Estado que nós defendemos, onde imperam deveres mas poucos poderes na escolha e influência da produção cultural, relembramos que essa deveria ser a sua principal característica. Garantir o acesso a todos os cidadãos de forma igual, servir as comunidades exactamente na medida em que lhe é pedido e, de resto, retirar-se e permitir que os indivíduos tomem livremente as suas decisões. Isto é, de facto, aquilo que nós entendemos ser o grande papel do Estado na área da cultura: proporcionar a diversidade cultural e pôr a cultura ao serviço das pessoas. Justiça e Segurança Uma sociedade de verdadeira liberdade não é apenas aquela em que a liberdade é propugnada, isto é, uma sociedade em que, no exercício dos poderes constitucionais – dos quais se destacam os poderes administrativo e legislativo –, é feita uma apologia de não-interferência estadual e de autoresponsabilidade. Mais do que isso, há-de ser a sociedade em que a liberdade é assegurada. De facto, não basta verter na legislação e nas práticas da Administração Pública uma determinada concepção de vida. Imperativo é que essa concepção seja (ou possa ser) garantida por todos e cada um de nós, seus beneficiários. Assim surgem a segurança e a justiça, dois valores sem os quais a liberdade não pode subsistir enquanto tal. Encontrando-nos perante dois conceitos dogmaticamente distintos, inserindo-se embora na mesma rubrica pelo facto de, na sua execução, terem que se encontrar perfeitamente conexos, não nos podemos dispensar de os analisar separadamente. Segurança Se, por um lado, não é habitual vermos liberdade e justiça como valores contrapostos, talvez o mesmo se não possa dizer da liberdade em confronto com a segurança. De facto, segundo avisada orientação, parece incompatível poder assegurar a segurança, no sentido convencional do termo, sem comprometer a liberdade (ou pelos menos sem abdicar de certas liberdades), e vice-versa. A esta concepção dominante no seio da Europa Continental, porém, subjaz a experiência (diríamos melhor, o complexo) dos regimes autoritários do século XX, que estendeu tal doutrina a todo o espectro da filosofia política que se lhe seguiu. Não negamos, porém, que tal doutrina possa fazer sentido. Da experiência nacional, aliás, são muitos os exemplos históricos em que à liberdade e liberdades corresponderam períodos endémicos de insegurança (que não apenas de criminalidade) – como no segundo quartel do século XIX e no período pós-revolucionário de 1974 –, mas também exemplos de períodos em que a segurança (que não apenas a segurança pública, mas a própria estabilidade institucional, ela própria uma manifestação de segurança) era garantida com sacrifício da liberdade (que não apenas das liberdades individuais, mas também da liberdade económica e do empreendedorismo – rectius liberalismo) – como no reinado de D. José I (com a administração do Marquês de Pombal) e no Estado Novo. A Juventude Popular entende, porém, que liberdade não tem de corresponder a libertinagem, tal como segurança não tem de corresponder a um Estado-Polícia. Assim, na medida em que ambos os valores sejam compatíveis, não cremos que deva existir qualquer transigência na defesa de um Estado forte no que à protecção dos cidadãos diz respeito. Isto porque se há funções que, por direito próprio, competem ao Estado, entre elas contam-se seguramente o exercício de funções de autoridade, de que a segurança pública é corolário. Assim, não hesitamos na apologia de soluções estatutárias que, contribuindo para a dignificação dos profissionais da Polícia de Segurança Pública (“PSP”) e da Guarda Nacional Republicana (“GNR”), não fragilizem ou comprometam a sua posição no exercício das suas atribuições, designada e principalmente no combate ao crime. Quanto às autoridades policiais genericamente consideradas (que não apenas a PSP e a GNR), para que possam ser havidas como eficientes e operacionais, é necessário serem privilegiadas na hora da atribuição de meios e dotação de efectivos. Se há sectores da Administração Pública urgentemente carecidos de reformas estruturais que permitam uma especialização dos poderes do Estado, e da limitação ao estritamente necessário dos serviços considerados dispensáveis: por supérfluos, por não lhe competirem, ou por estarem em causa atribuições melhor prosseguidas por privados, certamente não se contarão nesse leque as autoridades policiais. Não basta porém, uma polícia respeitada e eficiente para que se possa prosseguir condignamente o valor da segurança; necessário é que a polícia tenha à sua disposição os meios legais imprescindíveis à sua actuação. Necessária é, também, por conseguinte, uma legislação penal (diríamos melhor, uma legislação processual penal) que não se compadeça com a consagração de garantias estritamente assentes em práticas processuais dilatórias, bem como em limitações às quais subjazem motivos de ordem única e exclusivamente prática e não-substancial (como seja a ausência de condições operacionais, de detenção, etc.), que contribuem para a imoralização do processo criminal e tornam, senão atractivas, pelo menos aparentemente impunes, as condutas penalmente puníveis. Aproximamo-nos, desta feita, do valor da justiça, mas não sem antes fazermos uma declaração de princípio que, neste âmbito, assume a maior importância. Toda esta exposição foi feita referido no pressuposto de que liberdade e segurança se afigurem perfeitamente compatíveis, como o são no âmbito do combate ao crime pelos meios convencionais. No entanto, sobretudo no quadro dos novos meios de combate ao crime, essa compatibilidade muitas vezes não é clara. Assim, bases de dados genéticas, sistemas generalizados de videovigilância na via pública, identificação electrónica de indivíduos por intermédio de chips, etc., são tudo mecanismos de combate ao crime em relação aos quais, por estar em causa a dignidade da pessoa humana, a Juventude Popular não deixa de oferecer as maiores reservas. Nesses casos em que aquilo que está em causa é a opção pela segurança com espartilhamento do indivíduo, com prejuízo da liberdade, em meios que aproximariam o nosso modelo de Estado de Direito do Estado-Polícia que tanto rejeitamos, não deixamos de optar: liberdade. Justiça Considerações não menos sérias nos merece a justiça. Uma sociedade de liberdade, como dizíamos, tem que ser aquela em que tal liberdade é (ou pode ser) assegurada. O meio de assegurar a liberdade por excelência, quando esta seja posta em causa, é a via judicial. De facto, partindo do velho adágio segundo o qual a nossa liberdade termina onde começa a liberdade de outros, vemos que a liberdade é ela própria, fruto da vida em sociedade, objecto de limitações. Uma vez que tais limitações são decorrentes da vida em sociedade, a única solução que se nos afigura lógica, quando haja conflitos entre liberdades, é que seja a própria sociedade a apreciá-los, sociedade essa representada pelo Estado, por sua vez representado pelos seus órgãos soberanos dele distintos: os Tribunais. Esta primeira linha de pensamento vai no sentido da apologia da resolução judicial dos conflitos. Um Estado de Direito deve ter os mecanismos próprios para assegurar o cumprimento da sua própria ordem. Se por um lado, num espírito de respeito pela autonomia privada, deve ser assegurada a possibilidade de recurso a soluções de resolução privada dos litígios (maxime, a arbitragem), perante a proliferação desses fenómenos, há que aproveitar o ensejo para uma análise crítica das insuficiências do próprio sistema judicial, quando este não dê resposta às solicitações de que é objecto. Nessa altura, haverá que circunscrever e resolver os problemas que se encontram na origem do disfuncionamento do sistema. Tudo isto é tanto mais premente quanto nem sempre os meios de resolução privada dos litígios estão à disposição dos intervenientes, nomeadamente quando um desses intervenientes é o próprio Estado. De facto, se num caso em que se contrapõem dois privados (por exemplo, em virtude de uma questão de incumprimento contratual), à inércia com que os processos prosseguem, à instabilidade do quadro legal vigente e às consequentes flutuações jurisprudenciais se podem contrapor práticas soluções arbitrais (às quais o Estado tem o grave dever de obviar), tais soluções já não são possíveis noutras situações, designadamente em matéria Administrativa e Fiscal, por exemplo, quando esteja em causa a condenação da Administração à prática de um acto de licenciamento. Assim, a estes problemas, a Juventude Popular crê serem da maior importância a adopção de algumas medidas: por um lado, as considerações feitas a propósito da afectação de recursos às Autoridades Policiais assumem aqui idêntico valor e podem dar-se por reproduzidas no que a dotação de meios operacionais e infra-estruturas diz respeito. Por outro lado, apesar da delicadeza que a especificidade da actividade impõem, não são também menos pertinentes as medidas tendentes à maximização da operacionalidade dos meios e recursos humanos existentes, designadamente a criação de um consistente sistema de avaliação que permita premiar a eficiência no prosseguimento das funções tanto de funcionários judiciais como de magistrados (quanto a estes últimos, na medida das possibilidades constitucionalmente conferidas no que às garantias de independência no exercício da respectiva actividade diz respeito). Quanto à instabilidade do quadro legal vigente, a solução passaria mais pelas boas práticas do Governo e da Assembleia da República do que por efectivas medidas a adoptar. Tais boas práticas passariam por, pelo menos em relação a algumas matérias mais permeáveis a variações ideológicas e susceptíveis de alterações consecutivas, se procurar alcançar, em cada diploma, o consenso mais alargado possível, remetendo para a regulamentação dos diplomas estruturais tudo o que não caiba no quadro desse consenso (referimo-nos sobretudo a matéria de Direito Processual, Direito do Trabalho e da Segurança Social). Isto porque, no limite, e retomando uma das acepções que a segurança pode revestir, a instabilidade do quadro legal vigente põe em causa tal segurança enquanto expectativa legítima na estabilidade do ordenamento jurídico nacional. Uma última nota para o facto de todas estas questões e soluções se colocarem com maior premência no âmbito da Jurisdição Administrativa, não apenas pelo facto de ser difícil, senão impossível, nos termos expostos, aos particulares, furtarem-se a tal jurisdição por via das formas de resolução alternativa dos litígios, mas também pelo facto de, por se tratar do meio privilegiado para assegurar o cumprimento, pelos agentes e instituições do Estado, da ordem que os vincula e que recorrentemente desrespeitam, ser um campo fundamental para a moralização do sistema judicial que nesta área se encontra particularmente fragilizado. Segurança Social A Segurança Social é uma instituição que existe na maior parte dos países o mundo. É um direito reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos que, no artigo 22.º diz, “Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país”. Ora os objectivos a que se propõe a Segurança Social são fundamentais para a vida dos cidadãos: ter um rendimento em tempos de desemprego ou na velhice, ter acesso a cuidados de saúde ou ter uma pensão de invalidez são tão ou mais importantes do que o direito à habitação ou à alimentação. Por isso mesmo, consideramos importante que a Segurança Social exista e que não viva em situação de permanente défice. Um Novo Modelo A construção de um novo modelo da Segurança Social deve partir da identificação das necessidades e idiossincrasias da sociedade como um todo, definindo-se as prioridades para o país a partir dessas necessidades, havendo portanto uma causalidade na sua aplicação. A partir desta base modelar é possível definir quais os estímulos e incentivos correctos a implementar, pelo que a legislação deverá unicamente reflectir estes princípios. Todas as medidas legislativas e vectores de acção governativa não justificada por um incentivo justificável do ponto de vista da melhoria do bem-estar da sociedade como um todo deverão, portanto, ser considerados supérfluos e eliminados. A Segurança Social pode ter um papel preponderante na sociedade baseando-se em estímulos e incentivos correctos e na liberdade de escolha do indivíduo, e simultaneamente simplificar o processo legislativo, retirar funções não essenciais do Estado e, em última análise, eliminar a burocracia. Qualquer cidadão deve poder dispor dos seus rendimentos e colocá-los no sistema de Segurança Social que entender melhor. Pode pô-los no sistema estatal, num fundo privado ou distribuir entre sistemas privados e pelo sistema público. Na verdade, o Estado só terá que permitir que cada cidadão crie a sua solução pessoal, com liberdade e com responsabilidade. As bases do sistema Emprego – o espírito de um sistema de apoio social deverá ter sempre como base o emprego, seja para permitir que durante a vida activa as pessoas possam garantir a manutenção da qualidade de vida na velhice, seja para garantir que em caso de desemprego haja um período no qual seja possível procurar novo emprego sem transtornos financeiros. Não deve é ter como base o emprego para garantir que outros cidadãos não tenham que trabalhar e sobrevivam à custa dos descontos de quem realmente produz. E não deve ter como base o emprego para que um sistema de reformas falido subsista sem responsabilidade para com as gerações futuras. Deverá ser de facto um regime verdadeiramente contributivo, no sentido de conta-corrente, em que as contribuições hoje assegurem o futuro de quem as faz e não o presente de outros beneficiários, o que transforma a segurança social num sistema redistributivo. Reforma – uma das maiores vantagens de um sistema de segurança social eficiente é a disponibilização de rendimentos aos mais idosos depois de uma vida activa e produtiva. Sendo evidente que há um nível mínimo de subsistência, não deverão ser criadas injustiças, isto é, quem mais desconta durante a vida a activa deverá naturalmente ser beneficiado. Nesta perspectiva, as ineficiências e desproporcionalidades provocadas nos impostos mais gravosos para os maiores rendimentos são inaceitáveis. Igualmente, são injustos os aumentos desiguais, sendo um claro incentivo a que a actual população activa não desconte, e, portanto, medidas auto destrutivas do sistema. Mas provavelmente a maior fonte de ineficiência, de injustiça e de falta de liberdade é a impossibilidade de um cidadão decidir livremente quem quer a gerir e garantir a sua reforma. O Estado não poderá refugiar-se no argumento falacioso da falta de sustentabilidade de um sistema, se este só funciona através da implementação de medidas políticas sociais que criam incentivo à falta de produtividade e eficiência da economia. Ou seja, admitindo que o sistema está falido, admite-se a impossibilidade da sua aplicabilidade, pelo que se deverá optimizar as formas de prevenir a continuidade das poupanças das gerações vindouras, sem comprometer o incentivo à poupança e ao desconto para o sistema, em última análise, a credibilidade do mesmo. Não é admissível que a Segurança Social funcione como um esquema de remuneração tipo fraude, em que são os últimos a entrar a financiar os já existentes. Até porque demograficamente não é possível a sua sustentabilidade. Como tal, será o Estado competente para gerir as poupanças dos portugueses (e dado o seu terrível trackrecord)? Uns dos problemas que se coloca, invariavelmente, são os chamados custos de transição. E estes apenas se colocam porque o sistema actual já não funciona e, neste momento, o que acontece é que são os trabalhadores de hoje a financiar os reformados e demais beneficiários de hoje, uma perversão do sistema contributivo. Ou seja se actualmente uma boa parte dos activos se transferissem para um sistema privado, deixaria de haver verba para pagar aos actuais beneficiários. Porém, esta é uma falsa questão. Primeiro, a Segurança Social terá sempre que devolver (em forma de prestação social ou reforma), as quantias pagas por quem toda a vida contribuiu para o sistema, porque os beneficiários de hoje foram os contribuintes de ontem e a base do sistema público de Segurança Social é contributiva e não redistributiva. Ou seja, a dívida já existe, embora possa não estar assumida, e como tal terá que ser assumida pelo Estado. Em segundo lugar, para atenuar os custos de transição podemos admitir que, numa primeira fase, o contribuinte continue obrigado a contribuir com uma percentagem do seu rendimento para o sistema público. É o caso da introdução do plafonamento, modelo em que parte das contribuições será sempre entregue ao Sistema Público, permitindo o retorno de uma prestação mínima no futuro, sendo o resto aplicado consoante a vontade do contribuinte. Em alternativa, ao estruturar-se um modelo sustentável e não baseado em contribuições actuais para pagar contribuições passadas, poder-se-á aplicar uma medida única definitiva: a emissão de dívida pública para assumir o erro do modelo passado e falido, e partir do zero para um novo paradigma de sustentabilidade da Segurança Social. Apoio Social – naturalmente, haverá a necessidade inovar no apoio social, isto é, promover medidas em que seja claro o objectivo do mesmo, no sentido de ser tão efectivo e eficiente quanto possível, sempre tendo em conta qual o incentivo a dar aos visados e qual os benefícios que a sociedade como um todo dele retiram. Um perfeito (mau) exemplo é o Rendimento Social de Inserção, cujo benefício não encontra um claro compromisso com o correcto incentivo a dar aos visados, isto é, os beneficiários não encontram qualquer incentivo em ser mais produtivos e em dar algo de volta à sociedade, tornando-se, portanto, dependentes. Isto é a totalmente subversivo, e obviamente altamente despesista e injusto. Burocracia – por último, nenhum novo sistema da Segurança Social pode ser eficaz sem uma total remodelação da sua operacionalidade. A maior fonte de ineficiência do Estado e do sistema actual é a burocracia. Não é possível implementar medidas, rapidamente e com menores custos, com uma máquina burocrática pesada, acéfala e baseada na tecnologia do papel, carimbo e assinatura, com uma pesada hierarquia como a actual. Em suma, o sistema de Segurança Social foi instituído como forma de apoiar socialmente as pessoas de forma solidária, mas de uma perspectiva intra-geracional. Contudo, o longo prazo implicou que esta solidariedade se tornasse não só inter-geracional, como insustentável. A solução não pode passar pela continuidade deste sistema, mas sim pela implementação de um modelo que possa ser sustentado intra-geracionalmente. Nenhum País sobreviverá adiando continuamente as suas responsabilidades para o longo prazo. As Empresas Economia e Modelo Económico No mundo actual, onde a eficiência e o virtuosismo da liberdade dos movimentos da livre oferta e procura foram postos em causa, urge ter perspectiva de longo prazo, e não ceder ao facilitismo da intervenção do Estado, sem ter em conta as gerações vindouras e a sustentabilidade da economia. Torna-se ainda mais evidente a falência da intervenção do Estado – que foi contínua nas últimas décadas – quando se analisa o peso da fiscalidade na economia portuguesa, o grau de burocracia existente e de complexidade da estrutura do Estado, o despesismo e falta de resultados de anos de investimentos e gastos públicos (sociais e de infraestruturais), a falência da Segurança Social, a morosidade e ineficiência total da justiça, o falhanço da regulação, a complexidade da legislação, e, por último, o enorme peso da corrupção mesquinha cuja origem está, curiosamente, na máquina burocrática do Estado. O crescimento e desenvolvimento de qualquer economia baseia-se unicamente nos agentes económicos (e suas decisões eficientes individuais) e na produtividade. Ao Estado deve caber regular saudavelmente os agentes, para que a acção individual não limite a liberdade do outro. Nesta perspectiva, os grandes investimentos públicos anunciados são totalmente supérfluos e não reprodutivos no longo prazo, pondo em causa decisões futuras de investimento ou políticas de incentivo fiscal potencialmente mais benéficas para o País. As empresas são, a par das famílias, a base da economia, e deverão ser criados os incentivos correctos para que a sociedade como um todo beneficie da sua existência e actuação, isto é, a carga fiscal deverá permitir e incentivar criar riqueza e jamais tornar a carga fiscal como um meio para financiar políticas sociais e orçamentais falidas e não reprodutivas. Urge eliminar impostos ineficientes, que não incentivam a produtividade nem um correcto aproveitamento dos recursos, optimizando a riqueza e o emprego, nomeadamente, eliminando os pagamentos especiais por conta (criado porque o Estado admite que não consegue controlar nem cobrar a complexidade da fiscalidade que produz) nas empresas, assim como reduzir a complexidade e burocracia na cobrança e pagamento do IVA; e eliminar a desproporcionalidade dos impostos individuais sobre os salários, nomeadamente, implementando o modelo que cria os correctos incentivos à produtividade dos trabalhadores, ou seja, as flat taxes. O Estado deverá comportar-se como pessoa de bem e de boa fé. É totalmente inadmissível o Estado ser o agente que mais se atrasa nos seus pagamentos, ao mesmo tempo que persegue cegamente (usando e abusando do seu poder legal) os contribuintes, usando a máquina burocrática a seu favor. A economia não necessita de um Estado omnipresente, exige antes uma estrutura de regulação eficaz, não corruptível, que zele pelo interesse dos contribuintes. Nesta perspectiva, é imperativo a existência de entidades reguladoras com poder real e independente, assim como um banco central (cuja única função é mesmo regular as instituições financeiras) com um grau de accountability que evite situações como as recentemente conhecidas no sector bancário português. A actual intervenção do Estado nas instituições financeiras deve restringir-se ao estritamente necessário e durante o menor período de tempo possível, evitando acima de tudo concorrência desleal para com entidades que não cometeram erros e que, por isso, não devem ser prejudicadas pela má prática dos concorrentes. O estado da justiça em Portugal é, também, um dos maiores entraves a um crescimento da economia nacional, seja pela sua lentidão, seja pela sua ineficácia, impedindo e afastando potenciais investidores. A este facto não é certamente alheio a elevadíssima complexidade legislativa, o que conjugado com uma burocracia incompreensível, torna os crimes económicos leves e graves perfeitamente impunes, e pior ainda, deixa um profundo sentimento de impunidade na sociedade. Clima de impunidade cujo corolário se encontra na elevada taxa de corrupção mais leve e incipiente, quase tolerada socialmente, que mina por completo todo e qualquer sistema de incentivo e cultura de mérito nos quais se deve basear uma economia livre e de mercado. Propõe-se, portanto, que com base numa economia portuguesa devidamente inserida na zona Euro (cujas vantagens de estar sob o “guarda-chuva” de uma moeda forte foram evidentes bem recentemente), tendo como âncora de preços uma política de taxas de juro independente do ECB e como objectivo finanças públicas sustentáveis, se implementem incentivos à criação de riqueza através da diminuição da carga fiscal às empresas e famílias, assim como incentivos fortes à poupança e ao investimento privado; como contrapartida, dever-se-ão evitar gastos megalómanos em obras públicas, em políticas sociais geradoras de incentivos a não produzir a não trabalhar, em sustentação de modelos empresariais falidos com fundos públicos (incorrendo-se num grave risco moral de incentivo ao desprendimento pelo risco) e em aparelhos do Estado pesados e burocráticos, altamente consumidores de recursos. Por outro lado, a aplicação de toda e qualquer medida social e fiscal específica deve obedecer às básicas regras de transparência e accountability, isto é, deverá ser possível aos cidadãos perceber claramente primeiro qual o objectivo da medida em concreto, onde serão aplicados os fundos recebidos ou de onde virão os fundos alocados para a determinada política fiscal ou social não genérica, para que, em última análise, o governante e os políticos possam ser responsabilizados directamente pelo acerto ou erro da medida. Em conclusão, sendo a economia formada por agentes cujo objectivo é obter maior riqueza, independentemente da classe social do cidadão ou da dimensão da empresa, ao Estado exige-se independência, equidade e que forneça liberdade de decisão, ou seja, regular os agentes de e criar os incentivos correctos de forma a evitar desequilíbrios para a sociedade como um todo. Fiscalidade A política fiscal adoptada por um determinado país é instrumento fundamental do seu crescimento económico e do seu desenvolvimento, constituindo em simultâneo um factor crucial no que respeita à atractividade que esse mesmo território possa representar junto de potenciais investidores quer internos, quer externos. Este último elemento, reveste-se de um carácter essencial, se atendermos à realidade em que vivemos, uma economia globalizada, onde as transacções são múltiplas e quase imediatas, onde as decisões de investimento e as respectivas escolhas se prendem com elementos complexos que vão, hoje em dia, muito para além de condições naturais mais ou menos favoráveis ou mesmo e somente da maior ou menos acessibilidade aos próprios factores de produção. A JP tem vindo a defender um conjunto de medidas ao nível da política fiscal a adoptar pelo nosso país, que no nosso entender permitiriam simplificar o actual regime fiscal, torná-lo mais justo e claro, contribuindo assim em simultâneo para que a sua aplicabilidade, o seu cumprimento e incumprimento seja mais facilmente detectáveis e assimilados por parte dos agentes económicos e por fim também mais agilmente fiscalizáveis por parte do próprio Estado. É de salientar que esta problemática vem de encontro ao funcionamento da própria justiça como um todo, elemento que aqui nos escusamos a detalhar. Medidas tão concretas e no nosso entender fracamente lógicas perceptíveis como seja a adopção de uma taxa única de IRC (não superior a 20%), a possibilidade de amortização do good-will na aquisição de participações sociais, a eliminação da tributação de mais-valias, a eliminação total da dupla tributação na distribuição de dividendos, a dedutibilidade integral dos prejuízos fiscais, a recuperação integral de despesas com I&D e sua dedutibilidade como custo fiscal, entre outras, representam em si um autêntica reforma fiscal no que respeita ao sector empresarial. Medidas tão concretas e no nosso entender francamente lógicas e entendíveis como são exemplo as que agora passamos a descrever, e que representam em si um autêntica reforma fiscal no que respeita ao sector empresarial. Eliminação do IRC. No nosso entender, não tem necessariamente que existir imposto sobre o rendimento colectivo, por duas ordens de razões: se o rendimento obtido por uma organização for investido na própria empresa, então ele trará automaticamente benefícios como seja o seu crescimento, desenvolvimento e modernização, aumento dos postos de trabalho, melhores prémios e retribuições para os seus colaboradores; se é distribuído aos seus accionistas, então será necessariamente tributado em sede de IRS. Amortização do good-will na aquisição de participações sociais, Actualmente, as empresas apenas podem relevar as perdas de good-will no momento da transmissão das participações sociais – e só em 50% – e em caso de dissolução, o que não só distorce a fotografia fiscal das empresas em cada momento como desincentiva o investimento. Eliminação da tributação de mais-valias. Factor que facilita a atracção de investimento directo estrangeiro e elimina a dupla tributação. Eliminação total da dupla tributação na distribuição de dividendos. Dedutibilidade integral dos prejuízos fiscais. Uma empresa só deve pagar imposto quando os seus resultados positivos anuais já cobriram os prejuízos transitados, Antes disso, não há verdadeiramente capacidade contributiva por parte das empresas. Recuperação integral de despesas com I&D e sua dedutibilidade como custo fiscal. As despesas com Investigação & Desenvolvimento favorecem amplamente o crescimento e a competitividade e representam um investimento com repercussões e externalidades fracamente positivas. Num país que se quer moderno e desenvolvido, não poderá jamais existir por parte dos agentes económicos um sentimento de injustiça e desconfiança face ao regime fiscal em vigor, sob pena de o resultado final ser desastroso para todas as partes. A ideia de que quem não cumpre acaba mais beneficiado do que aqueles que respeitam os normativos legais é, no que toca à problemática dos impostos, algo particularmente grave, na medida em que temos por base que a distribuição das receitas angariadas pelo Estado por via de impostos, tem como objectivo uma distribuição e aplicabilidade equitativa que em si mesma deve beneficiar mais quem mais precisa. Está aqui bem patente a preocupação de natureza social e de carácter humanista que sempre marcaram e sempre irão permanecer na matriz e no ADN do CDS-PP. Em suma, não podemos deixa de salientar que a verdadeira reforma que agora propomos tem de ser presidida por critérios de justiça (que permitam a estabilidade da vigência das normas tributária e a sua adequação social), de racionalidade (permitam o financiamento das despesas do Estado), de flexibilidade, de neutralidade, de eficiência no combate à fraude, ou mesmo da facilidade na derrogação do segredo bancário. É de todo pertinente que Portugal seja capaz de reconhecer a importância estratégica de um instrumento como seja a política fiscal, pelas razões atrás evidenciadas e pelo facto de representar em si mesmo um meio através do qual nos poderemos diferenciar enquanto economia no contexto europeu e mundial, constituindo um factor competitivo, a cujo acesso nos tem sido vedado apenas pela inércia e pela falta de noção que tem vigorado sobre a pertinência no mesmo. Temos que ser capazes de desenvolver e sustentar condições de investimento, que permitam criar riqueza, que originem postos de trabalho, resultem em consumo interno e em suma no alcance de um bem-estar comum. No nosso entender, este resulta indubitavelmente da soma da melhoria das condições de vida de cada indivíduo. Energia, Ambiente e Sustentabilidade Durante os últimos 100 anos o Planeta Terra tem assistido a um consumo excessivo dos seus recursos naturais. Como resultado do consumo desmedido de energia e consequente boom das emissões de CO2, a evidência científica das Alterações Climáticas e do Efeito de Estufa – com origem antropogénica – é agora clara e tem sido objecto de um estudo rigoroso. O desafio da mitigação das Alterações Climáticas exige uma acção colectiva e célere, mesmo sabendo que não há uma solução “indolor”. Contudo, a mitigação é necessária para a preservação da saúde do Planeta. A resposta internacional sustenta-se na United Nations Framework Convention on Climate Change e no Protocolo de Kyoto. No que concerne ao referido protocolo, deve ser lembrado que foi o Governo Socialista que, em 1997, fez a pior negociação de entre todos os Estados-membros da UE. O nível de emissões de CO2/capita definido para Portugal é o mais baixo (ou seja, o mais exigente) da UE-25. Dado o diagnóstico apresentado, torna-se imprescindível que um documento, como o presente, estabeleça os vectores orientadores do que seria um plano de acção para a Sustentabilidade Energética e Ambiental. No início de 2008 o Governo Socialista apresentou o PNAEE (Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética). Esse plano reveste-se de grande importância, na medida em que os cidadãos – e o próprio Estado – terão que mudar drasticamente os seus perfis de consumo de energia, de forma a minimizar-se a correspondente emissão de gases com efeito de estufa. A eficiência energética pouco vale se a escala dos consumos continuar a ser desproporcionada face às reais necessidades energéticas. Assim, um plano de acção como o presente deve ir para além da simples eficiência energética dos equipamentos. Deve endereçar igualmente o Demand Side Management e a Economia da Energia. Contudo, o PNAEE é uma oportunidade perdida, uma vez que a avaliação dos consumos de energia é feita em termos de energia final, o que revela ser um enorme erro político. Como se sabe, apenas o consumo de energia primária permite tirar conclusões acerca das emissões de CO2. Sabendo que 60% da electricidade tem origem em combustíveis fósseis, o PNAEE ao utilizar energia final em vez de energia primária “absolve” as emissões de CO2 decorrentes da geração de electricidade. Por conseguinte, a utilização da energia final não permite avaliar correctamente a “bondade” das medidas propostas pelo Governo. Por outro lado, o referido plano de acção estabelece metas utilizando a intensidade energética (quociente entre a energia final consumida e o PIB) como indicador. Ou seja, até 2015 Portugal pode diminuir a sua intensidade energética mesmo que o consumo de energia final aumente, bastando para isso que o PIB aumente mais do que o consumo de energia final. É erróneo conceber-se um plano de acção sustentado em indicadores económicos voláteis como o PIB. Infelizmente, assuntos sérios e vitais para sobrevivência da Terra são tratados – mais uma vez – com base na manipulação dos números. Deve ser sublinhado que até à data não houve um único partido político (incluindo o CDS-PP) que se insurgisse contra a cosmética inerente ao plano apresentado pelo Governo. Contudo, este documento não visa criticar o Governo Socialista sem ao mesmo tempo apresentar propostas exequíveis e benéficas para o país. Um plano de acção para a eficiência energética deve ter como objectivo primordial reduzir as emissões de CO2/capita, uma vez que este indicador possui sensibilidade ambiental. O segundo objectivo deve ser a redução do consumo de energia primária/capita e só em terceiro lugar é que se deve avaliar a redução da intensidade energética (que corresponde à primeira meta proposta pelo PNAEE). Outro erro cometido pelo Governo Socialista consistiu na concepção do PNAEE unicamente sob a tutela do Ministério da Economia e da Inovação. Um plano de acção para a eficiência energética deve resultar de uma estreita colaboração entre os diversos Ministérios, já que o mesmo terá de ser dotado de uma visão holística dos consumos. Por outro lado, todo o Estado deve estar plenamente envolvido na implementação do referido plano de acção, uma vez que, segundo a Comissão Europeia, o consumo energético por parte do sector público de cada Estado-membro representa quase 10% dos seus consumos totais. Em paralelo ao plano de acção para a eficiência energética, o Governo português deve promover um upgrade do sistema eléctrico de energia para que este acomode a energia renovável e, por conseguinte, se crie um sistema de energia Clean Tech. Isto é, o Governo tem de ter a coragem de deixar cair a lógica de projectos-piloto, baseados em soluções que ainda não saíram do laboratório, optando pela implementação transversal de soluções técnicas já em funcionamento em vários países. Uma solução há muito esperada, a smart metering (contagem e gestão remota de energia), deve ser instalada em todos os consumidores domésticos, tal como está a acontecer em países como a Itália, Suécia e Espanha. Em oposição, Portugal ainda não estabeleceu qualquer meta no sentido da implementação da smart metering. Com esta atitude, Portugal deixará de beneficiar das vantagens da tecnologia em questão, tais como o aumento da concorrência entre os comercializadores de electricidade, a economia da energia, o aumento da qualidade de serviço e uma maior transparência. Para além da contagem inteligente de energia, é imperativo desenvolver smart grids (redes de energia inteligentes) que permitam maximizar a penetração de energia renovável e aumentar a fiabilidade do sistema eléctrico de energia. Relativamente ao sistema electroprodutor, a aposta nas energias limpas deve continuar e devem ser rejeitadas soluções baseadas em erros técnicos e políticos, e geradoras de externalidades negativas. Para além do exposto, os decisores políticos terão que abandonar estratégias com objectivos puramente publicitários – como a construção da maior central de energia fotovoltaica da Europa – sabendo que as mesmas reflectem erros técnico-políticos. Em termos da definição do preço da electricidade, deve ser afirmado que a regulação com o Governo Socialista deixou de ser independente, actuando como uma direcção-geral tutelada pelo Ministério da Economia e da Inovação. Como resultado, o preço da electricidade tem sido definido artificialmente, sem acompanhar a evolução do custo das matérias-primas e alimentando monstruosamente o défice tarifário. Concludentemente, esta política um dia será paga pelos consumidores por um preço proibitivo. Por outro lado, a electricidade ao não reflectir o seu real valor, perde-se uma oportunidade de estimular a eficiência energética e a economia da energia. Uma solução possível para promover a eficiência energética, dada a actual subvalorização da electricidade, consistiria na redução da tarifa do Gás Natural, já que para o actual mix energético a utilização de Gás Natural, para fins de calor útil, gera duas vezes menos emissões de CO2 do que a electricidade, para a mesma energia útil. No que diz respeito à mobilidade, o sector transportes representa 28% das emissões de CO2 na UE, sendo que 84% desse valor é originado pelo sector rodoviário. Tendo em conta que em Portugal os números são similares, o caminho a seguir deverá ser analisado com especial atenção e rigor. A solução a adoptar deverá romper com o actual paradigma do motor de combustão interna, devendo ser analisados outros conceitos tais como os veículos eléctricos (híbridos e 100% eléctricos) e os veículos movidos a hidrogénio. Para além do shift tecnológico que os transportes terão de sofrer e da promoção da utilização dos transportes públicos, a inserção do sector em causa no mercado de emissões revelar-se-ia uma solução extremamente eficiente do ponto de vista ambiental. Por fim, o caminho a seguir deve consistir na criação de uma economia sustentada nas tecnologias limpas, combatendo os negócios incumbentes ligados à cultura do petróleo e, por conseguinte, promovendo a emergência de novas empresas e empregos de “colarinho-verde”. O Estado Modelo de Estado O modelo de Estado que temos não serve. Não serve as pessoas, não serve as famílias, não serve a livre iniciativa e não serve a economia. Portugal tem a sua actividade económica severamente condicionada pelo Estado. Seja pela sua excessiva intromissão em sectores onde não deveria estar presente e aos quais retira valor, como é o caso das comunicações e da “golden-share” na PT, seja pela forma como se substitui aos mercados e permite a sectores da nossa economia, que há muito se deveriam ter modernizado, uma “agonia” assistida mas não sustentável. Uma economia forte requer do Estado apenas duas coisas: uma regulação mínima e transparente dos mercados e uma previsibilidade/credibilidade das instituições e políticas. Assim sendo, porque não tem Portugal um Estado que sirva estes propósitos? Porque este modelo não serviria os interesses do grupo dos alinhados – os dois grandes partidos que dividem o governo de Portugal desde 1976. Este modelo retira importância aos intérpretes e devolvea às políticas, sendo por isso incompatível com os intentos de uma burguesia emergente que inundou os dois grandes partidos de poder em Portugal. Uma burguesia que se alimenta, multiplica e perpetua ao ritmo alucinante de um ciclo vicioso, no qual o poder gera poder e alimenta poder. Os episódios concretos estão identificados e meridianamente escrutinados, pelo que não aproveita enumerá-los. Dizemos que este modelo de Estado não serve a livre iniciativa. Não serve nem promove, antes a aniquila. Não dissemos, porém, que este Estado não serve as empresas. Infelizmente serve. Serve um grupo de empresas que, ao longo dos últimos 30 anos, tem funcionado como empresas do regime, transformadas em verdadeiros albergues da burguesia florescida nos partidos, sendo mais um dos instrumentos desse poder, re-alimentando um sistema que, dia após dia, destrói a confiança dos portugueses no seu Estado e aniquila a iniciativa dos que teimam em remar contra a maré. Por outras palavras, este modelo de Estado promove a corrupção, a arbitrariedade, e a protecção de interesses pouco claros. Em simultâneo, garante a manutenção de um status quo e a prosperidade dos que, apesar do postiço incómodo público, não resistem a um sorriso de agrado cada vez que Portugal é colocado ao nível das “democracias” da América Latina nos rankings de confiança em economias internacionais. Defendemos por isso um Estado que se reduza ao seu papel regulador, garanta a transparência e a previsibilidade dos processos e procedimentos, que promova a credibilização das instituições. Queremos um Estado que se abstenha de apontar o caminho mas que garanta aos que o querem percorrer a melhor das infra-estruturas humana, jurídica, financeira e social. As funções do Estado e o novo conceito de Serviço Público O Estado é uma criação dos indivíduos e é nessa perspectiva, de corpo intermédio moldado para benefício dos seus criadores, que o mesmo deve ser encarado. Não se pretende que este os substitua ao serviço dos mais elaborados e empenhados projectos de engenharia social centralizados mas, isso sim, que este corresponda a um instrumento destinado a actuar onde os indivíduos se mostrem incapazes de o fazer, deixando amplo espaço para a espontânea ordem social. Escrito assim, pode parecer uma banalidade. Mas não o é para nós, que levamos o princípio subsidiariedade muito a sério e que estamos absolutamente conscientes da necessidade responsabilização individual. Não para nós, que não nos cansaremos de dizer que grande parte actuação estadual é desnecessária e se veio sobrepor, com insuportável ineficiência, descentralizada e capaz organização resultante da actuação individual. da de da à Na nossa visão, o Estado não deve identificar-se com aquilo a que tradicionalmente se tem chamado de interesse público, mas sim com uma específica forma de entender os desígnios gerais. Verdadeiramente, a problemática que está na base da crise do Estado Social é a de uma nova concepção do interesse/serviço público que urge adoptar. Todos sabemos que foi a concepção do Estado corrector das falhas da sociedade e do mercado, guardião e regulador das externalidades, que originou o Estado Social e que agora está em crise. Todos reconhecemos que o Estado não é um agente investido de conhecimentos plenos e gerais, mas antes é composto por Homens que, também o sabemos, não mudam de natureza quando investidos de funções estaduais, deixando que o Estado se enrede em interesses privados e pressões individuais. E já todos concluímos que o Estado condiciona as suas atribuições com base em políticas mutáveis e instáveis, conduzindo a um desfasamento evidente entre o que diz ser o interesse público e aquilo que efectivamente interessa aos cidadãos. Por isso, tudo faremos para demonstrar que o tradicional interesse público que tantas vezes legitima a intervenção do Estado deve ser substituído pelo interesse geral, enquanto conjunto dos vários interesses particulares, de forma a fazer despertar a sociedade civil estimulada, exigente, empreendedora, ambiciosa, inovadora e que reclama para si liberdades que obrigam ao recuo do Estado. O interesse público só poderá ser aquele que beneficia os objectivos gerais e de todos e não os objectivos sectoriais e particulares. Não falamos pois de um interesse maioritário, ao serviço da ideologia e do sonho de um Governo que, temporariamente, está em funções, mas sim de um verdadeiro interesse consensual e permanente, não confundível com o interesse governamental. O CDS-PP Identidade Ideológica O CDS-PP sempre se orgulhou, desde a sua fundação, de ser a casa de várias tendências ideológicas que se podem resumir aos seus três pilares: conservadorismo, liberalismo e democracia cristã. Tal pluralidade de opiniões e diversidade ideológica, embora enriquecedora e potenciadora de um saudável debate de ideias, não se reflecte, porém, numa ampla base de eleitorado, uma vez que nas últimas duas décadas o CDS nunca ultrapassou a barreira dos 10% em eleições legislativas. Quererá isto dizer que só há, em Portugal, à volta de 10% da população que se identifica com o pensamento de algumas das maiores correntes ideológicas de centro-direita que, noutros países, assumem confortáveis maiorias? Salvo melhor análise, tal não nos parece possível. Qualquer uma destas correntes, por si, seria capaz de sustentar um grande partido de centro ou de direita com votações na casa dos 30%. Porque será, então, que tal não acontece com o CDS? Ao longo dos últimos 34 anos o CDS foi escrevendo a sua história ao sabor das suas várias lideranças e foi assumindo, conforme os protagonistas, um cariz mais liberal (Lucas Pires), mais Democrata-Cristão (Ribeiro e Castro), mais centrista (Freitas do Amaral) e mais conservador (Adriano Moreira e, em certa medida, Manuel Monteiro). Assim, o CDS foi mudando à medida que se sucediam as suas lideranças, chegando ao pragmatismo de Paulo Portas que procurou a fusão perfeita dos vários pilares num discurso político focado no circunstancialismo da realidade política. Toda esta confusão ideológica, em que aparentemente todos cabem no CDS, parece, contudo, não cativar o eleitorado. Mas será que é uma clarificação ideológica que o nosso eleitorado procura ou apenas uma correcta delimitação do nosso espaço político? Nós não defendemos o purismo ideológico de nenhuma das correntes em detrimento das restantes. Não defendemos que amanhã o CDS acorde Liberal, extirpado de todos aqueles que se assumem como democratas cristãos ou que têm um pensamento conservador, assim como não queremos ser todos obrigados a aceitar a democracia-cristã por decreto. Mais, se olharmos à nossa volta, vemos um mundo pós-ideológico em que o que cada vez mais motiva as pessoas não são os grandes valores filosóficos mas as soluções concretas para os problemas que vivem. Daí o CDS ter, cada vez mais, que procurar encontrar o pragmatismo das soluções propostas, procurando que as mesmas façam um todo coerente entre si, ao invés de viver acesos debates ideológicos que nos conduzem a lado nenhum. Mais do que seguir uma cartilha ideológica, “by the book”, o CDS tem que assumir os grandes princípios que determinam o seu ADN político e que nós resumimos em 8 palavras-chave: Personalismo. A pessoa é sempre mais importante que o Estado e que o Colectivo. O Homem é a base da sociedade e nada se fará contra ele. O Estado e a família vêm naturalmente depois do indivíduo e por isso a pessoa deverá ser a nossa primeira preocupação. Profundamente ligado ao Personalismo está o respeito absoluto pela Liberdade. Todos os homens nascem livres e assim devem viver. Somos, portanto, intransigentes na defesa da Liberdade do indivíduo contra o autoritarismo da colectividade ou do Estado. Não há, porém, Liberdade sem Responsabilidade. Por isso defendemos uma cultura de mérito em que cada pessoa é responsável pelas suas escolhas e pelo seu caminho, sendo que diferentes escolhas produzirão, naturalmente diferentes resultados. Aliados da liberdade são, no nosso entender, a Autoridade e a Segurança. Num mundo em que não exista autoridade não há lugar a livre escolha e onde não exista segurança não há liberdade. Outro princípio chave do nosso credo é a Equidade. Dar a todos de acordo com as suas necessidades e capacidades, não pretendendo uma sociedade pretensamente igualitária fundada na desigualdade, mas, ao contrário, aceitar que todos nascemos diferentes mas exactamente com os mesmos direitos, embora com ambições, projectos e capacidades diferenciadas. Só assim poderemos chegar à Justiça. Por último, naquela que é a base de toda a acção política do CDS, devemos ter presente o primeiro dos direitos das pessoas: o seu direito inalienável à Felicidade. Pode parecer uma utopia ao estilo do socialismo de Saint-Simon, mas é o primeiro de todos os nossos direitos e nenhum partido pode ser cego à ideia de felicidade de cada individuo e por isso a sua acção deve ser conduzida de modo a assegurar a cada pessoa a sua felicidade individual, assegurando-lhe as condições básicas para que possa viver em liberdade, escolhendo, a cada momento, como quer organizar a sua vida, a sua família ou a sua empresa, livre de abusos ou intromissões desnecessárias por parte do Estado. Posicionamento político Questão diversa é o posicionamento do CDS no compasso político. O CDS é um partido de direita e como tal deve assumir-se e apresentar-se ao eleitorado. O CDS não é centrista nem equidistante do PS e do PSD. O PS, assim como a restante esquerda, é o nosso oponente político. O PSD é o nosso concorrente. Nestes termos, é possível um acordo entre concorrentes, para prossecução dos seus interesses comuns, mas não entre oponentes. Este ponto é para nós fundamental. O CDS é, portanto, de direita. Uma direita que queremos moderna, pragmática e capaz de defender políticas eficazes e competentes. Uma direita desempoeirada e livre de fantasmas do passado. Uma direita que não se revê, minimamente, no velho chavão “Deus, Pátria e Família” que alguns pretendem colar-nos, uma vez que Deus é algo que pertence à esfera íntima de cada cidadão. A Pátria é algo que está no nosso ADN de Portugueses, mas é feita por homens e por mulheres, e é por eles, para eles e com eles que trabalharemos para um Portugal do futuro. E a família é hoje uma realidade demasiado rica e complexa para poder ser definida, na sua integralidade, pelo Estado. É esta Nova Direita, que agrupa em si os valores da Liberdade, da Responsabilidade, da Equidade e da Justiça que queremos que o CDS represente. Uma direita que não hesite em assumir a vanguarda da defesa de valores tão essenciais como a justiça fiscal, o desenvolvimento sustentável, a política energética, a descentralização administrativa, a defesa dos direitos e liberdades individuais, uma cultura ao serviço das pessoas, entre muitas outras questões de vanguarda. Principalmente uma Direita que não se acanhe em denunciar um país vencido, minado pela pequena (e cada vez maior) corrupção e com uma total ausência de moralidade de Estado na classe política e nas elites que nos têm governado nos últimos 35 anos. Há que dizer basta à promiscuidade entre Estado, Governo, Autoridades Reguladoras e empresas públicas e privadas. Há que dizer basta à permanente intervenção do Estado nos vários sectores de actividade, quer por via legislativa, administrativa, reguladora ou outras, como seja a nomeação política de quadros de conselhos de administração de empresas. Há que dizer basta à perseguição política que ainda hoje se faz a quem não é da cor do poder, tanto a nível autárquico, como regional e central. Há que dizer BASTA. Para isso é preciso uma nova Direita. Para isso, acreditamos nós, que somos desalinhados, é preciso o CDS. É preciso um CDS DESALINHADO! Ninguem sabe que coisa quer. Ninguem conhece que alma tem, Nem o que é mal nem o que é bem. (Que ânsia distante perto chora?) Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro... É a Hora! Fernando Pessoa, in “A Mensagem”
Download