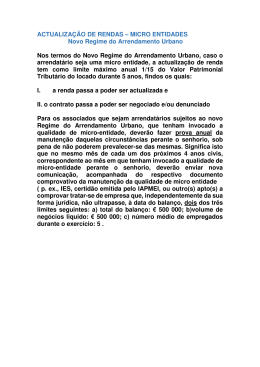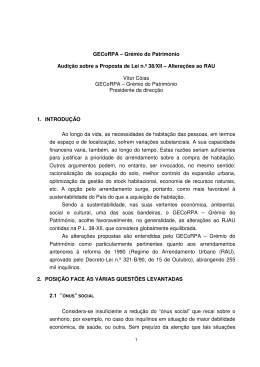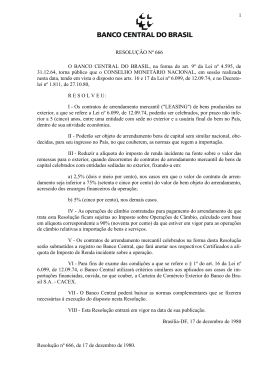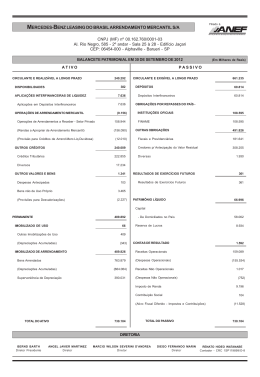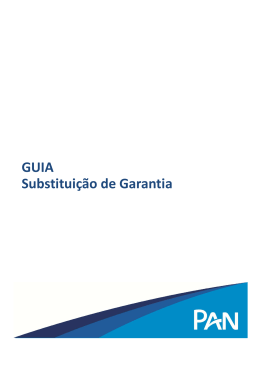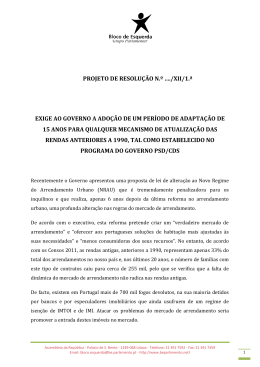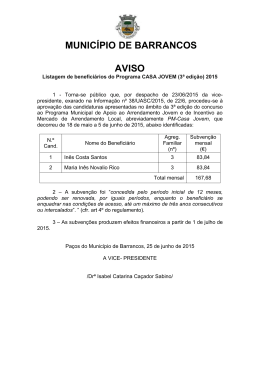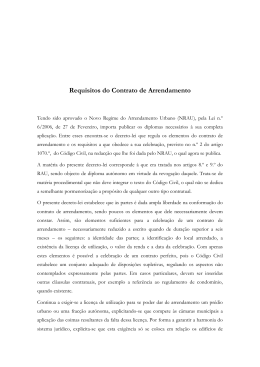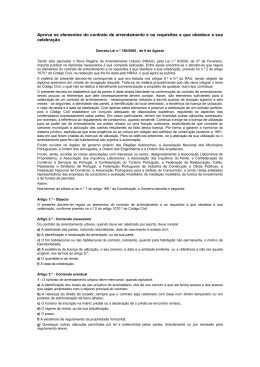compilações doutrinais FORMA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO ALGUMAS NOTAS SOBRE O PROBLEMA DA FORMA NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO E A SUA LIGAÇÃO EVENTUALMENTE PROBLEMÁTICA COM A JUSTIÇA DO CASO CONCRETO ___________ Patrícia Helena Leal Cordeiro da Costa JUÍZA DE DIREITO ® VERBOJURIDICO ALGUMAS NOTAS SOBRE O PROBLEMA DA FORMA NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO E A SUA LIGAÇÃO EVENTUALMENTE PROBLEMÁTICA COM A JUSTIÇA DO CASO CONCRETO Patrícia Helena Leal Cordeiro da Costa I – No domínio dos negócios jurídicos, a forma é o meio pelo qual se exterioriza a manifestação da vontade necessária a que as declarações dos sujeitos daqueles possam produzir efeitos jurídicos. O nosso sistema de Direito Civil parte do princípio da liberdade da forma – cfr. art. 219.º do Código Civil – mas, em certos casos, exige que as declarações negociais obedeçam a determinada forma, mais ou menos solene, como condição de validade de certos negócios. Parte-se daqui para a distinção entre negócios formais – relativamente aos quais a lei prevê, como condição de validade, a sua sujeição a uma forma especial – e negócios consensuais – para os quais basta o consenso entre as partes, dispensando outro tipo de solenidades. Outra distinção importante a reter, nesta matéria, é a deve ser feita entre formalidade ad substantiam e formalidade ad probationem. A distinção entre formalidades ad substantiam e formalidades ad probationem radica no facto de as primeiras serem insubstituíveis por outro meio de prova, cuja inobservância gera a nulidade, enquanto que nas segundas a sua falta pode ser suprida por outros meios de prova mais difíceis. O art. 220.º do Código Civil afirma como princípio geral que a declaração negocial que careça da forma legalmente prescrita é nula, quando outra não seja a sanção especialmente prevista na lei. O art. 364.º, n.º 1 do Código Civil reafirma esse princípio. Mas, no seu n.º 2, consagra a distinção entre formalidades ad substantiam e formalidades ad probationem, ao estabelecer que se “resultar claramente da lei que o documento é exigido apenas para prova da declaração, pode ser substituído por confissão expressa, judicial ou extrajudicial, contanto que, neste último caso, a confissão conste de documento de igual ou superior valor probatório”. Esta distinção será convocada mais à frente quando apreciarmos algumas soluções legais que foram consagradas no nosso Direito no que concerne ao contrato de arrendamento urbano. 1 A doutrina1 indica como justificações das exigências de forma negocial, para determinados negócios, as seguintes: - a forma assegura uma mais elevada dose de reflexão das partes, permitindo que os negócios não sejam concluídos de ânimo leve – efectivamente, a uma forma mais solene está associada em regra a necessidade de obedecer a determinados procedimentos que carecem de tempo para ser concluídos. Por outro lado, a própria solenidade do acto convida as partes a reflectirem mais aprofundadamente no acto que vão praticar; - a forma permite melhor separar os termos definitivos do negócio da fase da negociação, estabelecendo uma distinção clara entre as duas fases (negociação e conclusão); - permite um maior grau de segurança quer quanto à conclusão do negócio em si, quer quanto aos termos em que foi concluído. A forma mais solene traz consigo a constituição de um meio de prova – o documento – com uma força probatória especial e com carácter de permanência, meio de prova esse que apresenta não só a capacidade de prevenir litígios futuros mas também, caso estes se desencadeiem, a de mais facilmente permitir a sua resolução. As partes sabem com o que contam e que é fácil a prova do que negociaram, reduzindo-se assim, em grande medida, o recurso à prova testemunhal, de reconhecida falibilidade2; - e possibilita uma certa publicidade do acto, com o efeito de o tornar conhecido a terceiros. * II – O nosso passado recente tem mostrado que o Legislador não tem mantido uma abordagem uniforme à problemática da forma do contrato de arrendamento urbano. Se, por um lado, tem acompanhado a tendência geral de desburocratização e simplificação dos processos negociais, por outro lado, porém, tem avançado e recuado no tipo de consequências que associa à não observância, em determinados casos, da forma legalmente prescrita, o que por sua vez se tem reflectido numa oscilação da protecção conferida a uma das partes no contrato do arrendamento, mais concretamente do arrendatário. Passando revista pelos diplomas legais que têm vindo a ser aprovados nesta matéria, verifica-se assim que foram sucessivamente estabelecidas regras diversas, ao longo do tempo, importando pois estabelecer qual o critério a seguir quando se pretende responder à questão de saber qual a lei aplicável a um determinado contrato de arrendamento urbano, no que 1 Cfr. entre outros, MOTA PINTO, Carlos Alberto, Teoria Geral do Direito Civil / 3.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 1990, p. 430-431, cuja lição se passa a seguir de muito perto. 2 Sendo por isso que se conta que certo Juiz disse, um dia, “Eu posso ir para o Inferno, mas vou a cavalo nas testemunhas”. 2 respeita à forma a que o mesmo deve obedecer, e que consequências advêm se se concluir que determinado contrato não foi celebrado pela forma prevista pela lei julgada aplicável. * III – Sobre o problema da sucessão de leis no tempo, dispõe o art. 12.º do Código Civil o seguinte: 1. A lei só dispõe para o futuro; ainda que, lhe seja atribuída eficácia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular. 2. Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos; mas, quando dispuser directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor”. Conforme refere J. Baptista Machado3, “Cabem ao direito duas funções diferentes, tendencialmente antinómicas: uma função estabilizadora, capaz de garantir a continuidade da vida social e os direitos e expectativas legítimas das pessoas, e uma função dinamizadora e modeladora, capaz de ajustar a ordem estabelecida à evolução social e de promover mesmo esta evolução num determinado sentido”. O direito é assim considerado também como um instrumento de modelação da sociedade. Continuando a citar o mesmo Autor4, os problemas de sucessão de leis no tempo suscitados pela entrada em vigor de uma nova lei podem, pelo menos em parte, ser directamente resolvidas por essa mesma lei, mediante as denominadas disposições transitórias. Estas disposições podem ter: - carácter formal: sendo constituídas por aquelas que se limitam a determinar qual das leis – a lei antiga ou a lei nova – é aplicável a determinadas situações; ou - carácter material: ou seja, aquelas que estabelecem uma regulamentação própria, não coincidente nem com a lei antiga nem com a lei nova, para certas situações que se encontram na fronteira entre as duas leis. Destinam-se em regra a adaptar o regime da lei nova a situações existentes no momento do seu início de vigência. Quando nada se diz na lei nova sobre qual a lei aplicável às situações em que se suscita um problema de conflito de leis no tempo, somos remetidos para o art. 12.º do Código 3 J. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador / Coimbra, Almedina, 1989, p. 223. 4 J. BAPTISTA MACHADO, Idem, p. 229 e seguintes. 3 Civil, que estabelece o princípio da não retroactividade da lei nova. É a doutrina do facto passado, na formulação que lhe deu Nipperdey 5, que inspira o art. 12.º do Código Civil, o qual, no seu n.º 1, como se disse, estabelece que a lei só dispõe para futuro quando não lhe seja atribuída eficácia retroactiva pelo legislador mas, mesmo neste último caso, presumem-se ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular. O n.º 2 do art. 12.º distingue essencialmente dois tipos de normas: - as que dispõem sobre requisitos de validade, substancial ou formal, de quaisquer factos ou sobre os efeitos de quaisquer factos – estas normas só se aplicam a factos novos; e - as que dispõem sobre o conteúdo de determinadas situações jurídicas e o modelam sem olhar aos factos que a tais situações deram origem – estas normas aplicam-se a relações jurídicas constituídas antes da lei nova, mas subsistentes ou em curso à data do seu início de vigência. Assim, em resumo, podemos concluir que: - à constituição das situações jurídicas aplica-se a lei do momento em que essa constituição se verifica; - ao conteúdo das situações jurídicas que subsistam à data de início de vigência da lei nova, aplica-se imediatamente esta lei no que respeita ao regime futuro deste conteúdo e seus efeitos, com ressalva das situações de origem contratual relativamente às quais poderia haver como que uma sobrevigência da lei antiga. Destarte, e para o que agora nos ocupa, estabelece-se como regra geral aquela segundo a qual a lei que deve ser convocada para saber a que requisitos de validade formal deve obedecer determinado contrato de arrendamento urbano é a lei em vigor à data da celebração do contrato. Importa ainda atender ao que dispõe o artigo 13.º, n.º 1 do Código Civil, nos termos do qual “A lei interpretativa integra-se na lei interpretada, ficando salvos, porém, os efeitos já produzidos pelo cumprimento da obrigação, por sentença passada em julgado, por transacção, ainda que não homologada, ou por actos de análoga natureza”. Continuando a seguir J. Baptista Machado6, a lei interpretativa é aquela que vem consagrar e fixar uma das interpretações possíveis da lei antiga com que os interessados podiam e deviam contar, não sendo assim susceptível de violar expectativas seguras e legitimamente fundadas. São aquelas leis que, sobre pontos ou questões em que as regras 5 6 Citado por J. BAPTISTA MACHADO, obra citada, p. 232. J. BAPTISTA MACHADO, Obra citada, p. 245-247. 4 jurídicas aplicáveis são incertas ou o seu sentido controvertido, vêm consagrar uma solução que os tribunais podiam ter adoptado. Para ser interpretativa, a lei nova não tem que necessariamente consagrar uma corrente jurisprudencial já fixada. Ao invés, porém, uma lei nova que venha consagrar uma solução diferente daquela que corrente jurisprudencial uniforme tornou praticamente certa é já uma lei inovadora. * IV – Sendo estas as regras gerais a ter em conta na problemática da sucessão de leis no tempo, vejamos agora qual tem sido a evolução legislativa mais recente nesta matéria, para o que se passará, com a devida vénia, a seguir muito de perto a lição de Pinto Furtado7, ao mesmo tempo que se destacarão alguns pontos mais controversos que a aplicação das sucessivas regras legais aqui em causa tem suscitado. Assim, o Código Civil de Seabra não estabelecia qualquer exigência legal de forma para o contrato de arrendamento urbano. O Decreto de 12-11-1910 instituiu a exigência de forma legal nos seguintes termos: para o arrendamento de prédios urbanos, exigia o “título autêntico ou autenticado” (art. 2.º); em alguns casos particulares, abrandava o princípio. O Decreto n.º 5.411, de 17-04-1919 passou a exigir apenas a redução a escrito do contrato de arrendamento de prédios urbanos de renda superior a 2$50 por mês, ou sujeitos a registo (arts. 44.º e 45.º). Como a falta de forma legal determinava a nulidade do contrato, a Lei n.º 1.662 de 409-1924 (art. 4.º) e o Decreto n.º 22.661 de 13-06-1933 vieram admitir o seguinte: a primeira, que os arrendamentos de prédios urbanos seriam, apesar da falta de título escrito, reconhecidos em juízo, em qualquer estado da causa e por qualquer meio de prova, quando se demonstrasse que a falta era imputável a negligência, coacção, dolo ou má fé do senhorio; o segundo, que bastaria fazer a prova de que a falta era imputável ao senhorio ou ao arrendatário, mas unicamente na contestação, nas acções contra o arrendatário, ou na petição, se invocada pelo senhorio. Seguidamente, veio a Lei n.º 2.030, de 22-06-1948 instituir um novo regime, consagrando – excepto quanto aos arrendamentos sujeitos a registo e aos arrendamentos comerciais ou industriais, para os quais exigia escritura pública – um sistema mitigado, estabelecendo que o contrato de arrendamento de prédios urbanos não carecia, em geral, de ser reduzido a escrito, mas logo acrescentando que o arrendatário apenas podia fazer prova do mesmo desde que exibisse recibo de renda assinado pelo proprietário ou por quem as suas 7 PINTO FURTADO, Jorge Henrique da Cruz, Manuel de Arrendamento Urbano, Volume I / 4.ª Edição Actualizada, Coimbra, Almedina, 2007, p. 437 e segs.. 5 vezes fizesse (art. 36.º). No âmbito deste diploma, ao recibo equivalia o depósito, dentro dos três meses posteriores ao vencimento da primeira renda, quando não fosse impugnado ou a impugnação improcedesse. Segundo foi referido no Parecer da Câmara Corporativa que instruiu o projecto do diploma, a exigência de recibo para a prova do contrato pelo arrendatário filiava-se em que “se o senhorio não recebe rendas nem assina recibos, o contrato pode confundir-se com um comodato e não é conveniente que a cedência gratuita duma casa possa transformar-se num contrato de arrendamento pelo simples depoimento de duas testemunhas”. Por outro lado, prevenindo uma eventual fraude do senhorio, deu-se ao arrendatário a possibilidade de provar o contrato pelo depósito da renda. Foi esta solução que, no essencial, passou para o Código Civil de 1966, em cujo art. 1029.º se preceituava o seguinte: “1. Devem ser reduzidos a escritura pública: a) Os arrendamentos sujeitos a registo; b) Os arrendamentos para o comércio, indústria ou exercício de profissão liberal. 2. No caso da alínea a) do número anterior, a falta de escritura pública ou do registo não impede que o contrato se considere validamente celebrado e plenamente eficaz pelo prazo máximo por que o poderia ser sem a exigência de escritura e de registo”. No art. 1088.º estabelecia-se, por sua vez, que “Se o arrendamento for válido independentemente de título escrito e este não existir, o arrendatário só pode provar o contrato desde que exiba recibo de renda”. Na vigência do Código Civil, foi publicado o Decreto-Lei n.º 445/74, de 12 de Setembro, que veio estabelecer que, de futuro, todos os contratos de arrendamento para habitação constariam obrigatoriamente de documento assinado por ambos os contraentes. Depois, foi publicado o Decreto-Lei n.º 188/76, de 12 de Março, nos termos do qual estes contratos (de arrendamento para habitação) deviam ser sempre reduzidos a escrito; estabeleceu ainda que a falta de forma legal era imputável ao locador e só o locatário podia invocar a respectiva nulidade, sendo que, não a invocando, poderia o locatário provar o contrato por qualquer meio (art. 1.º). O seu art. 2.º, n.º 1 mandou aplicar este regime aos contratos existentes. Além disso, consagrou-se a possibilidade de o locador fazer notificar judicialmente o locatário para reduzir o contrato a escrito, sendo que se o locatário se recusasse injustificadamente a fazê-lo, não se poderia prevalecer da faculdade de fazer prova 6 do contrato por qualquer meio quanto aos contratos preexistentes. Entretanto, o Decreto-Lei n.º 65/75, de 19 de Fevereiro viera aditar um n.º 3 ao art. 1029.º do Código Civil, nos termos do qual “No caso da alínea b) do n.º 1.º, a falta de escritura pública é sempre imputável ao locador e a respectiva nulidade só é invocável pelo locatário, que poderá fazer a prova do contrato por qualquer meio”8. Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de Janeiro veio consagrar um regime semelhante para o contrato de arrendamento para habitação. * V – Analisando o que agora se expôs, conclui-se então que, quanto aos contratos celebrados antes de 15 de Novembro de 19909, o regime aplicável era este: a) os contratos de arrendamento para habitação de prazo não superior a 6 anos – logo, não sujeitos a registo10 – celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 445/74, de 12 de Setembro, não estavam sujeitos a forma especial legal. Porém, a sua prova sofria a restrição prevista no art. 1088.º do Código Civil até à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 188/76. Com a estrada em vigor do Decreto-Lei n.º 445/74, passou a ser exigida, para os contratos celebrados a partir de então, a forma escrita, mas sem que se tenha com o mesmo estabelecido qualquer especial sanção para a falta de observância dessa forma, o que levaria à conclusão que tal determinaria a nulidade do contrato, invocável por qualquer das partes nos termos gerais (cfr. arts. 220.º e 286.º do Código Civil). Com o Decreto-Lei n.º 188/76, estabeleceu-se que estes contratos deviam ser reduzidos a escrito, mas ainda que, apesar disso, a falta de forma legal era imputável ao senhorio e apenas o arrendatário podia invocar a respectiva nulidade. Não a invocando, podia provar o contrato por qualquer meio – inclusivamente através de prova testemunhal. 8 No artigo 2.º deste Decreto-Lei n.º 65/75, estabeleceu-se a seguinte norma transitória: “1. O disposto no n.º 3 do artigo 1029.º e nos n.os 2 e 3 do artigo 1051.º, ambos do Código Civil, é aplicável aos arrendamentos já existentes, mesmo que haja acção pendente, ainda que com despejo decretado, contanto que não efectuado, contando-se o prazo estabelecido no n.º 3 do artigo 1051.º do Código Civil a partir da entrada em vigor do presente diploma. 2. Nos arrendamentos contemplados no n.º 3 do artigo 1029.º do Código Civil, ainda que só verbais e anteriores a 1 de Junho de 1967, é concedida ao locador a faculdade de, no prazo de cento e oitenta dias, a contar da entrada em vigor deste diploma, notificar judicialmente o locatário para reduzir o contrato a escritura pública, não aproveitando a este o preceituado nesse número se por sua parte houver recusa injustificada. 3. Se houver acção ou execução pendente, nos termos dos dois números anteriores, deverá a mesma ser suspensa pelo tempo necessário ao exercício das faculdades aí conferidas, devendo cessar essa suspensão logo que a posição do locatário se mostre consolidada ou insubsistente; em tais casos, a notificação para a redução do contrato à forma legal pode ser feita no próprio processo, desde que a parte interessada nele o requeira até ao trânsito em julgado da decisão que decretar tal suspensão”. 9 Data de entrada em vigor do RAU, aprovado pelo DL 321-B/90, de 15 de Outubro. 10 Nos termos do art. 2.º, n.º 1, al. m) do Código do Registo Predial, os arrendamentos sujeitos a registo são os celebrados por mais de 6 anos. 7 E, além disso, como se disse, o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 188/76 determinou a aplicação deste regime de invalidade aos arrendamentos já existentes. Em consequência desta norma, e ainda do aditamento do n.º 3 ao art. 1029.º do Código Civil pelo Decreto-Lei n.º 65/75, o art. 1088.º do Código Civil passou apenas a aplicar-se aos contratos de arrendamento para fins que não fossem a habitação, comércio, indústria ou exercício de profissão liberal, pois só esses eram válidos independentemente de título escrito. b) contratos de arrendamento de prazo superior a 6 anos – estavam sujeitos à obrigatoriedade da sua celebração por escritura pública, por força do art. 1029.º, n.º 1 do Código Civil. No caso de o contrato de arrendamento habitacional de prazo superior a 6 anos não obedecer a tal forma, nos termos do n.º 2 do art. 1029.º do Código Civil o contrato considerava-se validamente celebrado pelo prazo de seis anos (quanto aos arrendamentos comerciais, industriais ou para o exercício de profissão liberal, o regime será o que a seguir se exporá na al. c)). Caso tivesse sido celebrado por escrito particular, tal não levantava problemas. Mas e se tivesse sido celebrado verbalmente? Segundo Pinto Furtado11, deve-se então seguir o regime supra exposto na alínea a). c) contratos de arrendamento comerciais, ou industriais, ou para o exercício de profissão liberal – estavam igualmente sujeitos a escritura pública, nos termos da al. b) do n.º 1 do art. 1029.º do Código Civil. A falta de celebração do contrato por essa forma convocava a aplicação do n.º 3 do art. 1029.º do Código Civil12, nos termos do qual a falta de escritura pública era sempre imputável ao locador, e a respectiva nulidade só invocável pelo locatário, que poderia fazer a prova do contrato por qualquer meio. * Uma questão de não fácil resolução que o regime trazido pelo Decreto-Lei n.º 188/76, bem como pelo aditamento do n.º 3 ao art. 1029.º do Código Civil, suscitou foi a de saber se, quando a lei referia que a falta de forma legal era imputável ao senhorio, estava a estabelecer uma presunção iuris et de iure ou uma presunção iuris tantum. Mais concretamente, a questão passava por saber se, invocando o inquilino a nulidade do contrato por falta de forma, ao senhorio era reconhecida a possibilidade de provar que a falta de obediência à forma legalmente prescrita não lhe era imputável e, consequentemente, 11 PINTO FURTADO, obra citada, p. 444-445. Que foi aditado, como se referiu, pelo Decreto-Lei n.º 67/75, de 19 de Fevereiro, mas em cujo artigo 2.º se estabeleceu que n.º 3 do artigo 1029.º era aplicável aos arrendamentos já existentes. 12 8 prevalecer-se de um contrato de arrendamento verbal. A doutrina dividiu-se a este respeito. No sentido de a lei consagrar uma presunção iuris et de iure pronunciaram-se Pereira Coelho, Pais de Sousa, Januário Gomes, Pires de Lima e Antunes Varela13. Ao invés, Pinto Furtado14 entendeu que a lei estabelecia apenas uma presunção iuris tantum. Assim, apenas estava vedado ao senhorio invocar a nulidade do contrato por falta de forma – mas não já lhe estaria vedada a possibilidade de prevalecer-se do contrato, caso provasse que a falta de forma não lhe era imputável. Sempre ressalvado melhor entendimento, julgo que a solução mais correcta é de considerar que, na realidade, o legislador consagrou uma presunção iuris et de iure em como a falta de observância da forma legal era imputável ao senhorio, não sendo de admitir prova em contrário (mas sem prejuízo do disposto no art. 2.º, n.º 2 do DL 65/75 e no art. 2.º, n.º 2 do DL 188/76). Assim, e analisados o Decreto-Lei n.º 65/75 e o Decreto-Lei n.º 188/76, conclui-se que o primeiro serviu claramente de inspiração ao segundo, não se vislumbrando qualquer razão que permita extrair a conclusão de que o regime consagrado por um e por outro deva ser distinto. Ora, no primeiro diploma agora referido, fez-se constar do n.º 3 do art. 1029.º do Código Civil o advérbio “sempre”, o que, a meu ver, exclui a possibilidade de o senhorio ser admitido a provar que a falta de forma não lhe é imputável. Veja-se que, noutro domínio – o do contrato-promessa –, o legislador optou, no n.º 3 do art. 410.º do Código Civil (na redacção do Decreto-Lei 379/86, de 11-11) por uma formulação substancialmente diferente, não deixando, aqui sim, dúvidas em como não considera sempre imputável ao promitente-transmitente a inobservância da formalidade ali prevista ao consignar que o contraente que promete transmitir ou constituir o direito só pode invocar a omissão destes requisitos quando a mesma tenha sido culposamente causada pela outra parte – assim admitindo que o promitente-transmitente prove que a culpa da inobservância da formalidade não é sua, mas sim da contraparte. De onde decorre que, ainda fazendo apelo ao disposto no art. 9.º, n.º 3 do Código Civil, se o legislador quisesse permitir que o locador pudesse provar que a falta de forma não lhe era imputável, o teria expressado de forma clara, como o fez por exemplo no art. 410.º, n.º 3 do Código Civil. Além disso, penso que tal solução não preclude em absoluto os direitos do senhorio no 13 14 Citados por PINTO FURTADO, obra citada, p. 466. PINTO FURTADO, obra citada, p. 443-444 e p. 466-474. 9 caso de o inquilino ocupar o prédio e se recusar a pagar a renda quando o contrato foi celebrado sem observância da forma legal: - assim, o senhorio que pretenda intentar uma acção de despejo, invocando o arrendamento e a falta de pagamento de renda, mas querendo também prevenir a invocação, por parte do arrendatário, da nulidade do contrato por falta de forma, sempre poderá, a título subsidiário15, e com base no regime da nulidade – cfr. art. 289.º do Código Civil –, pedir a restituição do local arrendado e ainda o pagamento de quantia pecuniária equivalente ao gozo que o arrendatário teve do local. Na realidade, neste caso, não será o senhorio quem invoca a nulidade do contrato, estando antes a fundar o pedido subsidiário na invocação dessa nulidade que eventualmente venha a ser feita pelo arrendatário em sede de contestação. Concede-se, porém, que tal solução apenas poderá ser aceitável para as acções propostas após a entrada em vigor das alterações ao Código de Processo Civil introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro pois, considerando que a acção de despejo era uma acção especial, apenas com recurso aos poderes de adequação formal que ao juiz são reconhecidos pelo art. 265.º-A do Código de Processo Civil poderia ser admitida uma tal dedução de pedidos subsidiários. A não ser assim, então o senhorio, perante a invocação eficaz da nulidade do contrato por parte do arrendatário na acção de despejo, teria que propor segunda acção, agora com base na nulidade anteriormente invocada pelo arrendatário na primeira acção e consequentemente decretada pelo tribunal, pedindo a restituição do local e o pagamento da compensação correspondente ao gozo que o arrendatário teve do mesmo, tudo nos termos do art. 289.º do Código Civil; - de qualquer modo, pode seguir-se ainda o entendimento propugnado por Aragão Seia16, segundo o qual a razão de ser da solução legal é a de evitar que o senhorio, parte mais forte, possa reivindicar e obter a restituição do local arrendado com base na nulidade formal do contrato, forçando o arrendatário a entregar a coisa sem possibilidade de defesa. O pensamento legislativo não foi o de permitir que o inquilino tivesse carta branca para não cumprir a prestação a que estava adstrito. Se o locatário não cumprisse as suas obrigações e, no entanto, não tivesse feito cessar o contrato, ficava sob a alçada do art. 1093.º do Código Civil então em vigor, conferindo o direito ao senhorio de resolver o contrato. A não ser assim, continuava Aragão Seia, citando agora Coutinho de Abreu 17, estar-se-ia a “permitir o exercício abusivo de um direito, proibido pelo art. 334.º do Código Civil, por o 15 Cfr. art. 469.º do Código de Processo Civil. ARAGÃO SEIA, Jorge Alberto, Arrendamento Urbano / 6.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2002, p. 31-33, onde na nota (1) se remete para o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 7 de Maio de 1987, CJ XII, 3, 166, de que o Autor fora relator 17 COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel, Do Abuso do Direito / Coimbra, Almedina, 1983, p. 55 e p. 60. 16 10 locatário exceder manifestamente os limites impostos pela boa fé, o que significa que as pessoas devem ter um comportamento honesto, correcto, leal, nomeadamente no exercício de direitos e deveres, não defraudando a legítima confiança ou expectativa dos outros, sendo por isso inadmissível a impugnação da validade de um negócio por vício de forma por quem, apesar disso, o cumpre ou aceita o cumprimento realizado pela outra parte. * d) contratos de arrendamento vinculísticos atípicos – se tivessem duração superior a 6 anos, deviam ser celebrados por escritura pública (art. 1029.º, n.º 1, al. a) do Código Civil), sendo que, na falta de cumprimento dessa forma, observar-se-á o acima referido na al. b). Se tivessem duração igual ou inferior a 6 anos, não estavam sujeitos a forma legal (art. 219.º do Código Civil). Questiona-se, porém, se após a entrada em vigor do RAU, que veio revogar o art. 1088.º do Código Civil, a prova destes contratos apenas pode ser feita pela exibição de recibo de renda (neste sentido, Pinto Furtado, por entender que tal exigência é uma condição de validade formal do contrato, logo abrangida pelo art. 12.º, n.º 2, 1.ª parte do Código Civil18) ou se a sua prova pode passar a ser feita por qualquer meio (neste sentido, Pereira Coelho19). Por mim, atenta a redacção do art. 1088.º do Código Civil, que se refere na sua primeira parte a arrendamentos válidos independentemente de título escrito, não me parece, sempre sem quebra da devida vénia por opinião diversa, que a segunda parte estabeleça um regime atinente à validade formal do contrato, mas tão só à forma da sua prova. Pelo que tendo a concordar com Pereira Coelho no sentido de, com a revogação do art. 1088.º operada com a entrada em vigor do RAU, os contratos em apreço poderem ser provados por qualquer meio, quer pelo arrendatário quer pelo senhorio; e) contratos de arrendamento previstos no art. 1083.º, n.º 2 do Código Civil na sua primitiva redacção – não estavam sujeitos a forma legal, sendo-lhes aplicável o acima referido na al. d) quanto ao art. 1088.º do Código Civil . * VI – Vejamos agora o regime aplicável aos contratos celebrados entre 15 de Novembro de 1990 e 30 de Abril de 200020. 18 PINTO FURTADO, obra citada, pag. 446. No texto da obra citada, refere-se o seu Autor, na nota (391) a “imperativo do art. 12.º-1, 1.ª parte, CC", mas penso que se deveria querer referir ao n.º 2 do art. 12.º do Código Civil visto reportar tal referência a “condição de validade formal e, portanto, também obviamente sujeita ao imperativo (…)”. 19 PEREIRA COELHO, Francisco Manuel, Breves Notas ao «Regime do Arrendamento Urbano», RLJ n.º 126.º, p. 198, nota (39). 20 Visto que em 1 de Maio de 2000, entrou em vigor do Decreto-lei n.º 64-A/2000, de 22 de Abril. 11 O RAU, aprovado pelo DL 321-B/90, de 15 de Outubro, veio acabar com o regime atrás exposto, mas apenas para o futuro conforme resulta do art. 6.º do decreto preambular – nos termos do qual o disposto nos arts. 7.º e 8.º do RAU não prejudica os precisos efeitos que os artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de Janeiro, e 1029.º, n.º 3 do Código Civil reconheciam aos contratos celebrados antes da entrada em vigor do presente diploma. Este artigo 6.º está, pois, em consonância com a primeira parte do n.º 2 do art. 12.º do Código Civil. Quanto aos arrendamentos celebrados na vigência do RAU, passou a valer o seguinte regime: “1. O contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito. 2. Devem ser reduzidos a escritura pública: a) os arrendamentos sujeitos a registo; b) os arrendamentos para o comércio, indústria ou exercício de profissão liberal. 3. No caso do n.º 1, a inobservância da forma escrita só pode ser suprida pela exibição do recibo de renda e determina a aplicação do regime de renda condicionada, sem que daí possa resultar aumento de renda. 4. No caso da alínea a) do número 2, a falta de escritura pública ou de registo não impede que o contrato se considere validamente celebrado e plenamente eficaz pelo prazo máximo por que o poderia ser sem a exigência de escritura pública e de registo, desde que tenha sido observada a forma escrita”. Visto este regime, é lícito retirar as seguintes conclusões: a) os contratos de arrendamento para habitação por prazo não superior a 6 anos deviam ser celebrados por escrito. A falta de tal forma escrita apenas podia ser suprida pela exibição do recibo de renda, determinando a aplicação do regime de renda condicionada, sem que este pudesse acarretar um aumento de renda, porém; b) os contratos de arrendamento para habitação por prazo superior a 6 anos deviam ser celebrados por escritura pública, visto estarem sujeitos a registo. Na falta de escritura pública, o contrato era válido pelo prazo de 6 anos desde que tivesse sido observada a forma escrita. Daqui se conclui que, caso o contrato tivesse sido celebrado apenas verbalmente, não era permitida a sua convalidação pela exibição de recibo de renda nos termos do n.º 3, por a redução temporal para 6 anos estar dependente da observância de forma escrita – sendo, consequentemente, o arrendamento nulo e sujeito ao regime dos arts. 220.º e 12 286.º do Código Civil21; c) contratos de arrendamento comerciais ou industriais ou para exercício de profissão liberal: deviam ser celebrados por escritura pública, sem qualquer possibilidade de suprimento, consagrando o art. 7.º, n.º 2, al. b) uma verdadeira formalidade ad substantiam. A inobservância desta forma determina a nulidade do contrato, nos termos do art. 220.º do Código Civil, sujeita ao regime do art. 286.º do mesmo Código; d) contratos de arrendamento para outras aplicações lícitas, e de duração não superior a 6 anos, exceptuados os previstos no n.º 2 do art. 5.º do RAU: deviam ser celebrados por escrito, por força do art. 7.º, n.º 1, ex vi do art. 5.º, n.º 1. Para Pinto Furtado22, a falta de forma escrita não podia ser suprida pela exibição de recibo de renda pois a aplicação do n.º 3 do art. 7.º determinaria a sujeição do arrendamento ao regime da renda condicionada, o que não pode ter lugar neste caso já que tal regime apenas é aplicável aos arrendamentos para habitação. Já Pereira Coelho tem entendimento diverso, considerando que apenas serão nulos quando o arrendatário não exiba recibo23. Inclino-me para esta segunda posição, por me parecer resultar do art. 7.º ser vontade do legislador permitir que a falta de observância da forma escrita, quando apenas exigida esta, seja em geral suprida pela exibição do recibo de renda, sendo certo que no n.º 3 não se restringe a sua aplicação, em termos expressos, aos arrendamentos para habitação. Por outro lado, com a exibição do recibo de renda ultrapassamse as dificuldades mais relevantes no que respeita à prova do contrato, pois tal documento constitui prova em si suficiente da existência de um contrato de arrendamento, não permitindo a sua confusão com outro tipo de ocupação do local por parte de quem está no seu gozo (v.g. comodato). Tal solução determinará, consequentemente, que não se possa aplicar a segunda parte deste n.º 3 a este tipo de contratos, visto que efectivamente o regime de renda condicionada é privativo do arrendamento para habitação; e) contratos de arrendamento previstos no n.º 2 do art. 5.º do RAU, não sujeitos a legislação especial, e de prédios rústicos não sujeitos a regimes especiais do art. 6.º, n.º 1: não estão sujeitos a forma legal, ficando assim a coberto do regime geral do art. 219.º do Código Civil, e podendo-se provar-se livremente por qualquer uma das partes. * Antes de prosseguir para a alteração legislativa subsequente, debrucemo-nos mais detalhadamente sobre o regime de suprimento da falta de forma escrita pela exibição de 21 Neste sentido, cfr. PINTO FURTADO, obra citada, p. 447; PEREIRA COELHO, obra citada, p. 198; e ARAGÃO SEIA, Jorge Alberto, Arrendamento Urbano / Coimbra, Almedina, 1995, p. 130-131. 22 PINTO FURTADO, obra citada, p. 448. 23 PEREIRA COELHO, obra citada, p. 199. 13 recibo de renda. Afirma Januário Gomes24 que o n.º 3 do art. 7.º do RAU vem permitir, excepcionalmente, a convalidação do contrato, nos seus precisos termos, não se podendo, portanto, concluir que este regime de excepção tenha a virtualidade de transformar o escrito exigido no n.º 1 do artigo em documento ad probationem. Neste sentido, também Pires de Lima e Antunes Varela25 afirmam que a falta de declaração escrita, nos arrendamentos abrangidos no n.º 1, pode ser suprida pela exibição de recibo de renda (de qualquer renda), documento que convalida o contrato nulo, enquanto na vigência do art. 1088.º do Código Civil era apenas instrumento privilegiado de prova de um contrato válido. O recibo não pode agora ser substituído por documento equivalente nos termos do art. 364.º, n.º 2 do Código Civil. Igualmente Pinto Furtado26 afirma que se está em presença de uma formalidade ad substantiam, uma vez que a lei se limita a exigir certo documento como forma de declaração negocial, sem dizer mais nada, sendo, pois, de observar a regra do art. 364.º, nº 1 do Código Civil. Para este Autor, a lei é exigente e rigorosa para autorizar o intérprete a admitir a excepção (prevista no n.º 2 do art. 364.º): tem de estar em presença de uma norma que, de modo claro, restrinja o tipo a que alude unicamente a um simples meio de prova da declaração negocial. Por outras palavras, o preceito em causa tem de exprimir claramente que o documento que refere é apenas uma formalidade ad probationem da declaração negocial. Ora, a disposição do art. 7.º, n,º 3 do RAU não exprime claramente que o escrito é desta natureza; nas suas próprias palavras, a falta de escrito é qualificada como inobservância de forma. Por outro lado, essa inobservância só pode ser suprida pela exibição do recibo de renda, o que exclui a confissão ou outro meio de força probatória igual à do simples escrito. Acresce que o recibo não tem uma função de prova do contrato de arrendamento; constitui a prova de um pagamento que, por força do art. 7.º, n.º 3, é aproveitada, como único meio de conversão ope legis do contrato nulo, por vício de forma, num contrato válido de arrendamento em regime de renda condicionada (insusceptível de ser substituído por outro). Em sentido divergente da posição acima defendida, sustenta-se que, na hipótese considerada, se estará parente uma formalidade ad probationem. Afirma Pereira Coelho27 que o recibo de renda pode ser substituído nos termos do art. 24 JANUÁRIO GOMES, M., Arrendamento para Habitação / 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 1996, p. 62. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, II Volume / 4.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 1997, p. 498. 26 PINTO FURTADO, obra citada, p. 450-455. 27 PEREIRA COELHO, obra citada, p. 198, nota (37). 25 14 364.º, n.º 2 do Código Civil por qualquer outro meio de prova assinado pelo senhorio e de que conste a confissão expressa do contrato de arrendamento (como por exemplo uma carta, mesmo que não dirigida ao inquilino, ou uma declaração entregue na repartição nas finanças) pois, permitindo a lei que a falta de contrato escrito seja suprida por um documento que tem inequivocamente uma simples função de prova do contrato de arrendamento (ao provar o pagamento da renda, prova que o senhorio recebeu a mesma, reconhecendo portanto um contrato de arrendamento válido e eficaz), parece resultar claramente da lei que a forma escrita do contrato, nos casos em que a lei admite tal suprimento, apenas é exigida para prova da declaração negocial nos termos do art. 364.º, n.º 2 do Código Civil – podendo por isso ser substituída por qualquer outro documento em que contenha uma confissão expressa do senhorio do contrato de arrendamento. No mesmo sentido, também Pais de Sousa28. A posição defendida por Aragão Seia29 era distinta: apesar de sustentar que se estava perante uma formalidade ad probationem, afirmava que o advérbio “só”, constante do n.º 3, consubstancia uma medida excepcional que restringe a prova do contrato verbal unicamente ao recibo, afastando os termos gerais do n.º 2 do art. 364.º do Código Civil, pelo que não pode ser considerada prova por confissão expressa, judicial ou extrajudicial. Ponderados os argumentos aduzidos em abono destas posições e o texto da lei, julgo que a interpretação que mais se adequa à norma legal é a que vai no sentido de considerar que a forma escrita é uma formalidade ad substantiam, sendo a exibição do recibo de renda uma forma de convalidação de um contrato à partida inválido. Na realidade, o n.º 1 do art. 7.º limita-se a exigir a forma escrita como forma de declaração negocial, sem dizer mais nada, mais concretamente não dizendo que o documento que refere é apenas uma formalidade ad probationem da declaração negocial, ou que se destina tão só à sua prova. Além disso, o n.º 2 refere “inobservância da forma” e “suprida”, termos que encontram o seu campo natural de aplicação no regime das invalidades formais. Seja como for, mesmo que se entenda que se está perante uma formalidade ad probationem, o advérbio “só” presente no n.º 2 do art. 7.º é claro, em meu entender, em excluir outra forma de convalidação/prova que não a realizada pela exibição do recibo de renda, pelo que concluo não ser de aplicar, neste caso, o regime geral do n.º 2 do art. 364.º do Código Civil30. 28 PAIS DE SOUSA, António, Anotações ao Regime do Arrendamento Urbano / 4.ª edição, Lisboa, Editora Rei dos Livros, p. 76. 29 ARAGÃO SEIA, Jorge Alberto, Arrendamento Urbano / 6.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2002, p. 173-175. 30 Com interesse, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19/12/2006, processo n.º 06A3363, na Internet em www.dgsi.pt. 15 * VII – Sigamos para os contratos celebrados entre 1 de Maio de 2000 e 28 de Junho de 2006 31. O Decreto-Lei n.º 64-A/2000, de 22 de Abril veio novamente alterar o regime dando uma nova redacção ao art. 7.º do RAU, na sequência do que passaram a vigorar as seguintes regras: - o contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito; - a inobservância da forma escrita só pode ser suprida pela exibição do recibo de renda e determina a aplicação do regime de renda condicionada, sem que daí possa resultar aumento de renda; - no caso dos arrendamentos sujeitos a registo, a falta deste não impede que o contrato se considere plenamente eficaz pelo prazo máximo por que o poderia ser sem essa exigência, desde que tenha sido observada a forma escrita. Consequentemente: a) aos arrendamentos para habitação celebrados por prazo não superior a 6 anos, aplicam-se os princípios que já constavam do RAU na sua formulação primitiva; b) os arrendamentos celebrados por prazo superior a 6 anos, e assim sujeitos a registo, passam a poder ser celebrados apenas por escrito. Em consonância com a nova redacção dada ao art. 7.º do RAU, o art. 2.º do DecretoLei n.º 64-A/2000, de 22 de Abril revogou a al. m) do n.º 2 do art. 80.º do Código do Notariado. A falta de registo não impede que o contrato se considere plenamente eficaz pelo prazo de 6 anos, desde que tenha sido observada a forma escrita. E quando não tenha sido observada a forma escrita? Entende Pinto Furtado32 que é de aplicar o regime do n.º 2 do art. 7.º do RAU, na parte possível – ou seja, apenas a primeira parte no caso dos arrendamentos que não para habitação –, permitindo-se assim a convalidação do contrato desde que seja exibido recibo de renda, mas ficando reduzido ao prazo de 6 anos. Sustenta que tal é a hipótese mais conforme à vontade legislativa revelada com o Decreto-Lei n.º 64-A/2000, uma vez que deixou consignada a regra do n.º 2 em termos genéricos – deixando-a sem alterações relativamente à redacção primitiva do RAU, apenas alterando a numeração em consequência da supressão do anterior n.º 2, e sem cuidar que a parte final do preceito era inaplicável a arrendamentos diferentes dos para habitação. 31 32 Entrada em vigor do NRAU, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro. PINTO FURTADO, obra citada, p. 476-477. 16 Com o devido respeito por entendimento diverso, também penso ser esta solução a mais consentânea com a intenção legislativa que presidiu à alteração em apreço, visando claramente a desburocratização e simplificação do processo negocial, bem como a redução dos casos de invalidade formal insuprível do contrato. Na realidade, não alcanço a razão de ser de, optando-se por entendimento diverso ao sustentado por Pinto Furtado, tratar diferentemente um arrendamento para habitação cujo prazo inicial de duração acordado foi 6 anos – caso em que, sendo celebrado verbalmente, a falta de tal forma escrita pode ser suprida pela exibição do recibo de renda – em relação a um arrendamento para habitação cujo prazo inicial acordado foi 7 anos, mas que por não ter sido registado, vê esse prazo reduzido para 6 anos. Penso que a referência feita na parte final do n.º 3 do art. 7.º do RAU, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 64-A/2000, a “desde que tenha sido observada a forma escrita” tinha sentido apenas quando era exigida, na redacção primitiva, a celebração do contrato por escritura pública, mas perdeu esse sentido com a alteração introduzida por aquele Decreto-Lei n.º 64-A/2000 (na sequência da qual os contratos ficam apenas sujeitos à forma escrita, mas estabelecendo-se, sem distinção, no n.º 2 do art. 7.º uma forma de convalidação do contrato, quando não tenha sido celebrado por escrito, através da exibição de recibo); c) os arrendamentos para comércio, indústria ou exercício de profissão liberal passam a poder celebrar-se apenas por escrito. Novamente aqui se coloca a questão de saber se, não sendo celebrados por escrito, e visto que o regime de renda condicionada apenas é aplicável aos contratos de arrendamento para habitação, a falta dessa forma pode ser suprida nos termos do n.º 2 do art. 7.º, ou seja, com a exibição do recibo de renda. Aragão Seia33 entendia que não, argumentando que o intérprete não pode aplicar uma sanção não tipificada na lei para o caso concreto, adequar uma já existente ou criar uma outra para o efeito – e, não estando especialmente prevista uma sanção, é aplicável o regime geral do art. 220.º do Código Civil. Já Pinto Furtado34 entende que sim, nos termos acima expostos. Por identidade de razões com as referidas supra na al. b), considero que o entendimento de Pinto Furtado é de seguir; d) quanto aos arrendamentos para outra aplicação lícita não superior a 6 anos: estão sujeitos a forma escrita, nos termos do n.º 1 do art. 7.º do RAU, sendo que a falta desta forma é suprível nos termos do n.º 2 conforme referido para o caso anterior; e) contratos de arrendamento previstos no n.º 2 do art. 5.º do RAU, não sujeitos a legislação especial, e de prédios rústicos não sujeitos a regimes especiais do art. 6.º, n.º 1: 33 34 ARAGÃO SEIA, obra citada, p. 177. PINTO FURTADO, obra citada, p. 476-477 17 mantém-se o regime do RAU primitivo. * Ainda no que concerne ao regime introduzido pelo Decreto-Lei n.º 64-A/2000, poderse-á perguntar se, para os casos em que antes era exigível a escritura pública e passou apenas a exigir-se escrito particular – e cuja falta passou até a ser suprível nos termos do n.º 2 do art. 7.º do RAU –, tais contratos, quando celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 64-A/2000 por escrito particular, deverão passar a considerar-se válidos ou, ao invés, se se mantêm nulos por falta de forma. Considerando que o Decreto-Lei n.º 64-A/2000 não consagrou nenhuma regra transitória especial, é aplicável a regra geral prevista no art. 12.º, n.º 2 do Código Civil. Ora, a alteração consagrada por aquele diploma legal consubstancia uma lei nova, sem eficácia retroactiva, não podendo ser considerada como lei interpretativa. Logo, as condições de validade daqueles contratos continuam a ser regulados pela lei em vigor à data da sua celebração, pelo que, tendo sido celebrados por outra forma que não a escritura pública, mantêm-se inválidos por falta de forma. Não se concorda, assim, e com todo o respeito, com a opinião de Maria Olinda Garcia35 quando sustenta que “da redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 64-A/2000 ao art. 7.º do RAU pode concluir-se que o legislador não dispôs apenas sobre as condições de validade formal do contrato de arrendamento; introduziu também uma mudança na natureza jurídica das normas que então passaram a disciplinar a exigência de forma. Efectivamente, ao eliminar a exigência de escritura pública para os arrendamentos destinados a comércio, indústria ou exercício de profissões liberais, bastando-se com um documento particular, e admitindo amplamente que a sua função pudesse ser cumprida pela exibição de recibos de renda, o legislador demonstrou que o requisito de forma tinha perdido a natureza ad substantiam que tinha tido no direito anterior, para passar a ter apenas natureza ad probationem. Tal mudança de natureza jurídica possibilita a aplicação do disposto no art. 364.º, n.º 2 do CC, podendo, portanto, os arrendamentos para aqueles fins, celebrados sem observância de escritura pública, entre 15 de Novembro de 1990 e 1 de Maio de 2000, ser provados por confissão expressa ou extrajudicial, contando que, neste último caso, a confissão conste de documento escrito”. * VIII – Finalmente, com a nova Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que aprovou o NRAU, estabeleceu-se um regime que difere do anterior desde logo quanto ao elemento 35 MARIA OLINDA GARCIA, Arrendamentos para Comércio e Fins Equiparados / Coimbra, Coimbra Editora, 2006, p. 37. 18 primordial a que se deve atender para efeitos de saber a que forma deve obedecer o contrato. Na realidade, antes atendia-se sobretudo ao fim do arrendamento para se determinar qual o regime quanto à forma, aparecendo o factor tempo em minoria como critério para esse efeito (apenas para os arrendamentos sujeitos a registo, ou seja, de duração superior a 6 anos). Agora, o factor tempo foi eleito como o elemento distintivo por excelência, estabelecendo o art. 1069.º do Código Civil, na redacção introduzida pela Lei n.º 6/2006, que o contrato de arrendamento está sujeito a forma escrita desde que tenha duração superior a seis meses. No entanto, também se poderá dizer, conforme mais à frente veremos, que o fim do arrendamento acaba por ter uma eficácia reflexa, mas importante, na determinação do regime aplicável quanto à forma. A este respeito, a Lei n.º 6/2006 também não consagrou qualquer norma transitória especial, valendo, pois, o regime regra de aplicação da lei no tempo quanto às condições de validade formal do contrato. Pode-se questionar a razão de ser de o legislador ter optado por subtrair os contratos de duração não superior a 6 meses à exigência de celebração pela forma escrita. Penso que, a par da vontade de agilizar o processo de constituição da relação de arrendamento em casos que, pela própria duração curta do contrato, à partida demandam uma tal agilização, a tal solução também não se oporão, em princípio, os perigos da não sujeição do contrato a uma forma escrita. Na realidade, a pequena duração do contrato diminui, por si só, as possibilidades de conflito, pois este surge mais usualmente em relações de média ou longa duração. Serão contratos em que se espera que sejam cumpridos pontualmente com mais facilidade e ligados a situações menos complexas, que portanto não carecerão tanto de uma prova mais duradoura e fiável quanto aos termos do contrato. Porém, não podem deixar de se antever dificuldades nomeadamente no domínio da prova: imaginemos o caso de um inquilino ocupar o locado durante 12 meses; como demonstrar que foi acordado inicialmente o prazo de 12 meses, ou que foi inicialmente contratado o prazo de 6 meses, findo o qual as partes decidiram celebrar novo contrato por mais 6 meses? Na falta de documento, prevêem-se as usuais dificuldades de prova ligadas à natureza volátil da prova testemunhal, já acima referida. Mesmo abstraindo deste aspecto, a redacção da lei levanta outro tipo de problemas. 19 Assim, no que diz respeito aos contratos de arrendamento para fins habitacionais com prazo certo, parece que a forma escrita apenas não será exigível para os contratos previstos no art. 1095.º, n.º 3 do Código Civil na sua actual redacção (arrendamentos para habitação não permanente ou para fins especiais transitórios, em relação aos quais não é aplicável o limite mínimo de 5 anos previsto no n.º 2), se bem que a expressão “neles exarados” constante da parte final daquele n.º 3 leve a que se levantem algumas dúvidas sobre se assim será efectivamente, como aliás também sucede com a redacção do n.º 1 deste artigo 1095.º (“O prazo deve constar de cláusula inserida no contrato”, o que indicia a existência/exigência (?) de um documento escrito). Quanto aos demais contratos de arrendamento para fins habitacionais com prazo certo, o n.º 2 do art. 1095.º do Código Civil exige que tenham um prazo de duração mínima de 5 anos, pelo que afastada desde logo fica a possibilidade de não estarem sujeitos à exigência da sua redução a escrito. Quanto aos contratos de arrendamento para fins habitacionais de duração indeterminada, também não se suscitam muitas dúvidas em como devem ser celebrados por escrito, visto que têm uma vocação natural para perdurarem por mais do que 6 meses – vejase desde logo o regime previsto no art. 1101.º, al. c) do Código Civil, que estabelece que o senhorio apenas pode denunciar, ad nutum, o contrato mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não inferior a cinco anos sobre a data em que pretenda a cessação. Já quanto aos arrendamentos para fins não habitacionais, parece não existir qualquer limite mínimo de duração do arrendamento, atento o disposto no art. 1110.º, n.º 1 do Código Civil, pelo que é admissível a estipulação de um prazo não superior a 6 meses, caso em que não é exigível que seja reduzido a escrito. Mas e quanto aos contratos de arrendamento para fins não habitacionais de duração indeterminada? À partida poder-se-á também argumentar que têm uma vocação natural para durarem mais de 6 meses. Porém, como também não está imperativamente previsto na lei um prazo mínimo de pré-aviso da denúncia não motivada quanto a este tipo de contratos, esse argumento perde alguma força. Imagine-se o caso de as partes acordarem que o prazo de préaviso é de 30 dias – o contrato poderá, então, vigorar apenas por 2 ou 3 meses. De qualquer forma, e sem prejuízo de uma melhor reflexão, tendo a considerar que a 20 sua natureza de contrato com vocação para perdurar por um período de média ou longa duração, própria de um contrato de duração indeterminada, leva a que se conclua que também deva ser celebrado por escrito, até porque também não se vê que deva existir um regime diferenciado para os contratos de duração indeterminada em razão do fim do arrendamento – tanto mais que, nos termos do art. 1110.º do Código Civil, na falta de estipulação em contrário pelas partes, se aplica supletivamente o regime do contrato de arrendamento para habitação. Gravato de Morais36 chama ainda a atenção para outros problemas que o art. 1069.º do Código Civil suscita: - a referência à duração do contrato, nos casos de contratos com prazo certo, deve entender-se reportada ao prazo inicial ou também envolve eventuais períodos de prorrogação? O Autor responde no sentido de o preceito ter em vista apenas o período inicial de duração do contrato, tanto mais que, podendo qualquer das partes opor-se à renovação automática do contrato, nos termos do art. 1096.º do Código Civil, não se sabe à partida se tal renovação vai ou não ocorrer. Mas a solução já causa algum desconforto se ponderarmos o seguinte exemplo, dado pelo Autor: as partes acordam verbalmente que o período inicial é de 3 meses e que, caso haja prorrogação, o contrato durará 15 anos. Poder-se-á então questionar se, afinal, um tal tipo de estipulação não será um mecanismo usado pelas partes para contornar a lei, devendo assim merecer repúdio a solução segundo a qual o contrato pode ser celebrado por mero acordo verbal; - o Autor nota também que a redacção do n.º 2 do art. 1110.º parece inculcar a ideia que o legislador pensou na redução do contrato a escrito ao referir-se a “na falta de estipulação”, sendo que o termo “estipulação” normalmente é associado a “cláusula”, termo este que, por sua vez, é usualmente utilizado em contratos escritos. Quando o contrato de arrendamento urbano seja celebrado por prazo superior a 6 meses, ou por duração indeterminada se se concluir que deve obedecer à forma escrita, sem que tal forma tenha sido observada, tal acarretará a nulidade do contrato nos termos do art. 220.º do Código Civil, visto que o legislador não consagrou qualquer meio através do qual o vício possa ser suprido, nomeadamente pelo mecanismo de exibição do recibo de renda que já ia fazendo tradição no direito anterior. Penso que é de admitir, porém, a redução da duração do contrato até seis meses, de forma a que possa ser válido por esse prazo sem ser necessária a sua celebração por qualquer forma especial. 36 GRAVATO DE MORAIS, Fernando, Novo Regime do Arrendamento Urbano / 2.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2007, p. 154-157. 21 Tal solução, aliás, não será de todo inédita no nosso Direito (o caso previsto no art. 7.º, n.º 4 do RAU na sua primitiva redacção e, antes, no n.º 2 do art. 1029.º do Código Civil era de certa forma semelhante). Neste sentido, cfr. Maria Olinda Garcia37 e Menezes de Leitão38. Conforme acima se mencionou, outra alteração, e esta de bastante importância, diz respeito à eliminação do regime de suprimento da forma escrita pela exibição do recibo de renda, antes consagrada no n.º 2 do art. 7.º do RAU, não contendo o NRAU qualquer norma semelhante ou outra que permita um tal suprimento. Não posso deixar de estar de acordo com Sousa Ribeiro39 quando refere que esta alteração não parece positiva, pois o regime anterior, “de atribuição de eficácia a uma relação contratual de facto, era equilibrado e útil, colocando-se na confluência de duas preocupações de sinal contrário. Por um lado, visava obstar a que o senhorio, não formalizando o contrato, pudesse fraudulentamente negar a existência de qualquer vínculo, ficando livre para, a qualquer momento, pôr termo à ocupação do inquilino. Por outro, procurava obviar às incertezas da prova testemunhal, que poderia converter um comodato, ou um gozo precário, meramente tolerado, num arrendamento. Atestada a ocorrência de pagamentos a título de renda, através da exibição do correspondente recibo, comprovado ficava, de forma incontroversa, que a utilização tinha como causa uma relação de arrendamento, ainda que não formalizada”. E, conforme nota o Autor agora citado, apesar da flexibilização da denúncia nos contratos de duração indeterminada, a vinculação a um prazo mínimo de cinco anos pode constituir instigação bastante para uma fuga, por parte do senhorio, à vinculação contratual. Conclui-se, pois, que o actual regime, quiçá nesta parte sem justificação bastante, desprotege de forma sensível, relativamente ao regime anterior, o arrendatário que se vê impedido de fazer valer uma relação de arrendamento com a exibição de um meio de prova de força especial e que, durante bastante tempo, foi considerado bastante pela nossa lei. Não fica, porém, vedado, tal como antes não estava, o recurso ao instituto do abuso de direito para corrigir os casos mais flagrantes de injustiça no caso concreto, nos termos que a adiante se exporão. * 37 MARIA OLINDA GARCIA, obra citada, p. 35-36. MENEZES DE LEITÃO, Luís Manuel Teles, Arrendamento Urbano / 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2007, p. 29. 39 SOUSA RIBEIRO, Joaquim de, Direito dos Contratos – Estudos / Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 311312 38 22 IX – Antes de mais, vejamos algumas questões ligadas à problemática da nulidade, por falta de observância da forma legal, de um contrato de arrendamento. No regime anterior ao introduzido pelo Decreto-Lei n.º 64-A/2000, não era incomum as partes recorrerem a um por si designado “contrato-promessa de arrendamento” quando, por exemplo, faltava obter determinada licença administrativa, mas pretendiam desde logo que o “promitente arrendatário” passasse a ocupar o local e a pagar uma renda ao “promitente senhorio”. É pacífico o entendimento segundo o qual a qualificação jurídica dos factos, enquanto verdadeira questão de direito, compete ao tribunal em atenção à matéria de facto trazida pelas partes, podendo o tribunal qualificar o contrato de maneira diferente sempre que não haja correspondência entre o tipo estipulado e o tipo real, não sendo vinculativo o nomen iuris escolhido pelas partes. Há assim que interpretar a vontade das partes vertida nas declarações constantes do documento designado por “contrato-promessa de arrendamento”, de acordo com as regras dos arts. 236.º e segs. do Código Civil. Se, feita tal interpretação, for de concluir que se verificam os elementos constitutivos de um verdadeiro contrato de arrendamento, segundo a definição que nos é dada pelo art. 1022.º do Código Civil (imagine-se o caso de, em contrato celebrado em 1 de Janeiro de 1995, as partes estabelecerem que a ocupação do locado será feita nessa data, bem como que a obrigação de pagar a renda se iniciará também nessa data, dando-se ainda como provado que tal assim sucedeu; então, estar-se-á perante um contrato de arrendamento propriamente dito, e não perante um contrato-promessa de arrendamento), deve-se então como tal qualificar o contrato como tal e daí extrair as devidas conclusões40. Assim, caso se verifique que, em face da lei aplicável à data da sua celebração, era exigível escritura pública por o arrendamento ser, por exemplo, comercial, e o contrato apenas foi celebrado por escrito particular, deve concluir-se pela sua nulidade, por falta de forma, nos termos do art. 220.º do Código Civil. Nos termos do art. 289.º do Código Civil, a declaração de nulidade tem efeito retroactivo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente, sendo aplicável, directamente ou por analogia, o disposto nos artigos 1269.º e seguintes. 40 Neste sentido, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 03/12/1987, BMJ 372, p. 467; Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19/01/1979, CJ, 1979, 1, p. 96; e os Acórdãos do Tribunal da Relação do Porto de 26/02/2004, e do Tribunal da Relação de Lisboa 08/03/2007, estes últimos na Internet em www.dgsi.pt. Vejase ainda o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11/07/2006, processo n.º 06B1987, na Internet, no mesmo sítio. 23 Assim, declarado nulo um contrato de arrendamento, fica o senhorio obrigado a restituir as rendas que recebeu e o arrendatário obrigado a restituir o prédio objecto do contrato declarado nulo. Mas não só; porque o arrendatário está ainda obrigado a restituir o gozo que teve do prédio, o qual, não se podendo restituir in natura, deve ser restituído no seu equivalente em dinheiro – sendo certo que este se presume coincidir com as prestações convencionadas a título de renda, pois tal corresponde à avaliação que foi feita pelos interessados no que diz respeito ao valor do gozo da coisa. Tal entendimento leva-nos, então, à consequência de considerar que as prestações que foram pagas pelo arrendatário não lhe devem ser restituídas – porque compensadas com o gozo que teve do prédio – e as prestações correspondentes ao tempo que o arrendatário esteve no gozo do prédio e que não foram pagas continuam em dívida. É certo, porém, que não está excluída a prova de que a restituição, em dinheiro, do equivalente ao gozo do prédio não corresponde às prestações convencionadas a título de renda, por o valor locativo do prédio ser diverso – a presunção supra referida não é absoluta, ou sequer uma presunção legal, mas apenas uma presunção judicial (art. 351.º do Código Civil), mas como tal atendível pelo tribunal. Outra questão que se pode colocar é a de saber o que fazer quando o senhorio interpõe uma acção contra o inquilino, pedindo o despejo com base na falta de pagamento de rendas bem como o pagamento das rendas vencidas, no pressuposto da existência e validade de um contrato de arrendamento, mas vem a apurar-se que este é nulo, por falta de forma, sendo um dos casos em que a nulidade é de conhecimento oficioso pelo Tribunal nos termos do art. 286.º do Código Civil. A questão gerou alguma polémica, polémica essa que penso ter ficado definitivamente resolvida com o Assento do Supremo Tribunal de Justiça de 28/03/95 (publicado no Diário da República I.ª Série – A de 17/05/95), onde se decidiu que “Quando o Tribunal conhecer oficiosamente de nulidade do negócio jurídico invocado no pressuposto da sua validade e se na acção tiverem sido fixados os necessários factos materiais, deve a parte ser condenada na restituição do recebido, com fundamento no n.º 1 do art. 289.º do Código Civil”. Apesar de sempre se ter entendido que a nulidade devia ser declarada oficiosamente pelo tribunal (salvos os casos de nulidades atípicas), havia mais hesitações na doutrina e na jurisprudência quanto a saber se o tribunal devia condenar oficiosamente as partes nos efeitos decorrentes da nulidade, nomeadamente na restituição do que fora recebido no âmbito do 24 negócio declarado nulo. O problema só se levantava verdadeiramente quando se chegava à conclusão que as prestações que eram pedidas com base na validade do negócio não diferiam da medida da restituição com base na nulidade do mesmo pois, caso contrário, a solução de condenar na restituição do que fora recebido esbarrava com o disposto no art. 661.º do Código de Processo Civil. Para quem defendia que a condenação na restituição do recebido não era possível (cfr., entre outros, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28/10/75, Revista de Legislação e Jurisprudência / RLJ, ano 109.º, p. 308 e segs.), tal decorria da consagração na nossa ordem jurídica do princípio da substanciação, segundo o qual o objecto da acção é o pedido definido através de uma certa causa de pedir. Assim, fundando o autor o seu pedido na validade de um certo negócio jurídico, não podia o tribunal condenar o réu no que é pedido com base noutra causa de pedir, diferente da que foi alegada pelo autor, mesmo que tal causa seja uma nulidade de conhecimento oficioso, pois o art. 661.º do Código de Processo Civil, conjugado com os arts. 193.º, n.º 2, als. a) e b) e 498.º, n.º 4 do Código de Processo Civil, exige uma dada relação entre a causa de pedir e o pedido. Em anotação à decisão referida, veio Vaz Serra (cfr. RLJ citada) defender que tal conversão da causa de pedir e consequente condenação na restituição do recebido à luz do art. 289.º do Código Civil, é possível com apelo ao regime do art. 293.º do Código Civil, isto porque é razoável pensar que a nulidade do negócio seria invocada pelo peticionante se houvesse previsto a nulidade do contrato em cuja alegada validade veio fundar o seu pedido. É que, por outro lado, em nada vem este regime agravar a posição do demandado, e isto porque quer o negócio fosse válido, quer fosse nulo, sempre estaria este obrigado a prestar aquilo que se pede, ou em cumprimento do contrato ou por aplicação da obrigação de restituição decorrente do art. 289.º do Código Civil. Para além disso, evita-se que o demandante se veja forçado a propor uma nova acção com base na nulidade do negócio, cujo efeito útil afinal seria o mesmo. Finalmente, não se pode dizer que a solução avançada por aquele Professor contrarie o disposto no art. 661.º, precisamente porque quer a causa de pedir fosse o negócio válido, quer fosse a nulidade do mesmo, aquilo que é pedido sempre teria lugar. A doutrina constante da anotação feita na RLJ pelo Prof. Vaz Serra, e que já vinha sendo aplicada nas instâncias superiores, acabou por ser acolhida no Assento 4/95. Com base neste entendimento, e tendo em atenção quais as consequências da aplicação do disposto no art. 289.º do Código Civil na sequência da declaração de nulidade de um contrato de arrendamento, acima referidas, pode-se concluir que, ainda que mediante fundamentação jurídica diversa, permitida ao tribunal nos termos do art. 664.º do Código de 25 Processo Civil, os pedidos de entrega do local arrendado e dos quantitativos acordados a título de renda não pagos, correspondentes ao tempo em que o arrendatário esteve no gozo do local que lhe foi entregue em cumprimento do contrato de arrendamento nulo, podem, pois, ser julgados procedentes41. * X – Na sequência do acima exposto, analisar-se-á agora a possibilidade de intervenção do instituto do abuso de direito como forma de corrigir algumas eventuais injustiças decorrentes da aplicação tout court do regime da nulidade do contrato de arrendamento, nomeadamente por vício de forma, nos casos em que a lei não prevê qualquer forma de suprimento do vício. Pereira Coelho escrevia, em 199342, o seguinte: “suponhamos que o arrendamento comercial foi celebrado por simples documento particular, mas já dura há anos; o senhorio sempre recebeu as rendas, exigiu as respectivas actualizações anuais e passou recibos ao arrendatário – vir mais tarde arguir a nulidade do contrato por vício de forma excederia manifestamente os limites impostos pela boa fé. Neste, como em outros casos, que uma jurisprudência criativa virá certamente a revelar, só por esta via poderá achar alguma protecção o interesse do arrendatário, ostensivamente desatendido, também quanto à forma do contrato, pela nova disciplina do R.A.U.”. E, de facto, uma análise ainda que perfunctória da jurisprudência que desde então se tem debruçado sobre a questão demonstra que os nossos tribunais não têm sido avaros na convocação do abuso de direito como forma de paralisar o direito, nomeadamente do senhorio, de invocar a nulidade do contrato de arrendamento por vício de forma em casos como o acima referido43. Dispõe o art. 334.º do Código Civil que é ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito. O abuso de direito é uma excepção, tendo sido entendido que é de conhecimento oficioso – cfr., entre outros, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 2 de Dezembro de 200844. 41 A este respeito, veja-se, entre outros, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30/09/1999, processo n.º 0045616, na Internet em www.dgsi.pt. 42 PEREIRA COELHO, obra citada, p. 201. 43 Cfr. a título exemplificativo, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 9/11/2006, processo n.º 0634276; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7/04/2005, processo n.º 05B796; o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30/05/2006, processo n.º 06A1267; o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 13/07/2007, processo n.º 938-H/2001.C1; e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11/07/2006, referido na nota 40 – todos na Internet em www.dgsi.pt; 44 Na Internet em www.dgsi.pt, processo n.º 162/06.3TBVLF.C1. 26 Fazendo apelo ao estudo do Menezes Cordeiro intitulado Do Abuso do Direito: Estado das Questões e Perspectivas45, que se passará a citar, dir-se-á então o seguinte. Os comportamentos típicos abusivos são: venire contra factum proprium; inalegabilidade; suppressio; tu quoque; desequilíbrio. Analisemos mais detalhadamente, citando para o efeito Menezes Cordeiro, as figuras do venire contra factum proprium e da inalegabilidade, por serem as que mais relação têm com o problema supra enunciado. a) Venire contra factum proprium: “Estruturalmente, o venire contra factum proprium postula duas condutas da mesma pessoa, lícitas em si, mas diferidas no tempo. Só que a primeira — o factum proprium — é contraditada pela segunda — o venire. O óbice que justificaria a intervenção do sistema residiria na relação de oposição que, entre ambas, se possa verificar. Há diversas sub-hipóteses. O venire é positivo quando se traduza numa acção contrária ao que o factum proprium deixaria esperar; será negativo caso redunde numa omissão contrária no mesmo factum. Sendo positivo, o venire pode implicar o exercício de direitos potestativos, de direitos comuns ou de liberdades gerais. O venire só é proibido em circunstâncias especiais. Para as explicar, surgiram duas grandes fundamentações dogmáticas: - doutrinas da confiança (CANARIS); - doutrinas negociais (WIELING). Para as doutrinas da confiança, o venire seria proibido quando viesse defrontar inadmissivelmente uma situação de confiança legítima gerada pelo factum proprium. Para as negociais, o agente ficaria vinculado, em termos negociais, pelo factum proprium em causa; ao perpetrar o venire, estaria a violar a vinculação daí derivada. Apesar de significativas, as teorias negociais têm dificuldades práticas: afinal, o regime do venire não é o do negócio. Além disso, a ser possível, in concreto, descobrir um verdadeiro negócio, dispensada ficaria toda uma complexa construção em torno da boa fé e do abuso do direito. Prevalecem hoje as doutrinas da confiança, as quais têm obtido o apoio da literatura portuguesa interessada. Na verdade, o princípio da confiança surge como uma mediação entre a boa fé e o caso concreto. Ele exige que as pessoas sejam protegidas quando, em termos justificados, tenham sido levadas a acreditar na manutenção de um certo estado de coisas. Várias razões depõem nesse sentido. Em termos antropológicos e sociológicos, podemos dizer que, desde a sedentarização, a espécie humana organiza-se na base de relacionamentos estáveis, a respeitar. No campo ético, cada um deve ser coerente, não mudando arbitrariamente de condutas, com isso 45 MENEZES CORDEIRO, António, Do Abuso do Direito: Estado das Questões e Perspectivas / Revista da Ordem dos Advogados, ano 2005, II, Setembro de 2005. 27 prejudicando o seu semelhante. Juridicamente, a tutela da confiança acaba por desaguar no grande oceano do princípio da igualdade e da necessidade de harmonia, daí resultante: tratar o igual de modo igual e o diferente de forma diferente, de acordo com a medida da diferença. Ora, a pessoa que confie, legitimamente, num certo estado de coisas não pode ser tratada como se não tivesse confiado: seria tratar o diferente de modo igual. A tutela da confiança, embora convincente, só pode operar, na falta de preceitos jurídicos, quando se mostrem reunidos especiais pressupostos. De outro modo, poderíamos transformar a sociedade num colete-de-forças, que prejudicasse as iniciativas individuais necessárias para dar corpo à liberdade e para possibilitar a inovação e o progresso. Na base da doutrina e com significativa consagração jurisprudencial, a tutela da confiança, apoiada na boa fé, ocorre perante quatro proposições. Assim: 1.ª Uma situação de confiança conforme com o sistema e traduzida na boa fé subjectiva e ética, própria da pessoa que, sem violar os deveres de cuidado que ao caso caibam, ignore estar a lesar posições alheias; 2.ª Uma justificação para essa confiança, expressa na presença de elementos objectivos capazes de, em abstracto, provocar uma crença plausível; 3.ª Um investimento de confiança consistente em, da parte do sujeito, ter havido um assentar efectivo de actividades jurídicas sobre a crença consubstanciada; 4.ª A imputação da situação de confiança criada à pessoa que vai ser atingida pela protecção dada ao confiante: tal pessoa, por acção ou omissão, terá dado lugar à entrega do confiante em causa ou ao factor objectivo que a tanto conduziu. Estas quatro proposições devem ser entendidas dentro da lógica de um sistema móvel. Ou seja: não há, entre elas, uma hierarquia e o modelo funciona mesmo na falta de alguma (ou algumas) delas: desde que a intensidade assumida pelas restantes seja tão impressiva que permita, valorativamente, compensar a falha” (fim de citação). b) Inalegabilidade: “Na linguagem própria do abuso do direito, diz-se inalegabilidade formal ou, simplesmente, inalegabilidade, a situação da pessoa que, por exigências do sistema, não se possa prevalecer da nulidade de um negócio jurídico causada por vício de forma. À partida teríamos, aqui, apenas uma concretização do venire contra factum proprium: num primeiro tempo o agente daria azo a uma nulidade formal, prevalecendo-se do negócio (nulo) assim mantido enquanto lhe conviesse; na melhor (ou pior) altura, invocaria a nulidade, recuperando a sua liberdade. Haveria uma grosseira violação da confiança com a qual o sistema não poderia pactuar. Esta simplicidade esconde problemas dogmáticos muito consideráveis. De facto, o negócio que não respeite a forma legal é nulo (art. 220.º). Essa 28 nulidade é invocável a todo o tempo e por qualquer interessado, sendo declarável, de ofício, pelo tribunal (art. 286.º). Não basta, nestas condições, paralisar a alegação da nulidade pelo agente: seria necessário mexer em profundidade em toda a estrutura das regras formais. Durante bastante tempo, defendemos que isso, de todo, não seria possíve1. Quando muito, poderíamos descobrir, por parte da pessoa que provocasse uma nulidade formal e, depois, viesse prevalecer-se dela, invocando-a, um dever de indemnizar equivalente à validação do negócio nulo. Num curioso paralelo com o sucedido na Alemanha, a jurisprudência, confrontada no terreno com verdadeiras injustiças contrárias ao sistema, ultrapassou a doutrina e passou mesmo a consagrar inalegabilidades. Fá-lo, por vezes, na base do venire; noutras: directamente (…). Estes casos são impressivos: mostram-se decididos com adequação e com justiça. Resta concluir que, hoje, o Direito português permite mesmo preterir normas formais. Mas temos de apontar uma fundamentação precisa, sob pena de abandonar as decisões ao sentimento ou à deriva linguística. Propomos a seguinte: - a inalegabilidade exige, à partida, os pressupostos (os quatro) da tutela da confiança, tal como vimos a propósito do venire; - além disso, temos de introduzir mais três requisitos: 1.° Devem estar em jogo apenas os interesses das partes envolvidas e não, também, os de terceiros de boa fé; 2.° A situação de confiança deve ser censuravelmente imputável à pessoa a responsabilizar; 3.° O investimento de confiança deve ser sensível, sendo dificilmente assegurado por outra via. Os rigores do elenco podem ser temperados pela lógica de um sistema móvel” (fim de citação). No que respeita ao abuso de direito no caso das nulidades formais, acrescenta ainda o mesmo Autor mais à frente: “certos valores podem estar de tal modo ancorados no ordenamento, que subsistam mesmo à custa da harmonia do sistema, só cedendo in extremis; exemplo: nulidades formais; esquemas semelhantes ocorrem em áreas fortemente imperativas, que – pelo menos até certo ponto – se mantêm contra bonam fidem”. Diz ainda que “o abuso do direito mantém-se para casos excepcionais: será necessário estabelecer que a solução de Direito estrito repugna ao sistema; não deve ser tomado como “panaceia” fácil; o abuso do direito implica, sempre, uma ponderação global da situação em jogo, sob pena de se descambar no formalismo de que se pretende fugir; assim, embora sendo um instituto objectivo, a intenção das partes pode constituir um elemento a ter em conta; a 29 mentira pode coadjuvar a aplicação do abuso por venire; a aplicação da boa fé é mais fácil quando se esteja perante soluções de Direito estrito pouco claras, discutíveis ou em plena controvérsia”. Concordando em geral com este enquadramento do instituto do abuso de direito, resulta que nos casos de contrato de arrendamento nulo por falta de forma em que se pretenda a paralisação do direito de arguição de nulidade por uma das partes, mormente pelo senhorio, a categoria a convocar é a da inalegabilidade. Casos típicos em que tal instituto pode funcionar serão então, à partida, os seguintes: - aqueles em que o senhorio teve um comportamento censurável no sentido de induzir o arrendatário a celebrar o contrato sem observar o formalismo legal, com vista a posteriormente vir invocar a sua invalidade formal; - aqueles em que o senhorio assegurou ao inquilino que nunca invocaria aquela invalidade, criando neste a confiança de que não seria feita tal invocação e, consequentemente, levando-o a fazer investimentos com base na validade do contrato; - aqueles em que, atento o tempo de execução especialmente duradouro do contrato, se criou uma situação de confiança tutelável pelo instituto do abuso de direito, ao gerar nas partes, nomeadamente no inquilino, a confiança que não seria invocada a invalidade por falta de forma. Nestes casos, penso que o comportamento do senhorio que invoca a nulidade do contrato é censurável pela consciência social dominante no sentido de se concluir que está a exercer o seu direito em termos clamorosa e intoleravelmente ofensivos da justiça ou do sentimento jurídico socialmente dominante e, como tal, não deve ser julgada procedente a invocação da nulidade, paralisando a mesma através do instituto do abuso de direito46. Pese embora este instituto se revele de extrema importância na tutela, no caso concreto, da posição do arrendatário – e tanto mais agora com o regime instituído pelo NRAU, conforme acima exposto –, não me parece, porém, que seja necessário recorrer a um princípio de especial favorecimento da posição do inquilino para concretizar o conceito de abuso de direito. Na realidade, este conceito é dotado de elasticidade suficiente para responder às várias 46 Com interesse para esta questão, mas no sentido de negar a verificação de abuso de direito, vejam-se ainda o Acórdão do Tribunal do Supremo Tribunal de Justiça de 30/10/2003, processo n.º 03B3125; o Acórdão do mesmo Supremo Tribunal de Justiça de 29/09/2005, processo n.º 05B1797 – também na Internet no sito acima indicado. 30 solicitações da vida concreta e convoca valores mais fundamentais da ordem jurídica que tutelam de forma bastante os interesses dos contraentes, independentemente da posição que ocupam no contrato, permitindo por si só a realização da justiça do caso concreto. Não se pode porém olvidar que é uma válvula de segurança do sistema jurídico no seu todo, como tal de aplicação tendencialmente excepcional, pelo que a mesma apenas deve ser operada nos casos em que se verifiquem os requisitos supra enunciados. * XI – Para finalizar, abordar-se-á agora uma questão ainda ligada à problemática da forma do contrato de arrendamento, que consiste em de saber qual o âmbito da forma legal. No domínio do RAU, o seu art. 8.º estipulava o que devia constar do contrato de arrendamento urbano. Com o NRAU, esses aspectos transitaram para diploma autónomo, qual seja o Decreto-Lei n.º 160/2006, de 8 de Agosto. Além disso, importa atender ao disposto no art. 221.º do Código Civil, nos termos do qual: “1. As estipulações verbais acessórias anteriores ao documento legalmente exigido para a declaração negocial, ou contemporâneas dele, são nulas, salvo quando a razão determinante da forma lhes não seja aplicável e se prove que correspondem à vontade do autor da declaração. 2. As estipulações posteriores ao documento só estão sujeitas à forma legal prescrita para a declaração se as razões da exigência especial da lei lhe forem aplicáveis”. Refere Pinto Furtado47 que as modificações do contrato de arrendamento envolvem estipulações posteriores à conclusão daquele e, portanto, estarão, em princípio, sujeitas à forma prescrita para a formação do contrato, uma vez que também para elas se mantêm, em regra, as exigências especiais postas na lei para a constituição convencional do contrato de arrendamento. Mas já não estão abrangidas pela exigência legal de forma certas estipulações modificativas menores, como as relativas ao lugar ou ao tempo de pagamento das rendas, ou ao modo de realização ou de quitação desse pagamento, as quais podem fazer-se verbalmente e provar-se por confissão ou escrito particular, nos termos gerais. Uma questão concreta que não raro se coloca é, por exemplo, a de saber o que fazer 47 PINTO FURTADO, obra citada, p. 456-457. 31 quando, posteriormente à celebração de um contrato de arrendamento para o qual a lei exige a forma escrita, as partes acordam em que a renda seja paga em local distinto daquele que ficou a constar do contrato escrito? Tal estipulação é, nos termos supra expostos, acessória e posterior ao contrato, pelo que lhe é aplicável o disposto no n.º 2 do art. 221.º do Código Civil. Acompanhando, com a devida vénia, o entendimento de Pinto Furtado acima exposto, e mais detalhadamente a fundamentação do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Maio de 199848, também direi que “aplicando a solução nele contida [no artigo 221.º, n.º 2 do Código Civil], (…) não vale para a subsequente estipulação convencional sobre o local do pagamento a razão que levou a que no artigo 7.º, n.º 1, do RAU se exigisse a sujeição do contrato de arrendamento urbano a forma escrita. Esta razão consistiu no peso das obrigações reciprocamente assumidas pelas partes, quer pelo pesado encargo patrimonial que envolvem, quer pela duração tendencialmente prolongada das mesmas, quer ainda pelo valor económico dos bens sobre que incide. Escapa a este vector o ponto sobre que incidiu a cláusula posterior sobre o local de pagamento. Esta cláusula foi, portanto, plenamente válida e está assente que foi estipulada”. Também o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu em sentido semelhante no seu Acórdão de 4 de Maio de 200449. E se tal vale para as estipulações posteriores verbais expressas relativas ao local de pagamento da renda, nada obsta que valha igualmente para as estipulações tácitas de igual conteúdo. Na realidade, pode ocorrer que a estipulação de modificação do local de pagamento da renda não seja expressamente convencionada pelas partes, mas sim tacitamente – é o que sucederá quando, por exemplo, apesar de se ter clausulado no contrato escrito de arrendamento que a renda devia ser paga na residência do senhorio, este, durante mais de 20 anos, foi todos os meses a casa do inquilino para receber a renda, criando no mesmo a convicção de que a renda devia ser paga neste último lugar. Declaração negocial pode definir-se, conforme o fez Mota Pinto50, como o comportamento que, exteriormente observado, cria a aparência de exteriorização de um certo conteúdo de vontade negocial, caracterizando-se esta como a intenção de realizar certos efeitos práticos com ânimo de que sejam juridicamente tutelados e vinculantes. 48 Processo n.º 98A197, na Internet em www.dgsi.pt. Processo n.º 3479/03, na Internet , em www.dgsi.pt. 50 MOTA PINTO, Carlos Alberto, obra citada, pag. 416. 49 32 Nos termos do art. 217.º, n.º 1 do Código Civil, a declaração negocial pode ser expressa ou tácita: é expressa, quando feita por palavras, escrito ou qualquer outro meio directo de manifestação da vontade, e tácita, quando se deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelam. Refere Paulo Mota Pinto51 que não existe uma disciplina jurídica geral própria das declarações tácitas, sendo que o critério para averiguar a sua existência é o mesmo da declaração expressa – ou seja, que o ponto de vista interpretativamente relevante é o do declaratário normal colocado na posição do real declaratário, nos termos prescritos pelo art. 236.º, n.º 1 do Código Civil. Na declaração tácita, a doutrina põe em destaque o facto de se realizar uma inferência a partir de factos concludentes. À conduta a partir da qual se pode efectuar uma ilação poderemos chamar comportamento concludente, que será o elemento objectivo da declaração tácita e que é determinado, como na declaração expressa, por via interpretativa, segundo o mesmo critério, como acima se referiu. Continuando a seguir o que escreveu Paulo Mota Pinto na obra citada, do art. 217.º, n.º 1, do Código Civil resulta que apenas é necessário que a declaração negocial se possa deduzir com toda a probabilidade, e não já necessariamente, de factos que a revelam. O nexo de concludência há-de poder ser reconstituível de modo que não atente contra as leis da lógica, tratando-se de, num contexto prático de interacção, determinar o significado de um comportamento, de acordo com os seus critérios gerais. Quanto ao alcance da expressão legal “com toda a probabilidade”, deve concluir-se que é de exigir um elevado grau de probabilidade, e não a certeza absoluta, sendo expressivas as palavras de Manuel de Andrade (em Teoria Geral da Relação Jurídica, II, pag. 132), segundo as quais será “aquele grau de probabilidade que basta na prática para as pessoas sensatas tomarem as suas decisões”. “Assim, o juízo de concludência não requer total inequivocidade, ou seja, que a declaração tácita seja a única possibilidade em questão. Na perspectiva interpretativa de um 'declaratário normal colocado na posição do real declaratário' deve-se já considerar um alto grau de probabilidade da inferência, avaliada de acordo com um critério prático. Não bastando – como em geral – um significado duvidoso ou ambíguo, tem de se resolver o problema do grau em face das circunstâncias do caso concreto, sendo a inequivocidade apenas relativa. A lei não quer admitir só os casos em que seja absolutamente certo que há declaração, mas tão só exigir nos termos gerais uma elevada probabilidade da inferência para que a declaração 51 PAULO MOTA PINTO, Declaração Tácita e Comportamento Concludente no Negócio Jurídico / Coimbra, Almedina, 1995, p. 734 e seguintes 33 tácita não seja ambígua”52. Aplicando o que ficou dito ao exemplo acima referido, entendo que, salvo melhor opinião, do comportamento das partes num contrato de arrendamento segundo o qual o senhorio, ao contrário do que ficara escrito no contrato, foi receber a renda a casa do inquilino durante 20 anos, ininterruptamente, se pode concluir com toda a probabilidade, atendendo ao “grau de probabilidade que basta na prática para as pessoas sensatas tomarem as suas decisões”, que as partes quiseram vincular-se, em termos jurídicos, ao pagamento da renda no local arrendado, emitindo de forma tácita uma declaração de vontade com a intenção de realizar certos efeitos práticos com ânimo de que sejam juridicamente tutelados e vinculantes. Efectivamente, esse comportamento assim reiterado e prolongado no tempo permite concluir, com a probabilidade apontada, que, pelo menos a partir de determinado momento, o senhorio actuava na convicção de efectuar o cumprimento de uma obrigação jurídica, criando no inquilino a legítima expectativa de aguardar a vinda do primeiro ao local arrendado para então pagar a renda. Sendo assim tais estipulações válidas, não se deve, porém, olvidar que a sua prova pode vir a revelar-se difícil, atento o disposto no art. 394.º, n.º 1 e, por via deste, no art. 351.º, ambos do Código Civil. Já por interferir com o peso das obrigações reciprocamente assumidas pelas partes, é de considerar abrangida pelas razões da exigência especial da lei, ao estabelecer determinada forma, a cláusula pela qual as partes convencionam um aumento de renda, tal como foi entendido pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 16 de Maio de 200653. E, por identidade de razões, também as cláusulas pelas quais se operem modificações ligadas ao quantitativo da renda, às partes, ao objecto, ao prazo e ao fim do contrato, enquanto seus elementos essenciais. * XII – Sendo estes alguns dos aspectos que me pareceram com relevância bastante para merecerem a sua inclusão neste documento, muitos outros seguramente ficaram de fora, do que me penitencio desde já, sendo certo que, no que ao NRAU respeita, o futuro certamente trará novos desafios ao intérprete e ao aplicador da lei, nomeadamente no que respeita aos problemas ligados à forma do contrato de arrendamento urbano e sua convivência, nem sempre pacífica, com a justiça do caso concreto. 52 53 PAULO MOTA PINTO, obra citada, p. 773. Processo n.º 11708/2005-7, na Internet no mesmo sítio. 34 * Coimbra, Janeiro de 2009 Patrícia Helena Leal Cordeiro da Costa 35
Baixar