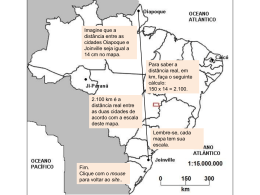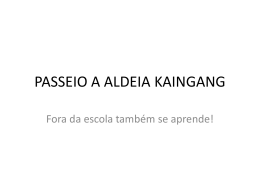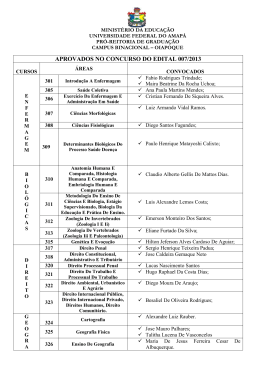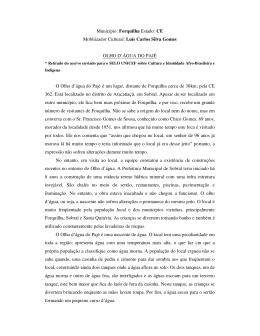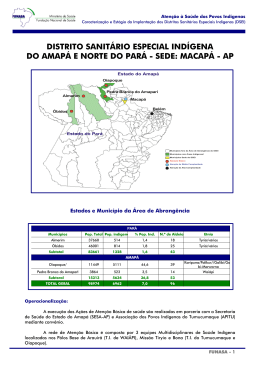!" # $ $% & # '
#( )*$ & !"$ $+$%, $-, + #$
" & !"$ #
!"$ $+$%, #
-(+# #
#
,+$ $.,
"
,/!-,
(& ! #
!,0 ,# # #
*$ (+$
$1" !)*$ #$ "2"(+$ #
$("$ & !"$ $+$%, 3
, !" #$ 4
$. 3
3 $& ,!,5(
,+6,!
++$,
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
O REAL QUE NÃO É VISTO
XAMANISMO E RELAÇÃO NO BAIXO OIAPOQUE (AP)
UGO MAIA ANDRADE
SUMÁRIO
RESUMO ............................................................................................................... i
ABSTRACT ...........................................................................................................ii
AGRADECIMENTOS............................................................................................iii
INTRODUÇÃO...................................................................................................... 1
PARTE I – O TEMPO DOS HOMENS
Capítulo I: A província do baixo Oiapoque
Paisagens........................................................................................................... 16
Cidades .............................................................................................................. 21
Aldeias................................................................................................................ 29
i - mobilidade territorial, distribuição espacial e regras de residência ........... 31
ii - estrutura social e economia ..................................................................... 34
iii - gênero e poder nos grupos locais ........................................................... 39
iv - formas de exercício do político ............................................................... 45
Um caleidoscópio étnico: a história indígena regional ........................................ 47
O SPI ................................................................................................................. 64
A moderna redução ........................................................................................... 69
Capítulo II: Olho de Guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
Redes, fluxos, relações ..................................................................................... 82
As permutas xamânicas na história recente do baixo Oiapoque:
Nimuendajú e Expedito Arnaud ......................................................................... 98
Da guerra e da troca ........................................................................................ 109
a) Reciprocidades ...................................................................................... 109
b) Agressões .............................................................................................. 126
PARTE II – O LUGAR DOS INVISÍVEIS
Capítulo III: A humanidade dos outros
Imago mundi .................................................................................................... 144
Uma etiologia performatizada
a) A causação das doenças ...................................................................... 148
b) Rito e cura: os Karipuna ........................................................................ 153
Retaliação: extração do agente patológico
a) A mulher pajé ........................................................................................ 157
b) A extração do Bet .................................................................................. 160
A metáfora canibal ........................................................................................... 163
As pessoas do pajé ......................................................................................... 167
Beleza e perigo ................................................................................................ 175
O destino das almas e a renovação das potências xamânicas ....................... 181
Capítulo IV: A physis ameríndia e o pensamento
Onto-lógicas ..................................................................................................... 194
To be and not to be........................................................................................... 201
Tradução e tradição.......................................................................................... 214
Capítulo V: Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
A conjunçãop de pessoas................................................................................. 232
A cerimônia dialógica........................................................................................ 239
Um turé para os Karuãna
A produção dos artefatos-pessoa:
i - A flauta Karamatá e o cuti ...................................................................... 243
ii - Os bancos e mastros ............................................................................. 246
iii - O lakhu, espaço cerimonial ................................................................... 252
O setting ritual .................................................................................................. 256
i - Cantos e caxiri ........................................................................................ 257
ii - no lakhu ................................................................................................. 263
Epílogo: Xamanismo, relação e percepção
Redes e metafísica .......................................................................................... 270
Cura-agressão X feitiçaria ................................................................................ 278
Referências Bibliográficas ............................................................................ 283
Anexos
Caderno de fotografias
Mitologia
RESUMO
O presente trabalho aborda dinâmicas de relações sociais, inter e intracomunitárias, geradas no campo do xamanismo e abrangendo duas qualidades de
pessoas: as visíveis, ou “humanos”, e as invisíveis, “não-humanos”. O foco é tanto o
xamanismo enquanto instituição ou “filosofia indígena”, quanto as redes de relações
e dinâmicas sociais por ele geradas na região do Baixo Oiapoque (fronteira com a
Guiana Francesa), envolvendo conjuntos de relações de reciprocidades múltiplas,
como o intercâmbio ritual e a agressão simbólica entre os Karipuna, GalibiMarworno, Palikur e não-índios das cidades de Oiapoque, Saint Georges (Guiana
Francesa) e localidades adjacentes. O pensamento xamânico regional, combinando
qualidades sensíveis a fim de predicar primariamente as pessoas invisíveis do
cosmos, tem na percepção e na relação as peças principais de construção de
mundo, donde decorre um ativo e fundamental relacionismo indígena
Palavras-chave: Xamanismo, redes de relações sociais, Baixo Oiapoque,
relacionismo, ontologia fenomenológica.
ABSTRACT
This work approaches dynamics of social relations, inter and intracommunities, generated in the field of the shamanism and counting two qualities of
persons: the visible, or "human", and the invisible, "no-human". The focus is so much
the shamanism while institution or "indigenous philosophy", as much as the networks
of relations and social dynamics generated by its in the region of the Lower Oiapoque
river (border with the Guyana French), involving multiple reciprocities relations
assemblies, as the ceremonial exchange and the symbolic aggression between the
Karipuna, Galibi-Marworno, Palikur and no-Indians from Oiapoque and Saint George
cities (French Guyana) and adjacent localities. The regional shamanic thought,
combining sensible qualities in order to predicate the invisible persons of the cosmos,
has in the perception and in the relation the main pieces of construction of world,
where elapses an assets and fundamental indigenous relacionism.
Key-words: Shamanism, social relationship networks, Lower Oiapoque river,
relacionalism, phenomenological ontology.
AGRADECIMENTOS
Sem os provimentos financeiros indispensáveis à pesquisa esta tese não teria
sido sequer iniciada. Portanto minha justa gratidão ao CNPq pela bolsa de doutorado
concedida através do PPGAS-USP durante o período 2002-2006 e à FAPESP pelos
recursos destinados à complementação da pesquisa de campo (processo 06/508186). Ainda no campo das instituições, não poderia deixar de manifestar gratidão a dois
importantes suportes logísticos na cidade de Oiapoque: A FUNASA e a AER-FUNAI.
A primeira, sob direção do Sr. Tatá, pelas essenciais caronas de voadeira durante
meus deslocamentos entre a cidade e a remota aldeia de Kumarumã e a última –
sob a administração de Domingos Santa Rosa e, posteriormente, Estela Dos Santos
– pelo cumprimento descomplicado dos meandros burocráticos de solicitações de
autorizações às lideranças indígenas.
O PPGAS-USP proporcionou, além da referida bolsa CNPq, um ambiente
intelectual sério e arejado onde cumpri toda minha trajetória na pós-graduação.
Às pessoas, amigos e parceiros, devo agradecer a tantas e por motivos tão
diversos que prefiro omiti-los, na certeza de que cada um saberá minhas razões em
ser grato: Alexandre e Dante Gallefi (os primeiros mestres na filosofia); Rosário,
Pedro Agostinho e Edwin; Aristóteles, Rubens, Vanilza, Claude, Wilfredo, Beatriz
(amigos de São Paulo); Franci, Ronaldo, Chico, Vânia, Joana, Carol, Janine
(parceiros na Cadernos de Campo).
À minha orientadora, Dominique Gallois, que acreditou e continua sendo
exemplo. À Lux Vidal, que leu esboços deste trabalho e contribuiu enormemente
para melhorá-lo em duas ocasiões: na qualificação e na fase posterior de
preparação do último material. À Beatriz Perrone-Moisés pelas sugestões bem
dirigidas na qualificação e durante o colóquio Guiana Ameríndia: etnologia e história,
realizado em Belém em outubro de 2006. Grato também sou a Michel Paty pelo vigor
das idéias e pelo diálogo que conduziu uma parte desta tese.
Àqueles que, mais do que se indignarem com os arbítrios contra a pesquisa
etnológica comandados pelo DEII-FUNAI, arregaçaram as mangas de alguma forma:
Maria Rosário, Antônio Carlos de Souza Lima, Gustavo Lins, Márcio Silva, João
Pacheco de Oliveira.
Às pessoas em Oiapoque e nas aldeias: Paulo Silva e Da. Naza; Evandro, Sr.
Levên, Sr. Getúlio, Cocotinha, Sr. Firmino, Sr. Felizardo, Romildo (de Kumarumã);
Dionísio, Sr. Luciano, Aniká, Cláudio Aniká, Joel, Sr. Amâncio (Manga); Sr.
Raimundo, Da. Verônica, Sr. Simplício, Diogo e Francisca (aldeias da BR-156);
Domingos, Wallace, Tibeta, Diniz, Ariadne (Oiapoque), Sr. Wet, Sr. Manoel Labonté,
Hélio Labonté e Nilo (Mangue/Kumenê).
Aos funcionários da secretaria do PPGAS – Ivanete, Celso, Rose e Edinaldo –
pela presteza de sempre.
Aos professores do PPGAS-USP, além dos citados, Marta Amoroso, Wagner
Silva, Márcio Silva e Maria Lúcia Montes.
Mas sobretudo aos meus pais, sempre merecedores, e à Marina, que levou
uma metade de mim ao Oiapoque, me trouxe mais completo e me deu um filho.
Introdução
1
Introdução
A pesquisa que embasa a presente tese teve início no final de agosto de
2004. É um doutorado compulsoriamente feito num e sob um golpe, consumindo o
tempo de um mestrado esperado hoje pelo staff acadêmico e agências oficiais de
fomento. Além do mais, nenhuma continuidade há entre o trabalho ora apresentado
e o que foi desenvolvido durante o mestrado, salvo uma pálida vizinhança temática:
a das redes de relações interindígenas. Por conta disso a pesquisa não usufruiu as
fases de maturação, os diálogos e as permutas de idéias no grau pertinente a uma
pesquisa centrada e madura; nem esteve pronta para os insights, pois quando eles
enfim chegaram, já era hora de partir. Contudo a enorme riqueza de temas e de
respostas dadas a eles, criativamente articuladas pelas populações indígenas do
baixo Oiapoque, fizeram com que pesquisa e tese não fossem apenas cumprimento
de agenda; há nesta região um universo de coisas, de coisas tão surpreendentes e
fantásticas quanto o fato, às vezes, delas estarem ainda ali.
Dizendo isso não solicito tolerância às omissões e vácuos que a tese
apresenta;
procuro
antes
situar
seu
contexto
de
produção,
como
faço,
posteriormente, para o trabalho de campo a fim de explanar as condições de
possibilidades que o guiaram e definiram a seleção dos conceitos na escrita
etnográfica. Embora o tempo exíguo, procurei preservar o trabalho de campo,
realizando cerca de onze meses (descontínuos) de atividades em cinco aldeias
distribuídas ao longo dos rios Uaçá, Urukauá e Curipi e da BR-156, além de ter
desenvolvido parte da pesquisa na cidade de Oiapoque. Toda esta área compreende
o que se conhece por área etnográfica do baixo Oiapoque, divisa do Brasil com a
Guiana Francesa, onde estão os grupos Galibi-Kalinã, Galibi-Marworno, Palikur e
Karipuna.
A presente tese aborda dinâmicas de relações sociais, inter e intracomunitárias, geradas no campo do xamanismo e abrangendo duas qualidades de
pessoas: as visíveis, ou “humanos”, e as invisíveis, “não-humanos”. O foco é tanto o
xamanismo enquanto instituição ou pensamento indígena, quanto as redes de
Introdução
2
relações sociais por ele geradas na referida área, envolvendo relações de
reciprocidades de qualidades múltiplas, como o intercâmbio ritual, conhecimentos e
a agressão simbólica entre os Karipuna, Galibi-Marworno, Palikur e não-índios das
cidades de Oiapoque, Saint Georges (Guiana Francesa) e algumas localidades
adjacentes. O trabalho não envolve os Galibi-Kalinã que moram no rio Oiapoque em
uma única aldeia.
A proposta contida em meu projeto de pesquisa para o baixo Oiapoque,
“Xamanismo e comunicação interétnica em uma região de fronteira (Brasil-Guiana
Francesa)” – substituto do projeto original apresentado ao PPGAS-USP e
denominado “Etiquetas de relações, rituais masculinos e a pessoa zo’é” –, previa
uma rede de atores mais extensa que incluía os Palikur e Saramaká da cidade de
Saint Georges de L’Oyapock (doravante apenas Saint Georges); os Waiãpi da aldeia
Camopi (alto Oiapoque); os Saramaká da vila Tampak (rio Oiapoque); e brasileiros
não-índios de povoações adjacentes à área indígena. Com a evolução do trabalho
de campo, iniciado propriamente em abril de 20051, e clareza das dificuldades em
lidar
com
um
universo
tão
heterogêneo
em
tempo
exíguo,
reduzi-lo
significativamente, restringindo a pesquisa de campo às seguintes aldeias: Manga
(Karipuna/rio Curipi); Kumarumã (Galibi-Marworno/rio Uaçá); Kumenê e Mangue
(Palikur/rio Urukauá) e Piquiá (Karipuna/km 40 da BR 156). Na área de pesquisa há
quatro línguas em uso, desiguais em termos de número de falantes: 1- Patois
(crioulo francês – falado por quase todos); 2- Galibi (caribe, poucos falantes na
aldeia São josé dos Galibi, rio Oiapoque); 3- Palikur (aruaque, falada pelos Palikur
do rio Urukauá e da aldeia Ywauká na BR-156) e 4- o português que apenas alguns
velhos Palikur não falam ou falam precariamente.
Por conta dessa diversidade lingüística, adotei a seguinte anotação para
palavras que aparecem na tese em três idiomas: patois, galibi e palikur. Por
distração de minha parte e/ou dificuldades em aplicar tal anotação em determinas
ocasiões, quando, por exemplo a marcação se misturava a outras já em curso, devo
ter deixado confusamente marcada uma dúzia de palavras, o que, de resto, não traz
1
As primeiras estadas de campo, em agosto-setembro de 2004 e janeiro-fevereiro de 2005,
transcorreram sem que eu formalmente fizesse pesquisa, posto que não havia ainda nem decidido
sobre a viabilidade de fazê-la com o tema proposto, nem tinha as autorizações oficiais para começála.
Introdução
3
nenhum prejuízo ao entendimento dos trechos dos quais fazem parte. Ainda nesse
domínio das convenções, utilizo para os nomes de espíritos auxiliares do pajé –
considerados pelos índios pessoas plenas e invisíveis – uma marcação itálica e
caixa alta no início do nome, como por exemplo, Yakaikani.
Sobre o trabalho de campo
Não é simples dizer quantos campos eu cumpri, posto que seria preciso antes
definir com precisão o que determina se estamos fazendo um ou não. Digo isso
porque, das quatro ocasiões em que estive na região, as duas primeiras foi como
“observador” (no sentido externo à antropologia, e não o observador como cumpridor
de ofício) e as duas outras como “pesquisador”. Acredito que isso não tenha feito a
menor diferença para os índios, como também não fez para o trabalho. Mesmo sem
a credencial burocrática para importuná-los com perguntas, a segunda estada em
especial foi bastante produtiva para um “observador”. Era também necessário que
fosse desta maneira, já que o relatório de exame de qualificação seria entregue à
coordenação do PPGAS – USP três semanas depois que retornasse a São Paulo e
quatro meses após o primeiro dia que pisei os pés na região do Uaçá.
Pensando em uma síntese das atividades desenvolvidas em cada período de
estada na área, poderia organizá-las do seguinte modo:
Introdução
4
Estadas em Campo
Período
Principais atividades
1ª etapa – setembro / outubro de 2004
Aldeias dos rios Oiapoque, Uaçá, Curipi e
Urukauá.
Acompanhamento do início da implantação nas
aldeias da região do Projeto Resgate Cultural –
PDPI/APIO
2ª etapa – janeiro / fevereiro de 2005
Aldeia Kumarumã
Acompanhamento do início da implantação em
Kumarumã do Projeto Resgate Cultural –
PDPI/APIO; participação em ritos xamânicos
de cura em Kumarumã; início das conversas
visando levantamento de dados informais;
3ª etapa – março / novembro de 2005
Aldeias Manga, Kumarumã, Piquiá e cidade de
Oiapoque.
Início da pesquisa após autorização formal de
lideranças.
Levantamento
de
dados
genealógicos sobre linhagens xamânicas;
levantamento de dados sobre xamanismo
visando a constituição de uma rede de
relações de trocas; levantamento de dados
sobre tratamento fitoterápico no Manga;
registro gravado e filmado de turé; compilação
dos cantos xamânicos em Kumarumã;
levantamento etnoecológico em Kumarumã
4ª etapa – fevereiro de 2007
Aldeias Kumenê e Mangue, rio Urukauá.
Levantameno de dados sobre agressão
xamânica ntre os clãs palikur; levantamento de
mitos;
Introdução
5
A receptividade de minha proposta de pesquisa no Uaçá por Lux Vidal
cooperou também enormemente para que eu fosse para a área nas duas primeiras
ocasiões: entre 24/08 e 29/09 e de 14/01 a 06/02. Durante a primeira visita estive
nas TI’s Uaçá e Galibi2, onde há aldeias dos quatro grupos que habitam a região. A
língua de comunicação interétnica é o patois (ou patuá) – o português é também
utilizado em certas ocasiões – e há ainda as línguas faladas pelos Palikur (aruaque)
e os Galibi-Kalinã (caribe), conforme disse antes. Na única aldeia deste grupo, São
José, localizada no rio Oiapoque, foram dois dias apenas; cinco dias entre aldeias
palikur situadas no rio Urucauá; oito dias na aldeia Kumarumã (Galibi-Marworno), no
rio Uaçá e uma semana no rio Curipi entre aldeias karipuna. A permanência curta
em cada local deu-se em função da implementação das atividades do projeto APIOPDPI de Resgate Cultural, a cargo de Lux Vidal e Marina Zacchi, que eu então
acompanhava.
Em Kumarumã, consegui trabalhar mais intensivamente com o pajé Levên,
aproveitando o álibi que me coube de “observador” do início das atividades do
referido projeto e a sua participação como um dos instrutores da oficina de cantos do
turé.3 Assim, além das traduções parciais dos cantos em galibi que ele ia fornecendo
à platéia de aprendizes-cantadores presente em sua casa, procurei explorar o
campo cosmopolítico mediado pelo xamanismo, tanto a partir da natureza de seus
atores quanto das relações que eles estabelecem entre si. As respostas comumente
vinham ilustradas com mitos ou narrativas “cosmo-históricas”, espécie de estrutura
seqüencial de eventos preenchida por referentes cosmológicos. Com o outro pajé
então atuante na aldeia, Cocotinha, estive apenas nesta fase em uma ocasião em
que ele realizou uma sessão de canto e cura. Trabalho semelhante presenciei o pajé
Levên fazer uma noite em sua residência.
2 Há ainda na região uma terceira TI, Juminã, com uma aldeia Karipuna e outra Galibi-Marworno.
3 Cantos xamânicos entoados durantes sessões rituais a fim de chamar os espíritos auxiliares o pajé.
Introdução
6
Também nas aldeias karipuna do rio Curipi foi possível levantar algum material
relativo ao xamanismo e aos processos em voga de iniciação xamânica, ainda que
saliente em ambos os grupos a dificuldade de conduzir uma investigação sobre os
intercâmbios xamânicos na região, notadamente pelo fato deles incluírem
inculpações de feitiçaria. Paradoxalmente, foi ente os Palikur que ouvi histórias de
pajés de outrora que sofreram tais denúncias e foram punidos com a morte ou o
banimento.4 Os Palikur hoje se dizem todos evangélicos, mas foi preciso apenas
que eu introduzisse de forma muito geral o assunto dos cantos (inclusive sem
associá-los ao turé) para que tais narrativas sobre agressão xamânica aflorassem
sem embaraços ou subterfúgios.
Na segunda visita à área permaneci dez dias em Kumarumã e, de novo,
formalmente eu acompanhava atividades do projeto APIO-PDPI, desta vez a
avaliação parcial do desenvolvimento das oficinas realizada por Lux Vidal em
conjunto com os índios envolvidos diretamente no projeto. Em termos etnográficos, o
rendimento dessa segunda experiência foi significativamente mais expressivo, pois
aumentou o número de meus interlocutores Galibi-Marworno, eu não era mais um
estranho absoluto e as pessoas estavam se acostumando com meu interesse por
assuntos relacionados ao turé. Além disso, o compartilhamento do trabalho de
campo com uma antropóloga experiente e que conhece como ninguém a área
possibilitava uma série de sugestões bastante vantajosas para a forma de eu
direcionar as questões e o campo.
Minha seqüência de visitas às áreas indígenas foi interrompida por uma estada
compulsório na cidade de Oiapoque por motivo de saúde e, por isso, não fui ao
Curipi com Lux Vidal, como estava planejado. Este pouso não foi, entretanto, de todo
ruim; permitiu uma reaproximação com o pajé Levên que estava hospedado na casa
de um filho. O motivo de sua presença no Oiapoque era o tratamento clínico ao qual
sua esposa estava sendo submetida com uma pajé de Kumarumã que mora na
cidade. Em companhia de ambos, freqüentei a sessão final do tratamento e realizei
entrevista com esta mulher pajé que já figurara como um interlocutor a ser procurado
em uma ocasião oportuna que não havia surgido ainda.
4 Uma delas apresentou uma notável coincidência nos fatos, personagens e na seqüência em relação
à versão publicada por Arnaud (1996).
Introdução
7
Na semana de meu retorno do campo estive nas aldeias localizadas ao longo
da BR 156, quando Lux Vidal e Marina Zacchi passaram os informes iniciais sobre
as oficinas que serão realizadas com o apoio do projeto Iepé – Petrobrás Cultural e
que deverão ter início no final do mês corrente. Em dois dias percorremos sete
aldeias de três grupos diferentes, não restando brechas, nem tempo, para criar
condições de sondagens etnográficas mais apuradas. Ainda assim, avalio como
muito interessante e produtivo meu primeiro contato com as aldeias da BR 156, onde
trabalhei durante a terceira fase de campo.
Na terceira fase, iniciando já formalmente a pesquisa após receber autorização
de lideranças locais, os trabalhos foram distribuídos dentre as aldeia e atividades
principais que constam no quadro. Contudo, um tempo significante passei na cidade
de Oiapoque de forma compulsória, haja vista a extrema dificuldade em circular pela
região sem perder muito tempo. Isto porque trata-se de uma área muito vasta e
como dificilmente há barcos indo de uma aldeia a outra, toda vez que eu deixava
uma aldeia tinha de fazer pouso em Oiapoque até o próximo transporte para o meu
destino seguinte. E esgotado o que fazer na cidade, sobretudo quando meus poucos
interlocutores não estavam, não havia mesmo o que fazer a não ser aguardar.
Na quarta fase cumprida em fevereiro de 2007, um campo emergencial que
originalmente estava programado para outubro de 2006, trabalhei no rio Urukauá
com interlocutores já conhecidos e outros novos. Dez dias apenas nas aldeias
Kumenê e Mangue para levantar material, que eu ainda não havia coletado, sobre
qualidades e extensões de relações lastreadas no xamanismo e com participação
dos Palikur.
***
O tema principal desta tese são as redes de relações sociais geradas pelo
xamanismo na região do baixo Oiapoque, extremo norte do Estado do Amapá, divisa
com a Guiana Francesa. Nesta área, composta por 38 aldeias dispersas em três TI’s
que somam 518.454 ha, vivem quase 5.000 índios5 de quatro conjuntos que travam
5 Dados da FUNAI-Oiapoque de dezembro de 2003.
Introdução
8
constantes relações entre si e com o universo não-índígena regional: Karipuna,
Galibi-Marworno, Galibi-Kalinã (ou Galibi do Oiapoque) e Palikur.6 A maior das
aldeias é Kumarumã, com 178 famílias e perto de 1.700 índios, onde está
concentrada a maioria dos Galibi-Marworno; nas menores, ao longo do rio Curipi, há
apenas duas famílias por aldeia.7 Cada um desses povos possui um rio como
referência de ocupação territorial histórica: Curipi (Karipuna), Uaçá (GalibiMarworno), Urucauá (Palikur) e Oiapoque (Galibi-Kalinã). Oito aldeias (5 Karipuna, 2
Galibi-Marworno e 1 Palikur) ficam situadas às margens da BR-156, entre os Km 40
e 90; estas localidades foram abertas como postos avançados de vigilância e
controle sobre os territórios indígenas, motivadas também pela dinâmica de
fracionamentos intracomunitários, e distribuem-se nos pontos em que a estrada
cruza os três rios de referência acima citados.
Tendo como padrão de sociabilidade a abertura para o exterior intercalada por
momentos de endogamia social – relações estas sintetizadas pelo binômio
misturados / nosso sistema (Vidal, 1999a; Tassinari, 1998) que evoca duas formas
nativas de autopercepção – os índios da região do Uaçá estabelecem vários planos
de interações interétnicas e intra-comunitárias, indo das assembléias regionais
fechadas, realizadas periodicamente, em que participam apenas eles e alguns
convidados, aos casamentos com “pessoas de fora”. Nesse amplo espectro de
relações estão aquelas alusivas ao xamanismo e que desdobram-se em agressões e
trocas de conhecimentos rituais no Uaçá8 e nas interfaces com segmentos nacionais
regionais e com índios e negros da Guiana Francesa.
São estes os intercâmbios focais para a pesquisa e que conformam redes de
relações geradas por trocas xamânicas em dois contextos englobantes: étnico
(índios e não-índios) e nacional (Brasil-Guiana Francesa). Todos estes espaços
diferenciados
possuem
dinâmicas
de
interação
específicas,
mas
importa
compreendê-los enquanto um conjunto de relações regionais geradas por práticas e
6 Os Galibi-Kalinã formam um grupo bastante pequeno (menos de 40 pessoas) migrado da região do
Maná, na Guiana Francesa, em meados do século passado. São católicos de linha tradicionalista e
hoje um tanto refratários a assuntos sobre xamanismo, embora tenham tido pajés de reputação
regional atuando até a última década de 60 e orgulhem-se disso (Vidal, 1999b).
7 Idem nota 3. Estas aldeias menores no rio Curipi são todas karipuna.
8 Refiro-me sempre à região do Uaçá quando não vier citado que trata-se do rio.
Introdução
9
concepções xamânicas, espaços articuláveis através de uma noção de fronteira que
permite o desvio da separação radical entre relações “exteriores” (índios e nãoíndios) e interindígenas ao focar a exterioridade como uma parte constitutiva das
identidades ameríndias regionais (Gallois, 2003).
Expus a importância das redes de relações para a pesquisa; gostaria de
abordar agora alguns precedentes. A partir do projeto temático “Sociedades
indígenas e suas fronteiras na região sudeste das Guianas”, desenvolvido no NHIIUSP no período de 01/1996 a 04/2003, o conceito de rede de relações figurou como
uma das balizas das etnografias produzidas por este grupo de pesquisa. O foco
privilegiado nas redes surgiu como resposta do próprio material de campo ao
atomismo, isolamento e fluidez que a bibliografia etnológica anterior havia atribuído
aos povos indígenas da área etnográfica da Guiana. As pesquisas coligadas ao
referido projeto temático propunham, assim, “entender como, em cada caso, os
diferentes grupos pensam e gerenciam suas relações entre o próximo e o distante”
(ib.), realizando abordagens multilocais de unidades sociais não referendadas na
noção dura de etnia.
A noção de rede de relações aqui empregada vale-se de minha experiência
anterior no Mestrado e incorpora pontos chaves para as pesquisas realizadas no
NHII-USP sobre as redes de sociabilidade na região das Guianas. Acredito que
deste modo obtenho um significativo avanço em relação ao estudo com os
Tumbalalá. O up grade teórico nas redes de sociabilidade que a pesquisa em curso
considera inclui a participação de agentes invisíveis como sujeitos de intercâmbios,
fundamental para se compreender uma arena cosmopolítica (Viveiros de Castro,
2002b: 468; Latour, 1999: 332) conformado pelo xamanismo na região do baixo
Oiapoque.
Inicialmente as questões que alimentaram a pesquisa pretendiam lançar luz
sobre as redes de relações xamânicas na região do baxo Oiapqoue e eram uma
espécie de fio condutor da etnografia. A saber:
Introdução
10
i) Qual a natureza das relações responsáveis pela produção/reprodução de
arranjos de intercâmbio entre os Galibi-Marworno, Karipuna e Palikur tendo o
xamanismo como cenário de fundo;
ii) Como tais relações se desenvolvem no tempo histórico e nos diversos
espaços de convivência (nos rios e ao longo da BR 156), na cidade de Oiapoque e
entre os dois lados da fronteira internacional Brasil-Guiana Fr.];
iii) Qual a extensão dos intercâmbios com não-índios no Brasil, sobretudo na
cidade de Oiapoque, e na Guiana Francesa e por quais canais eles são
desempenhados (política, parentesco, comércio etc.);
iv) Como os Karuãna se definem como agentes de uma rede ampla de política
cósmica, em um nível acima das relações
A fim de propor respostas a estas questões iniciais e avançar sobre outras
conexas com base na etnografia, análise dos dados de campo e comparação com
demais províncias etnográficas, empenhei-me nos seguintes procedimentos
metodológicos:
i) Mapeamento dos conjuntos/atores que integram sistemas de trocas regionais
geradas dentro do conjunto de práticas e esquemas ligados ao xamanismo no Baixo
Oiapoque;
ii) Reconstituição de genealogias de famílias/atores principais que participam ou
participaram mais ativamente das relações do item i;
iii) Contextualização e particularização das representações que esses agentes
fazem dessas relações e de seus interlocutores;
Introdução
11
iv) Participação, acompanhamento e registro dos eventos em que as relações
de trocas xamânicas são propícias.
Tais procedimentos visaram atingir um conjunto maior de meios de
desenvolvimento da pesquisa que, a rigor, orientam-se pelo pressuposto das redes
de relações (item 1.a) e seguem direções experimentadas pelas pesquisa anteriores
e em andamento no NHII-USP, a saber, a superação dos recortes localistas e
étnicos – ultrapassando fronteiras sociais fossilizadas e ampliando o domínio das
relações para além de especificidades territoriais (grupos locais) e ontológicas (seres
humanos) – e a adoção de um viés multilocal na abordagem destas interações
(Gallois, 2005).
Agressão e cura
O pressuposto para o tratamento do xamanismo nessa tese e que veio se
verificar com a etnografia é o da complementaridade entre cura e agressão, não
havendo uma ação sem acionar a outra. Segundo pretendo demonstrar, para o baixo
Oiapoque, no Capítulo III com a etnografia de uma sessão de cura xamânica dirigida
por uma pajé galibi-marworno que reside na cidade de Oiapoque, o ato de curar não
se faz sem o ato de agredir, posto que a retirada da doença do corpo do paciente é
seguida do envio dela a seu emissor original. Uma agressão implica em outra,
imediatamente. O xamanismo no baixo Oiapoque apresentaria, assim, os elementos
que fazem com que seja um sistema único de trocas (positivas e negativas; cura e
agressão) conforme foi demonstrado largamente para a região das Guianas (Gallois,
1988, 1996; Whitehead, 2002; Albert, 1985) e alhures (cf, por exemplo, Albert, 1985
– para os Yanomami; Descola & Lory, 1985 – para, respectivamente, os Achuar e
Baruya da Nova Guiné; Gallois, 1988 e 1996 – para os Waiãpi; Andrade, 1992 –
para os Asurini; Fausto, 2001 e 2004 – para os Parakanã; Withehead, 2001; 2002 –
para os Patamuna; Lagrou, 2004 – para os Cashinahua; Langdon, 2004).
Introdução
12
A idéia é, não abandonando o diálogo com esses autores que abordam a
relação complementar entre agressão e cura, explorar as especificidades regionais
que a etnografia do baixo Oiapoque expõe na formulação de uma visão sobre a
relação agressão – cura que implica em discursos onde a noção de feitiçaria (i.e., a
disjunção cura / agressão) é bastante eloqüente. Segundo demonstro no capítulo II,
os intensos intercâmbios históricos entre as populações indígenas no baixo
Oiapoque e as populações não indígenas da região – que se processam ainda hoje
sob inúmeros canais, inclusive com a expansão da clientela de pajés da região para
fora da área indígena – conduziram aportes variados que hoje fazem com que,
embora a prática ritual indique claramente que a etiologia no baixo Oiapoque
concebe a indissociabilidade cura - agressão, os discursos voltam-se contra isso e
adotam a ótica da feitiçaria (cura / agressão).
Assim, considero importante tomar de forma operacional tal distinção para
compreender as narrativas indígenas que usam a ótica da feitiçaria como uma
dissociação cura / agressão.
!" #
%
&'(
$
) *+,& -
+'./
$
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
15
Capítulo I
A
área etnográfica do baixo Oiapoque1 está localizada no interfluvio OiapoqueCassiporé, na divisa com a Guiana Francesa e extremo norte do estado do
Amapá, entre os paralelos 3000’ e 4000’N. Compreende além do curso inferior e
estuário do rio Oiapoque, toda a bacia do rio Uaçá formada pelos afluentes Curipi e
Urucauá e por uma densa teia de igarapés que conectam lagos e lagoas (vide Mapa
1). O rio Uaçá lança suas águas na extensa e bela baía Oiapoque, onde também
deságua o rio homônimo, vizinhada a leste pelo Cabo Orange (Brasil); a oeste pelas
montanhas Bruyére, Cunani e d’Argent (Guiana Francesa); e ao sul pela Ponta do
Mosquito, parte da área indígena (vide Mapa 4). Deste ponto até Cayenne,
bordejando-se a costa em barco equipado com motor de popa de 40 hp, são cerca
de duas horas e meia. Um tempo um pouco menor é gasto para se alcançar a vila de
Cassiporé pelo oceano.
Toda esta região de estuário dos rios Oiapoque e Uaçá está representada na
mitologia dos Karipuna, Galibi-Marworno e Palikur, além de ser forte referência para
o xamanismo regional e possuir relativa importância na aquisição de proteína animal
de origem justamarinha, sobretudo caranguejos e uma espécie de caramujo comuns
na zilê matuvin (ilha do caramujo), localizada pouco antes da entrada na baía
Oiapoque e ao lado da ruidosa zilê jacô (ilha do papagaio).
A partir da margem direita do baixo rio Oiapoque o território indígena divisa ao
norte com o Parque Nacional do Cabo Orange; a leste idem e com região próxima à
margem esquerda do rio Cassiporé; ao sul e sudeste com a BR-156 e entorno; e a
noroeste com o rio Oiapoque. Esta área possui hoje 38 aldeias ocupadas por cerca
1 A expressão “Baixo Oiapoque” vem sendo utilizada por pesquisadores da região em paralelo à
“região do Uaçá” ou “bacia do Uaçá”. Utilizarei “baixo Oiapoque”, a primeira palavra iniciando com
minúscula, para reforçar uma área geográfica delimitada, de um lado, pelo rio Oiapoque em seu curso
final até a foz e, do outro, pelo rio Cassiporé. É exatamente a região do interfluvio Oiapoque–
Cassiporé.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
16
de cinco mil indivíduos reunidos em 730 famílias2 distribuídas em três Terras
Indígenas contíguas com as seguintes dimensões: Uaçá (470.164,063 ha); Galibi
(6.689,00 ha); Juminã (41.601,271 ha). Em todas as aldeias da região há ao menos
um falante do português ou do patois, língua crioula que, desde o século XIX,
passou a ser a língua de contato entre os índios e entre eles e o exterior. Formados
a partir de matrizes Caribe, Aruaque e Tupi e tendo passado por longos processos
de mestiçagem, os Galibi-Marworno, Karipuna e Palikur adotaram como idioma
comum uma língua que – se não é propriamente indígena, pois proveniente dos
negros da Guiana Francesa – registra o universo das relações históricas interétnicas
regionais e adapta-se a fim de exprimir instituições culturais típicas do Sudeste das
Guianas. Além do patois e do português, o palikur (do tronco Aruaque) e o Galibi
(Caribe) são línguas em uso na região e faladas, respectivamente, pelos Palikur do
rio Urukauá e da aldeia Ywauká na BR-156, e pelos velhos Galibi-Kalinã da aldeia
São José no rio Oiapoque. Esta aldeia é habitada por um único grupo que originouse de duas famílias extensas migradas da costa da Guiana Francesa para o Brasil
nos últimos anos 50 (cf. Vidal, 2000) para a história da migração dos Galibi-Kalinã
para o rio Oiapoque).
Paisagens
Salvo algumas aldeias da BR-156 e as da TI Juminã (Wahá, Kunanã e
Ariramba), à jusante da aldeia dos Galibi no rio Oiapoque e dispostas ao longo do
igarapé Juminã, a ocupação territorial de cada um dos conjuntos étnicos se dá em
torno dos três grades rios locais, processo de zoneamento que foi se consolidando
após décadas de guerras interindígenas (notadamente a que, nos séculos XVII e
XVIII opôs os Palikur aos Galibi), ações coloniais de desterritorialização e, mais
recentemente, políticas oficiais de assimilação e integração. Assim os Karipuna
foram se fixando no Curipi, os Galibi-Marworno no Uaçá e os Palikur no Urukauá.
2 Por grupo há: 1848 (Karipuna); 39 (Galibi-Kalinã); 1116 (Palikur); 1955 (Galibi-Marworno). Dados de
dezembro de 2003. Ver Quadro 1 – População e Localização das aldeias.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
17
Além desses marcos históricos que conformaram ao longo de quatro séculos a
ocupação regional, intensos combates xamânicos foram necessários para liberar os
rios do domínio da Cobra Grande e mantê-los viáveis, sobretudo o Curipi (Vidal,
prelo).
Adentrando o território indígena pelos referidos rios nota-se a variação da
paisagem. Na baía do Oiapoque e, sobretudo, na Ponta do Mosquito a presença que
marca é da grossa, elevada e monótona vegetação de mangue. Subindo o rio e
ultrapassando o ponto de confluência do Uaçá com o Curipi, no local denominado
Encruzo – o primeiro local onde o SPI instalou um posto de vigilância, ainda nos
anos 40 – aumentam os aningais e o lodo em ambas as margens, um dos habitats
do jacaré-tinga fartamente encontrado no Uaçá, Urukauá, em algumas lagoas e nos
campos alagados. A vegetação muda nas zonas de menor influência das águas
salobras da pororoca, intercalando as gramíneas nos campos alagados – pintadas
aqui e ali com extensos, mas ralos, buritizais – e uma massa verde, compacta e
heterogênea formada por árvores de grande porte que predominam nas zonas de
terra firme. A região dos campos alagados é insignificante para a coleta e imprópria
para a agricultura, mas importante para a pesca no inverno e caça de aves menores,
como marrecas. A coleta de frutos como açaí, goiaba nativa, bacaba e inajá ocorre
nos terrenos secos onde predomina uma mata grossa menos exuberante que aquela
vista no entorno das aldeias ao longo da estrada.
Na preamar e no seu contrafluxo, sobretudo nos meses de janeiro a março
quando a maré invade com mais decisão o rio Uaçá, os aningais das margens dos
rios são parcialmente arrancados e amontoam-se por longos trechos dos leitos já
diminuídos pelo nível baixo das águas, formando um sinistro e compacto
emaranhado vegetal. Chamam-no de barranco ou matupá e pode ser derrotado
apenas com a combinação de takahi,3 terçado e esforço, muito esforço para levantar
e empurrar por sobre o entrelaçado voadeiras carregadas e ao mesmo tempo se
equilibrar no takahi jogado em cima dele e pular para dentro da embarcação antes
da pessoa afundar por completo na água. Medidas preventivas antes da operação,
3 Vara extensa e resistente que, alcançando o fundo do leito, impulsiona as embarcações nos trechos
de navegação difícil.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
18
como bater no barranco com um pau, para afugentar eventuais jacarés que ficam
sob ele, são recomendáveis.
No entanto, a aninga, a principal planta que entope os rios da região nos
meses de janeiro a março, não é apenas vilã; de suas folhas murchas produz-se um
potente diurético, útil para acalmar dores renais (Fernandes, 1950: 318). Esta época
do ano em que os grandes e medonhos barrancos infernizam as viagens fluviais é o
período de intervalo da estiagem que inicia em meados de setembro e finda em
fevereiro-março. As chuvas caem torrenciais, mas, rápidas e descontínuas, não
colaboram para mudar por muito tempo o nível das águas.
Há muita variedade de peixes em toda a região do baixo Oiapoque, incluindo
espécies provenientes do mar como pescadas branca e amarela que sobem os rios
para se alimentar. O verão é temporada de pescar fartamente piranhas e tucunarés
que estão concentrados na calha dos rios ou nas lagoas e período do desejado
pirarucu.4 Também é estação de boa caça de aves que vão atrás da oferta
suplementar de alimento. Há principalmente muitas aves grandes no leito dos rios
durante o verão: cigana, gavião marrom, mutum, garça e maguari. Este último é
bastante apreciado e um exemplar adulto pode render até seis quilos de carne. Na
estação reversa, em que o nível da água sobe e os campos ficam alagados, a pesca
é mais difícil porque os peixes estão espalhados, mas é a ocasião de pegar aruanã e
acará nos campos. As ferramentas de pesca utilizadas na região são o anzol e a
linha de nylon; o arpão mono, bi e tridentado (foto); e ainda o arco e flecha, variando
conforme o tipo de peixe e meio5. Contra o pirarucu, por exemplo, peixe que alcança
80 kg e vive somente no leito dos rios, a arma é o arpão manual medindo cerca de
1,80 m de comprimento, companheiro de uma paciente espera pelo momento exato
de cravá-lo no peixe cobiçado.
Na confecção das armas de pesca emprega-se preferencialmente a marapinin
– madeira dura, resistente à água e flexível – tanto no arco quanto na haste dos
arpões. Os Galibi-Marworno são habilíssimos na fabricação desses instrumentos,
4 O pirarucu é pescado de maio a novembro. Fora deste período, tempo de desova, a pesca é
interdita por uma resolução dos próprios índios.
5 Até o final dos últimos anos 70 utilizava-se o timbó na pesca, técnica abandonada por persuasão de
agentes da FUNAI (Arnaud, 1989a[1969]: 115; Gallois-CEDI, 1983: 50).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
19
sobretudo arpões. Fazem o seu corpo com a dita madeira e dela produzem ainda o
bico farpeado (arauru), preso à haste (sauli)6 por um forte amarrilho de corda
untada com cera de abelha. Os bicos de madeira, entretanto, são cada vez mais
raros e em seu lugar usam-se outros feitos de ferro, comprados nas casas de
aviamentos de Oiapoque ou preparados a partir de pedaços de vergalhão de
construção. Uma longa corda de nylon fixada na base do bico e passando entre
corrediças de metal ao longo da haste complementa o instrumento cuja combinação
de forma, peso e altura de seu corpo proporciona excelentes empunhadura e
propulsão. Esta peça, simples e funcional, é mesmo engenhosa. A propulsão e
qualidade do amarrilho garantem que o arpão alcance o alvo com força e resistência
necessária para suportar o impacto contra um peixe compacto de 80 kg; atingido, o
pirarucu luta fervorosamente a fim de soltar o arpão de seu corpo e para que a
batalha seja favorável ao pescador são decisivas a correta escultura das farpas no
bico e a qualidade do amarrilho que o prende à corda pelo pescador manipulada. A
haste, fundamental no momento do lançamento, não é mais necessária e não haverá
prejuízo para a pesca caso ela venha se partir ou soltar do bico do arpão.
A oferta de caça varia conforme o período do ano e ambiente ecológico, mas
em geral ela é relativamente abundante em toda a área. Acham-se macacos de tipos
diversos, guariba, caititu, anta, paca, tatu, cutia, veado, jaboti e queixada na floresta
e patos e pombas silvestres nos campos secos. Entre setembro e outubro, período
de desova do camaleão, pega-se a fêmea deste animal atocaiada em buracos no
solo arenoso às margens dos rios. Além da carne, preparada cozida, aprecia-se
também os ovos, de sabor forte e casca maleável. Os animais que vivem na mata
são mais abundantes no período de fartura de frutos e sementes silvestres dos quais
se alimentam, tais como açaí, cunanã, muru muru, piquiá, anuera, inajá e tucumã. É
a época de engorda de tucanos, cutia, paca e macacos e quando eles podem ser
achados facilmente próximo às zonas de concentração de seus frutos prediletos
(vide Quando 2 - Calendário Ecológico Galibi-Marworno).
Como os maiores trechos contínuos de mata de terra firme estão na porção
sul-sudoeste da TI Uaçá, as aldeias ao longo da BR-156 dispõem de mais caça
6 Trata-se do mesmo nome do bastão do pajé, arma empregada por ele contra agressores invisíveis.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
20
terrestre (viande) e de macacos e preguiças (ambos chamados de viande de alê
buá). As aldeias ribeirinhas, por seu turno, têm à disposição maior variedade de
pescados, jacaré (kaimã) e aves (gibiê), embora haja grandes trairões nos igarapés
embreados na mata espessa do trecho sul da área. Isto faz com que pessoas de
Kumarumã, por exemplo, saíam para pescar no alto Uaçá e viagem um dia e meio
de canoa a remo a fim de vender ou trocar o peixe, previamente salgado, em
algumas aldeias da estrada, sobretudo nos períodos desfavoráveis à caça como no
inverno. Os preços praticados nessas transações são tabelados e vigentes em toda
a área indígena. Até novembro de 2005 eram R$ 3,00 o quilo do pescado fresco
(incluindo jacaré) e R$ 3,50 salgado; R$ 4,00 o quilo da carne fresca de caça e R$
4,50 salgado. Devido a uma decisão em comum dos índios, é vetado o comércio de
tais itens fora da área indígena ou com pessoas que pretendam revendê-los na
cidade.
Excluindo as contingências sazonais, o maior obstáculo à obtenção de carne
de caça é o alto custo da munição comprada em Oiapoque ou Saint Georges.
Algumas pessoas chegam a encomendá-la de quem vem de Cayenne, já que além
dos preços em Oiapoque serem, de longe, os mais elevados, ocasionalmente a
venda de cartuchos de qualquer tipo na cidade é suspensa pela Polícia Federal que
procura com esta medida desarrazoada conter surtos de violência na região. Embora
muito apreciada, a carne de caça constitui proteína complementar à alimentação
cuja base é o peixe, a farinha e demais derivados da mandioca, como a tapioca, o
beiju e o tucupi.7 Além desse tubérculo, os índios da bacia do Uaçá plantam em suas
roças cará, batata, banana, abacaxi, cana de açúcar, aipim, pimenta, favas, feijão,
milho e outros tantos tipos de frutas que estão também presentes nas aldeias, como
caju, laranja, limão, abacate, goiaba, bacaba e cupuaçu. Dos comércios nas cidades
de Oiapoque e Saint Georges ou nas próprias aldeias obtêm-se o arroz, o café, o
açúcar e o frango que integram a dieta cotidiana, sendo que este último item é
também criado, mais para o consumo dos ovos que da carne. Com a chegada das
chuvas no inverno e incremento das dificuldades na caça e na pesca, recorre-se
mais freqüentemente à carne em conserva ou salgada, igualmente obtidas nos
7 A variedade de mandioca plantada nas roças é grande e dentre elas estão a gorré (amarela), pecuí
(branca), ticunanin, baton ló (vermelha e preta), baton flamã e sanzô.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
21
comércios das cidades e vendidas a preços elevados nas aldeias. Os criatórios
bovino e bubalino, outrora significantes no rio Uaçá, são hoje pequenos e restritos a
poucas cabeças distribuídas entre pequenos criadores que utilizam o leite desses
animais para consumo familiar e, às vezes, comércio.
Cidades
Com pouco mais de dezesseis mil habitantes e área municipal de 22.625 km2,
Oiapoque é a terceira cidade do interior do estado do Amapá em população, ficando
atrás apenas de Santana e Laranjal do Jarí, e o segundo município em extensão8 É
a única cidade brasileira às margens do rio Oiapoque e, por conseguinte, ao longo
de toda a fronteira internacional com a Guiana Francesa. O isolamento em relação
ao resto do estado aumenta no período do inverno amazônico quando chegam as
chuvas e provocam a interdição da BR-156, trazendo freqüentemente o perigo do
desabastecimento. Isto porque quase tudo o que é consumido na cidade – do óleo
combustível para a produção de energia elétrica às verduras e legumes – é trazido
de fora por via terrestre ou marítimo-fluvial. Embora venha experimentando um ritmo
vertiginoso de crescimento nos dez últimos anos, os serviços públicos são muito
aquém do necessário.
A ausência do Estado, ou a sua peculiaridade em zonas remotas do território
nacional, é notada por todos os lados: na falta de fiscalização efetiva do trânsito
fronteiriço; nos precários serviços de saúde, ineptos ao tratamento de doenças
tropicais; na anarquia da corrupção policial; na desatenção ao turismo sexual.
Entretanto, se o Estado tem presença pálida, a pátria está fortemente presente, seja
tremulando no obelisco beira rio no centro da cidade, evocada nos desfiles escolares
de sete de setembro ou encravada a 5 km da cidade na colônia militar de
Clevelândia do Norte.
Esta ideologia cívica unificadora, notória em zonas de fronteira entre nações,
contrasta com a diversidade dos projetos – embora quase uníssonos no desejo de
fortuna – que conduzem as pessoas até Oiapoque, cidade que, a despeito do
8 Todos os dados estatísticos sobre o município de Oiapoque são relativos ao biênio 2004-2005 e
foram obtidos no site do IBGE – http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php – no dia 18/11/2006.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
22
nervoso crescimento, estampa a marca da fugacidade na qualidade das obras
publicas e da prestação dos serviços, no consumo das novidades metropolitanas e
nas relações inter-pessoais. Neste local de passagem e para se “fazer dinheiro”, a
efemeridade pode ser medida por duas das atividades econômicas mais pujantes: a
hotelaria e a prostituição. As duas indústrias são vigorosas porque se
complementam, uma precisa da outra, e nesse mercado que, ao que consta, já
desfrutou de lucros melhores no passado, há espaço ainda para impulsionar os
serviços de táxis, curiosamente movimentado para uma cidade tão pequena.
Franceses metropolitanos ou velhos conhecidos do outro lado do rio e garimpeiros,
em trânsito, que vivem embrenhados clandestinamente na mata do país vizinho, são
a principal clientela desses três serviços. E não é preciso curiosidade investigativa
para saber um pouco sobre e relação entre eles; tudo se passa como se a cidade
estivesse apenas exercendo sua vocação econômica.
Há dois lugares, entretanto, estratégicos: a praça central e o hall de entrada
da hospedaria. Nos crepúsculos de fim de semana a praça da cidade é tomada por
famílias que vão assistir às partidas de futebol jogadas em um campo contíguo,
tomar sorvete, andar de bicicleta ou passear em um dos poucos espaços públicos de
lazer. Com a noite já instalada, casais adolescentes de namorados se revezam com
grupos de moças e de rapazes andando de um lado a outro numa mútua exibição. É
a hora também que as pessoas mais procuram os trailers de lanches dispostos no
perímetro da praça e as barracas de comida que ficam em seu interior. Depois de
meia-noite aparecem sentadas nas mesinhas metálicas dos bares ou barracas
hordas masculinas de tipos gauleses, inequívocos na cidade, ou de negros portando
as roupas vistosas preferidas na Guiana Francesa. Dificilmente esses dois tipos de
franceses são vistos juntos andando em Oiapoque, mas vão à cidade sobretudo à
procura das prostitutas brasileiras provenientes de diversas cidades da região Norte
e Nordeste e que, começando a sua jornada na praça da cidade, fazem desse
espaço público uma espécie de pegue e pague de seus serviços.
Sentado à noite, numa sexta-feira ou sábado, no hall de entrada de uma das
inúmeras pousadas da cidade têm-se também uma noção da vitalidade desse
serviço que termina por gerar ou incrementar uma rede inteira de outros serviços,
23
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
desde os mais formais, como boutiques e táxis, este já citado, até os informais como
o de, digamos, fornecimento emergencial de preservativos, ao qual dedicam-se
alguns vigias noturnos de pousadas locais que oferecem o seu produto aos
desprevenidos hóspedes por R$ 5,00 ou
2.00, a unidade. O poder público intervém
nessa cadeia produtiva com duas placas bilíngües, da Secretaria Estadual de Saúde,
fixadas na praça e na principal rampa de desembarque para quem chega de Saint
Georges e onde se lê: “AIDS não tem fronteira. Use camisinha! – Le SIDA n’a pas de
frontière. Utilize le condon!”
É chegando pelo rio Oiapoque que se tem uma idéia da forma desordenada
com que a cidade cresce. No limite rio acima há um balneário aprazível, muito
procurado por turistas franceses e moradores locais por suas praias. No lado oposto
é difícil dizer onde a cidade termina, pois cada vez há novas clareiras sendo abertas,
comumente para abrigarem entrepostos comerciais ou residências precárias
levantadas ali por falta de espaço em outros locais na margem do rio. Esta porção da
cidade deverá ainda experimentar um crescimento em ritmo bem mais acelerado que
o atual, haja vista que é próximo a ela que está sendo construída a ponte
interligando o Brasil à Guiana Francesa cuja construção, bancada pelos franceses e
iniciada em 2006, foi acertada há seis anos pelos Governos dos dois paises.9
A face ribeirinha de Oiapoque é toda ela comercial, onde estão concentradas
as lojas de confecção, de materiais de construção e aviamentos, farmácias, o
comércio de compra e venda de ouro, de ferramentas em geral, os três postos de
gasolina (sendo um flutuante, que vende o combustível trazido da Venezuela),
alguns hotéis e pousadas baratas e construções públicas, como o obelisco da
bandeira, a escola estadual de ensino médio, a sede da AER-FUNAI, prédio da
aduana federal, o Hotel Oiapoque, de propriedade do Governo estadual, a CASAI
(Casa do Índio – FUNASA), a prefeitura e a câmara municipal que leva o nome do
primeiro vereador indígena da cidade, o Karipuna Manuel Primo dos Santos (seu
Côco).
9 No final de 2005 a obra não tinha ainda iniciado, mas os terrenos próximos à estrada que dará
acesso à ponte, interligando-a a BR-156, já alcançavam valorização de mais de 300% em relação ao
período anterior à definição do local da construção.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
24
Os índios das três TI’s da região já ocuparam vários acentos na câmara
municipal de Oiapoque desde 1982 quando elegeram o vereador Côco por uma
facção do PDS local (Gallois-CEDI, 1983: 68). A população indígena mantém com a
cidade relações históricas que ultrapassam o cenário da dependência econômica
comum em diversos contextos de interação aldeia-cidade. Ao contrário, são eles uns
dos principais fornecedores de itens como frutas e farinha de mandioca, já que a
produção agrícola mais expressiva do município, excluindo a das áreas indígenas, é
o milho (40 ha de área plantada em 2004), feijão (20 ha) e arroz (25 ha). A atividade
pecuária crescente, que vem fazendo recuar a floresta em longos trechos da BR156, conta com um rebanho bovino de pouco mais de duas mil cabeças e mil e
oitocentas de bubalinos.
Fundada em 1945 para auxiliar na colonização regional, Oiapoque é uma
cidade de forasteiros que procuram melhores condições em uma fronteira onde
circula euro e ouro. São pessoas oriundas principalmente do Ceará, Pará e
Maranhão que chegaram no auge do eldorado e convivem hoje com a expectativa de
uma alternativa econômica à produção aurífera, praticamente extinta nos garimpos
da margem direita do rio e cambaleante no outro lado. A exploração mineral foi um
dos principais fatores de interação dos índios com estrangeiros ao longo do século
XIX e início do XX, quando eram empregados nos garimpos abertos em suas
próprias terras (que ainda não eram demarcadas) ou os abasteciam de farinha e
peixe salgado (Arnaud, 1989a[1969]: 98). Atrás do comércio com os garimpeiros
vinham também regatões árabes, chineses, crioulos (provenientes da Guiana
Francesa) e brasileiros cujo contingente foi parcialmente integrado à população
indígena regional (ib.: id.).
Além de venderem seus excedentes de farinha e frutas e comprarem
mantimentos e outros gêneros nos mercados locais, os índios recorrem à cidade em
busca de serviços de saúde (a FUNASA mantém em Oiapoque uma Casa do Índio
que trata dos casos que não exigem remoção para Macapá), bancários e educação
suplementar. Raramente vão à procura de empregos, excursionando em Saint
Georges ou Cayenne com esta finalidade para a qual contam com a ajuda de
25
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
parentes e conhecidos que lá já estão. Com um percentual significativo de eleitores
do
município,
a
população
da
área
indígena
possui
atualmente
quatro
representantes na câmara da cidade: dois Galibi-Marworno, um Karipuna e um
Palikur, além de um Karipuna atuando como secretário municipal para assuntos
indígenas. Em 2001 foram mais longe e elegeram o primeiro prefeito índio do
município, João Neves (Galibi-Marworno), mas seu mandato foi cassado dois anos
depois pelos vereadores que o acusaram de improbidade administrativa.
Os índios que mais freqüentam Oiapoque são aqueles habitantes nas aldeias
da BR-156 de onde há transporte regular para a cidade ao menos uma vez por
semana quando caminhões da APIO (Associação dos Povos Indígenas do
Oiapoque) e da FUNAI fazem linha. São nove aldeias e cerca de 160 famílias: a
mais próxima, Manga, a 22 km (18 km pela BR e 4 km de ramal) e a mais distante a
novata Anawerá, a 102 km da cidade. Das aldeias distribuídas ao longo dos rios e
igarapés, alcança-se a cidade diretamente por barco ou voadeira ou ainda
desembarcando-se na aldeia Manga e concluindo a viagem pela estrada.
Dependendo da aldeia, do tipo de transporte, das condições de navegabilidade dos
rios e da maré, a viagem para Oiapoque pode demorar até dezoito horas.
A comercialização do artesanato indígena regional vem ocorrendo em
Macapá em ocasiões específicas, como feiras culturais e datas comemorativas, e
conta com a logística da APIO e, geralmente, apoio financeiro do governo estadual
ou da prefeitura de Oiapoque. Excetuando essas oportunidades de exposição e
venda dos adornos e peças produzidos pelos índios do Oiapoque, em praticamente
todas as aldeias há sempre um vigoroso, porém discreto, comércio desses objetos
destinado sobretudo às pessoas de fora que trabalham nas comunidades, como
professores, enfermeiros e pesquisadores. Afora a venda como destino, a produção
de adornos de uso cotidiano como colares de miçangas, sementes e dentes de
macaco e jacaré; pulseiras, brincos de penas e tornozeleiras, atende ao largo
consumo doméstico. Com o término da pavimentação da BR-156 (previsto para
2008) e inauguração do Museu Kuahi na cidade de Oiapoque – que deverá contar
com um espaço externo para a venda de produtos agrícolas indígenas e uma lojinha
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
26
interna de artesanato – devem ampliar sensivelmente as oportunidades comerciais
para os índios da região.
As lojas e residências se misturam na malha urbana que hoje se estende bem
além da estrada. É dessa parte da cidade, assimilada como periferia e que abriga
localidades como Buraco Quente e Garganta Cortada, que se vê algumas roças de
mandioca, feijão, arroz e milho plantadas nas franjas da floresta que recua cada vez
mais por força da expansão urbana, das fazendas de gado e do assentamento
contínuo de madeireiras que atendem à demanda da construção civil local e da
industria de móveis. Lugar mais esquecido que a própria cidade de Oiapoque, a
periferia não tem calçamento – recentemente implantado nas principais vias do
centro – escola, posto de saúde e os serviços de luz e água são, na maior parte das
vezes, clandestinos.
Contudo o contraste nem sempre é tão visível em relação aos bairros do
centro; excetuando, talvez, uma melhor qualidade de iluminação pública, o
asfaltamento recente de ruas e a proximidade de serviços como hospital, escolas e
Correios, o mal funcionamento do Estado e dos serviços em geral atingem a todos,
democraticamente. Seguindo a estrada na direção de Macapá, há novos
assentamentos (e novas roças e madeireiras formando outra frente de pressão sobre
a floresta) alguns já constituídos como bairros, outros em processo, apostando no
crescimento que o local deverá experimentar por conta da construção da ponte que
trará franceses ao Oiapoque em maior profusão. É também neste trecho da cidade
que uma classe de comerciantes emergentes vem construindo suas casas, pois
longe o suficiente da balbúrdia urbana, mas próximo dos serviços ainda faltosos.
No centro e em seu entorno estão, além da referida praça, a igreja matriz e as
instalações paroquiais utilizadas pelo CIMI, as duas agência bancárias, o fórum da
cidade, a delegacia de polícia, a agência dos Correios, uma das duas escolas de
nível médio, os grandes mercados de variedades e as principais pousadas. É neste
miolo que a circulação de moradores de Saint Georges é maior, embora as lojas
ribeirinhas também atendam muitos deles, pois aí se abastecem de mantimentos e
se hospedam. Munidos de euros, são eles que incrementam o comércio local e
fazem os preços irem às alturas.
27
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
Saint Georges fica a dez minutos de catraia da cidade de Oiapoque, à
jusante, e é destino dos que vão procurar emprego e passagem para os que vão
trabalhar em garimpo no outro lado do rio. Cidade ribeirinha com uma expressiva
população palikur e local de trânsito para os Waiãpi do rio Camopi (alto Oiapoque), é
preferida pelos índios do lado brasileiro para venderem seus produtos por causa do
euro. O quilo da farinha, por exemplo, alcança até
3.00 quando vendido
diretamente ao consumidor, contra R$ 1,50 oferecido pelos comerciantes brasileiros.
Montarias, especialidade dos Galibi-Marworno, são vendidas no lado francês por
120.00 (casco) e
160.00 (com falca e 5 m de comprimento), preços bem superiores
aos que são pagos no Brasil. No entanto, a fiscalização da Gendarmerie vem
fechando o cerco ao comércio de produtos brasileiros na cidade que oficialmente só
pode ser feito mediante pagamento de altas taxas aduaneiras, inviabilizando às
vezes as transações agrícolas indígenas. Cayenne, a cerca de duas horas e meia
pela rodovia, é uma alternativa a este comércio, já que lá o quilo da farinha de
mandioca é oferecido na porta de casa do consumidor por até
12.00 e
8.00 aos
intermediários locais.
Cidade bem menor que Oiapoque, com comércio acanhado e pouco sortido,
Saint Georges tem uma população tão diversificada quanto a babilônia de origens
que constitui a sua vizinha brasileira. Além dos Palikur – emigrados do rio Urukauá
em diferentes períodos do século passado e que formam um bairro à parte dividido
em duas comunidades, o Village Esperance 1 e Village Esperance 2, diferentemente
posicionadas em relação às tradições do grupo (Passes, 2006: 80; Capiberibe, 2001:
113) – a cidade abriga populações de origem Saramaká,10 chinesa, créole, haitiana,
martinicana, franco-européia e brasileiros precariamente posicionados no mercado
local de trabalho (Capiberibe, 2001: 113). Além desses, uma população crescente de
índios Galibi-Marworno e Karipuna, casados com créoles ou não, vem se fixando
abaixo do bairro palikur e se integrando ao contingente de brasileiros precariamente
empregados, retornando depois de alguns meses às suas aldeias de origem no
Brasil ou seguindo para Cayenne onde comumente possuem parentes. Quando não
10 Os primeiros Saramaká chegaram na Guiana Francesa, vindos do Suriname, em 1860, durante a
fase inicial do boom da mineração aurífera, e estabeleceram-se no litoral do Maná (Price, 2005).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
28
atuam como cozinheiros, pedreiros ou auxiliares de serviço geral, esses índios são
contratados pelos créoles para brocar, limpar ou colher roças e fazer farinha,
serviços que igualmente prestam aos Waiãpi do Camopi (alto Oiapoque) que a eles
também recorrem para a fabricação de canoas (principalmente os Galibi-Marworno).
Uma pequena parcela dos brasileiros residentes em Saint Georges possui
negócio próprio e permissão de trabalho. Estão no ramo do comércio de aviamentos,
enquanto os imigrantes chineses, parcela significativa da população da Guiana
Francesa, são proprietários dos três maiores mercados da cidade (e praticamente os
únicos). Não obstante o mosaico étnico, as posições na sociedade local e a
distribuição de poder dentro dela estão mais ou menos pré-fixadas: os Saramaká e
créoles, maioria na Guiana Francesa e em Saint Georges, detém as funções
administrativas municipais; os franceses metropolitanos ocupam os postos de
médicos, policiais, professores e enfermeiros; os chineses, conforme citei, são
comerciantes, juntamente com créoles e Saramaká (Capiberibe, 2001: 113).
Comparada a Oiapoque, Saint Georges é uma cidade fantasma. E com
arquitetura dissonante das paisagens de latitudes tropicais. A presença do Estado
francês, manifesta, sobretudo, pelo sistema de seguridade social que alcança todos
os cidadãos franceses, faz com que a vida urbana e o ritmo do crescimento em Saint
Georges seja modulado pela expectativa do incremento familiar, já que o seguro
social é calculado pelo tamanho da família. Como dizem jocosamente os índios
brasileiros para exprimirem a maneira como avaliam isso, “a única industria da
Guiana Francesa é a de filhos”.
A diminuta população e o espaço urbano ordenado conforme a natureza do
imóvel (administração pública, comercial ou residencial) e a posição étnico-social de
seus ocupantes (créoles, franceses metropolitanos, chineses, índios etc), produzem
uma ordem urbana de caserna comparando-a ao zoneamento caótico da cidade
vizinha brasileira. Mas tanto lá quanto cá o Estado cristaliza as estruturas de
segregação e divisão de poderes, consolidadas por séculos de exercício colonial. A
diferença entre ordem e desordem urbanas é apenas aparente e não exprime
sociedades tão antagônicas. Pois, enquanto nosso vizinho organiza o espaço da
cidade distribuindo desigualmente os poderes dentro de uma sociedade idealmente
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
29
igualitária (baseada fortemente no princípio da eqüidade), porém diversa, nós
partimos do princípio da diferença natural entre as pessoas para prescrevermos que
a corrida pela igualdade (i.e., o ideal da fortuna) está aberta a todos. E a mistura, em
Oiapoque, dos mesmos espaços ocupados por pessoas diferentes paralelamente à
presença de espaços segregados (como a nova periferia da cidade) reflete um
pouco isto: que todos são iguais enquanto “competidores”, mas não enquanto
cidadãos.
Aldeias
Neste bloco, e nos seguintes, ofereço uma visão sumária de aspectos
históricos e etnográficos dos povos indígenas do baixo Oiapoque a fim de situá-los
no painel da etnologia do Sudeste das Guianas. Sendo esta uma pesquisa sobre
relações multilocais proporcionadas pelo xamanismo e envolvendo três conjuntos
indígenas e segmentos regionais com os quais interagem, uma descrição
pormenorizada da história e etnologia seria tarefa de grande monta e supérflua,
posto que os estudos realizados sobre cada um desses conjuntos em separado já
cumprem esta função. A exceção, talvez, sejam os Galibi-Marworno, povo que ainda
aguarda por uma etnografia geral sobre eles, embora venham recebendo atenção
em temas especiais como parentesco (Tassinari, 2006) e educação (Assis, 1981).
Por isso e devido à concentração de meu trabalho de campo na aldeia
Kumarumã, conduzo mais atenção ao processo formador desse assentamento que
hoje é o maior em toda a região indígena do baixo Oiapoque. Mas há ainda outro
motivo para o sobrevôo. É que não tendo empreendido pesquisas densas,
bibliográficas ou em fontes primárias, que permitissem configurar um quadro mais
pormenorizado dos eventos, ajustes, rotinas coloniais, agentes e agências não
indígenas que influíram nos processos históricos regionais dos quais participaram as
populações indígenas do baixo Oiapoque, utilizo sistematizações de autores que se
dedicaram à reconstrução e interpretação de tais processos.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
30
Além disso, os progressos obtidos com as pesquisas mais recentes sobre
essas populações, notadamente nos últimos quinze anos, demarcam um estágio
satisfatoriamente avançado de conhecimento sobre a história regional e novas
contribuições devem emergir ou da releitura atenta e especializada das fontes
impressas já conhecidas (sobretudo os cronistas dos séculos XVII, XVIII e XIX, como
Henri Coudreau, Jules Crevaux) ou da consulta a fontes primárias inéditas. Nessa
última frente há trabalhos em curso cujos resultados poderão iluminar o transcorrer
da história indígena do baixo Oiapoque durante o século XIX, período pouco
comentado pela literatura sobre a região (cf. Tassinari, 2006: 15).
Os estudos relativos à história e organização social surgidos a partir da
década de 60 com Arnaud (1968a; 1968b; 1989a[1966]; 1989b[1969]; 1970; 1984;
1996), Grenand & Grenand (1987), Dreyfus (1981) e Gallois-CEDI (1983) – todos
precedidos pelo trabalho pioneiro de Nimuendajú (1926) – foram acrescidos de
novas abordagens e temas explorando aspectos diversos, mas integrados dentro de
uma visão processualista da história cujo foco incide nas relações intra e intergrupos e nas redes de sociabilidade delas derivadas. Nesse horizonte estão os
trabalhos de Vidal (1999; 2000; 2001a; 2001b; no prelo) cobrindo assuntos sortidos,
como cosmologia, etnohistória, tecnologia e cultura material, parentesco e
organização social; os de Tassinari (1998; 2006), respectivamente sobre o processo
de construção cultural e os circuitos de trocas empreendidos pelas famílias karipuna
do rio Curipi e sobre parentesco Galibi-Marworno; as pesquisas de Dias (2000;
2005), respectivamente explorando os itinerários terapêuticos das famílias karipuna
e o consumo de bebidas alcoólicas entre os quatro grupos da região e as formas
pelas quais tal consumo se estrutura socialmente; a pesquisa que deu origem à
dissertação de mestrado de Capiberibe (2001) que aborda a instituição da igreja
pentecostal entre os Palikur do rio Urukauá nos últimos anos 60, o seu processo de
conversão e os ajustes culturais decorridos, exame que, de certa forma, se prolonga
agora em nova fase.11
11 Todos esses pesquisadores fizeram parte do projeto temático “Sociedades indígenas e suas
fronteiras na região Sudeste das Guianas”, sediado no Núcleo de História Indígena e do Indigenismo
da Pro-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo e financiado pela FAPESP durante os
anos de 1996 a 2003.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
31
Integra também a lista os trabalhos de Musolino (1999; 2006) sobre,
respectivamente, a constituição de uma identidade indígena regional lastreada em
três condições principais: convivência política, produção econômica e comunidade
cultural e as intersecções e co-pertenças das identidades étnica e nacional
protagonizadas pelos Palikur em ambos os lados da fronteira Brasil-Guiana
Francesa; as pesquisas do casal Green (2003) focadas em mitologia e tradição oral
dos Palikur do rio Urukauá, além de pesquisa embrionária sobre identidade,
territorialidade e meio ambiente na reserva indígena do Uaçá (Kohler, 2006).12
O que segue está fundamentalmente baseado nesses trabalhos, além de
interpretação de meus dados etnográficos produzidos durante o ano de 2005.
i - mobilidade territorial, distribuição espacial e regras de residência.
A composição e distribuição espacial de uma aldeia na região do baixo
Oiapoque variam significativamente conforme o seu tamanho, localização e o grupo
ao qual pertence. Das 38 aldeias presentes nas três TI’s da região há desde as que
possuem duas famílias e seis pessoas, como Bastiõn, até com 178 famílias e 1660
pessoas, caso de Kumarumã. As aldeias menores, ribeirinhas ou localizadas ao
longo da BR-156, tendem a se formar a partir de um único núcleo familiar extenso
constituído por um casal mais velho e seus filhos solteiros residindo em uma casa
em torno da qual gravitam os filhos casados e os filhos destes. As primeiras aldeias
da BR-156 foram criadas logo após a abertura da estrada no início dos anos 80 e
funcionariam como postos de vigilância contra invasores que, com a BR, teriam
acesso facilitado à área indígena (Gallois - CEDI, 1983: 9). Os responsáveis por
estes postos – inicialmente uma liderança Karipuna no km 70 e outra GalibiMarworno no km 9013 – foram contratados pelo governo do Território do Amapá e
12 Não poderia deixar de ser mencionado o trabalho de Alan Passes (1998; 2000; 2006) que, embora
desenvolvido, no grosso, com os Palikur da Guiana Francesa, aborda várias questões relativas aos
movimentos transfronteiriços do grupo.
13 As aldeias Estrela (Karipuna, km 70) e Tukay (Galibi-Marworno, km 90) são justamente as únicas
da BR-156 que possuem posto da FUNAI.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
32
para lá se mudaram com suas famílias e outras tantas que optaram pela nova vida
(ib.: 11).
Não obstante a necessidade de assegurar o controle sobre o território inibindo
invasões de pescadores, garimpeiros e caçadores através da recém implantada
estrada; e ainda considerando a atração que a oferta de caça nas florestas de terra
firme desta porção da área indígena e de terra boa para plantar exerceram sobre as
famílias emigradas, os deslocamentos que conduziram essas pessoas a se fixarem
ao longo da BR-156 ocorreram e vêm ocorrendo também em função de dinâmicas
de cisões intracomunitárias motivadas por desentendimentos entre afins ou vizinhos,
rivalidades políticas, acusações de feitiçaria ou rixas circunstanciadas. Estas fraturas
procuram realizar o ideal do viver entre iguais, consangüíneos e “consanguinizados”,
e a mudança ou abertura de um novo assentamento, longe de vizinhos incômodos e
afins, é a chance de realizá-lo.
Para tal os Galibi-Marworno e Palikur tendem a seguir um padrão de
residência uxorilocal que permite uma maior independência do núcleo familiar e mais
próximo se estará desse ideal quanto menor for o assentamento. Os Karipuna não
adotam o mesmo padrão residencial, mas manifestam a tendência a ocupar áreas ao
longo do rio Curipi com a constituição de novos assentamentos, motivados pelo ideal
da dispersão dos grupos locais (Tassinari, 1998). Estes grupos locais manifestam
ainda tendência pendular ao fechamento, adotando o casamento avuncular ou com
primos patrilaterais como preferenciais, e à abertura, casando os homens com
mulheres Galibi-Marworno ou as mulheres com pessoas de fora da área indígena
(notadamente créoles da Guiana Francesa e brasileiros regionais) (Tassinari, 1998).
Os Palikur, com descendência patrilateral sob regime de seis clãs exogâmicos,
proíbem os casamentos com os primos paralelos e cruzados bilaterais, restando
somente dois grupos casáveis para cada clã que poderão repetir as uniões entre si
após quatro gerações (Capiberibe, 2001: 112).
Porém tal fechamento tem seu preço e, na prática, nenhum núcleo familiar
deseja viver isolado em definitivo, mas de modo que possa alternar a distância e a
aproximação criando redes de relações intercomunitárias de trocas comerciais,
matrimoniais, rituais etc. E esta ideologia permanece mesmo nos grandes
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
33
assentamentos. A maior das aldeias da região, Kumarumã – com 1660 pessoas e
178 famílias14 – formou-se nos últimos anos 40 por iniciativa do SPI que persuadiu
as famílias que viviam espalhadas nas inúmeras ilhas do rio Uaçá a reunirem-se em
uma única ilha que abrigava a escola recém implantada. Hoje esta aldeia, criada à
semelhança de uma vila regional, possui aglomerados domiciliares denominados de
“ruas” ou “bairros”, mas que refletem a distribuição das casas de modo a atender à
regra uxorilocal de residência assiduamente observada pelos Galibi-Marworno.
Criando “bairros” e “ruas” dentro da aldeia que são nada mais que núcleos
domésticos onde a afinidade está sob controle e transformada em relação
cooperativa, os Galibi-Marworno recriaram, no espaço do grande assentamento
forjado pelo agenciamento estatal, o ideal ameríndio do viver entre iguais.
Portanto, embora o problema da ocupação territorial, das redistribuições de
famílias e formação de novos assentamentos não esteja liberto de contingências
históricas ou mesmo ecológicas, a mobilidade pelo território e fixação em novas
terras seguem principalmente critérios sociológicos orientados por dinâmicas de
dispersão e concentração congruentes com o movimento pendular da abertura e do
fechamento que pautam as redes de relações entre os povos do Oiapoque
(Tassinari, 1998: 156; Vidal, 1999: 35). Havt (2001) demonstrou para os Zo’é do
interfluvio Erepecuru-Cuminapanema (nordeste do Pará) que as dinâmicas
sociológicas de mobilidade espacial estão pautadas na busca por alianças entre os
grupos locais e restringidas conforme a noção zo’é de limite do cosmos. Tais
evidências sublinham que “interações com o meio ambiente são relações sociais”
(ib.: 197), solicitando o afastamento do marco teórico das abordagens filiadas à
antropologia ecológica.
14 Dados de dezembro de 2003. Ver Quadro 1 – População e Localização das aldeias.
34
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
ii - estrutura social e economia
Um pouco do que caberia aqui neste bloco já foi antecipado, como as regras
de residência e casamento preferenciais. Sobre o primeiro item há dados a serem
considerados, pois eles revelam aspectos importantes sobre as maneiras pelas
quais os grupos do baixo Oiapoque organizam as relações entre seus segmentos.
Em um artigo sobre os grupos indígenas da região, Arnaud resumia assim a
organização social por eles apresentada:
“Organização baseada em clãs patrilineares exogâmicos, possivelmente
divididos em metades, entre os Palikur; predominância de famílias
extensas matrilocais entre os Galibi; e de famílias simples entre os
Karipuna”
]1989b[1969]: 92[
Mencionei que mesmo em uma aldeia grande como Kumarumã busca-se a
realização da ideologia do viver entre iguais com a uxorilocalidade. A ideologia é
possível, entretanto, quando se disfarça ou ameniza a afinidade mediante a
tectonímia; não seria, aliás, ideologia se não houvesse nela algo de desejo de
controle, transformando a diferença em vetor de produção econômica ao incorporar
os afins vivendo sob o mesmo teto a grupos de cooperação. Contudo a tectonímia
tem vigência diferencial conforme a geração de ego, atuando nas relações onde se
espera maior rendimento nos laços cooperativos entre afins (WF e DH) e entre afins
de afins (WZH e WZH) (Tassinari, 2006: 20). Organizados a partir de grupos
domésticos sob a liderança do sogro, os Galibi-Marworno utilizam a seguinte
terminologia:15
15 A terminologia aqui apresentada foi reunida por Tassinari (2006) e analisada após um trabalho
preliminar em conjunto sobre parentesco Galibi-Marworno (cf. Vidal & Tassinari, 2002).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
Consangüíneos
1. F = papá
2. M = mamã
3. S/D = pitxi
4. B = fué
5. Z = só
6. FBS/FZS; MBS/MZS = kuzé
7. FBD/FZD; MBD/MZD = kuzin
8. FB/MB/FFZS/FFBS/FMZS/FMBS/MFBS/MFZS/MMBS/MMZS = tonton
9. FZ/MZ/FFZD/FFBD/FMZD/FMBD/MFBD/MFZD/MMBD/MMZD = tan
10. SS/DS/SD/DD = paru (paru dji phox = descendente real / paru dji loen =
descendente classificatório)
11. SSS/DSS/SDD/DDD = txi paru (idem item 10)
12. BS/ZS/FBSS/FBDSFZSS/FZDS/MBSS/MBDS/MZSS/MZDS = nive
13. BD/ZDFBSD/FBDD/FZSD/FZDD/MBSD/MBDD/MZSD/MZDD = nhes
14. FF/MF = ghã papá
15. FM/MM = ghã ghã
16. FFF/MFF = ghã ghã papá (tamuxi)
17. FMM/MMM = ghã ghã ghã
Afins
18. H = uom
19. W = fam
20. WF = bopé (non)
21. WM = belmé (tan)
22. DH = bofi (nive)
23. SW = belfi (nhes)
24. ZH/WB = bofué
35
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
36
25. BW/WZ = belsó
26. FZH/MZH = ghã bofué (non)
27. FBW/MBW = ghã belsó (tan)
28. WFF = ghã bopé (non)
29. WMM = ghã belmé (tan)
30. WFFF = ghã ghã bopé (non)
31. WM MM= ghã ghã belmé (tan)
32. WZS/WBS = txibofué (nive)
33. WZD/WBD = txibelsó (nhes)
34. SWM/SWF/DHM/DHF = ianu
Afins de afins
35. WZH/WBW (ego masculino); HZH/HBW (ego feminino) = tahapá
Os termos entre parênteses indicam relação de respeito e, quando dirigido
aos afins, marcam também sua consanguinização, sobretudo dos co-residentes de
gerações alternadas de ego (+1/-1, por exemplo). É neste domínio que o grupo
doméstico realiza, através da tectonímia, o ideal do viver entre iguais, integrado
também pelos tahapá WZH. Estes consideram-se mutuamente irmãos e constituem
relações de amizade, lealdade e cooperação nas atividades cotidianas (Tassinari,
2006: 20-21). As relações entre WF e DH são também cooperativas e transpassadas
por obrigações e sentimentos próprios das relações entre pais e filhos homens.16 Por
outro lado, é com deferência distanciada que se tratam SW e HM e nunca como mãe
e filha, haja vista que o padrão uxorilocal de residência Galibi-Marworno,
16 De fato, um homem terá em seu sogro um novo pai ao casar, embora os vínculos afetivos com o
pai biológico permaneçam. Isto ficou evidente em uma ocasião em que eu e Lux Vidal conversávamos
com Levên, pajé de Kumarumã, na casa de um de seus filhos casados que mora na cidade de
Oiapoque. Ao falar de um outro filho casado e residente em Kumarumã, Levên referiu-se à sua
relação paterna com Humberto no pretérito, dizendo que ele “era seu filho” e agora “filho de
Cocotinha”, WF de Humberto. As relações de cooperação entre Humberto e Cocotinha não se
restringiam à produção econômica doméstica e invadia a produção ritual, posto que Humberto era o
principal paliká de seu bopé pajé. Levên e Cotinha, os dois pajés de Kumarumã, tinham, portanto,
laços que identificam pessoas ianu.
37
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
regularmente observado em Kumarumã,17 não obriga as duas a conviverem sob o
mesmo teto ou em residências contíguas. Inversamente à consangüinização de afins
co-residentes das gerações -1, +1 e +2, para os da geração de ego acentua-se a
afinidade com o uso dos termos bofué e belsó (Tassinari, 2006: 21).
Os núcleos domésticos Galibi-Marworno são denominados de hã (Vidal &
Tassinari, 2002: 4; Tassinari, 2006: 19) e constituem-se de um casal , suas filhas
casadas, seus maridos e os filhos desses casais, além dos filhos solteiros de . É
definido pelos Galibi-Marworno como “um mutirão de pessoas” ou “um grupo que
trabalha junto” (Tassinari, 2006: 19) e podem manter-se unido até em ocasiões de
escolhas eleitorais (Vidal & Tassinari, 2002: 6). Corresponde à unidade doméstica
matrilocal presente na região das Guianas que conforma a autoridade dos sogros
sobre os genros mediante o controle sobre suas filhas, sendo a uxorilocalidade “o
meio pelo qual a família natal pode manter controle sobre as capacidades produtivas
e reprodutivas de suas mulheres jovens” (Rivière, 2001[1984]: 68). Os Pais da
mulher do casal
podem ainda integrar o conjunto doméstico, mas é comum que
passem a habitar uma outra residência quando velhos, de modo que dificilmente
haverá quatro gerações co-habitando a mesma casa. Para os Galibi-Marworno, e
também para os Palikur do Urukauá (Capiberibe, 2001: 145), um casal recém
formado e sem filhos habita a casa dos pais da mulher por dois ou três anos, período
em que o genro terá seu comportamento matrimonial “observado” pelos sogros e
receberá de WF instruções complementares sobre como desempenhar com
eficiência as atividades de subsistência necessárias à manutenção de sua esposa e
filhos.
Tal transmissão, contudo, serve também para otimizar a cooperação que WF
e DH manterão pelo resto da vida, mesmo depois do jovem casal construir sua
própria casa e mudar-se para ela. Isto porque o grupo local não se desfaz com a
mudança de residência, posto que uma típica seção doméstica galibi-marworno (hã)
e palikur é formada pela morada do casal
que tem à sua órbita as residências das
17 A uxorilocalidade deixa de ser observada entre os Galibi-Marworno quando, por exemplo, o casal
vai morar longe dos pais da esposa, como é o caso do filho de Levên que mora em Oiapoque (nota
anterior). Esta é a maneira mais comum de quebra da regra de residência. Entretanto, em visita à
aldeia o casal hospedar-se-á sempre na casa dos pais da mulher e nunca na casa dos sogros desta.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
38
filhas casadas, preferencialmente dispostas de modo a formarem um único pátio
privativo de uso de toda a secção. Tenho mais claros os pátios das seções
domésticas Galibi-Marworno. Segundo disse páginas atrás, Kumarumã é uma aldeia
construída pelo SPI ao modo de uma vila regional, com as casas dispostas lado a
lado como um conjunto de arruamentos.
De forma que as entradas principais delas ficam sempre para a “rua” e dão
acesso imediato ao compartimento mais público da casa onde seus moradores
compartilham a presença de visitas formais. Entretanto, o acesso à casa
normalmente utilizado pelos moradores fica do lado oposto à rua voltado para os
pátios das secções domésticas, locais onde a circulação é evitada quando não se
está dentro de seu próprio pátio ou de pessoas muito próximas. Esta configuração é
vigente na porção mais antiga da aldeia e, portanto, com densidade populacional
maior.18 É a parte relativamente próxima da ponta dos estrangeiros, onde estão o
posto da FUNAI, a enfermaria, a escola, o alojamento dos professores, a central de
manutenção da TELEMAR (companhia de telecomunicação que mantém telefones
públicos na ilha) a igreja católica e o prédio da biblioteca da escola. Na entrada
desse “lugar dos outros”, assim já definido pelo SPI ao setorizar a aldeia de
Kumarumã, está a sede da AGM – Associação Galibi-Marworno.
Nas porções recentemente habitadas, próximo à pista de pouso e nos locais
denominados Bacaba e Ponta da Bacaba – este último onde se concentram os
evangélicos da aldeia, em torno da igreja batista instalada desde os ano 80 – as
casas ficam consideravelmente mais afastadas umas das outras, mudando
completamente a configuração dos pátios domésticos. Aqui os setores privados se
confundem com os próprios caminhos de uso coletivo que os interligam e os limites
de cada seção são calculados em relação à distância da(s) casa(s) para que não se
atravesse o pátio doméstico alheio. Como as áreas de menor adensamento
populacional e ocupação recente se formaram também como zonas de reclusão
procuradas por famílias que preferiram o isolamento parcial, ocorre que muitas delas
formam sozinhas uma unidade doméstica, mas não um grupo local, posto que a
superposição entre território e unidade social deixou de existir para elas ao
18 Recordo que Kumarumã é uma aldeia insular com cerca de 180 famílias e quase 1700 pessoas.
Além disso, possui área habitável limitada.
39
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
deslocarem-se da seção de WF e WM, o casal
. Não deixaram, contudo, de
pertencer a um hã e poderão formar novos no futuro no lugar escolhido para
viverem. Aqui vê-se que a dinâmica de um grupo local não permite que ele seja
definido exclusivamente por contornos territoriais, como se existisse apenas no
espaço da seção do casal , posto que “cada grupo local remete-nos não apenas a
um espaço de relações, mas a uma história de relações que ultrapassa o seu
período de existência” (Grupioni, 2005: 42).
Os Palikur do rio Urukauá, com residência matrilocal e organizados em clãs
exogâmicos de descendência patrilinear, formam igualmente grupos locais baseados
em um ou mais casal
constituído por WF e WM. Os clãs palikur são provavelmente
oriundos de povos de origens lingüísticas distintas (Passes, 2006: 76; Gallois-CEDI,
1983: 27) que passaram a adotar a organização social do grupo majoritário aruaque.
No passado esses clãs eram treze e hoje somam seis: Wayveyene, Kwakyieyene,
Wakavunhene, Paramyune, Waxeyene, Wadahyone (Capiberibe, 2001: 112).
iii – gênero e poder nos grupos locais
No entanto, a tendência é que o processo de dispersão de famílias que
compõem a seção de um casal
– gerado pela falta de espaço físico nas velhas
áreas de ocupação e pelo desejo de se viver uma vida doméstica mais reclusa em
relação às intrigas e mexericos provenientes das seções vizinhas – termine por
produzir novos hã e grupos (multi)locais, haja vista que, se não é o contorno de um
território o que melhor define um grupo local, a pertença a ele também não é
exclusivamente deliberada pelo parentesco, mas pela convivência diária e partilha de
atividades e refeições no espaço do pátio doméstico. É nele onde as atividades do
cotidiano, como cozinhar, comer, contar histórias, produzir arcos de pesca e colares
de miçangas e dividir a comida, ocorrem. Às vezes é onde também se processa a
farinha, a tapioca e o beiju em um forno instalado dentro do próprio pátio que poderá
ser emprestado a parentes de outras secções. O pátio possui ainda um cubículo
para banho fechado dos lados (pouco utilizado pelas crianças maiores, que preferem
40
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
banhar-se no rio) um banheiro de alvenaria construído pela FUNASA com fossa
séptica e um poço d’água de uso das pessoas do hã. Também planta-se nele canade-açúcar, limão, laranja, bacaba, açaí e arbustos cujas sementes são utilizadas na
confecção de colares e pulseiras pelas mulheres. No alto verão, quando os poços
artesianos ficam com nível muito baixo, todos recorrem ao rio para os banhos e uso
d’água para beber e cozinhar.
É sobretudo o lugar de produção da sociality (Strathern, 1998) e exercício da
conviviality (Overing, 1999; Overing & Passes, 2000) que fazem do parentesco uma
rede de partilhas entre pessoas que vivem, comem, se divertem e trabalham juntas.
Não sendo percebido apenas como fato biológico, o parentesco e os liames entre
pessoas
genealogicamente
próximas
precisam
ser
socialmente
fabricados,
conservados no viver junto e modelados nas atividades compartilhadas do cotidiano.
O parentesco, ainda que entre consangüíneos, não é, portanto, irrevogável e os
homens galibi-marworno, dispersos de seus parentes de sangue por conta da regra
uxorilocal de residência pós-marital, bem sabem disso. São eles que, ao mudarem
para o local dos pais de sua esposa, passarão por processos de consanguinização
por parte, principalmente, do sogro e desenvolverão conexões amistosas com seus
tahapá (notadamente WZH); ao mesmo tempo permanecerão como afim para WB e
WZ. E para ser moldado como um co-substancial terá de conviver com os membros
da seção doméstica de sua esposa, trabalhar com eles em regime de cooperação e
partilhar a comida. Entretanto, e não obstante a ideologia do viver entre iguais, é
ainda no seio do hã que podem irromper os conflitos, cisões e acusações de
feitiçaria que, inevitavelmente, surgem dessas tensões, um dos principais móveis
das dinâmicas de dispersões intracomunitárias.19 As mulheres, por seu turno, que
permanecem no local de seus pais após o matrimônio, não passam por processos
de consanguinização advindos da convivência entre pessoas de seções distintas e
são elas que mantém a memória dos hã galibi-marworno (Vidal & Tassinari, 2002).
Retornando a convivialidade e os processos simbólicos de transformação de
diferentes em co-substanciais gerenciados pelo casal
de uma seção doméstica, é
19 Um exemplo bastante eloqüente são os Galibi do Rio Oiapoque, cujo grupo fundador desta aldeia
– formado por 38 pessoas – migrou do litoral da Guiana Francesa em 1950 devido a graves questões
relacionadas ao xamanismo (Arnaud, 1989a[1966]: 22).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
41
na partilha do alimento que os protocolos entre DH e WF são mais salientes,
conforme testemunhei uma ocasião em Kumarumã. Quase dois meses tinham se
passado desde que chegara nesta aldeia e ainda não havia encontrado carne de
caça para comprar. Como as áreas preferidas de caça ficam além dos campos
alagados e atrás das florestas de várzea, o ideal são os períodos de estiagem, mas
com água suficiente nos igarapés para permitir o acesso de canoas até próximo às
áreas de caça – como no monte Tipoca (entre os rios Uaçá e Urukauá), local de
grande concentração de guariba, macaco aranha e veado. Apesar de ser meados de
julho, próximo do final do período das chuvas e época boa para caçar, os homens
ocupavam-se freneticamente com a pesca do pirarucu e tucunaré, o auxílio na
produção de farinha e a industria naval. Não se vê muita caça em Kumarumã porque
o calendário de atividades na aldeia é cheio justamente no período oportuno para
apanhá-las. Além disso, a obtenção de projéteis de caça estava especialmente
difícil, pois a Polícia Federal havia proibido o comércio de munições em Oiapoque e
comprá-las em Saint Georges era inviável.
Eu estava na casa de um de meus principais interlocutores na aldeia e do
compartimento onde ele havia instalado uma pequena venda e que servia também
de sala, quarto de dormir e bar, era possível ver boa parte de seu pátio doméstico,
meio misturado aos pátios de outras seções vizinhas. Esta é uma das áreas mais
densamente povoada de Kumarumã. Contíguas à sua casa estavam as casas de
suas duas filhas casadas, que moravam com seus maridos e filhos pequenos e/ou
adolescentes, e mais a casa de seu tahapá ladeada para residência de sua filha e
genro. Conversávamos sobre irmos pescar tucunaré nos próximos dias em um
igarapé a meio dia de remo subindo o rio quando um de seus genros chegou
trazendo um veado às costas. Normalmente ZH, WB (solteiro) e WZH (tahapá)
caçam juntos, mas, penso que em função do calendário de atividades na aldeia,
aquela caçada havia sido realizada solitariamente.
A cena do homem trazendo carne provocou murmúrios por parte dos adultos
da seção e reboliço e algazarra das crianças, mas meu interlocutor, demonstrando
um discreto desinteresse por ela, permaneceu planejando a pescaria. Pouco tempo
depois a mulher do caçador estava tratando a carne na parte posterior e aberta de
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
42
sua casa, bem defronte onde estávamos. Esta área, constituída apenas por um
tablado elevado e um fogão de barro, serve ao preparo e ingestão dos alimentos e é
onde as pessoas mais conversam, descansam e guardam utensílios diversos, como
panelas, vara de pescar, cuias, potes com água, vasilhas de plástico etc., além de
todo o alimento da casa. O homem pareceu instruir sua esposa sobre cortar um
quarto da presa e depois levou pessoalmente a peça até a parte posterior da casa
de seu genro que solicitou, em patois, a sua mulher que fosse pegá-la. Peças
menores foram igualmente distribuídas entre as outras casas da seção, seguindo o
mesmo roteiro: a mulher do caçador tratava a caça, este distribuía as peças e a
mulher da casa contemplada a tomava. Embora esta divisão alimentar seja trivial,
ocorrendo também com o produto das coletas, ela não deixa de ser ritualizada.
Um homem traz da floresta a caça inteira ou retalhada, conforme o tamanho,
e completa ou eviscerada de acordo com a distância que terá de percorrer de volta a
aldeia. Neste caso, além de limpa, ela poderá ser salgada, se tratar-se de uma
expedição de caça formada por vários homens que poderá incluir, além de tahapás
e cunhados de uma mesma secção, amigos e parentes de outras. Mas não se
deixam as vísceras do animal morto na floresta; além de ser grave infração da
etiqueta de caça, passível de punição pelo mestre da espécie, o cheiro de morte
espanta os animais daquela área que, com o tempo, poderá se tornar despovoada
de caça. O animal é limpo em um igarapé ou no rio, quando a distância até ele é
conveniente ou, em último caso, tem os seus restos enterrados na mata. Seja qual
for o estado em que a caça chegue na aldeia – inteira, retalhada ou eviscerada – ela
será ainda cortada pela mulher para a distribuição entre as famílias que compõem o
hã do caçador. Segue-se, então, o citado roteiro ritual:
- o homem traz a caça;
- deposita na parte de sua casa voltada para o pátio da seção doméstica;
- sua mulher corta as peças de carne;
- ele as entrega às mulheres principais das casas da seção (WM ou WZ).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
43
Na ausência destas, um dos filhos menores recebe a oferta e é comum que
depois as pessoas, sobretudo as crianças, transitem entre as casas experimentando
da carne distribuída já preparada. O mesmo ocorre com peixes, aves e produtos de
coleta, como frutas, mas a partilha da caça, dada a relativa raridade sazonal deste
produto em Kumarumã, adquire um significado especial. Conforme disse, o animal
pode chegar já tratado na aldeia ou inteiro, como chegou o veado cuja carne foi
distribuída quando eu estava presente na seção de meu interlocutor. Contudo, a
verdadeira intervenção na caça é feita no pátio doméstico pela mulher do caçador
que a prepara para a distribuição. Mesmo que sua participação seja apenas cortar as
peças, é este trabalho que produz efeito social (ao contrário do corte do caçador,
feito na mata e dirigido por aspectos práticos relacionados ao transporte da caça),
pois organiza a partilha efetuada pelo marido: o maior e melhor pedaço para a casa
de seus pais e partes equivalentes para as demais casas. Ela separa a carne em
peças para, por meio da distribuição feita pelo marido, produzir a unidade de seu
grupo doméstico. E na outra ponta, da recepção, novamente uma mulher
protagoniza o rito, como se a dádiva fosse de mulher para mulher. Mesmo em uma
atividade tão masculina como a caça a intervenção das mulheres do hã matrilocal é
decisiva para transformar uma atividade de obtenção de proteínas em sociality e
produção de pessoas “iguais”.
Se os seus maridos e irmãos, trabalhando em conjunto e constituindo grupos
de cooperação econômica, fornecem as provisões necessárias ao sustento dos
membros da seção, são as esposas, filhas e irmãs que promovem os liames
necessários à convivialidade doméstica, produzindo, além, disso, pessoas “iguais”.
Sendo as verdadeiras “donas do lugar” as mulheres são as reais responsáveis pela
manutenção de uma seção doméstica uxorilocal.
Sintetizando a interpretação do rito de distribuição da caça em uma seção
doméstica:
- o homem corta o animal na mata para transportar, visando um efeito pragmático;
- o fracionamento masculino da caça separa o animal, é disjunção alimentar;
44
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
- a mulher corta o animal no pátio doméstico para promover a distribuição,
produzindo efeito social;
- o fracionamento feminino da caça une os membros do hã, é conjunção social.
- o homem distribui as peças de carne;
- a mulher
da casa contemplada recebe a oferta;
- a refeição é compartilhada com a circulação das pessoas pelas residências;
- os homens, mediante a caça, agricultura e industria naval, produzem a economia;
- as mulheres, repartindo e preparando a carne e processando a farinha, produzem a
socialidade no hã e gerenciam e produção de pessoas co-substanciais, mantendo
o grupo uxorilocal.
O papel das mulheres na conservação dos grupos locais galibi-marworno
pode ser percebido também na função que elas desempenham como guardiãs da
memória genealógica do grupo (Vidal & Tassinari, 2002). Como são elas que
permanecem nos hãs (salvo quando o casamento ocorre entre primos paralelos
matrilaterais, por exemplo, e o homem não precisa migrar) têm melhor conhecimento
das pessoas que compuseram seu grupo local no passado e dos matrimônios
estabelecidos. Segundo o que disse anteriormente, a autoridade dentro do grupo
local, entretanto, não pertence formalmente às mulheres, embora elas tenham franca
influência sobre as decisões e mediações de conflitos. Compete ao(s) homem(ns)
do(s) casal(is)
dirigir e coordenar o aprovisionamento do seu hã, formando com
seus genros, filhos solteiros, netos e tahapá, e mais os genros, filhos solteiros e
netos maiores desses o grupo de cooperação. A autoridade masculina não é
incisiva, mas será mais saliente conforme a quantidade de famílias nucleares em um
hã. Se este for composto apenas por um casal
(WF + WM + WB solteiros + netos
eventuais) rodeado pelas moradas das filhas casadas, o poder do sogro será
consideravelmente maior; contudo, se ele tiver tahapá no grupo local – o que é mais
comum – sua influência ficará restrita ao universo de seus genros e filhas, que é o
que, na prática, acontece. Entretanto, uma pesquisa mais apurada sobre o papel das
mulheres dentro dos grupos locais galibi-marworno, em particular, e na região do
baixo Oiapoque, em geral, ainda está por ser feita, mas os levantamentos efetuados
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
45
até o momento e apresentados de forma disseminada nas etnografias sobre a região
(notadamente em Dias, 2005 e Tassinari, 1998) permitem adiantar que tal tema deve
produzir bons rendimentos para as relações de gênero em contexto indígena.
iv - Formas de exercício da política
No domínio mais amplo da comunidade, relativo às relações entre os grupos
locais de uma aldeia, os conflitos são decididos pelo cacique e por um conjunto de
conselheiros cujo número varia conforme o montante total de famílias da aldeia. Há
ainda a figura do vice-cacique e a influência que as velhas lideranças exercem sobre
a nova geração de líderes, conquanto o exercício político fora dos grupos locais não
esteja pautado em nenhuma instituição gerontocrática. Os conflitos inter-hãs ou
pessoais são levados aos conselheiros e ao cacique que procuram fazer, da forma
melhor possível, a mediação entre as partes. A constituição de um conselho formado
por pessoas oriundas de diversos grupos locais, como ocorre em Kumarumã,
corrobora para uma condução o mais neutra possível dos conflitos, mas não garante
decisões pautadas em interesses privativos e em função da assimetria de poderes
dos conselheiros entre si ou face ao cacique e aliados diretos.
Contrariamente às formas públicas de resolução de conflitos, o xamanismo
age como organismo político não apenas tomando a função de mediador entre
domínios cosmológicos distintos, mas visando, através da agressão, a superação de
contendas com o aniquilamento ou neutralização de uma das partes beligerantes. A
solução de intrigas intencionada pelo xamanismo através da agressão – que pode
ser feita por qualquer um com as técnicas do potá – salienta os planos das fissuras
sociais intra e intercomunitárias e alimenta a espiral da vingança (Carneiro da Cunha
& Viveiros de Castro, 1985) que garantirá a continuação dos conflitos. Desta forma a
acusação de agressão xamânica não os causa propriamente, mas torna evidente
onde eles virtualmente existem ou estão já em curso na sociedade. Este assunto, um
dos temas desta tese, será retomado em diversas ocasiões adiante e será objeto
mais específico de discussão do Capítulo II.
46
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
Em todas as aldeias da região do baixo Oiapoque ocorrem reuniões internas,
normalmente em um espaço reservado para elas (a Casa Comunitária) e para as
festas locais de datas comemorativas. Suas deliberações vão desde assuntos triviais
e exclusivamente internos, como a limpeza e capinagem da área da aldeia,
informações sobre epidemias e assuntos clínicos, regulamentos e andamento de
convênios
na
área
de
educação
e
saúde,
até
assuntos
de
interesse
intercomunitários, como o calendário das restrições ecológicas (relativo aos animais
cujo consumo é controlado por resolução comum) e, mais recentemente, discussões
sobre o andamento das negociações com os Governos Federal e Estadual sobre a
pavimentação da BR-156 e com a ELETRONORTE sobre a passagem da linha de
cabos de alta voltagem por dentro da TI Uaçá.20 Nessa frente, as reuniões internas e
comunitárias em aldeias distintas vêm servindo para afinar o discurso frente aos
representantes das agências de intervenção de modo a torná-lo uníssono na hora
das negociações durante as assembléias gerais.
Nessas reuniões costumam estar presentes pessoas de fora diretamente
implicadas nos assuntos em pauta: representantes governamentais ou de agências
de intervenção, enfermeiros, dentistas em campanha odontológica etc. Em épocas
pré-eleitorais aumentam a presença de políticos nas aldeias e normalmente são
convocadas reuniões comunitárias para ouvi-los falar o mesmo texto encanecido das
promessas. O assédio ocorre porque as três TI’s juntas somam cerca de três mil
eleitores e os votos indígenas podem definir uma eleição no município de Oiapoque.
As associações de representação são transpassadas por diversos focos e
interesses: étnico, profissional, de gênero etc. A maior delas, em termos de
representação e legitimidades mediadora e decisória, foi criada em 1992 e hoje,
além de ser a voz oficial dos quatro grupos indígenas do baixo Oiapoque, a APIO
(Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque) gerencia os projetos que estão em
20 As discussões sobre a pavimentação da BR-156 se acaloraram quando os Galibi-Marworno e os
Palikur reivindicaram como item de compensação a construção de ramais ligando as aldeias
Kumarumã e Kumenê à estrada. Estas duas aldeias são as mais distantes de toda a área indígena,
alcançadas apenas por via fluvial ou aérea, em viagens que demoram cerca de 4 horas em voadeira
dotada de motor de 40 hp e não muito carregada. Os Palikur da aldeia Ywauká (km 80 da BR-156)
costumam ir andando até o Kumenê pela mata, gastando cerca de 6 horas nesse deslocamento.
Cada um dos ramais teria cerca de 30 Km e cortaria a floresta e áreas de campos alagados,
dificultando muito sua manutenção, o que pesou na argumentação dos que se opuseram à obra.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
47
curso nas três TI’s, patrocinados pelo PDPI21 e pela TNC,22 e já respondeu pela
verba para a saúde de todas as aldeias do estado do Amapá. Outra ONG indígena a
AGM (Associação Galibi-Marworno), vem centralizando posições dissonantes em
relação a APIO e também assumindo responsabilidades na administração de
convênios com o governo estadual, como o gerenciamento dos recursos destinados
às escolas e à educação indígena na região do Oiapoque. Além dessas duas ONG’s
que representam interesses dos índios da região, uma outra mais recente, a
Organização dos Professores Indígenas do Oiapoque (OPINO), criada em 2005 sob
o auspício do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) local, formou-se com a
sugestão de desenvolver a participação dos professores indígenas nas propostas
curriculares para o ensino nas aldeias e é a primeira associação indígena regional
desse tipo.
Caleidoscópio23 étnico: a história indígena regional
A aparente unidade contemporânea dos povos indígenas que ocupam as TI’s
Uaçá, Juminã e Galibi esmaece os longos processos históricos pelos quais
passaram esses conjuntos sociais. Não apenas os Karipuna – cuja formação do
grupo atual, relativamente recente e alcançada pela memória oral – formaram-se a
partir de retalhos de povos e de famílias não-índias, mas também os GalibiMarworno e os Palikur experimentaram fusões, acomodamentos e rearranjos que os
produziram (e vem produzindo) sob a forma que hoje os conhecemos. Todavia, o
controle sobre os processos de mestiçagem (Boccara, 2001) não pertence
exclusivamente ao pólo colonialista e seus tributários concretos (missionários,
mercadores, agentes administrativos, colonos etc), restando às populações
21 Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas. Componente do Programa Piloto para a Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio da
Secretaria de Coordenação da Amazônia.
22 The Nature Conservancy, ONG que desenvolve projetos de natureza ambiental, atuando em
algumas áreas indígenas na Amazônia.
23 Sobre o caleidoscópio diz o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa: “Pequeno instrumento
cilíndrico, em cujo fundo há fragmentos móveis de vidro colorido, os quais, ao refletirem-se sobre um
jogo de espelhos angulares dispostos longitudinalmente, produzem um número infinito de
combinações de imagens de cores variegadas”.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
48
indígenas a resignação da síntese mal arranjada das populações atuais ou a total
eliminação física. Essa tendência a polarizar em “resistência” ou “assimilação”
culturais a fatura dos encontros entre populações ameríndias e estrangeiras faz
desses pólos compartimentos insuportavelmente substantivados. Os encontros entre
diferentes, longe de se esgotarem em processos de etnificação conduzidos pela
agenda colonial, não resultam ou no tosco espetáculo das práticas miméticas
(assimilação) ou na manutenção heróica das formas autênticas (resistência); eles
são simbolicamente mediados e as práticas nem sempre exprimem sua verdadeira
homilia, uma vez que
“Nenhuma sociedade, desde que consiga sobreviver, pode deixar de
capturar e transfigurar em seus próprios termos culturais tudo que lhe é
proposto ou imposto, até nas mais extremas condições de violência e
sujeição, independentemente de qualquer confronto político (guerra,
rebelião ou protesto)”
]Albert, 2002: 15[
Deste modo, a história das relações de contato de uma província etnográfica
não deve abstrair o fato de que não há processo de mestiçagem e etnificação –
responsável, no limite, pela produção de “índios misturados” – que não seja também
produto de uma “ideologia da mistura indígena”, da posição e função constitutivas
reservadas à alteridade nas cosmologias ameríndias. O que estou tentando dizer é
que uma etnohistória regional que pretenda a mediação dos vários pontos de vista
nela implicados (dos índios, dos colonos, dos comerciantes, dos missionários, dos
escravos etc.) tem de contemplar tanto as fontes documentais e as falas dos agentes
coloniais, quanto os sentidos que as formas sócio-culturais da atualidade dão à
“mistura”, uma tarefa para a etnografia. Neste caso o pressuposto é aquele dos
significados internamente articulados com a história dos grupos sociais, gerando
formas de cultura com séries próprias de transmissão e reprodução. Para um olhar
apartado da história, aqueles que parecem ser elementos exógenos e de ação lesiva
para uma sociedade, podem tornar-se constitutivos de sua “tradicionalidade”,
segundo indicou Peter Gow ao referir-se à escola e à Comunidad Nativa, dois
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
49
modelos de sociabilidade impostos pelo Governo peruano às populações do Baixo
Urubamba e que, depois de indianizados, figuraram como fatores de preservação do
parentesco e da história. É somente através do processo de mistura, da produção de
“mixed blood”, que os povos Piro e Campa se perpetuam enquanto “sociedades
tradicionais”:
“[...] In order for people to live in real villages as civilized people, there
had to be the prolonged and complex process of the proper mixing of
difference, summed up beautifully in the idiom of ‘mixed people’. In order
for this process to continue, new differences must be found and mixed in
[...] It is only through this process that they can imagine life continuing”
]Gow, 1991: 276[
Aqui vemos, para o caso do Baixo Urubamba, a etnografia alcançando os
sentidos indígenas dados aos resultados do contato e a transformação de forças
exógenas originalmente desagregantes em fatores de continuidade social. Na região
do baixo Oiapoque este esforço para compreender o lugar do outro nas cosmologias
locais e dos “elementos estrangeiros” (a escola, a igreja pentecostal, a cachaça, os
santos católicos, a língua créole, etc.) na vida social vem sendo feito e revelando a
engenharia de domesticação por trás deles, seja na manutenção em paralelo da
religião pentecostal, adotada como recurso de diferenciação, e da ideologia
xamânica (Capiberibe, 2001; 2004); dos termos de parentesco empregados em
língua créole, mas que exprimem relações indígenas regionalmente verificadas
(Tassinari, 2006); das formas de sociabilidade intra-comunitária que absorvem
fortemente expressões do catolicismo popular regional (Tassinari, 1998); ou dos
modos socialmente acolhidos e partilhados do uso de bebidas com acento marginal,
como a cachaça (Dias, 2005).
Todos esses aspectos, originalmente exógenos e agora constitutivos da vida
social ameríndia na região, sublinham não apenas históricos de relações com o outro
estrangeiro, mas a própria continuidade dessas interações no tempo, seja para
frente ou para trás. De tal modo que não devemos conceder que os processos de
mestiçagem tenham se iniciado exatamente com a presença das frentes coloniais
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
50
nas primeiras décadas de contato contínuo ainda no século XVI, quando evidências
etnohistóricas demonstram, por exemplo, que os Palikur de hoje são o resultado de
clãs aruaque originários que, antes da presença colonial na costa amapaense, se
confederaram com outros povos, notadamente de língua caribe, e que foram
gradualmente submergidos até a sua total transformação em clãs palikur de segunda
grandeza (Passes, 2006: 76). Alhures há o eloqüente exemplo dos Ka’aygua – termo
exo-referencial pejorativo, com sinal equivalente, talvez, a Tapuya ou Caripouns –
fagocitados ou, simplesmente, aniquilados pelos Guarani durante sua marcha précolombiana de expansão profético-territorial (Clastres, 1972: 89-90).
Se as sociedades são, fundamentalmente, sistemas de relações e interação,
então as transformações em função do encontro colonial não seriam algo
surpreendente e nem fora do alcance das possibilidades indígenas de gerenciá-las.
De algum modo elas não seriam um problema de natureza, posto pertencerem
virtualmente à sociedade como elemento necessário de reprodução social
(lembremos o exemplo evocado dos povos Piro e Campa do Baixo Urubamba). O
problema, que é de grau, acentua-se quando as dinâmicas de transformação não
podem mais ser digeridas pela máquina canibal do socius ameríndio, tamanha a sua
aceleração e impacto, e faz brecar a cosmologia. E embora a correspondência não
seja automática, tal contexto pode ser providenciado por duras e violentas rotinas
coloniais que, reordenando os fluxos migratórios, colabora para a concentração de
atores indígenas e não indígenas em determinadas regiões boas para a experiência
das fusões, como é o caso da província do baixo Oiapoque.
Esta área aparece na literatura antropológica sobre a região Sudeste das
Guianas como zona de refúgio de populações indígenas migradas compulsoriamente
da foz do rio Amazonas, ao Sul, e do litoral do presente território da Guiana
Francesa, ao Norte.24 Embora não estivesse livre dos descimentos promovidos por
comerciantes portugueses, a condição de zona contestada desta região permitiu
uma relativa ausência em relação a eles, mas não a outras rotinas coloniais de
desterritorialização, como as missões indígenas ao longo dos rios Oiapoque e
24 Cf., por exemplo, Gallois, 1986; Nimuendajú, 1926 e 1963; Grenand & Grenand, 1987; Arnaud,
1984 e 1989b[1969].
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
51
Curipi.25 Além dessas rotas de escoamento de gente, ciclos migratórios dos séculos
XVIII conduziram outras levas de índios fugidos das missões instaladas no baixo e
médio Oiapoque e em quadras ulteriores famílias de caboclos e índios provenientes
da porção Leste do estado do Pará.
As fontes históricas dos séculos XVIII, XIX e XX demonstram que os povos
indígenas que permaneceram na extensa região do baixo Oiapoque – procedentes
quase sempre da foz do rio Amazonas26 e litoral da Guiana Francesa – juntaram-se
a matizes étnicas diversas: escravos negros fugidos, de várias denominações;
europeus de nacionalidades diferentes; árabes; chineses; famílias caboclas
provenientes do litoral leste do Pará etc. Os registros desses encontros foram
coligidos em outras monografias sobre as populações indígenas do baixo
Oiapoque,27 mas não seria excessivo recuperar alguns deles. Destacam-se, por
exemplo, as crônicas de Henri Coudreau, viajante francês do século XIX que
percorreu o norte do Pará, o Amapá e interior da Guiana Francesa, legando
apontamentos sobre os índios da época visitados pelo autor e uma rica compilação
de tantos outros embasados em fontes dos séculos precedentes (especialmente
missionários).
“La capitainerie de Cachipour et celle de Counani sont peuplées de
refugies brésiliens, eclaves noirs et mulâtres pour la plupart. Celle de
Mapa est peuplée em plus grande partie de soldats déserteurs de race
tapouye; les trois capitaineries du Ouassa sont peuplées d’Indiens
(Palicours, Arouas, etc.), débris des anciennes tribus. Ces Indiens sont
de race pure à Ouassa, très peu mélange à Rocaoua, et légèrement
croisée d’Européens, de noirs et de mulâtres, à Couripi [...] La langue
25 A fronteira do Brasil com a Guiana Francesa foi objeto de disputas entre os Governos brasileiro e
francês que reclamavam o mesmo território (vide Mapa 02). Somente em 1900 um documento do
governo suíço, então convidado a intervir na contenda, deu ganho de causa ao Brasil e a fronteira foi
estabelecida conforme é hoje, funcionando o rio Oiapoque como divisor natural das terras dos dois
países. O maior controle nas regiões limítrofes e a restrição de trânsito pelo antigo Território
Contestado após o ganho da causa pelo Governo brasileiro teriam feito com que cerca de 200 índios
Palikur atendessem à solicitação do governo francês para morarem na margem esquerda do rio
Oiapoque (Arnaud, 1989b[1969]: 91).
26 Os Aruã, Maraon e Palikur tinham na foz e adjacências do rio Amazonas parte de seus territórios
(cf. Nimuendajú, 1926: 6 e 60; Grenand & Grenand, 1987: 47 [mapa]; Gallois, 1986: 292 [para os
Aruã]). A familiaridade dos Palikur com o rio Amazonas – que chamam de Umawuni – é vista na
mitologia, como exemplifica o mito das borboletas kassugwiné (Anexos – M. 02).
27 Notadamente na tese de Tassinari (1998) sobre os Karipuna.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
52
des deux capitaineries indiennes intérieures est dérivée du tupi-caraïbe,
avec un dialecte pour Ouassa, et un autre pour Rocaoua [...] On compte
100 habitants environ dans la capitainerie de Couripi, 100 dans celle de
Rocaoua, 100 dans celle de Ouassa [...] Les Indiens du Ouassa sont ce
qu’ils sont partout, à l état de dégénérescence, soumis, resignes,
ivrognes et paresseux. Les esclaves refugies de Cachipour sont un peu
plus intéressants”.
]Coudreau, 1887: xxxiii-xxxiv[
(Grifos por minha conta)
A intensa e histórica comunicação interindígena, assim como entre índios e
não-índios, no baixo Oiapoque é também registrada de forma pormenorizada no
texto de Nimuendajú escrito em 1926 e produto de cinco meses de trabalho
etnográfico na bacia do rio Uaçá realizado no ano de 1925:
“A esta mescla de elementos índios já bastante complicada, juntou-se
mais uma série de componentes de outras raças humanas de
disparidade maior ainda: da Guiana Francesa vieram creolos, chineses,
árabes e, talvez ainda, representantes de outros povos; do Brasil
mestiços de origem índia, africana e européia, além de italianos”.
]Nimuendajú, 1926: 61[
Tal amálgama indígena “já bastante complicada” a qual refere-se Nimuendajú
eram os habitantes do rio Uaçá que hoje são identificados por Galibi-Marworno. Com
os Galibi da Guiana Francesa talvez não tenham ligação alguma e o uso pretérito
dessa língua no rio Uaçá pode ter sido por influência de índios de diversas legendas
provenientes da Missão Ouanari onde se falava um galibi como “língua geral”
(Nimuendajú, 1926: 61).28 Isto explicaria, em parte, porque o pequeno grupo de
28 Sobre a origem geográfica e pluriétnica dos índios do rio Uaçá, Eurico Fernandes diverge da
maioria dos autores e diz o seguinte: “Remontando às suas origens, dizem-se GALIBI, MARAONE,
ITUTAM e SACACA. Como, entretanto, falam todos as mesma língua CARAÍBA, isto nos faz pensar
na possibilidade de serem clãs dessa grande nação e não tribos diferentes e descendentes desse
mesmo grupo etnológico que se tivessem reunido ou se organizado numa só tribo, o que nos parece
bastante difícil. Vieram do Norte, tinham o seu ‘habitat’ em terras da hoje Guiana Francesa e no início
da colonização dessas terras por franceses, procuraram a direção das terras brasileiras, onde
encontraram a ‘Província dos Palicur’, que ia de Macapá ao rio Oiapoque” (Fernandes, 1953a: 278).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
53
Galibi-Kalinã da margem direita do rio Oiapoque que migrou da região do rio Maná,
próximo à divisa com o Suriname, em 1950 (Vidal, 2000: 44), nunca reconheceu
qualquer parentesco com os Galibi do rio Uaçá. E vice-versa. Além disso, algumas
instituições vigentes entre os Galibi do Oiapoque quando chegaram ao Brasil – como
o casamento avuncular e a proibição de uniões ente primos paralelos – nunca foram
noticiadas entre os homônimos do rio Uaçá (Arnaud, 1989a[1966]: 34).
De tal modo que os Galibi que chegaram no Uaçá em meados do século XVIII
seriam, na verdade, apenas falantes de um galibi utilizado como língua geral na
Guiana Francesa; sua categorização enquanto índios galibi não estaria amparada
em critérios sociológicos, mas num escamoteado critério lingüístico. Contudo, as
fontes relatam ao menos quatro conjuntos indígenas principais que entrariam na
composição dos índios do rio Uaçá: Galibi, Aruã, Maraon e Itutan. Aqui temos
basicamente uma liga aruaque-caribe à qual foram se agregando magotes de
populações não indígenas, sobretudo negros oriundos da Guiana Francesa e
Suriname (estes últimos talvez Saramaká) e chineses, sendo que uma boa parte
dessas pessoas transitava livremente pela região à procura de ouro no alto Uaçá ou
nas franjas do rio Cassiporé.
Toda essa mistura, somada à memória da composição complexa dos índios
do Uaçá através da descendência patrilinear, fizeram como que esses índios não se
definissem a partir de um etnônimo auto-referente, mas da expressão em língua
créole “moune Ouassa”, que se traduz por gente do Uaçá (Nimuendajú, 1926: 61).
Somente depois da chegada dos referidos Galibi do Oiapoque nos últimos anos
cinqüenta é que passaram a refletir sobre a necessidade de uma identidade em
comum que permitisse a diferenciação em relação àquele grupo. Surgiria daí,
quarenta anos depois, a legenda Galibi-Marworno, estandarte da complexa mistura
que deu origem à contemporânea população do rio Uaçá.
Segundo o que falei linhas atrás para esta população, Galibi pode ser uma
mera classificação lingüística enviesada, mas eram os falantes dessa língua os que
estavam em maior quantidade entre os indivíduos do rio Uaçá nos séculos XVIII e
XIX. Já os Maraon eram um dos grupos mais antigos de todo o estado do Amapá,
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
54
sendo, contudo, difícil mapear sua dispersão e sugerir uma classificação lingüística
ou sociológica (Grenand & Grenand, 1987: 44).29
Inversamente sabe-se que os Aruã (aruaque), outro componente importante
na formação da população do rio Uaçá, vieram da foz do Amazonas, precisamente
das ilhas Marajó e Caviana. Migraram ainda no século XVII para o baixo Oiapoque
fugindo das violentas hostilidades que lhes impunham os portugueses – devidas, em
parte, às boas relações que esses índios mantinham com os holandeses – e dos
missionários que os queriam reduzir (Nimuendajú, 1963: 195-196). E foram se
refugiar dos portugueses e missionários justamente na missão francesa Ouanari
onde ficaram antes de se fixarem no rio Uaçá (Nimuendajú, 1963: 197). Esta
experiência de redução missionária e o longo histórico das fugas dos descimentos
portugueses fizeram com que os Aruã chegassem ao rio Uaçá com pouco de sua
cultural original, sofrendo grande influência dos Palikur do Urukauá (Nimuendajú,
1963: 197). Um outro componente indígena de expressão dos atuais GalibiMarworno são os Itutan (caribe), povo que habitava a zona de interface savanafloresta ao longo dos rios Uaçá e Curipi, valendo o epíteto que viraria referencial e
que quer dizer precisamente “índios da floresta”, “habitantes da mata” (Grenand &
Grenand, 1987: 11-12). Foram reduzidos à missão do Uaçá juntamente com os
Palikur a quem se deixavam subjugar (Gallois, 1986: 281).
Demais populações ameríndias habitaram a região do baixo Oiapoque entre
os séculos XVI e XIX e é provável que tenham tido participação na composição atual
dos índios ali hoje estabelecidos. Coudreau (1887: 428-430) oferece uma lista com
informações sintéticas sobre elas e as já aqui citadas:
“Les Galibis – Au temps de Biet (1652), les Galibis étaient la plus
importante des tribus connues de la Guyane [...] En 1832 Leprieur cite
quelques Galibis dans le bas Oyapock, parmi les Pirious, les Arouargues
et les Maraouanes.
Maraones – Ils nous sont également révélés en 1739 par le P. Fauque.
Ils habitaient aussi près de l’embouchure de l’Oyapock. Le P. Joseph
29 Gallois diz serem os Maraon um grupo aruaque que no século XVI já estava na região dos rios
Uaçá e Oiapoque, passando posteriormente por missões no Araguari, Uanari e Guiana Francesa
onde conviveram com os Aruã (Gallois, 1986: 297). Os que permaneceram no baixo Oiapoque vieram
a se juntar à população palikur que se fixou no rio Urukauá.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
55
d’Ansillac les réunit ave les Tocoyennes et les Maourioux à la mission de
Ouanari. Ils sont au nombre des tribus énumérées au bas Oyapock par
le P. Lombard, en 1730.
Garipons – Cette tribu est également citée par Leprieur. Les Garipons
habitaient, en 1832, le bas Oyapock, parmi les Maraouanes, les
Arouargues et les Pirious.
Arouas – D’après le P. Dabbadie, il y avait, en 1854, 80 Arouas dans
l’Ouassa. En 1855, le P. Jean Alet parle aussi des Arouas. Il prétend
qu’on les réduisit autrefois en mission à Kaw.
Palicours – Les Palicurs sont connus depuis Biet, qui en 1852, les cite
comme habitant entre deux rivières, l’Epicouly et l’Ayaïri, qui tombent,
dit-il, un peu à l’est de l’Oyapock, dans les parages du cap d’Orange. Ils
étaient, dit-il, ennemis des Galibis et des Racalets.
En 1729, le P. Fauque les cite comme habitant les savanes des environs
du Couripi. Le P. Lombard, en 1730, les mentionne aussi. Vers cette
époque le P. Fourré s’établit chez eux. En 1854, selon le P. Dabbadie,
ils habitaient le Rocaoua et étaient au nombre de 120 environ.
Em 1831, Leprieur les rencontre à Couripi, à Ouassa et surtout à
Rocaoua. Il les dit, également, peu nombreux.
Mayés – Grillet, em 1674, cite les Mayés. Le P. Fauque, en 1729, les
indique comme habitant les savanes des environs du Couripi. Le P.
Lombard, en 1730, les cite aussi.
Carnarious – Nous les voyons cités pos la première fois par le P.
Fauque, qui, en 1729, les indique comme habitant les savanes des
environs du Couripi. Le P. Lombard, en 1730, les cite aussi, il appelle
Karnuarious.
Toutanes – En 1831, Leprieur nous dit qu’il rencontra chez les Palicours
du Rocaoua, deux Toutanes, et aussi quelques autres à Couripi et à
Ouassa. C’étaient, ajoute-t-il, les restes d’une nation jadis nombreuse“.
A crônica de Coudreau repete (ou talvez mesmo inicie) o mantra que se
tornará conhecido sobre as populações residentes no interfluvio OiapoqueCassiporé: que os Palikur do Urukauá e os Galibi/Aruã/Maraon do Uaçá são índios
na origem, enquanto os Karipuna do rio Curipi são formados no grosso por uma
população cabocla exógena absorvida culturalmente pelas poucas famílias indígenas
que lá estavam antes dela. A diferença, segundo Coudreau, entre as populações do
Uaçá e do Urukauá é que a primeira apresentava-se em um “état de
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
56
dégénérescence”, entregue à bebida, à preguiça e à resignação a tal ponto de ser
menos interessante que os escravos refugiados no Cassiporé (vide citação anterior
desses autor na p. .....)
Tal “gradiente de aculturação” no baixo Oiapoque, subsequentemente
evocado de formas múltiplas, tanto por cronistas quanto por agentes do poder
público e etnólogos que percorreram a região até os anos 60 do século XX
(especialmente Nimuendajú, 1926; Fernandes, 1953a e 1953b; Arnaud, 1968b e
1989b[1969]) produz ainda ressonâncias e é fator de ponderação na constituição das
modernas identidades locais particulares e flutuantes.
De tal modo que, no jogo sutil das credenciais, tanto os Palikur quanto os
Karipuna apresentam seus predicados capitais: o primeiro grupo, a língua, percebida
como epíteto da não-mistura; o outro, o conhecimento das relações com o exterior
assumido como marco que autentica o acesso dos Karipuna às maiores posições
nos aparelhos regionais de representação interétnica. Ou seja: repetem o mantra do
gradiente de aculturação dizendo, nas ocasiões apropriadas, que os Palikur são
mais aptos à cultura e os Karipuna à política externa. E onde estão os GalibiMarworno?
Normalmente situados pelas fontes históricas no meio da escala regional das
perdas culturais (com oscilações, como em Coudreau), esses índios, que adotaram à
larga a língua créole em detrimento das que falavam originariamente30, hoje flutuam
habilidosamente entre o pólo da “cultura” e o da “política externa”. Em outro trabalho,
o próprio Coudreau falaria assim dos habitantes do rio Uaçá, invertendo a posição
30 Na segunda década do século passado, Nimuendajú ainda presenciou o uso do galibi entre uma
dúzia de pessoas no rio Uaçá. As línguas faladas pelos Aruã e Maraon, populações que também
habitavam esse rio e entraram na composição dos atuais Galibi-Marworno, Palikur e Karipuna,
estavam em completo desuso, delas restando apenas fragmentos lexicais. Em relação à qualidade do
galibi falado no rio Uaçá, Nimuendajú nota o seguinte: “Os galicismos intercalados sem motivos
satisfatórios entre os Galibi do Uaçá, tais como lan = língua, kwis = coxa etc., fazem-me suspeitar que
talvez não se trate ali da língua da tribo Kalina (grupo caribe do litoral da Guiana Francesa)
propriamente dita, mas sim da ‘langue générale’ das antigas missões do Oiapoque” (1926: 68). A
língua dos Aruã e Maraon seria aruaque (cf. Gallois, 1986: 292, 297 para ambos; Nimuendajú, 1963:
15, para os Aruã). Grenand & Grenand (1987: 9) destacam que a marcação caribe para estes povos
que aparece em parte da literatura do século XVII pode corresponder não a uma classificação
lingüística, mas, digamos, moral, já que “charib” era sinônimo de índios hostis e assim eles teriam
sido classificados.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
57
deles no gradiente de aculturação em relação aos Palikur (comparativamente à
crônica de 1887 – vide p. .....):
“Le Couripi est peuplé principalement de Brésiliens refugiés. La
population du Ouassa et du Rocaoua (Urukauá) est indienne: des
Arouas à l’Ouassa, des Palicours au Rocaoua.
Les Arouas et les Palicours sont laborieux et, em somme, à peu près
aussi civilisés que les créoles de la colonie. Ils sont vêtus, ou à moitié.
Ils ont presque tous des fusils, des fusils à baguettes principalement,
avec quelques lefaucheux. Les marchandises qu’ils préfèrent sont les
munitions, les indiennes, les perles. Leur production principale est celle
de la farine de manioc, qu’ils vont vendre à Cayenne. Ils font aussi la
pêche du machoiran sur la côte, de l’Oyapock au Cachipour (Cassiporé).
Quand les plumes d’aigrettes, les cross, sont à un prix élevé, ils
s’adonnent à la chasse de ces oiseaux, chasse qui constitue alors pour
eux un important revenu. L’or alluvionnaire n’est pas rare dans leur
district, mais ils ne l’exploitent pas encore. Leurs magnifiques savanes
n’ont pas une seule tête de bétail.
Le Ouassa est plus civilisé que le Rocaoua. Dans le premier district, tout
le monde parle créole, même les enfants.
]Coudreau, 1893: 377[
(Grifos por minha conta)
Em seis anos os índios do rio Uaçá, também identificados por Coudreau como
Aruã (Arouas), passaram da pureza racial à mistura e da preguiça à prodigalidade do
trabalho. Um retrocesso e um progresso, simultaneamente. Será esta imagem de
“um pouco mais civilizados” (i.e., mais desintegrados culturalmente) que os Palikur e
laboriosos e pacíficos que deles se legará para as crônicas futuras, definindo-se com
ela a posição que tais índios ocuparão no gradiente regional das perdas culturais: o
meio.
No já citado texto de Nimuendajú de 1926 sobre os Palikur, fica cristalizada a
disposição dos conjuntos do interfluvio Oiapoque-Cassiporé na escala regional das
perdas culturais, tema que seria apenas objeto de curiosidade se não repercutisse
ainda hoje, amiúde, nas identidades particulares locais. De tal modo que neste
58
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
contexto de perdas a relação entre índios do Uaçá e do Urukauá é assim descrita e
hierarquizada pelo autor:
“Tanto os Aruã como os Galibi, ao se concentrarem no Uaçá, já tinham
estado há quase um século sob a influência de missionários, adotando
pelo menos exteriormente o cristianismo; certamente já estavam
muitíssimo deculturados. A conseqüência foi que, aldeando-se no Uaçá,
na vizinhança dos Palikur, ainda relativamente fortes e conservadores
de sua cultura, eles ficaram na sua órbita cultural assimilando-se da
maneira mais completa. O que ainda hoje conservam de elementos de
cultura índia é idêntico, pode-se dizer, aos elementos correspondentes
dos Palikur. No mais os índios o Uaçá, em termos de cultura, nada mais
são que uma mescla de Palikur, creola e brasileira”.
]Nimuendajú, 1926: 61[
Contudo, para Nimuendajú, mais engenhosos na apropriação da cultura
alheia que os índios do rio Uaçá eram os “brasileiros do rio Curipy”. Essa população
corresponde aos Karipuna atuais que habitam o citado rio e a história de sua
formação já foi extensamente abordada por Tassinari (1998). A autora atribui a
recente cristalização do etnônimo “Caripuna” ao “Relatório de Inspecção de
Fronteiras” (1927), produto de uma expedição comandada por Rondon à região que,
dentre outras atividades, coligiu informações sobre os índios do baixo Oiapoque,
assim os localizando em relação aos rios principais desta área: Uaçá (Galibi),
Urukauá (Palikur) e Curipi (Caripuna). Entretanto, o referente “Caripuna” – antes, ao
que parece, não aplicado ainda como etnônimo de designação particular de um
grupo social – já existia para marcar uma fração de famílias dentre as que viviam no
rio Curipi, sendo ampliado, em um dado momento, para um conjunto maior de
pessoas que foram construindo ao longo de décadas de convivência e permutas
interfamiliares redes de relações conformadas por padrões peculiares de
reciprocidade. Os ancestrais dos atuais Karipuna não seriam tão alóctones como a
bibliografia registra, nem copiavam compulsivamente culturas estranhas:
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
59
[...] o uso do termo Karipuna pelas famílias do Curipi não foi gratuito e
não pode ser entendido como simples estratégia usada pela população
do Curipi para se colocar frente aos agentes do Governo. Procurei
mostrar que o termo Garipon/Caripoune foi o etnônimo de um grupo de
famílias diferenciadas etnicamente pelo menos até o final do século
passado e que foi um dos componentes do conjunto diversificado dos
antepassados dos atuais Karipuna. Usar o etnônimo para definir todo o
conjunto da população do Curipi não pode sr entendido como uma
tentativa de manifestar uma identidade inconsistente. Ao contrário como
pretendo mostrar ao longo da tese, o termo vem designar uma idéia de
unidade vivenciada por um conjunto de famílias ligadas por laços de
reciprocidade e, assim, vem nomear uma identidade que já tem
conteúdo [...] As informações de Malcher reproduzem algumas idéias
comuns sobre a população do Curipi, das quais discordo, com base nas
informações obtidas com as genealogias das famílias: a origem
‘Cabana’ da totalidade das famílias, inclusive dos Fortes e dos Santos,
‘forasteira’ no conjunto, masculina, que se mistura às mulheres locais e
assimila a cultura dos outros grupos indígenas”.
]Tassinari, 1998: 119-122[
Estou de acordo com a autora: um etnônimo, quando não é apenas um exoreferencial, não surge tão somente motivado por um evento contextual que possa
indicar uma farsa sociológica, pois sempre refletirá a história. Resta percebermos de
qual perspectiva. É conveniente recordarmos que a ocupação do rio Curipi tanto
pelos Palikur, Galibi, Aruã e Maraon – que também estavam nos rios Uaçá e
Urukauá – quanto por outras unidades descritas por Coudreau (vide transcrição
desse autor nas pp.
) era uma realidade. Isto quer dizer que quando os
desconhecidos “forasteiros, brancos, caboclos e pretos, falando principalmente a
‘língua geral’” chegaram ao rio Curipi, ainda na primeira metade do século XIX
(Fernandes, 1953b: 281-282), encontraram um território já parcialmente ocupado; e
se foram amigavelmente recebidos, fixaram-se e passaram a manter intensos
intercâmbios tanto com os índios que lá encontraram e os que estavam nos rios
Uaçá e Urukauá, quanto com a população proveniente da Guiana Francesa, é
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
60
porque passaram a compor as redes locais de relações vigentes à época. Isto é bem
mais do que simples mímesis cultural.
Mesmo sendo originariamente o termo “Caripuna” um exo-referente que não
correspondia a um grupo social em particular, mas a vários que compartilhavam uma
mesma condição (ora a língua31, ora os inimigos ), tornou-se depois um termo de
uso indígena para assinalar brasileiros ou índios em aliança com estes (Tassinari,
1998: 114). Somente após tais usos o referente cristalizou-se como etnônimo
particular de dois conjuntos sociais distintos e sem interseção histórica alguma: os
Karipuna do Amapá e os Karipuna de Rondônia. Se entendermos identidade como
um discurso social sobre a diferença – o que, de fato, acredito ser – as rotações
presentes nesse discurso tornam-se plenamente legítimas, pois o que valerá para a
criação/adoção de etnônimos é a memória social da diferença, mesmo que uma
legenda possa passar de um exo-referente, às vezes pejorativo e desqualificador, a
emblema de identidade. Somente para lembrarmos lições de Bourdieu (1998[1989]),
é o discurso alheio sobre a alteridade, comunicando diferenças percebidas, que
ajudam na produção das identidades quando os sujeitos passam a enunciar (para si
e para outros) suas próprias histórias e visão de mundo. A diferença é este conteúdo
evocado pro Tassinari sob o qual a identidade Karipuna pode ser alçada como algo
consistente.
Antes de findar a primeira metade do século XIX, os Caripous dividiam a baía
do Oiapoque com outros grupos, dentre eles os Maraon e os Piriu (Coudreau, 1887:
428-430. Trecho transcrito nas pp. ). Este último conjunto provém, provavelmente, da
região do alto Oiapoque e, após passar pela experiência da redução na missão de
Saint Paul (próximo à foz deste rio), tornaram-se conhecidos como “os índios
civilizados” (Gallois, 1986: 299). Gozavam de boa reputação entre os franceses,
assim como os próprios Caripous que D’avity apresentou como “os mais afáveis e
corteses de todos os índios”.
31 Quanto a isso, Nimuendajú (1926: 11) é bastante preciso: “Entre esses fugitivos (os Aruã que
foram para o alto Uaçá) havia, entretanto, além dos índios Aruã, um número bastante grande de
outros que falavam a Língua Geral Tupi. Na Guiana dava-se a eles o nome de Karipúna. Explicaramme, in loco, que ‘Karipúna’ não designava uma tribo, mas sim uma língua: a Língua Geral do Brasil, e
os que falavam o Karipúna eram brasileiros. Hoje, também, ali só resta a lembrança desta língua”.
61
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
“Ils font bazanez comme les Toupinambous; mais plus beaux, plus vifs &
plus gays. Ils n’ayment pas volontiers les perfonnes triftes & chagrines,
font ]p. 112[ hardis & courageux, courtois, liberaux, & ont levifage riant.
C’eft le peuple le plus doux & plus courtois de tous les Indiens. Ils eft fort
curieux d’obliger ceux qui le vifrtent. Il ayme l’honneur, la iuftice & la
verité, hayt les méchans & trompeur, & cherit les bons & vertueux. Il veut
grand mal aux poltrons & honore fort les courageux”.
]D’avity, 1643: 111-112[
(Transcrição diplomático-paleográfica)
Os “brasileiros do Curipy” aos quais refere-se Nimuendajú eram, certamente,
um composto de índios locais com famílias caboclas que provavelmente conheciam
(talvez não a falassem mais) a língua geral tupi comum entre as populações
ribeirinhas amazônicas de outrora. Dentre as famílias migrantes na primeira leva,
duas apenas eram de refugiados da cabanagem, revolta popular de adesão
majoritariamente negra e indígena que eclodiu no Pará nas primeiras décadas do
século XIX (Nimuendajú, 1926: 69). Uma população que estaria, como toda a
população cabocla amazônica, no limbo étnico, posto que, não mais indígena, não
podia também ser associada a nenhum seguimento europeu constitutivo da
população nacional. De tal modo que essa população seria mais plástica à
convivência com diferentes, fossem negros ou índios, o que pode ter contribuído
para o processo de “indianização” (ou “re-indianização”) dos brasileiros do Curipi:
“[...] Nos noventa anos desde então decorridos (da chegada das
primeiras famílias migrantes), não tendo mais tido quase nenhum
contato com outros brasileiros, fez-se sentir fortemente a influência dos
creolos franceses e das duas comunidades de índios no Uaçá e no
Urukauá. A conseqüência foi que a língua creola suplantou quase por
completo a portuguesa de maneira que hoje poucos deles dominam
bem a sua língua. Também adotaram dos Palikur, em parte por
intermédio dos índios do Uaçá, certos elementos da cultura, sendo que
estes chamam mais a tenção do que àqueles emprestados aos creolos
[..] O pajé Gomes com seu banquinho zoomorfo em forma de arara, o
seu diadema de penas e os seus espíritos e demônios aliados não faria
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
62
má figura entre os Palikur, nem entre os índios do Uaçá. Toda a crença
em demônios e espíritos dos índios, todas as danças relacionadas a
estes com os respectivos enfeites foram adotados por estes brasileiros
do Curipi, junto com o pajé, dos seus vizinhos índios [...] No último
decênio estes antigos brasileiros do Curipi receberam um reforço de um
pequeno número de famílias provenientes dos povoados da costa a
leste de Belém. Estes recém chegados naturalmente não se distinguem
em nada dos demais paraenses, falando entre si só o português, se
bem que já tenham aprendido o creolo”.
]Nimuendajú, 1926: 69[
No trecho citado é difícil não notar duas coisas: a proximidade, na origem,
dessas famílias com segmentos nacionais e o seu processo de (re)indianização,
notadamente levado a efeito pela influência dos Palikur. Essa interessante
combinação de condição e processo permitiu que a população do rio Curipi fosse
caracterizada como composta por “índios civilizados”, qualidade que agradava ao
poder público de então que via em populações assim designáveis a possibilidade de
multiplicação da política e da ideologia indigenistas oficiais.
Chegamos ao ponto em que o esforço precedente para sintetizar aspectos
relevantes da história indígena regional se justifica: demonstrar de que maneira o
citado gradiente de aculturação (ou deculturação) foi sendo construído e como ele
influenciou na postura do poder público frente aos índios. Isto é, como as políticas
indigenistas foram aplicadas aos grupos do baixo Oiapoque pelo SPI conforme a
posição deles no gradiente regional das perdas culturais. Projetos como a escola,
experimentos agrícolas e capacitação técnica promovidos pelo órgão assistencial
foram desenvolvidos com maior rendimento entre os Karipuna que entre os Palikur,
pois, como os primeiros já dominavam os códigos do contato e, assim, estavam mais
desembaraçados no gerenciamento dos conhecimentos exteriores, o que deles se
esperava era exatamente que correspondessem bem a tais iniciativas e, desta feita,
ajudassem regionalmente no processo governista de integração do índio à
sociedade nacional. Tal quadro emerge do discurso do primeiro Inspetor do SPI na
região ao escrever sobre os Karipuna do rio Curipi:
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
63
“População ordeira, boa e trabalhadora, fabricando já 60% da farinha
produzida na região; são de suas plantações as saborosas laranjas e
tangerinas que vêm ao Oiapoque. Em 1934 o Cel. Magalhães Barata,
então Inspetor Federal no Pará, entre as incontáveis escolas que criou
no estado, criou também três entre os índios GALIBI, PARIUCUR e
CARIPUNA, sendo que esta última, pelo grau de adiantamento em que
se achavam os índios, deu ótimo resultado. Este é o motivo porque,
entre os Caripuna, existem alguns que lêem e escrevem, embora pouco.
A ação do SPI tem sido benéfica e a ela muito se deve o progresso
econômico e cultural dessa gente, que faz questão de ser índia e que
ainda conserva muitos das suas tradições e costumes [...]”
]Fernandes, 1953b: 282[
As iniciativas da política indigenista na região que passou a vigorar a partir da
última década de 30 visavam não apenas o bem estar das populações indígenas no
baixo Oiapoque, mas, de forma imediata, o seu aproveitamento na fiscalização da
fronteira com a Guiana Francesa; e, a longo prazo, a incorporação destas e demais
populações indígenas no Brasil, ao contingente de mão de obra nacional. Esta última
orientação é bastante conhecida, posto não se tratar de uma estratégia velada do
SPI (aliás, SPI-LTN – Serviço de Proteção aos Índios e Localização de
Trabalhadores Nacionais, na origem), mas de um plano governamental a ser
executado como política indigenista pelo órgão de assistência. E no baixo Oiapoque
– região de fronteira em vários sentidos – a política integracionista foi levada a sério,
implementando uma cadeia de intervenções cujo objetivo, não sendo mais a
transformação racial dos índios mediante estratégias de hibridização, era, entretanto,
a sua transformação ideológica.
De tal modo que os esforços implementados pelo SPI desde a sua chegada
na região foram dirigidos às incorporações, pelos índios, de hábitos, costumes e,
sobremaneira, de sentimentos de pertença que nunca tiveram, como aquele capaz
de os ligar a uma completa e distante abstração: a nação brasileira. A mesma que
bem pouco tempo antes os desprezava como abjetos e pérfidos em função das boas
relações que mantinham com os habitantes do outro lado da fronteira (Nimuendajú,
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
64
1926: 12). Este era mais um episódio de interferências do poder público na vida
dessas populações.
Não pereceram, com toda pressão histórica, diante das rotinas coloniais de
territorialização (descimentos, correrias, guerras punitivas, aldeamentos etc.) e de
etnificação; não iam, agora, acatar os expedientes integracionistas da política do
Estado brasileiro cumprida à risca pelo SPI. Será?
O SPI
Para se entender as rotinas indigenistas que tomaram posse a partir dos
últimos anos 30 no baixo Oiapoque, penso que não deve ficar de fora a perspectiva
dos alvos desses expedientes, posto que é somente no cotejamento entre o discurso
do SPI na região e a interpretação que os índios faziam dele que se percebe o quão
distantes estavam as duas partes. Um evento em especial, ocorrido nos anos 40,
condensa significativamente os expedientes oficiais indigenistas da época e exprime
de forma eloqüente a ideologia progressivista por trás deles. Refiro-me aqui à
formação da aldeia Kumarumã, no rio Uaçá, fundada por estímulo do SPI e que,
concentrando quase a totalidade da população Galibi nesse rio, foi onde se
desenvolveu parte significativa dos projetos tocados pelo órgão na região entre os
anos de 1945 e 1950. Kumarumã, aliás, foi um desses projetos; o maior deles,
talvez.
Nesse bloco procurarei expor de forma sintética os acontecimentos que
exerceram forte efeito sobre a vida das populações no baixo Oiapoque em um
período que vai dos anos 1930 ao presente, acontecimentos esses relacionados a
ações oficiais na área indígena ou a respostas a estas. Optei pela apresentação
sinóptica desses fatos porque há uma bibliografia que os descreve de maneira mais
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
65
pormenorizada32 e o intuito aqui é apresentar uma versão da ótica indígena da
presença do SPI na região a partir de narrativa sobre a fundação da aldeia
Kumarumã levada a efeito por uma ideologia progressivista que dominava o staff
burocrático do Estado.
Mais do que um arcabouço para a tosca política indigenista do Estado
brasileiro de então, tal ideologia progressivista era um projeto de nação, de uma
nação que há pouco havia completado cem anos de vida independente e cinqüenta
de república.33 Por isso este era, de fato, um projeto integracionista que demandava
a neutralização de diferenças culturais potencialmente perigosas e separatistas.
Transformados em iguais (cidadãos) os índios (a diferença) poderiam somar
esforços na construção da nação brasileira içada sob o auspício do uniculturalismo,
a tecla repetidamente apertada pelas demais nações americanas em seus projetos
de construção (Hill, 1996: 13). Passado o tempo das rotinas coloniais feitas de
extermínios em massa, salvação de almas, hibridização racial e reduções territoriais,
a nova meta era a transformação ideológica, fazendo do índio um “cidadão
integrado” e útil ao projeto nacional mediante a alteração de hábitos e a instrução de
uma nova moralidade. Foi esse o esforço realizado pelo SPI no baixo Oiapoque
assim que chegou à região:
“Viviam outrora meses inteiros semi-nus pelas margens do Oiapoque,
esmolando, furtando, exibindo seus andrajos e enfermidades, não sendo
raro encontrarem-se esses índios [do rio Uaçá], bem como os
CARIPUNA E PARIUCUR, em estado de completa embriagues, nos
lugares brasileiros e franceses. Tudo isso, porém, é história antiga, pois
que, presentemente, quando vêem ao Oiapoque, raramente,
comportam-se muito bem, vêm limpos e cuidados e alguns já usam
chinelos, tamancos e até sapatos. O progresso que se tem verificado
32 As fontes pioneiras são Arnaud (1989b[1969]) e Gallois-CEDI (1983). Uma compilação acrescida e
acompanhada de análises dos fatos nelas apresentados pode ser vista nas monografias de Assis,
1981; Tassinari, 1998; Musolino, 1999; Capiberibe, 2001 e Dias, 2005. Os trabalhos de Assis e
Musolino abordam de forma mais detida eventos históricos relacionados, respectivamente, à
presença da escola na região e à constituição do território indígena e emergência de uma identidade
pluriétnica lastreada nas experiências históricas e convivência compartilhadas.
33 Não por acaso a face mais conhecida do progressivismo, o positivismo, chegou ao Brasil pouco
antes da República trazido, assim como esta, pelo corpo de oficiais da Escola Militar do Rio de
Janeiro.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
66
nessas tribos, sob a orientação do Serviço de Proteção aos Índios, por
intermédio de seu esforçado funcionário, Sr. Raimundo F. de Paes
Ramos, vem chamando a atenção da população civilizada do Oiapoque
e autoridades que, de quando em quando, as visitam, como recreio”.
]Fernandes, 1953a: 280[
Nessa política indigenista conduzida pelo SPI e que visava à transformação
do índio em cidadão integrado, dois expedientes foram utilizados à larga no baixo
Oiapoque: a escolarização e a implantação de projetos agro-técnicos.34 Ambos
experimentos ocorreram inicialmente entre os Karipuna e Galibi do Uaçá, haja vista a
recusa dos velhos Palikur em permitir a continuação da escola que no Urukauá
funcionou apenas por um ano – sob alegação de que ela seria uma forma de
escravidão (Arnaud, 1989b[1969]: 103) – e a avaliação que deles fizeram
autoridades da Inspetoria Especial de Fronteiras concluindo por sua inaptidão aos
projetos técnicos devido ao “estado de educação muito atrasada, ainda com hábitos
quase primitivos” (Major Thomaz Reis, 1936 apud Arnaud, 1989b[1969]: 97) que o
grupo apresentava.35
Dentre os projetos agro-técnicos implantados no Uaçá e no Curipi havia:
criação de bovinos e esterilização de leite; plantação e beneficiamento de arroz;
produção de peixe em salmoura; marcenaria; olaria e serraria. Todos eles visavam
tornar os Postos Indígenas auto-suficientes, desonerando o minguadíssimo
orçamento do órgão indigenista, mas naufragaram em suas impropriedades (Arnaud,
1989b[1969]: 112). A escola é um capítulo especial. Quando o SPI iniciou atividades
na região em 1930 havia apenas um Delegado, não remunerado, nomeado pelo
órgão e que limitava-se a intermediar as transações comerciais que os índios faziam
com comerciantes da região e a interferir negativamente na vida deles (Arnaud,
34 “Na primeira fase administrativa (1942-1950), desde cedo uma série de planos foram elaborados
tendo em vista os seguintes objetivos: desenvolvimento da lavoura e da pesca mediante a introdução
de novos cultivos e técnicas; estabelecimento da pecuária e de indústrias, estas, sobretudo, com a
finalidade de tornar o Posto auto-suficiente; fundação de um entreposto comercial para transacionar
com os índios; e prestação de assistência sanitária e escolar” (Arnaud, 1989b[1969]: 99).
35 Em outro lugar diz Arnaud: “Os Palikur foram os menos atingidos pelas programações, inclusive
porque nem sempre aceitavam o paternalismo oficial. A instrução escolar que haviam experimentado
durante curto prazo, na década de 1930, não lhes foi estendida durante a primeira fase administrativa,
porque o agente do Posto houve por bem não contraria a maior parte dos velhos do grupo, que
consideravam tal coisa uma forma de escravidão” (Arnaud, 1984: 21).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
67
1989b[1969]: 97). Apenas quatro anos mais tarde o governo do Pará implantaria
escolas entre as populações indígenas, sem, contudo, durarem mais que três anos.
Posteriormente a experiência escolar foi retomada nas áreas dos três rios e em
momentos diferentes, tendo sido uma dessas experiências, aliada à promessa de
assistências médica e sanitária, responsável pelo relativo sucesso da fixação das
famílias, outrora dispersa pelo Uaçá, na aldeia Kumarumã.
Numa relação sumária, alguns dos eventos significativos, envolvendo ações
do poder público, na vida dos povos do baixo Oiapoque podem ser assim
distribuídos ao longo do tempo (período de 1930 a hoje)
1930 – Nomeação de um Delegado, não remunerado, para responder pelo
SPI na área, mediando as transações comerciais dos índios com comerciantes da
região;
1934 – O Governo do Pará cria escolas nos rios Uaçá, Curipi e Urukauá. As
duas primeiras duraram três anos e um ano a última;
1935 – O Major Thomaz Reis é enviado à região pela Inspetoria Especial de
Fronteiras a fim de verificar a possibilidade do Governo brasileiro reduzir todos os
índios em um único assentamento e utilizá-los como guardas de fronteira;
1941-1942 – O SPI se instala na área com a criação do PIN Encruzo e de
uma Ajudância na cidade de Oiapoque, subordinada à 2ª Inspetoria Regional. Eurico
Fernandes é o primeiro Inspetor na região;
1943 – Início da pecuária na área indígena com a introdução de 30 cabeças
de bovinos na ilha Kumarumã, rio Uaçá. Nesse mesmo ano é criado um entreposto
comercial no Encruzo;
1943-1948 – Período de vigência dos principais projetos agro-técnicos
desenvolvidos na área pelo SPI;
1944 – Início da comercialização intensa de couro de jacaré na região;
1945 – Fundação da aldeia Kumarumã e implantação da segunda escola no
rio Uaçá;
1948 – Criação da segunda escola no rio Curipi, na atual aldeia Santa Izabel
(antiga Barracão);
68
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
1950 – Migração de um grupo Galibi proveniente de Maná (litoral da Guiana
Francesa) para a margem direita do rio Oiapoque;
1958 – Extinção do entreposto comercial no Encruzo;
1962 – Instalação de búfalos na ilha Soraimon (rio Uaçá) pela Colônia Militar
de Fronteira de Clevelândia do Norte.
1964 – Aumento do comércio de farinha com a Guiana Francesa e da
migração temporária para este lugar em busca de empregos. Nova tentativa de
implantação de escola no Urukauá;
1967 – Fundação da aldeia Kumenê (antiga Vila do Bom Salvador), no rio
Urukauá, por força da atração missionária pentecostal;
1972 – Criação do PIN Kumarumã e PIN Kumenê;
1975 – O CIMI passa a atuar mais intensamente nas aldeias da região,
desenvolvendo
projetos
sanitários
e
incentivando
as
reuniões
políticas
intercomunitárias;
1976 – Primeira Assembléia dos Povos Indígenas do Oiapoque;
1976-1981 – Com o auxílio do CIMI, são fundadas cooperativas nas principais
aldeias da região;
1977 – Início do processo demarcatório das TI’s Uaçá e Galibi;
1979 – Fundação da aldeia Manga, no rio Curipi;
1980 – Alteração do antigo traçado da BR-156, passando pela TI Uaçá.
1981 – Início da fundação de aldeias a longo da BR-156 com o intuito de
servirem de postos de fiscalização contra invasores;
1983 – O CIMI apresenta proposta para criação de ensino diferenciado nas
aldeias com a escola kheuol;
1992 – Homologação das TI’s Uaçá, Galibi e Juminã e criação da APIO
(Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque);
1998 – Início das administrações indígenas na AER/FUNAI - Oiapoque;
2002 – Fundação da AGM (Associação Indígena Galibi-Marworno);
2005 – Fundação da OPINO (Organização dos Professores Indígenas do
Oiapoque). Neste ano também discute-se intensamente – em reuniões internas e
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
69
com autoridades – a pavimentação da BR-156 e a construção de um linhão da
ELETRONORTE que cortará a TI Uaçá pelo trajeto da BR.
Como disse, esta cronologia inclui algumas das mais importantes ações do
órgão indigenista na região, ações estas que geraram ressonâncias significativas na
vida das populações indígenas do baixo Oiapoque. Na seqüência apresento uma
versão para a criação da aldeia de Kumarumã, o único grande assentamento em
toda a região criado por iniciativa do SPI e que teve na escola o seu produto principal
de atração.
A moderna redução
Antes de Kumarumã ter sido inventada no médio Uaçá, algumas famílias
chegaram a se reunir espontaneamente no núcleo denominado Vila Santa Maria dos
Galibi, mas dispersaram-se em função de interferências do Delegado do SPI que
havia designado novas lideranças entre eles, provocando cisões e o abandono do
assentamento (Arnaud, 1989b[1969]: 97). Será possível notar adiante que
interferências de forças externas no processo de ascensão à chefia eram triviais no
baixo Oiapoque, remontando a períodos em que os índios passaram pelas
experiências das reduções missionárias.36
Não era sem propósito que as lideranças, mesmo antes da chegada do SPI à
região, recebiam patentes militares e condecorações de pelotões do exército francês
na Guiana, ostentando-as ainda décadas depois em conjunto com velhos uniformes
militares (Nimuendajú, 1926: 56). Criava-se com esses laços militares artificiosos
uma relação, precária, talvez, de lealdade bastante útil aos propósitos e interesses
estrangeiros. Vê-se que a relativa autonomia das populações fixadas na bacia do rio
Uaçá não inibiu as interposições estrangeiras; contudo, não há evidências
etnológicas de que havia, antes disso, chefes políticos mais respeitados e com
36 Outra forma direta de ingerência externa na política dos povos indígenas do Oiapoque foi a
instituição dos Capitaines pelo Governo francês, lideres que recebiam fardamento e insígnias militares
(Dominique Gallois, informação pessoal)
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
70
autoridade e influência para além de seu próprio núcleo doméstico e em tempos de
paz. As patentes e colocações podiam ser aceitas pelos grupos por questões de
status e diferenciação, sem que representassem, para as pessoas que delas
estivessem investidas, um poder concreto sobre a totalidade ou maioria dos grupos
locais. Quem, de certa maneira, exercia tal prerrogativa eram os grandes pajés cuja
atividade de comunicação com pessoas invisíveis tinha grande repercussão na vida
das comunidades, facultando-lhes deste modo o acesso à posição de autoridade
para além de seu próprio grupo local.37 Verifica-se esta competência, por exemplo,
em Chinois, pajé e liderança principal dos Galibi à época da chegada do SPI na
região, cuja influência sobre os grupos locais do Uaçá passou a incomodar o
funcionário do órgão que logo desenvolveu estratagemas para substituí-lo (Arnaud,
1970: 3-4).
Neste tempo as ilhas habitadas no médio rio Uaçá eram: Kaimã, Grã Zilê, Zilê
Banane, Zilê Cocô, Habitã, Vie Ville, Sifã; no médio-alto e alto Uaçá eram Jejanmi,
Zilê Apô, Marripá, Manaú, Apicuruá, Biscote, Mapapuene, Cayenne, Soraimon,
Urupucú, Tambú, Cemitério. Em cada ilha havia cinco ou seis casas, todas
compondo uma família extensa em torno de um casal α. Não obstante essa
dispersão ao longo do Uaçá, não se pode dizer que as famílias e os grupos locais
vivessem isolados uns dos outros e muito menos das populações da Guiana e
estrangeiras que percorriam a região por conta da mineração de ouro ou de
atividades comerciais.
“Num tempo muito antigo, só tinha os índios nas ilhas do Uaçá. Depois
ia chegando gente de fora e ficava. As pessoas se entrosaram com
aqueles pretos que fugiam lá fora, no tempo dos escravos, quando
pegavam gente, tinha guerra. Fugia um bocado pra cá, tinha um
bocado de gente estrangeira que morava aqui. Depois quando
acalmou a guerra eles voltaram de novo. Então, deixamos a língua
que tínhamos e ficamos com esta língua emprestada deles (o patois)”.
Firmino, ilha Posse, rio Uaçá. Outubro de 2005.
37 A ressonância das ações dos grandes pajés em suas comunidades é atestada pelos mitos (Cf.
Anexos – M. 05 e M.10, respectivamente sobre Karumayrá e Uruçú).
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
71
A história de formação de aldeias da região do baixo Oiapoque foi abordada
em monografias e artigos diferentes.38 A partir delas é possível perceber tanto os
processos de dispersão e concentração de pessoas orientados por fatores que
incluem desde as regras de residência (a tendência atual na região é a
uxorilocalidade) às acusações da agressões xamânicas. Dificilmente as motivações
dos fluxos que criam aldeias são unicausais e a complexa rede de significados por
trás deles deve ser considerada.
Com a aldeia de Kumarumã, criada por expediente do SPI, não deve ter sido
diferente e o que a história oral indica é que a atração deu certo porque os próprios
índios se convenceram do discurso do SPI que antes era ininteligível para eles. Não
apenas pelas diferentes línguas que cada uma das partes falava, mas porque eram
diferentes as cosmologias de cada uma delas;
Kumarumã é, de longe, a maior aldeia do baixo Oiapoque. Seus quase 1700
habitantes correspondem a 82% da totalidade dos galibi-marworno que vivem em
aldeias e até o ano de 2006 era o único assentamento no rio Uaçá.
Nas ilhas Grã Zilê, Posse, Biscote, Copo e Jejame havia muita gente.
Todas as ilhas estavam cheias de gente naquela época, todos viviam
espalhados. O posto39 ficava na [ilha] Posse e tinha também uma casa
grande onde faziam as festas, onde as pessoas dançavam. Quando
chegou Eurico Fernandes uns caciques foram trocados, porque tinha
muita confusão. Os velhos não entendiam o que o SPI fazia aí os índios
largaram o cacique antigo para escolherem Capitão Camilo. Ele
escolheu um vice, que era Jeannet. Jeannet era Major e o Delegado era
Raimundo Jerônimo. Naquele tempo não tinha conselheiro, só Capitão,
Major e Delegado. Nessa época todos eles usavam uniforme bonito
mesmo, dados pelo SPI, com divisa e tudo. Na hora da reunião todo
mundo ia, respeitavam o Capitão. Eram como soldados, com muito
respeito. Nesse tempo as mulheres usavam o vehés (turbante da
38 A formação das aldeias no rio Curipi foi discutida longamente por Tassinari (1998) e Dias (2000),
associando às principais delas uma história e genealogia de fundadores. O processo migratório dos
Galibi-Kalinã (população não contemplada nesta tese pelos motivos expostos na Introdução) para o
Brasil, ocorrido nos últimos anos cinqüenta, foi abordado por Vidal (2000) e também por Arnaud
(1968a; 1989a[1966]). A constituição da aldeia Kumenê (rio Urukauá) nos anos sessenta do século
passado a partir da atração missionária analisada por Capiberibe.
39 Certamente não era posto do SPI. Devia tratar-se de alguma construção utilizada nas discussões
de assuntos inter-comunitários.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
72
Guiana Francesa). Eram as jovens, velhas, moças. Essa roupa era dos
créolos que vieram pra cá.
Quando Eurico Fernandes chegou aqui ainda tinha créoles?
Tinha acabado tudo. Eles foram embora depois que a guerra na Guiana
acabou. Alguns casaram com as índias, mas foram pra lá. Só ficou o
Timor, que morava no Tipoca. Casou com Palikur, teve filhos. Tem um
no Oiapoque que trabalha na CASAI, o Sinval.
Você conheceu Major Jeannet e Capitão Camilo?
Conheci bem. Jeannet era da família do finado Jacinto, da família da
esposa de Cocotinha.
Depois deles teve mais Capitão e Major?
Depois disso, quando Eurico Fernandes foi embora – ele ministrou dois
anos aqui – Capitão Camilo, Major Jeannet e o Delegado mudaram o
cacique. Reuniram-se para conversar sobre todo mundo passar para o
Kumarumã, pra poder vir professor para as pessoas estudarem, ver se a
gente melhorava a vida. Reuniram-se os três e pediram para o finado
Timor ser cacique, mas ele não quis, disse que não dava conta, que já
era pajé [...]
Eurico Fernandes chegou aqui a primeira vez vindo do Rio de Janeiro.
Veio sem autorização, chegou na Posse, se apresentou como
funcionário do governo e queria ver se os índios aceitavam trabalhar...
Ele não tinha papel nem nada?
Sem papel nenhum, veio assim mesmo conversar com o cacique, que
era o Chinois. O cacique disse que tinha de fazer reunião para ver se as
pessoas aceitavam o SPI trabalhando com a gente. Teve reunião,
Capitão Fernandes disse assim: “Eu não vim pra fazer mal, eu quero
ajudar, trabalhar com vocês, dar orientação, construir escola, ajudar
vocês a escolherem um lugar para viverem, para ser como uma cidade.
Vai ter muitas coisas, muito [jeito] para seus filhos. Vamos botar uma
escola para vocês aprenderem a ler e escrever. Eu vim lhes orientar”. O
pessoal não acreditou, ninguém quis, aí o cacique disse: “Não, ninguém
aceita. Você tem de voltar agora”. Na hora ele teve de voltar: “Não tem
problema”. No mesmo dia foi embora, mas ele não desistiu. Chegou no
[rio] Oiapoque tinha um comércio grande, de Jacinto, perto do porto de
Saint Georges. Ele pediu agasalho lá, para ficar uns dias. Conversou
com Jacinto, disse que era empregado do Governo e veio do Rio de
Janeiro para dar instrução aos índios, mas eles não o aceitaram, ficaram
bravos: “Eles não me entendem e eu também não entendo o que eles
falam. Só tem um brasileiro lá que explicava a eles o que eu dizia”.
Quem era o brasileiro?
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
73
Lourenço, o pai de Simplício. Ele tocava nas festas, tocava viola. Veio
do Cassiporé. Aí depois Jacinto falou: “Você sabe o número de índios
lá?”. “Só o que eu vi foram umas casas espalhadas numas ilhas. Só
numa ilha que tinha uma casa grande e igreja. O Cacique mora longe,
noutra ilha. Fizeram reunião e veio todo o pessoal, muita gente, mas eu
não sei quantos”. “Então você pega e faz uma lista para seu chefe
dizendo que tem mil índios aqui”, disse assim Jacinto. Eurico Fernandes
fez uma lista com muitos nomes de índios para conseguir mais apoio do
Governo, voltou para o Rio de Janeiro: “Os índios lá não me aceitaram,
mas tem muita gente”. Aí o governo deu mais apoio e mandou gente pra
cá novamente. Veio um índio que trabalhava com eles já, mas ninguém
entendia o que ele falava nem ele nos entendia. O chefe do grupo disse:
“Tem muito índio bravo por aí, mas vocês estão mais integrados. Só
falta usarem roupa melhor, ter um ritmo de trabalho, opção de
alimentação, pra vocês melhorarem de vida. Mas ninguém se entendia,
até que o velho Lourenço explicou ao cacique o que o chefe do SPI
estava dizendo. Chinois disse: “Eu não entendo o que ele fala, não falo
português. Pra mim está complicado, como vou aceitar esse cargo de
branco? Minha vida é como pajé, eu não dou conta não”. Aí Capitão
Camilo virou cacique, o Major era Joanet e tinha Delegado. Quando
Capitão Camilo passou a ser cacique veio mais ajuda.
Mas Chinois já não era cacique?
Era, mas ele não aceitou, não aceitou ser Capitão. Quando Eurico
Fernandes chegou, ele queria colocar o cacique naquele trabalho
(Capitão), mas Chinois não quis, disse para escolher outro. Aí Camilo
aceitou e escolheu mais dois colegas para trabalhar com ele, Major e
Delegado. Eram esses três que começaram a trabalhar e trabalharam
mesmo, por cinco, seis anos. Esses três trabalharam com Eurico
Fernandes, fizeram muitas coisas. Eles tinham reunião, Eurico
Fernandes conversava com eles para nós todos vivermos juntos no
mesmo lugar, colocar escola, vir professor. Dizia que a vida nossa ia
melhorar muito, que ele ia trabalhar pra gente e que o Governo ia
mandar material para fazer uma cidade aqui. Aí passamos pra cá
(Kumarumã), cada um escolheu um lugar, as casa eram espalhadas
ainda [...] Quando eu nasci já tinha igreja, tinha escola, já muito
avançada, com pessoal quase formado. Tinha o casarão também e
muitas casa de madeira e cobertas de cavaco.
Essas casa foram idéia de Eurico Fernandes?
É sim, fazer casa de madeira e cavaco. Ele mandava aquele serrotão,
serrote pra cortar madeira. Mandava pra gente aprender a cortar pau,
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
74
tirar tábua pra fazer casa e outras coisas. Foi ele também quem colocou
um bocado de gado aqui, no lugar onde está hoje a Assembléia (a igreja
evangélica). Ali tinha um bocado de boi; ele mandou preparar um curral
muito grande, com duzentos bois. Dava carne e leite podia buscar de
graça pra beber. Depois que Eurico Fernandes reuniu todo mundo aqui,
que Kumarumã estava se fomando, ele criou aquele posto no Encruzo e
ficou lá. Aqui mesmo só teve posto quando Frederico chegou (anos 70
do último século). Depois que Eurico Fernandes foi embora ele deixou o
irmão dele, Raimundinho. Ele foi embora, não voltou mais. Mas não deu
certo, porque ele maltratava as pessoas, não deixava ir pro Cassiporé,
não deixava vender couro de jacaré. Se pegasse um jacaré ou uma
pescada ou tivesse com bebida ele botava na faxina, botava na faxina
pesada no Encruzo. Era horrível. Ele botou na faxina um bocado de
gente daqui [...]
Firmino, ilha Posse, rio Uaçá. Outubro de 2005.
O chefe de posto no Encruzo e Inspetor do SPI na região, Raimundinho, era
Raimundo F. de Paes Ramos, irmão de Eurico Fernandes. Consta que era dado à
cachaça e quando bebia desrespeitava as mulheres, casadas e solteiras, e fazia
arruaça nas festas em Kumarumã. Era autoritário; batia nos índios com um pedaço
de cipó que carregava com ele. Até que um dia ele chegou numa festa em
Kumarumã e quis arrebatar uma mulher acompanhada do marido para dançar. Tirou
prosa com o homem, dizendo que se ele não dançava com sua esposa, ele mesmo
o faria. Pegou a mulher à força, enquanto o índio segurava a esposa pedindo a
Raimundinho que a soltasse. Essa confusão se deu no salão de dança na casa
comunitária da recém formada aldeia Kumarumã na presença de várias pessoas. Até
que um velho que estava lá na hora sacou uma faca e partiu para cima de
Raimundinho a fim de atingir-lhe no pescoço. O homem que tentava recuperar a
esposa das mãos dele o puxou rapidamente e desviou-o do golpe mortal. Pela sua
atitude compassiva levou uns sopapos dos presentes, pois Raimundinho era homem
que todos em Kumarumã gostariam de furar. Ferido, ainda assim Raimundinho
apanhou muito no salão de festas e depois foi amarrado e colocado debaixo do
salão.
[Cap. I] A província do baixo Oiapoque
75
Dois dias depois, ele e o seu auxiliar, que não presenciou a ofensa no salão,
foram levados de canoa para Clevelândia, onde já existia a colônia militar.
Evidentemente Raimundinho nunca mais retornou a Kumarumã. Substitui-lhe no
cargo de Inspetor do SPI no Encruzo Djalma Sfair, desde então na ajudância local. A
absoluta carência de pessoal no quadro do SPI e a falta de qualificação de boa parte
deste contingente consentia a transformação, quase automática, de um trabalhador
braçal em Inspetor no caso de vacância desta função. Por isso Djalma assumiu o
comando onde permaneceu até resolver dedicar-se integralmente à construção
naval no Tapamurú. Antes fez desaparecer as cabeças de gado em Kumarumã que
o SPI havia doado aos índios; mas contribuiu ele mesmo para o acréscimo
populacional da região, fazendo filhos em uma dúzia de índias. Foi também por sua
iniciativa que criou-se a fazenda de búfalos em Soraimon, acima da aldeia
Kumarumã. Djalma procurou o comando militar em Clevelândia e disponibilizou uma
ilha no rio Uaçá para que lá fossem confinadas uma centena de cabeças de búfalos.
Nem os índios foram ouvidos sobre o empreendimento, nem os búfalos
ficaram restritos à ilha que lhes competia, pois, caminhadores e destemidos,
invadiam as roças, atacavam as pessoas e destruíam o que lhe obstassem o
caminho durante as perambulações por Kumarumã. Soraimon e seus búfalos
assaltantes foram um árduo capítulo na história dessa aldeia e ameaçaram a evasão
maciça de suas habitantes para ilhas mais acima. O problema só foi encerrado
apenas nos anos oitenta e após várias apelações de lideranças ao comando militar
de Clevelândia (Gallois-CEDI, 1983: 58-60). Com os desgastes irreversíveis por
conta da postura independente, Djalma foi pressionado a deixar o cargo por
lideranças galibi-marworno.
No capítulo seguinte abordarei ainda as relações que as populações
indígenas do baixo Oiapoque mantém entre si e com seus vizinhos, direcionando,
contudo, o foco para o xamanismo.
!"#$
!"%# &
"!#'
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
79
Capítulo II
“Ils exercent plufieurs fortes de diuinations & forcelleries. Quand
leur Roy, veutfçauoir quelque chofe de la guerre qu’il doit faire à
fes ennemys il fait uv trou dans terre, prononçant quelques
parolles, & lors il vient quelque chofe auec vn grandbruit, qui
1
l’inftruit de l’eftat de fes ennemys“.
]D’avity, 1643: 111. Le pays des Caribes[
Q
uando finalmente, em 1900, a região do baixo Oiapoque deixou de ser
Território Contestado e passou a integrar terras brasileiras, duas medidas
foram consideradas prioritárias pelo Governo federal do Brasil: a ocupação desta
vasta área por núcleos populacionais compostos por brasileiros e o controle oficial
do comércio entre ambos os lados da fronteira (Arnaud, 1989b[1969]: 96). No
capítulo precedente assinalei que as populações indígenas dos rios Uaçá, Urukauá e
Curipi mantinham fortes atividades comerciais com os créoles e povos da Guiana
Francesa, além de trocarem produtos entre si. Consoante algumas fontes
mencionadas no citado capítulo (notadamente Coudreau, 1887 e 1893), as redes
comerciais envolvendo índios e não-índios no baixo Oiapoque já eram intensas no
século XVII e mantiveram-se assim nas décadas ulteriores, permitindo que o
comércio de mercadorias e produtos primários fosse o motivo principal das
penetrações de estrangeiros nos rios da região ao longo do século XIX e início do
XX.
“A região do Uaçá ficou inteiramente sob influência francesa. Como os
índios não estavam expostos a nenhuma perseguição ou sujeição por
este lado, um comércio bastante animado desenvolveu-se com a
Guiana Francesa. No Uaçá, em particular, estabeleceram-se diversos
negociantes guianenses, entre eles também alguns chineses, e batelões
grandes navegavam pelo Uaçá, Arucauá e Curipy, trocando
mercadorias européias por farinha de mandioca e taboas”.
[Nimuendajú, 1926: 12]
1 Transcrição diplomático-paleográfica.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
80
Segundo o que procurei registrar no capítulo primeiro, transações comerciais
ainda extrapolam e muito os limites da terra indígena e há atualmente uma
sobrevalorização do comércio com o outro lado da fronteira em função do euro.
Nesse sentido, produtos tradicionais dos índios do baixo Oiapoque – como farinha,
tucupi e canoas – são prioritariamente vendidos em Saint Georges ou mesmo
Cayenne, ainda que haja o risco da mercadoria ser confiscada ou sobre-taxada pela
Gendarmerie local. Contudo, uma maior quantidade dessas mercadorias, sobretudo
farinha de mandioca, é ainda comercializada na cidade de Oiapoque, mas o valor
total obtido com essas transações não fica muito além daquele que se consegue
vendendo-se menos farinha em Saint Georges.2 Paralelamente a essas trocas
comerciais, houve um incremento significativo na prestação de serviços e de oferta
de mão de obra cujo fluxo vai do baixo Oiapoque às regiões da Guiana Francesa.3 O
motivo, obviamente, é o pagamento em euro e Saint Georges é a cidade mais
procurada.
Este novo fluxo de gente não surgiu aleatoriamente, mas está encadeado
com fluxos anteriores, como as visitas a parentes, mineração nas matas da Guiana
Francesa e o comércio com créoles de um lado e Saramaká do outro.
Historicamente, o comércio, a mineração e o trânsito de pessoas nessa região
estiveram subordinados às políticas fronteiriças adotadas pelos governos brasileiro
(no passado) e francês (atualmente). E assim como o poder público no Brasil que, a
partir de 1900, tentou conter o trânsito de comerciantes estrangeiros nas terras
recém recuperadas alegando excessivo afrancesamento do antigo Território
Contestado e perdas fiscais, o Governo francês na Guiana procura hoje controlar o
2 Vide o capítulo anterior para os valores alçados pelos produtos indígenas em cidades da Guiana
Francesa.
3 Há também o uso de mão de obra indígena dentro das aldeias da região. Os contratados recebem
diárias e executam tarefas como plantio, transporte e beneficiamento da mandioca e serviços
domésticos para funcionários públicos que atuam nas aldeias (índios ou não índios, notadamente da
FUNAI, FUNASA e Secretaria Estadual de Educação) e pequenos comerciantes locais indígenas
(Dias, 2005: 75-76). O uso da mão de obra nessas circunstâncias é vista pelos contratantes como
uma forma de valorizar o trabalho indígena e promover melhorias nas vidas dos mais pobres dentro
das aldeias e pelos contratados como uma alternativa positiva à exploração e ao endividamento aos
quais poderiam se expor caso trabalhassem na cidade (ib.: 76). Serviços como o corte e
beneficiamento de madeira para a construção de casas e canoas com falca são também contratados
por índios que não possuem moto-serra.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
81
fluxo de brasileiros que potencialmente sejam prestadores de serviços e
comerciantes, incluindo os índios do baixo Oiapoque que até pouco tempo atrás
tinham trânsito livre na fronteira.
As intensas redes comerciais eram também o pretexto para outras relações
entre índios e entre esses e estrangeiros, especialmente as relações de permutas
matrimoniais que não raramente uniam mulheres índias e comerciantes chineses ou
europeus.4 Essas alianças interindígenas vigoram até hoje na região com
dinamismo, flutuando entre períodos de maior e menor endogamia étnica. De forma
similar, casamentos com não-índios (ainda majoritariamente sob o arranjo mulher
índia e homem não-índio) sofrem oscilações sazonais de maior e menor intensidade,
havendo por vezes necessidade de se controlar a dispersão de mulheres de uma
aldeia instituindo-se regras que condicionam o direito à propriedade dentro da área
indígena.
Tais normas podem valer tanto para os homens de fora absorvidos, quanto
para as mulheres de dentro que se vão.5Tassinari (1998) e Vidal (1999a) abordaram
extensamente a oscilação das permutas matrimoniais definindo um padrão de
abertura e fechamento (exogamia e endogamia) como estratégias de reprodução
social e construção de identidade válidas tanto em uma determinada comunidade
quanto na área em geral. Além das redes de comércio e de permutas matrimoniais,
ambas intensas ainda hoje, confederações militares interindígenas foram criadas no
passado para se combater inimigos comuns, com destaque para aquela que no
século XVII opunha os Yayo, Maraon e Aruaque do baixo Oiapoque e adjacências
aos Galibi do litoral da Guiana Francesa (Grenand & Grenand, 1987: 10).
4 Dois exemplos notórios de uniões entre índias da região e comerciantes estrangeiros são o avô de
Levên, pajé em Kumarumã, e o pai do lendário Côco, fundador da aldeia karipuna Santa Izabel. O
avô (FF) do primeiro era chinês, proveniente da Guiana Francesa, e navegava pelo Uaçá vendendo
mercadorias em um batelão. O pai de Côco, igualmente comerciante ambulante, era francês.
5 Este mecanismo regulador de uniões com pessoas de fora das TI’s da região são adotados, quase
sempre, na aldeia karipuna Manga e em algumas das que estão dispostas ao longo da BR-156. Na
aldeia karipuna Estrela (km 70), por exemplo, em abril de 2005 dizia-se que as mulheres de lá davam
tanta preferência aos não-índios da região que não havia mais casamentos com homens de dentro.
Presenciei no mesmo período, na aldeia galibi-marworno Tukay (km-90), comentários que igualmente
expressavam incômodos em relação ao aumento recente de casamentos mistos. Neste caso as
queixas eram porque homens de fora que foram morar na aldeia não se adaptavam às atividades
comunitárias que deveriam ser cumpridas por todos os homens do lugar.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
82
Redes, fluxos, relações.
Estamos, portanto, falando não de relações isoladas no tempo e circunscritas
a um mesmo espaço; mas de um histórico de relações, de relações de relações que
manifestam formas distintas na história regional, com conteúdos variáveis (os
protagonistas das permutas, os elementos de troca etc.). Neste caso a continuidade
possível será morfológica e diz respeito a conjuntos de relações entre conjuntos
sociais; ou às redes de relações sociais.
Assim é que o fluxo indígena sentido baixo Oiapoque – Guiana pode ser
parcialmente reconstituído com auxílio de antigos parceiros comerciais da Guiana
Francesa que logram a fiscalização para sustentarem as permutas, quando não são
os próprios fiscais franceses, conscientes da profundidade histórica das redes
comerciais envolvendo índios, créoles e Saramaká de ambos os lados da fronteira,
que abrandam o rigor da norma. Não obstante esses mecanismos que ajudam na
manutenção e alargamento das tradicionais redes de permutas comerciais e de
serviços entre populações diversas no baixo Oiapoque, demais áreas ao longo do rio
passaram a integrar o circuito das trocas que nelas foram promovidas pela
ampliação de redes de prestação de serviços. Refiro-me especialmente ao Camopi e
Trois Sauts, duas aldeias waiãpi no alto Oiapoque, para onde índios das aldeias
Kumarumã e Manga tem ido a fim de trabalhar nas roças, produção de canoas e
construção de casas.
As relações entre os índios do baixo Oiapoque e os Waiãpi e Emerillon do
Camopi no alto Oiapoque são antigas, mas, não passavam pela colocação de mão
de obra.6 Restringiam-se quase sempre a intercâmbios rituais generalizados,
compreendendo tanto trocas de conhecimentos quanto agressões xamânicas. Este
ponto será abordado um pouco mais adiante neste capítulo quando procurarei definir
as qualidades das permutas sociais promovidas pelo xamanismo no baixo Oiapoque.
Por ora e retomando a presença dos Waiãpi e Emerillon do Camopi na rede de
relações lastreada na prestação de serviços e colocação de mão de obra, mereceria
6 A colocação de mão de obra é recente e o que existiu em grande escala no passado foram relações
comercias que iniciaram nos anos 40, por intermédio do SPI (Dominique Gallois, informação pessoal)
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
83
ser guardado que a contratação de mão de obra indígena pelos Waiãpi do Camopi
deve-se a dois fatores, um econômico e o outro histórico.7 O primeiro está
relacionado ao excedente financeiro que algumas famílias do Camopi conseguem
administrando os proventos de seguridade social que recebem do Governo francês.
Isto permite que paguem para que outros índios, mais pobres, façam roças e
construam canoas para elas.8 O segundo fator remete às relações interindígenas
preexistentes entre Camopi e baixo Oiapoque.
Não obstante a distancia entre as duas regiões (cerca de oito horas para o
Camipi e doze para Trois Sauts de viagem de voadeira veloz, se o rio Oiapoque
apresentar boas condições de navegabilidade) a presença dos “índios do Camopi” –
incluindo os Waiãpi e Emerillon no Camopi e em Trois Sauts – como são evocados,
no imaginário xamânico do baixo Oiapoque, é notória, reputando-lhes as pessoas
poderes superiores e perigosos. Para além desta relação circunscrita ao domínio
das agressões xamânicas, os “índios do Camopi” foram protagonistas, em um
passado recente, de permutas de conhecimentos e experiências em dois contextos:
iniciação de pajés Karipuna e participação nas anuais e já tradicionais “Assembléias
dos Povos Indígenas do Oiapoque”. Com base em meus dados de campo, tenho
alguma propriedade para falar apenas sobre a participação dos “índios do Camopi”
no contexto das permutas xamânicas com os conjuntos indígenas do baixo
Oiapoque, tarefa a qual me proponho realizar também mais adiante no texto.
Com estes parágrafos prévios pretendi sinalizar de modo muito sintético para
as qualidades de relações sociais presentes no baixo Oiapoque e que, acredito,
constituírem redes de relações sobrepostas e imiscíveis apenas de forma analítica.
Em casos extremos, ausentes na província em estudo, um conjunto de relações
intersociais será empiricamente incompatível com outros conjuntos de relações
quando as trocas fundantes de tais relações forem, no limite, uma anti-troca. Penso
no caso da guerra e na impossibilidade dos “parceiros” envolvidos estenderem as
7 Para os Wajãpi, os trabalhadores do baixo Oiapoque não são percebidos hoje como indígenas, mas
são considerados “brésiliens” (Dominique Gallois, informação pessoal).
8 Além dessas despesas com contratação de mão de obra, os Waiãpi do Camopi gastam grande
monta de dinheiro nos comércios de Saint Georges e Oiapoque, os centros mais próximos. Em Saint
Georges, onde parte deles recebe os proventos, hospedam-se no antigo prédio da prisão e enquanto
permanecem na cidade esquentam a economia local. Para o retorno à aldeia com as mercadorias,
fretam voadeiras a preços que atingem R$ 1000,00.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
84
relações intersociais nela geradas às permutas matrimoniais ou comerciais. Caberá
aqui, entretanto, relações fundadas no xamanismo, dedicado nesse caso a
efetivação de uma guerra em paralelo: a feitiçaria.
São as relações intersociais geradas no xamanismo – sejam no âmbito de um
mesmo grupo (inter e intra-comunitárias) ou entre conjuntos sociais imediatamente
delimitados por um etnônimo, próximos ou distantes – que interessam a esta tese,
não obstante, segundo sugeri, elas estarem encadeadas com demais relações de
qualidades distintas, como as permutas comerciais, matrimoniais e a aplicação de
mão de obra. Deste modo é possível e lícito falarmos, para o baixo Oiapoque, em
intersecções de redes, tramas multicomunitárias complexas e arranjos de relações
multicausadas que sublinham dinâmicas e fluxos de comunicação interindígena e
entre índios e não-índios ao longo da história da região. E são nesses fluxos e
arranjos que as unidades sociais vigoram, posto que as sociedades indígenas – e
talvez as demais – são sistemas em comunicação que se constituem e se
transformam com a abertura para o exterior (Sztutman, 2000). Mas interessa não
apenas a configuração de relações sociais encadeadas em redes e constituídas em
um dado tempo e espaço por certos princípios; competirá também à etnologia e
história indígenas vasculharem a engenharia responsável pelas transformações de
tais redes em um determinado tempo e lugar.
O trabalho de uma etnologia das redes de relações demanda, portanto, a
separação dessas redes de comunicação de acordo com as distintas qualidades de
relações nelas observáveis em um espaço e tempo. Este é o primeiro ponto a
esclarecer: que é na etnografia que separamos as coisas, quando não já a criamos
separadas. Para a execução de tal tarefa torna-se imprescindível tanto recursos
indutivos – que permitem separar os diversos níveis de relações, tipificando redes
com princípios de geração diferentes – quanto a investigação etnográfica,
responsável pela definição da abrangência e das possibilidades de construção da
comparabilidade entre pesquisas correlatas.
O segundo ponto de esclarecimento seria aquele evocado na Introdução
deste trabalho: que o xamanismo vai além da integração da troca e da agressão,
mas exprime um pensamento em que essas posições são perfeitamente
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
85
intercambiáveis quando não está em pauta a deliberada escolha pela agressão,
excluindo-se a troca, e sua transformação em princípio gerador de relações sociais.
Aí voltamos novamente à guerra. Nesta tese trato o xamanismo não como um
sistema nativo de comunicação cuja atividade produz cura ou agressão, mas
como um sistema nativo de comunicação cuja atividade produz cura e
agressão.9 A conjunção “e” é fundamental para os argumentos subseqüentes, posto
que a radical disjunção agressão/cura – conduzindo à concepção de especialistas e
especialidades mágicas distintas e antitéticas voltadas para uma ou para outra,
como a feitiçaria, o feiticeiro, o soprador, o curandeiro, o xamã, o rezador etc – tem a
ver mais com nosso próprio crivo moral em relação à imagem judaico-cristã de bem
e mal do que com códigos propriamente nativos.
Seriam assim classificações de procedimentos moralmente orientadas em
função do tema que suscita: a tensão entre vida e morte, identidade e diferença,
produção e destruição Na lógica indígena seriam classificações de procedimentos
orientadas pela percepção do mundo e o que a experiência sensível indica – quando
ela não é suplantada pelo supra-sensível, o bunker da razão e moral ocidentais – é a
exagerada proximidade e conexão inevitável entre vida e morte, curar e agredir.
Longe de serem coisas antitéticas, são diferenças que participam da mesma unidade
do devir que incide sobre as coisas. Além disso, relações lastreadas em formas
recíprocas de violência efetiva ou simbólicas (dentre elas a agressão xamânica) são
fatores fundamentais de produção de dinâmicas sociais e não devem ser
descartadas ou eclipsadas por meras questões de ordem moral ou por serem
julgadas destrutivas da ordem coletiva.
9 Conforme disse na Introdução, diversos autores já demonstraram, com grande rendimento, a
indissociável relação entre agressão e cura no xamanismo, observada em contextos etnográficos
diferentes (cf, por exemplo, Albert, 1985 – para os Yanomami; Descola & Lory, 1985 – para,
respectivamente, os Achuar e Baruya da Nova Guiné; Gallois, 1988 e 1996 – para os Waiãpi;
Andrade, 1992 – para os Asurini; Fausto, 2001 e 2004 – para os Parakanã; Withehead, 2001; 2002 –
para os Patamuna; Lagrou, 2004 – para os Cashinahua; Langdon, 2004).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
86
“Negative reciprocity represented through aggression, predation,
hunting, and violence is essential to social processes, and illness and
death are associated with images of asocial forms of behavior and
eating, such as the practice of cannibalism or the consumption of blood,
the jaguar’s raw meat, or rotten and putrid food”.
]Langdon, 2004: 307-308[
Tal pragmática é que faz com que a agressão xamânica não apenas seja
naturalizada por alguns pajés em seus discursos, mas revestida de uma certa
superioridade frente à guerra e agressão empíricas que ela, de certo modo, substitui.
Estas sugestões eu apresento a partir do confronto com os dados de campo que
procurarei expor e analisar neste capítulo. Para tal é necessário segmentar relações
dentro do xamanismo – produzindo os tipos presentes na citação de Langdon (2004)
– a fim de agrupá-las em duas classes que serão tratadas no sentido acima descrito:
reciprocidades negativas e reciprocidades positivas. Embora ambos os termos sejam
constitutivos do xamanismo e pertençam a uma mesma lógica estruturadora das
trocas, as relações baseadas em cada um deles podem predominar sazonalmente
sobre as baseadas no termo alterno em função do oficiante, de contextos de contato,
do “parceiro” da relação e do setting ritual do xamanismo.
Dizendo de outro modo, um pajé poderá ser socialmente identificado como
um bom curador ou alguém devotado à manutenção das boas relações com as
pessoas invisíveis das quais se beneficiará toda a comunidade. Entretanto, o
simples fato de ser pajé lhe atribui potencialmente as prerrogativas da agressão,
pois ela é constitutiva de seu ofício. Ele não praticará agressão xamânica por desvio
moral, mas porque a agressão, na forma da retaliação, do revide e da vingança, é
constitutiva do ato de curar. Segundo pretendo demonstrar no capítulo seguinte com
a etnografia de uma sessão de cura xamânica dirigida por uma pajé galibi-marworno
que reside na cidade de Oiapoque, o ato de curar não se faz sem o ato de agredir,
posto que a retirada da doença do corpo do paciente é seguida do envio dela a seu
emissor original. Uma agressão implica em outra, imediatamente. O xamanismo no
baixo Oiapoque apresentaria, assim, os elementos que fazem com que seja um
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
87
sistema único de trocas (positivas e negativas; cura e agressão) conforme foi
demonstrado para a região das Guianas (Gallois, 1988, 1996; Whitehead, 2002;
Albert, 1985) Esta dupla capacidade inerente ao xamanismo está eloqüentemente
marcada pela forma de nomeação de quase todo o seu elenco de especialistas e
especialidades.
Como a gente fala “feitiço” em patuá?
Piaii.
Piaii? E como fala pajé?
Pajé? Pajé é piaii mesmo.
É a mesma palavra pra falar “feitiço” e falar “pajé”?
É a mesma palavra. Você me enfeitiçou, aí eu vou falar com você em
patuá: “Muchê Ugo, uka piaii mon. Mon malade. Uka piaii mon, pask
mon malade”. “Você me enfeitiçou, eu estou doente”. “Uka blecê mon”.
É assim. Pajé mesmo no patuá chama piaii. Levên é piaii; Cocotinha10
é outro piaii.
E soprador, o que faz potá, como chama?
Pode dizer que chama como pajé mesmo. Em português você já sabe
que é feitiçaria, mas para nós é piaii, pajé que chama.
Chama piaii também?
É piaii, esse é que é pajé mesmo, porque ele mata [...] Pajé mesmo
sabe fazer mal para os outros.
E a pessoa que faz feitiço, o feiticeiro?
Feiticeiro é assim que chama, como chama pajé: piaii.
Pajé, feitiço, feiticeiro, soprador que faz potá é tudo piaii?
É tudo piaii, que faz mal. São o mesmo piaii. Porque pajé pode lhe
fazer mal, pode lhe matar, pode lhe enfeitiçar. E uma pessoa que
conhece potá pode lhe fazer bem, mas tem potá pra fazer mal, pra lhe
matar.
10 Cocotinha, falecido em 2005, era pajé em Kumarumã. Apenas ele e Levên vinham cantando na
aldeia, realizando sessões de cura xamânica e turé. Sua morte reencontra o episódio que o colocou
no caminho do xamanismo. Em 2001, ele teve um encontro súbito em Saint Georges com o espírito
de Chinois que lhe deu dois grandes cigarros de tawari e pediu (em tom de ordem) que passasse a
cantar para ele. Em troca Cocotinha teria o maracá e o repertório de espíritos auxiliares de Chinois,
podendo virar pajé. A visão ocorreu de forma espontânea enquanto banhava-se em um igarapé
próximo ao cemitério da cidade. No percurso de volta para a aldeia, Cocotinha viu um barco grande,
cheio, com pessoas que acenavam e o chamavam. Atraído pela visão teria pulado nas águas do rio
Oiapoque, se não fossem os companheiros de viagem para segurá-lo e amarrá-lo. Sem testemunhas
desta vez e quatro anos após Chinois ter lhe colocado no caminho do xamanismo, Cocotinha pulou
nas águas do rio Oiapoque, do barco comunitário de Kumarumã, enquanto as pessoas dormiam à
noite. Juntou-se aos Karuãna do fundo e cumpriu seu destino de pajé.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
88
Se assopra e faz bem também é piaii?
Piaii, faz bem e faz mal. É a mesma coisa. Tem canto pra fazer bem,
tem pra fazer mal. É como um enfermeiro. É a mesma coisa, pode
anotar. Um enfermeiro, se quiser curar a pessoa, tem remédio para
fazer bem; se ele quiser lhe matar, dá uma injeção de calmante e
acaba com você na hora. É um piaii, é um pajé. É um curador e pode
lhe matar também. Assim é a mesma coisa conosco aqui. Sabe
assoprar pra fazer bem e na mesma hora pode lhe matar.
[Getúlio. Kumarumã, julho de 2005]
A dualidade pajé/feiticeiro; xamanismo/feitiçaria; bem/mal advém de uma
lógica e uma moral dualistas, formais. Onde estas estão ausentes, vigora uma
complementaridade lógica entre tais termos. Por isso, talvez, a resistência ao tema
da agressão xamânica seja menor do que se supõe encontrar, embora ela exista em
um nível e seja empregada, sobremaneira, como marcador de diferença e categoria
de alteridade. A moral dualista prescinde à lógica das qualidades sensíveis, pois é
metafísica. Pela lógica pré-predicativa, quem cura também mata, pois tudo
transcorre circunstancialmente, habilidades separadas a posteriori e transformadas
em atributos de especialistas (o feiticeiro X o curador).11 Essa mesma moralidade,
emprestada, ao que parece, ao cristianismo vigente há séculos na região, penetra
em alguns discursos locais “nativos” e produz dissensões definitivas (feiticeiro X
curador), ao contrário das qualificações perspectivadas para “feiticeiro” ou mesmo
“soprador” utilizadas como marcadores de diferença e de alteridade.
Compete lembrar nesse ponto um argumento apresentado na Introdução. A
agressão xamânica interessa enquanto técnica porque pode revelar certos
mecanismos cosmológicos subjacentes e que desvelam aspectos fundamentais do
pensamento indígena. Por exemplo: ao se conhecer melhor as operações implicadas
nos potás (um tipo possível de breathing sorcery) ver-se-á duas forças principais
criadoras de realidades que neles estão sempre presentes: pneuma e ontofania.
11 Conforme foi visto no diálogo imediatamente anterior, a expressão indígena regional para
agressão xamânica é piaii, e é assim que se expressam quando conversam em patois sobre o tema
agressões. Mas quando discorrem o assunto em português, as expressões que surgem são
“feitiçaria” e “feitiço”, as mesma utilizadas pela população regional não indígena e cujo emprego vem
marcar distinção radical em relação a “cura”, “curador”, “reza”, “rezador” etc.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
89
Essas potências criadoras – recursos mágicos também encontrados em diversas
paisagens etnográficas no planeta na forma do sopro e da palavra dita – são
articuladas nos potás galibi-marworno, karipuna e palikur a modos performáticos de
execução similares aos dos cantos xamânicos, mas que desses distinguem-se por
não visarem uma comunicação e sim a manipulação de qualidades objetivas do
mundo a partir daquilo que ele é: palavra. E vice versa, pois, segundo um argumento
que pretendo desenvolver no Capítulos IV, as palavras também são mundo (coisas),
pois entes. E com intencionalidade.
Portanto, o conhecimento das técnicas de agressão podem iluminar aspectos
esmaecidos da, digamos, teoria xamânica sem implicar numa substantivação do
xamanismo em suas técnicas. O que vale como ponto de partida é que a agressão
xamânica é uma categoria de acusação (aliás, toda categoria já contém um pouco
de acusação...) e não pode ser reduzida a um conjunto de técnicas. Deste modo
conserva-se o caráter de comunicação da agressão, posto que onde há o agressor,
há o agredido e entre eles uma relação. É nisso que consiste o seu efeito. Aqui
reside outro ponto a ser contemplado. A agressão xamânica interessa-me,
especialmente, enquanto categoria de acusação porque é neste domínio que se
pode verificar os mecanismos sociológicos que a regem e que, penso, instruem os
princípios de dinâmicas sociais intra e intercomunitárias.
Com base no mapeamento das acusações de agressões xamânicas é
possível determinar clivagens, planos de tensão e emoção que alinham as
acusações e as direcionam conforme um modelo prévio de sociedade e de
organização social. Minha hipótese primeira era aquela de alguns autores (Fausto,
2001; Viveiros de Castro, 1986; 2002b) que vem trabalhando para as Terras Baixas
Sul Americanas e que identificam os códigos da agressão xamânica ao pólo da
afinidade, sendo, pois, os afins, efetivos ou potenciais, os principais suspeitos de
feitiçaria. Mas as coisas no baixo Oiapoque são se passam exatamente dessa forma
direta – não sendo, contudo, o contrário dela – embora eu esteja convencido da
relação associativa entre autoria de agressões xamânicas e afinidade.
As técnicas de agressão e terapia xamânicas revelam como o mundo é
pensado e nesse sentido se complementam aos princípios sociológicos de
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
90
direcionamento e condução da acusação e da vingança. Se o conhecimento das
técnicas xamânicas indica o funcionamento do cosmos, o das categorias de
acusação pode desvelar a sociedade e sua engenharia de reprodução. São coexistentes porque a sociedade depende do cosmos para se perpetuar enquanto tal;
segundo uma expressão de Boccara (2001), “é a incorporação da exterioridade na
construção do si mesmo” (ib.: 31). Por isso busquei tanto as técnicas quanto as
acusações e se não consegui um arranjo mais elucidado de suas qualidades e
efeitos deve-se mais à insuficiência do investimento etnográfico do que às barreiras
morais impostas pelo assunto. A isso atribuo, por exemplo, a conclusão ainda por se
verificar etnograficamente sobre a origem e os sujeitos das agressões, posicionados
tanto em termos da geografia regional (numa área que, no mínimo, abrangeria a
Noroeste o Suriname; a Oeste o Camopi; ao Sul Macapá/Belém; e ao Norte
Cayenne) quanto em relação ao gradiente das distâncias sociais (afins/afins
potenciais, consangüíneos, parceiros de relações comerciais, estrangeiros não
conhecidos etc). Estão inclusas ainda nesse gradiente das distancias sóciocósmicas as pessoas invisíveis com as quais trata o pajé e que, na forma de
intencionalidades canibais, são a principal causa de doenças. Contudo não tratarei
delas aqui, assunto reservado para o Capítulo III quando discuto a teoria etiológica
do xamanismo regional tendo em vista o sistema de entropia cósmica que determina
o destino das almas, a produção dos “pajés de nascença” (que são “filhos de
Bicho”), a realização ritual do turé e todas as demais modalidades de ações que
colocam em comunicação habitantes de setores diversos do cosmos.
Seria necessário um arrolamento mais aguçado e com base em casos
particulares e empíricos de acusações para se iniciar uma apuração que pudesse
lançar luz sobre as dinâmicas das redes de acusações xamânicas; mais do que se
obter um conjunto de nomes de acusados preferenciais em particular, é a posição na
geografia regional e no gradiente das distâncias sociais dessas pessoas que
interessa. Uma empresa dessa natureza seria viável, no meu entendimento, porque
à feitiçaria ainda se atribuem boa parte da responsabilidade sobre doenças e
infortúnios, como azar no amor, panema na caça, perda de produção na roça etc. É
preciso, entretanto, fazer ressalvas.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
91
Um parte significativa das agressões tem autor(a) desconhecido(a). A
suspeita de agressão direcionada já seria suficiente, pois, assim como a acusação
direta, ela também exprime disposições sociais e, deste modo, os elementos
estruturantes dessa qualidade de relação. Ocorre que, há cerca de cinco ou seis
anos, lideranças respeitadas passaram a persuadir enfaticamente os pajés de suas
comunidades a não dizerem os nomes dos agressores por eles descobertos por
meio onírico ou ritual.12 Alguns poucos não consideraram a recomendação (na
verdade foi mais que uma recomendação) e continuam a informar aos agredidos o
nome do responsável por sua doença ou infortúnio, mas a performance mais adota
pelos pajés de toda a região quando procurados para divinações é agora dizer que o
autor(a)
da
agressão
é
alguém
com
quem
o
agredido
teve
recentes
desentendimentos ou então, mais raro, que o feitiço veio de longe, meio
casualmente. Ainda que não haja a intervenção do pajé dirigindo as deduções da
vítima na descoberta de um possível responsável pelo seu mal, qualquer doença
repentinamente surgida tenderá a ter como diagnóstico uma agressão xamânica e
neste caso a vítima-doente reunirá suas lembranças para conferir com quem teve
recentes desacordos e determinar possíveis autores da agressão.
A pessoa fica sabendo quem assoprou?
Fica sim, porque ela vai anotar com quem brigou: “Eu briguei com
aquele homem, depois fiquei doente. Não foi outra pessoa, foi ele quem
fez feitiço pra mim”.
É sempre alguém com quem a pessoa brigou?
É assim mesmo, não vai pensar em outra pessoa. Porque sem a pessoa
brigar não acontece nada. Pode ir num caxiri, tomar duas cuias; pode
trocar umas palavras, aí um ofende o outro e leva duas porradas. “Está
bom. Quem me deu essa porrada? Ah, foi Ugo. Eu não vou fazer nada,
mas vou ajeitar um negócio aqui pra ele”. Aí eu pego, mando feitiço e
você nem sabe o que eu fiz. Acabou.
[Getúlio. Aldeia Kumarumã, julho de 2005]
12 Os Karipuna, ao que parece, já haviam adotado tal medida por iniciativa do Capitão Teodoro
Fortes, um dos fundadores da aldeia Espírito Santo, que percebeu a necessidade da regra após
impedir que o cunhado vingasse a morte de um filho diagnosticada como feitiçaria (Tassinari, 1998:
245 e nota n. 31 do cap. 5).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
92
Ainda poderá dizer que o assalto foi motivado por inveja, cobiça e olho gordo.
Seja como for, agora competirá ao agredido, com suas próprias suspeitas, expor as
clivagens sociais e planos de tensão e emoção por onde certas qualidades de
relações inter e intracomunitárias são desenvolvidas. Sem, evidentemente,
descartarmos ocorrências em que as suspeitas recaem sobre pessoas com quem se
brigou por acaso, sem haver tensões entre as posições e categorias nas quais estão
as partes da contenda.13 Desta feita os diagnósticos de agressão assumiriam um
vetor político regido pelas tensões flutuantes nas relações ente comunidades
distintas ou entre grupos locais (Gallois, 1988: 255).
Minha hipótese de que eram sempre os afins e os afins potencias os autores
preferenciais das agressões foi perdendo terreno em um dado momento diante da
dispersão das suspeitas, podendo ela incidir, inclusive, entre consangüíneos. Neste
caso usualmente explica-se que o motivo da agressão é o desejo natural de realizála atiçado por circunstâncias triviais causadora de inveja ou raiva. Fica-se com inveja
do irmão ou raiva do pai e pronto; é o bastante para um pajé lançar a suspeita contra
seu próprio consangüíneo ou alguém recorrer a potás de agressão para se vingar
dos seus. Era a favor da dispersão das suspeitas de agressão xamânica que os
Palikur se manifestavam quando os questionava sobre o passado pré-pentecostal do
grupo, em um momento de sua história em que as relações interclãs estavam
deterioradas pelas freqüentes acusações de feitiçaria feitas pelos pajés. Veremos
adiante que o momento que antecede a chegada da evangelização no Urukauá nos
últimos anos 60 foi marcado por uma epidemia, provavelmente de gripe ou
13 Mas isso não deixa de ser raro. Logo que cheguei em Kumarumã em junho de 2005, um AIS
(Agente Indígena de Saúde) com quem conversava no Posto de Saúde sobre conflitos entre as
terapêuticas xamânica e alopática oferecida pela FUNASA, disse-me, a fim de ilustrar seu argumento
de que os diagnósticos dos pajés detectando feitiçaria são falaciosos, que dois anos antes um
homem da aldeia havia chegado de Cayenne após cinco anos de trabalho duro por lá. Sua vinda teria
sido antecipada por desentendimentos que vinha tendo com seu patrão, um francês metropolitano,
tornando-o desgostoso do trabalho. No mesmo ano que retornou à aldeia ficou gravemente doente;
procurando Cocotinha para diagnostico da doença, este lhe disse que haviam feito feitiço para ele.
Quando perguntei a meu interlocutor se o autor do feitiço tinha sido o patrão francês, ele contou-me
que Cocotinha diagnosticou que um vizinho do homem doente, motivado por inveja da boa situação
financeira que ele havia conseguido em Cayenne, era o responsável pela doença. Não havia motivos
para se lançar suspeitas sobre o patrão porque os franceses metropolitanos da Guiana não são uma
categoria de gente perigosa, onde haja tensão latente; no gradiente das distâncias sociais eles
ocupam o lugar dos distantes com quem se mantém relação esporádica e estável. Dirigindo as
suspeitas para dentro da comunidade e sem haver motivações aparentes de vingança, Cocotinha
tinha de apelar para a inveja, o motivo que fornece o maior número possível de suspeitos.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
93
coqueluche, que matou vários Palikur e os fez associarem as mortes a agressões
xamânicas. Dramático cenário de desalento e diáspora, tais suspeitas foram
dirigidas indiscriminadamente tanto para dentro quanto para fora das comunidades,
atiçando as disposições para assassinatos de pajés.
Igualmente a favor da dispersão das suspeitas de agressão xamânica, mas
tratando do presente, meus interlocutores galibi-marworno, pajés e não pajés,
associam as ofensivas a dois fatores precípuos já referidos: vingança e inveja. Há
ainda outros que exprimem particularidades do gênio humano e naturaliza-as, como
o simples desejo de fazer mal a outrem, ou a tétrica aspiração de demonstração de
poder; e ainda um motivo específico que se aplica apenas em casos de ataques
entre pajés. Trata-se da agressão como forma de medição da força do oponente,
notadamente quando o alvo é um pajé recém iniciado, e pode ser tanto um mero
assalto sem intenções de matar ou ferir – sobretudo quando o autor é um pajé
conhecido e às vezes o próprio iniciador – quanto um ataque para valer.
Em todos os casos, a dispersão das acusações lembra que a agressão
xamânica é virtualmente a substituta total para qualquer natureza de conflito, desde
a guerra entre comunidades às pendengas cotidianas entre consangüíneos, posto
que ela distribui-se em vários níveis de acesso, do mais restrito – que implica a dura
iniciação e aprendizagem, pertença a uma linhagem xamânica ou eleição por
nascimento – àquele perfeitamente acessível através da manipulação das fórmulas
incantatórias, os potás.
[...] tem várias coisas que a gente prepara em feitiço para qualquer tipo
de ocasião. Se eu sei cantar um pouquinho e estou bravo com aquela
pessoa: “Eu vou dar uma mijada nele agora”. Você não sabe de nada,
você está vivo, achando que está bonzinho, mas quando uma mulher
lhe vê: “Lá vem um homem todo acabado, ninguém vai querer ele”.
Quando é assim o homem não arruma mulher nenhuma, não arruma
nadinha. Fica muito feio para as mulheres. É assim que índio faz.
Não briga, faz feitiço?
Não tem esse negócio de briga. Você pode me dar umas porradas
agora e vai embora. “Está bom”, eu não vou pensar em outra coisa, só
em lhe fazer mal. “Eu vou assoprá-lo pra ele saber como é”. Prepara,
ajeita tudo, assopra e pronto.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
94
[Getúlio. Kumarumã, julho de 2005]
Contudo as possibilidades das práticas de agressão e cura, não estão
eqüitativamente distribuídas entre esses níveis e, talvez por isso ou por uma questão
de escolha mesmo das pessoas, era me dito com freqüência pelos Galibi-Marworno
que é mais fácil praticar a agressão do que corrigi-la. Este declaração parecia
configurar os Galibi-Marworno como uma sociedade de ardilosos.
Quando buscava corroborar minha hipótese da correlação entre acusação e
afinidade e cercava o tema dos acusados preferenciais de feitiços, tomando por caso
uma determinada cadeia de vingança, começava a acreditar que meu interlocutor
estava indo direto para minha armadilha reveladora de segredos. Mas quando
parecia que o diálogo dirigia-se para o termo glorioso, para o allegro vivace já
conhecido, e pensava antecipadamente “enfim, os afins!”, tudo mudava com um
simples: “Qualquer um pode fazer feitiço. Até seu irmão, lhe assopra e pronto”. Os
Galibi-Marworno sempre insistiam na dispersão das suspeitas, já que a maleficência
estava ali, ao alcance de qualquer um.
Passada a frustração, essas respostas eram mais do que pareciam. A
agressão xamânica por meio dos potás eram antes bastante comuns, seja no Curipi,
no Uaçá ou no Urukauá, e a acusação de fazê-la um dos principais fatores de
dissensões entre famílias. A popularidade das fórmulas incantatórias eram tão
grandes em Kumarumã que – contou-me um interlocutor karipuna – as crianças a
aprendiam apenas prestando atenção nos ensinamentos feitos aos adultos pelos
grandes sopradores em rodas ao ar livre. De posse da fórmula na memória, os
pequenos a recitavam sem controle como uma brincadeira, distribuindo doenças e
infortúnios em sua comunidade.
Mas o tempo glorioso dos grandes sopradores passou e as pessoas não
conhecem mais os potás para levar doenças a comunidades inteiras e distantes, não
obstante ser ainda a forma mais comum de vinganças interpessoais. Diminuíram as
agressões xamânicas em potência, mas não em quantidade, pois é o acesso
relativamente fácil às fórmulas que tornam populares os potás utilizados como
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
95
recurso de vingança. O xamanismo continua sendo tão democrático quanto o rio.
Esse acesso fácil a uma modalidade especial de agressão tem a ver com a
relação entre a palavra dita e as coisas, uma relação que vai muito além da
representação e da referência significado–significante. Envolve também o tipo de
intencionalidade que está na palavra e sua posição numa escala onde as demais
intencionalidades são superiores ou autônomas. Não irei adiantar aqui um assunto
que pretendo tratar com melhor precisão no Capítulo IV, mas é fundamental guardar
que, se a ação xamânica implica sempre numa comunicação-controle entre
intencionalidades, conforme anuncie na Introdução acreditar, a intencionalidade (ou
psyche) da palavra pode ser controlada com mais facilidade porque depende de
outrém para ser efetivada através da fala e do sopro, o ato complementar da
ontofania. Por isso os potás eram e são ainda produtos tão especiais e procurados,
tanto para a agressão quanto para a cura de doenças ou resolução de infortúnios.
A dispersão das suspeitas de agressão está, portanto, um tanto relacionada
ao acesso fácil à feitiçaria por meio dos potás, bastando a pessoa empregar um
pouco de tempo e esforço mnemônico para registrar as fórmulas incantatórias e
recitá-las quando quiser provocar o seu efeito. Evidentemente que antes terá de
arrumar alguém que lhe ensine as fórmulas que procura, empresa que poderá não
ser simples, haja vista a nebulosidade corriqueira sobre a identidade dos sopradores
que se mantém anônimos por conta das suspeitas de agressão que podem incidir
sobre suas atividades. Há, porém, aqueles que, notórios conhecedores de potás,
comercializam seus serviços de professores de fórmulas incantatórias; ou ainda
outros que, afirmando peremptoriamente que conhecem apenas potás para curar
não ficam à sombra da identidade dos sopradores. Contudo, se a agressão
xamânica é ainda hoje planificada por meio dos potás e qualquer um,
potencialmente, pode fazê-la, resta perguntar quem de fato é suspeito ou acusado.
Quais os protagonistas de situações concretas de suspeitas de agressão? Que
relação a pessoa acusada de ser autor(a) de agressões tem com a vítima?
Tais questões podem colocar em evidência a distinção entre o potencial e o
efetivo na trama complexa das acusações e retomar a co-pertinência entre acusação
e afinidade. Com base em casos concretos de acusações de agressão xamânica
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
96
que pude coletar em Kumarumã e no Kumenê, posso retomar a hipótese primeira de
que são os afins os suspeitos preferenciais de agressões, tanto nas situações em
que uma pessoa agredida com doença é conduzida pelo pajé a descobrir seu próprio
agressor; quanto naquelas onde o pajé acusa diretamente, seja um afim da vítima
que o procurou ou seu próprio quando o alvo do assalto foi ele mesmo. Os
afins/afins potenciais aparecem como culpados no quociente entre a suspeita virtual
e a acusação concreta, diminuindo o fôlego da dispersão das suspeitas. Se qualquer
um pode ser autor(a) de agressões xamânicas causadoras de doenças e infortúnios,
são aqueles pertencentes à seqüência da afinidade que serão os suspeitos
preferenciais. A suspeita, entretanto, é uma equação complexa conduzida por uma
série de processos alimentados por multieventos e dificilmente haverá nela
automatismos e para seu processamento concorrem tanto fatos e episódios
ocorridos pouco antes da descoberta da agressão, quanto a natureza das relações
interpessoais entre vizinhos, consangüíneos, compadres/comadres, parceiros
comerciais, parceiros rituais e afins.
Portanto, entendo a imputação de responsabilidade aos afins/afins potenciais
por agressões xamânicas no sentido de uma inclinação a perceber a afinidade como
um dos principais focos de tensão do convívio social. Essa tensão latente busca-se
apaziguar de formas diversas. No cotidiano de famílias extensas matrilocais que
formam pequenos grupos de co-residentes como ocorre de maneira mais enfática
entre os Galibi-Marworno e Palikur, o recurso a tectonímia e as operações dirigidas
no circuito da convivialidade são estratégias para se lidar com a diferença próxima.
Simetricamente, um dos papeis do xamanismo é lidar com o problema da diferença,
afastando o risco da efetuação da afinidade interespecífica através da prevenção
dos raptos de mulheres por pessoas invisíveis como os Karuãna; e, principalmente,
da domesticação dessas pessoas mediante a passagem da afinidade virtual a
consangüinidade simbólica. Assim os Bicho e Karuãna se tornam gente do pajé e
“fica tudo amigo, como se fossem os filhos dele”.
Na seqüência procurarei explorar algumas modalidades de relações inter e
intracomunitárias geradas a partir das atividades xamânicas dentre os povos que
habitam a região do baixo Oiapoque e entre esses e demais populações (índios e
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
97
não-índios) mais ou menos localizadas dentro da região geográfica mencionada
páginas antes. A rigor essas relações não têm limites territoriais, posto que
agressões xamânicas, assim como pajés, podem vir de qualquer parte; no entanto
aqui também há uma diferença entre o virtual e o efetivo e são as permutas
realizadas (e não as realizáveis) que podem ser investigadas em seus efeitos e
estão mais ou menos circunscritas na área supra.
Tais relações envolvem tanto acusações de agressão quanto trocas de
conhecimentos e serviços rituais e muitas vezes os protagonistas de ambas são os
mesmo que mantém entre si outros tipos de relações extra-xamânicas.14 Isto porque
a agressão não exclui a permuta de conhecimentos e vice versa e, no limite,
procura-se o equilíbrio entre ambas as qualidades de relação dentre o mesmo
conjunto de protagonistas. Assim, talvez, se perceba com referência às relações
com os Waiãpi do Camopi que elas alcançaram um ponto de equilíbrio ótimo entre
reciprocidades xamânicas positivas e negativas. A separação das qualidades das
permutas xamânicas (positivas e negativas) é ficcional e produzida como recurso de
análise, posto que, segundo disse há pouco, a regra das trocas sociais baseadas e
geradas no xamanismo é que ambas qualidades sejam co-extensivas, devido à
virtualidade da transformação de uma em outra. Salvo, repito, as situações limites
em que a troca de agressão interrompe a cadeia de permutas positivas substituindoas pela vingança, segundo o modelo da guerra. Ainda assim subsiste uma
engenharia que, à semelhança da troca, procura obter qualidades estrangeiras para
a reprodução do socius, segundo demonstram Carneiro da Cunha & Viveiros de
castro (1986). Uma outra possibilidade à categorização das relações xamânicas no
baixo Oiapoque seria distribuí-las por extensão e não por qualidade. Deste modo
teríamos redes e subredes de relações xamânicas conforme a origem geográfica
dos parceiros, seja de permutas de conhecimento ou assistência ritual ou de
agressão. Uma categorização assim empreendida deveria levar em conta para as
relações xamânicas envolvendo os índios do baixo Oiapoque os limites geográficos
citados páginas atrás para o campo das permutas, contemplando, evidentemente, o
movimento de contração e dilatação desse campo circunstanciado por elementos
14 A mais comum talvez seja a afinidade entre pajés (Cf. Diagrama 1 – Genealogias Xamânicas),
mas há também a colocação de mão de obra.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
98
históricos. Devido a isso é que considero ser mais difícil categorizar relações
xamânicas a partir do vetor extensão, posto que quanto mais de longe provém o
parceiro da relação, mais diluída é sua identidade, ficando viva, entretanto, a
qualidade da relação estabelecida.
Continuarei explorando apenas as redes de relações xamânicas entre
pessoas visíveis, classificáveis nos esquemas conhecidos de especialistas (pajés,
sopradores, feiticeiros, rezadores etc) ou não. As relações com as pessoas invisíveis
(Karuãna, Bicho, Encantado) serão objeto dos capítulos IV e V, com exceção dos
mortos, aqui abordados como preceptores dos feiticeiros lugahu (labisônio).
Novamente trata-se de um esquema didático, pois as relações entre pessoas
visíveis que são desenvolvidas no xamanismo quase sempre são mediadas por
outra relação: aquela que se mantém com pessoas invisíveis.
As permutas xamânicas na história recente do baixo Oiapoque:
Nimuendajú e Expedito Arnaud.
Uma bibliografia pequena trata das trocas e agressões xamânicas no baixo
Oiapoque no século passado. Antes disso Coudreau abordou o assunto ao se referir
às declarações do padre Fauque (século XVIII) afirmando que os Palikur não tinham
mais pajés porque eles não os toleravam e haviam matado a todos. Nimuendajú
rebate tal afirmativa acreditando que tratava-se de uma deliberada manifestação dos
Palikur ao missionário a fim de evitarem interferências em sua vida religiosa; ou de
assassinatos de pajés exclusivamente identificados pelos índios como feiticeiros.
Improvável seria, para o etnólogo teuto-brasileiro, a inexistência completa de pajés
entre os Palikur: “Eu não poderia imaginar uma tribo como a dos Palikur sem um
pajé pelo menos” (Nimuendajú, 1926: 48). Há ainda evidências, nesse mesmo texto,
de permutas de conhecimentos rituais entre as populações dos rios Urukauá, Uaçá e
Curipi e cujas passagens foram apresentadas no Capítulo I.
Mais precisamente quando Nimuendajú afirma que tanto os Galibi quanto os
Karipuna se apropriaram da cultura Palikur, sendo que para os primeiros “é visível
que todas as suas crenças são muito influenciadas pela tribo vizinha (Palikur), se
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
99
não são diretamente emprestadas dela” (ib.: 68); e sobre os segundos diz o
seguinte: “Toda a crença em demônios e espíritos dos índios, todas as danças
relacionadas a estes com os respectivos enfeites foram adotados por estes
brasileiros do Curipi, junto com o pajé, dos seus vizinhos índios (os Palikur)” (ib.: 69).
Surpreendente é que os Galibi do Uaçá usassem apenas cantos de dança dos
Palikur, cantando em palikur “sem que eles compreendessem o que estavam
cantando”
(ib.:
68),
posto
que
ainda
hoje
possuem
cantos
xamânicos
indubitavelmente em língua caribe e conhecem o significado das palavras que os
compõem. Um cotejamento com D’avity remove dúvidas sobre a origem lingüística
de palavras corriqueiras nos cantos Galibi-Marworno e a pertinência dos significados
atribuídos a elas por esses índios:
“Ils (os Caribe da Guina Francesa) demandoient aux François ce qu’ils
adoroient au Ciel, fi c’eftoit le Soleil qu’ils appellent Ouayou, ou la Lune,
qu’ils nomment Nona, de mefme que les Eftoiles Cherica, le Ciel Capo,
les Nuës Conopo, le feu Ouate, l’Eau Tonna, la Mer Parana“.
]D’avity, 1643: 111[
Acrescentaria ainda a palavra caribe itutan, também bastante freqüente nos
cantos xamânicos e traduzida pelos Galibi-Marworno como “o fundo mato” quando
integra a expressão “itutai iranã” utilizada para designar o local de habitação de
alguns Karuãna. Tal significado parece ser congruente com “habitantes da floresta”,
definição aceita para o referente genérico Itutan que, ao ser utilizado, marcava a
oposição entre gente da costa/gente da floresta, utilizada, inclusive, para definir
populações que habitavam a bacia do rio Uaçá (Grenand & Grenand, 1987: 11-12).
Portanto, é aceitável que ao menos um dos povos componentes dos Galibi do Uaçá
tivessem lhes legado parte de uma cultura ritual caribe, incluindo aí alguns cantos
xamânicos.
O texto de Nimuendajú ainda revela que o xamanismo dos Palikur registra
relações de permutas positivas entre eles e Waiãpi e créoles de Guiana francesa.
Em relação aos Waiãpi do Camopi há marcantemente uma cooperação no campo do
xamanismo e que é expressa pela presença em cerimônias de turé de espíritos de
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
100
antigos pajés Waiãpi tornados yumawali15 (espíritos auxiliares das montanhas) de
pajés Palikur:
“Um dia, numa dança que se dava em sua honra (refere-se a Uluplí,
mestre dos jacarés), vim a conhecer o espírito de um velho pajé dos
Wayapí (do Alto Oiapoque) que depois da sua morte se transformara
num yumawalí, passando a viver na Serra Alikini, na margem direita do
Oiapoque, entre o Yaroupi e o Yaoué. Ele desceu ao terreiro de dança
pelo mastro da festa encimado pelo maracá e tomou seu lugar em cima
do banquinho ornitomorfo Tukusmaká. Veio acompanhado por um
demônio ‘Mahipokli’ em forma de cobra, também habitante daquela
serra, para cuja sede se tinha preparado uma viga (banco) comprida de
quatro faces com cabeça de cobra e pintura azul, no qual o pajé o fez
entrar”.
]Nimuendajú, 1926: 47[
A cooperação xamânica com pajés Waiãpi e Emerillon do Camopi é
corroborada em outra passagem: “Na noite de 4 para 5 de abril de 1925 assisti a
uma dança de toré oferecida pelo pajé Maximilien ao seu aliado, o espírito de um
finado pajé dos Wayapí” (Nimuendajú, 1926: 50). Os créoles, hoje reputadíssimos
tanto como feiticeiros quanto como curadores, são registrados também em
cooperação xamânica com os Palikur, assistindo o pajé em sua clínica:
“Quando se tratava do espírito de um índio eu não compreendia nada
do diálogo em Palikur, mas quando chegava o espírito de um creolo, o
que não raras vezes acontecia, pude entender pelo menos que a
conversa versava sobre comida e bebida e outros assuntos
banalíssimos [...] O ajudante do lado de fora (do tukay) apóia os dizeres
do espírito com freqüentes ‘oui, z-ami!’ ou ‘oui, n-onc’ (sim, titio)”.
]Nimuendajú, 1926: 49[
15 Os yumawalí possuem um céu especial chamado Yinoklin, mas habitam, ao que parece, apenas
as montanhas. Bastante numerosos, produzem metamorfoses em pássaros Tukumaská, além de
serem os inventores de artefatos rituais utilizados pelos Palikur (Nimuendajú, 1926: 46-47).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
101
Zami é o termo em patois para as pessoas (espíritos auxiliares) do pajé, às
vezes chamados também de Kamahad pelos Karipuna (Tassinari, 1998: 219) e, mais
raramente, pelos Galibi-Marworno. Emprega-se o nome para aqueles auxiliares que
mantém assiduidade na clínica xamânica e são especialistas – ao menos é o que se
anuncia – em consultas com habilidades especiais para dar pareceres sobre
doenças. Caso seja diagnosticada uma agressão, para as atuações mais complexas
de combate e extração do princípio-agente patológico outras pessoas invisíveis,
mais habilitadas tanto ao combate quanto à cirurgia de extração da causa da
doença, atuarão. São igualmente Zami do pajé da sessão. Relações estabelecidas
com os Galibi do Uaçá em função da clínica xamânica palikur por aqueles índios
procurada (os Palikur sempre tiveram fama de terem excelentes pajés) são também
mencionadas pelo etnólogo que testemunhou uma família inteira do Uaçá morando
por dois meses na casa de um pajé enquanto a filha submetia-se a tratamento
(Nimuendajú, 1926: 48).
Na monografia de Nimuendajú os relatos sobre acusações de agressão
xamânica e intrigas entre famílias, terminando sempre em morte de pajés, remontam
a duzentos anos. Não menciona ele cenário semelhante no presente (1925) e,
contrariando todas as narrativas sobre as relações entre os clãs palikur trinta anos
após sua visita ao Urukauá, descreve a vida comunitária como “uma atmosfera de
harmonia e paz digna de nota” tão sólida que “nem mesmo a desconfiança das más
ações do pajé Lexan Chevalier é capaz de perturbar; para rompê-la seria preciso
que estranhos se intrometessem no seu meio” (Nimuendajú, 1926: 40).16 Esta
atmosfera de equilíbrio presente nas relações entre as famílias palikur e entre essas
e outras da região, índias e não-índias, teria sido o motivo da falta de registros
diretos de agressões xamânicas feitos por Nimuendajú, não obstante já está
sinalizado a presença de agressões xamânicas ao referir-se ele às “más ações do
pajé Lexan Chevalier”.
16 Contudo, oito páginas a diante ele diz desse mesmo pajé: “Muitos pareciam odiá-lo francamente, e
ele, sabendo disso, não vai mais às festas de cachiri dos outros, fazendo as dele na ilha em que
morava, com a única assistência de seus dois filhos e de seu genro” (Nimuendajú, 1925: 48). O
etnólogo assim dava mostras de que a vida comunitária dos Palikur não era tão monótona.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
102
É justamente a tônica na acusação de agressão xamânica e nas dissensões
sociais intracomunitárias por elas causadas que dirige o texto de Arnaud (1970)
sobre o xamanismo na região do baixo Oiapoque. Este trabalho deriva de pesquisas
de campo realizadas nos rios Urukauá, Uaçá e Curipi durante os anos de 1960 e, de
certo modo, reafirma a tensão nas relações interfamiliares no baixo Oiapoque nesse
período – por conta das freqüentes acusações de feitiçaria – da qual ainda hoje
falam os Galibi-Marworno e Palikur. Mais que o xamanismo propriamente, enquanto
instituição social, eram os pajés os alvos da cólera e de acusações de provocarem
discórdias no meio coletivo através do uso da feitiçaria (Arnaud, 1996: 316-317).
Por outro lado era também a época dos grandes pajés cujos poderes,
incomparáveis aos dos atuais, são lembrados com certa melancolia. Foi o período
em que as respostas às acusações sérias de agressão extrapolaram o mecanismo
de produção de fluxos migratórios e abertura de novas comunidades (mediante
cisões de outras) e foram parcialmente substituídas pela vingança desdobrada em
violência física e assassinatos de pajés ou de parentes desses. Tais ocorrências
deixaram notícias somente entre os Palikur, não obstante histórias de “quase
assassinatos” no Uaçá dos Galibi.
“Uma vez que a aplicação de tais processos [de agressão xamânica]
não venha surtir resultado contra um xamã ‘porque ele tem mais força’,
sua eliminação pode ser tentada de forma violenta. Entre os Karipuna
às vezes ocorrem desentendimentos por causa de feitiçarias, porém,
segundo fomos informados, nenhum ainda assumiu caráter sério. Já
entre os Galibi casos dessa natureza, além de mais freqüentes, de
quando em vez estão reclamando intervenção administrativa. Há quatro
anos atrás, um homem cuja mulher e filhos morreram de gripe, se não
fosse impedido pelo agente do SPI, teria assassinado em represália os
filhos do xamã Yapahá, que fora acusado por um rival como
responsável por aquelas mortes [...] Entre os Palikur, assassinatos de
xamãs reputados como maus, já observados pelo Padre Fauque, há
cerca de 200 anos, ainda vem ocorrendo nos dias atuais. Segundo
informantes, o ‘poderoso’ Warawenê que era muito temido foi convidado
para um repasto e, ao retirar-se, foi morto com um arpão pelas costas.
Pala década de 1940, [Eurico] Fernandes viu-se a braços com uma
situação crítica, quando um grande número de índios foi pedir-lhe
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
103
licença para matar o xamã Volmá, apontado por um adversário como o
responsável pela morte de um dos líderes do grupo”.
]Arnaud, 1970: 13-14[
Entre as vinganças na forma de assassinatos de pajés, a mais conhecida
delas é o episódio da morte de Pitbug (no Urukauá chamam-no também de Tibug),
provocada por denúncia de agressão xamânica que lhe fizera um oponente e exdiscípulo, o também pajé Payuyu. Segundo este, a doença que acometia a garota
agredida não evoluiria para a sua morte apenas se o agressor fosse morto,
declaração acatada pelo pai da menina como verdadeira e por ele levada a efeito
com a ajuda de mais onze pessoas que abateram Pitbug enquanto navegava no rio
com uma filha (Arnaud, 1970: 14). Dada à repercussão do ocorrido e a iminência da
vingança por parte dos parentes e partidários de Pitbug, o SPI agiu rapidamente e
enviou parte dos envolvidos para Belém e para o PIN Tocantins, não conseguindo,
contudo, punir o autor da denúncia que com mais três comparsas refugiou-se na
Guiana Francesa (ib.: 15).
Este episódio foi o único dessa natureza do qual consegui alguma informação
relevante sobre relações de afinidade entre a vítima e o acusador. Pitbug era filho de
índios Galibi do Uaçá que migraram para o Urukauá, onde nasceu. Sendo assim,
não podia pertencer a nenhum dos clãs palikur, haja vista a descendência patilinear
do grupo. De resto, Arnaud confirma a sua origem e posicionamento, digamos, no
limbo, da sociedade Palikur (Arnaud, 1970: 14-15). Contudo, sangue paterno não é a
única maneira de vincular pessoas a um clã palikur e Pitbug, casado duas vezes
com índias do Urukauá, passou a pertencer aos clãs das esposas:
Tibug era [Galibi] Marworno, os pais eram Marworno. Tibug nasceu no
Urukauá, foi criado e teve filhos aqui. O clã da primeira mulher dele era
wakavunhene. Depois que ela morreu, ele se casou com uma do clã
wayvoyene. Quando o mataram ele estava vivendo neste clã.
Payuyu era de que clã?
Payuyu? O clã do pai dele era wakavunhene.
O clã da primeira mulher de Tibug.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
104
Era. Ele viveu em dois clãs.
Que parentesco tinha Payuyu com a primeira mulher de Tibug?
A mulher de Tibug chamava Payuyu de irmão e chamava o pai de Tibug
de papai, em palikur.
Eram primos.
É, no português chama primo.
[Manoel Labonté. Aldeia Kumenê, fevereiro de 2007].
Payuyu era um “cunhado classificatório” de Pitbug, pois irmão classificatório
da primeira esposa deste. Foi Pitbug quem o iniciou no xamanismo na época em que
sua primeira esposa vivia e ele era considerado um membro dos wakavunhene.
Terminada a união entre os dois com a morte da mulher, Pitbug casou-se
novamente, desta vez fora do clã de sua esposa. Meu palpite é que os
acomodamentos de estrangeiros como Pitbug em um dos clãs palikur gera um input
de tensão que emerge quando este não pode mais ser domesticado via aliança
rompida com, por exemplo, a morte do conjugue ou uma grave agressão. O dado
que pode corroborar tal sugestão é que o dirigente do assassinato do pajé foi seu
próprio sogro do clã wayvoyene que arregimentou entre filhos e genros os seus
comparsas (Capiberibe, 2001: 201).
Pode parecer excessiva a expressão de Nimuendajú afirmando estarem os
homens palikur sob um “regime de saias” (Nimuendajú, 1926: 41) tal qual era a força
e controle que as mulheres sobre eles exerciam. Mas o poder severo que a esposa
mantinha sobre o marido deveria ser garantia de sua domesticação enquanto
estrangeiro, haja vista as complexas regras exogâmicas que presidem as
combinações matrimoniais palikur. Pitbug, duplamente estrangeiro – por ser pajé e
ter ascendência patri e matrilinear Galibi – era o perigo que desafiava a regra de
convivência entre os clãs palikur e, assim, se enquadraria apenas artificiosamente e
de forma precária dentro desta sociedade e à custa de uma tensão permanente. Não
por acaso foi acusado pelo cunhado e morto pelo sogro.
Consoante Arnaud, as relações de permutas de agressões xamânicas e de
serviços terapêuticos se estendiam para a vizinhança não-indígena, tanto da Guiana
Francesa quanto do rio Cassiporé. Na Guiana são notadamente os pajés Saramaká,
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
105
procurados por índios brasileiros do baixo Oiapoque devido à sua reputação de
competência terapêutica e para agressão, que produzem acusações contra
oficiantes brasileiros, especialmente aqueles da mesma ou da comunidade vizinha
do consulente (Arnaud, 1970: 15). Recordemos que as seqüências históricas de
relações entre as populações do baixo Oiapoque e habitantes da Guiana Francesa
envolveram os Saramaká desde, provavelmente, a época em que chegaram no rio
Oiapoque. Posteriormente passaram a explorar ouro na bacia do rio Uaçá e a
comercializar aviamentos com os índios, ao mesmo tempo que alargavam as
relações para as trocas matrimoniais e, certamente, xamânicas. Por causa de tal
histórico os pajés Saramaká são ainda hoje procurados por índios, seja Karipuna,
Galibi-Marworno ou Palikur, que moram em Saint Georges ou nas proximidades, ou
ainda em Cayene.
O inverso é o que caracteriza as relações com a população regional do rio
Cassiporé, limite leste da TI Uaçá (veja mapa 5) e região muito bem conhecida pelos
índios, tanto pelos recursos ecológicos que exploravam, como ovos de tracajá,
quanto pelas relações comerciais intensas que mantinham com os caboclos locais.
Ainda hoje essas relações comerciais continuam; de dezembro a abril, quando a
pesca do pirarucu está suspensa na área indígena para cumprimento do ciclo
reprodutivo desse peixe, barcos provenientes do Cassiporé entram no Uaçá
vendendo pirarucu salgado nas comunidades indígenas. A presença desses
comerciantes é também uma alternativa à venda de derivados de mandioca em
Oiapoque ou Saint Georges e por isso eles são aguardados em Kumarumã, aldeia
mais próxima do rio Cassiporé. Nos anos de 1960 Arnaud observou a prestação de
serviços clínicos xamânicos de pajés do rio Uaçá nas vilas ao longo do rio
Cassiporé, expediente vantajoso para os pajés, haja vista receberem pagamentos
em dinheiro e em bens materiais, dádivas não usuais no Uaçá para estas
retribuições (Arnaud, 1970: 11).
Não obstante tal fluxo de mercadorias e serviços xamânicos entre as
comunidades do rio Cassiporé e os índios do Uaçá e baixo Oiapoque, os pajés do
Cassiporé são, como todos os pajés brasileiros, reputados e tomados por perigosos,
pois consorciados a Karuãna brasileiros e indígenas, combinação que reúne
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
106
conhecimentos diferentes cuja síntese potencializa os poderes provenientes de cada
tipo. Ainda assim não é hábito que seus poderes de agressão sejam sublinhados
pelos pajés galibi-marworno ou karipuna, como fazem freqüentemente em relação
aos pajés Saramaká de Saint Georges e de Tampac, vila à jusante no rio Oiapoque.
Por mais de uma vez vi Levên acentuar relações xamânicas de cooperação e
agressão controlada17 entre pajés galibi-marworno e pajés “portugueses” do
Cassiporé, uma delas, inclusive, quando me narrava as provas pelas quais passou
por ocasião de sua iniciação no xamanismo (tema abordado no bloco seguinte).
A presença de segmentos xamânicos múltiplos e de origem variada (indígena,
saramaká, créole, brasileiro) compõe um campo regional de disputas paralelas
àquelas constitutivas da ação xamânica (por poder, força, prestigio) e dirigidas à
prestação de serviços especializados. Segundo um hábito existente até hoje, índios
do baixo Oiapoque residentes em Cayenne ou em Saint Georges ou ainda em visita
à Macapá consultam-se com pajés e outras oficiantes similares desses locais por
acreditarem em sua competência superior. O inverso é também verdadeiro;
habitantes da Guiana Francesa reputam igualmente saberes superiores aos pajés
indígenas, pois estariam eles mais próximos (em termos de comunicação) de fontes
de poder (pessoas invisíveis) provindas da floresta e dos rios. De tal maneira que
este campo concorrencial não seria desfavorável, no conjunto, aos pajés indígenas e
nem aos não indígenas, haja vista a recíproca dos consulentes quanto à relação
diferença / poder ritual.
“[...] os xamãs e os feiticeiros do Uaçá, vem sofrendo a concorrência de
assemelhados seus crioulos e saramacás da Guiana Francesa e
brasileiros do baixo Oiapoque e Cassiporé, os quais de quando em vez
são consultados pelos índios. Porém, alguns deles têm estendido
também as atividades até o âmbito dessas populações regionais”.
]Arnaud, 1970: 19[
17 Tratam-se das medições mútuas de força entre dois pajés que, confrontando seus exércitos de
Bicho, podem ir da simulação ao embate verídico.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
107
De resto, a equidade no campo regional de serviços xamânicos pode ser
atribuída à repetição por parte dos consulentes daquilo que os próprios oficiantes
consultados manifestam de certo modo: a convicção de que o poder aumenta
conforme a distância e as fontes de conhecimentos xamânicos às quais se tem
acesso.
Não obstante esses conhecimentos estarem distribuídos entre praticantes do
xamanismo – e incluo aqui os adeptos dos potás – há técnicas de revide utilizadas
contra pajés e que são perfeitamente acessíveis a não iniciados e aprovadas como
eficientes. Dadas algumas especificidades de sua execução, essas técnicas são (ou
eram) empregadas apenas para réplicas contra pajés da mesma comunidade da
vítima, o tipo de conflito mais comum na área dentre os que estão radicados no
xamanismo. Mas não por acaso. Uma tendência pretérita entre os Palikur na
identificação de autoria de doenças provocadas por agressão xamânica consistia na
imputação de responsáveis “de dentro” para vítimas individuais e “de fora” caso se
tratasse de uma epidemia.
“Epidemias, quase sempre, são mandadas por ‘iramrês’ de outras
nações indígenas, como a dos ‘Waiano’, ‘Emerenhon’, ‘Oiampi’, etc., ou
então povos sobrenaturais de nações extintas, como a ‘Maié’, cujos
espíritos ainda mantêm séria animosidade contra os pariukur, oriunda
de guerras prehistoricas”.
]Fernandes, 1950: 311[
Tal raciocínio pode ser explicado pela lógica da agressão que excluiria do
assalto, ao menos, o grupo de substância do agressor. Como em uma epidemia toda
a comunidade está sujeita à doença, elimina-se a possibilidade de que o autor do
feitiço seja alguém de dentro, não restando dúvidas de que a agressão foi obra de
um pajé estrangeiro ou invisível. Voltando às técnicas de revanche, elas consistem
primariamente na manipulação de objetos privativos do pajé que será atacado,
sejam peças de seu vestuário ou seus instrumentos rituais (maracá, banquinhos
zoomorfos e bastão).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
108
“A redução à impotência ou à morte de xamãs reputados como nocivos
tenta-se por várias formas. De um modo em geral eles entram em
conflito aplicando as próprias técnicas. Feiticeiros também costumam
‘trabalhar’ contra xamãs e vice-versa, sendo voz corrente no Urukauá
que a morte do xamã Lexan Yuyu foi provocada pelo feiticeiro Paul
Emille labonté (vulgo Sans-sous) Uma incapacidade temporário ou a
morte de um xamã pode ser provocada mediante a defumação e a
destruição de seus instrumentos de trabalho. Um velho Palikur, por
exemplo, nos revelou haver certa ocasião defumado o cesto onde um
xamã, seu desafeto, guardava os pertences, ‘a fim de afugentar os
maus espíritos’. Um jovem Galibi, por sua vez, queimou recentemente
todo o instrumental do xamã Yapahá para vingar um parente que havia
morrido de modo súbito dias após uma discussão havida entre ambos.
E tendo Yapahá falecido logo depois, foi tal coisa considerada como
conseqüência dessa ação de represália”.
]Arnaud, 1970: 11-12[
Fechando este bloco, resta considerar um aspecto importante que pode
responder, ao menos em parte, pelas diferenças entre as respostas dadas pelos
Palikur e pelos Galibi do Uaçá às agressões xamânicas e conflitos intracomunitários
do passado Os primeiros provocaram a morte ou neutralização de pajés através do
revide por meio de técnicas de agressão acessíveis a qualquer um, ao passo que os
Galibi recorriam com mais freqüência à agressão xamânica e mediação do
funcionário do SPI (Arnaud, 1970: 13). Por volta dos anos 1960, os Galibi já estavam
em bom número reduzidos ao assentamento de Kumarumã e acostumados à
presença do agente do SPI entre eles, embora o PIN local só tenha sido construído
na década seguinte. Os Palikur, dispersos e vivendo em ilhas ao longo do médio
Urukauá, assinalam hoje as agressões xamânicas, corriqueiras entre eles no
passado, como o fator que impedia a reunião das famílias em um assentamento
único e harmonioso (Capiberibe, 2001: 200). Além disso, a propensão à
independência fazia com que fossem mais resistentes à tutela e presença do SPI
que os Galibi do Uaçá, não havendo o hábito de solicitar mediação externa para os
conflitos entre as famílias. Entendo, pois, que tanto a presença e aceitação do SPI
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
109
de forma distinta para os Palikur e para os Galibi do Uaçá, permitindo maior
influência do órgão entre o segundo conjunto; quanto as diferenças entre o viver
junto dos Galibi e o viver separado dos Palikur, contribuíram para as distintas
respostas dadas às acusações de agressões xamânicas. Isto poderia também
explicar porque os Palikur concebem que adotaram os assassinatos de pajés após
empreenderem apenas vinganças simétricas, com recurso à feitiçaria (Capiberibe,
2001: 201), ainda que as fontes históricas os contradigam.
Da guerra e da troca
a) Reciprocidades
i - Iniciação ao xamanismo
O xamanismo é no baixo Oiapoque um conjunto de teorias e práticas que
possibilitam a administração de relações entre domínios cosmológicos diversos onde
estão pessoas igualmente diversas. Trata-se de interferir na entropia cósmica a favor
da sociedade e dos homens, manipulando, negociando, controlando ou agenciando
as múltiplas psyches (intencionalidades) com as quais o pajé lida. Tal conjunto
precisa ser aprendido pelo iniciado, ainda que o pajé neófito não passe por uma
transmissão formal de conhecimentos porque é filho de Bicho ou pajé de
nascença.18 Neste caso nascerá com “olho de Bicho” com o qual enxerga as
pessoas invisíveis, vê ao longe e antecipa-se aos eventos porvir, mas precisará de
um pajé tutor que o ajude na aquisição/manutenção de espíritos auxiliares e o
oriente a assegurar a sua própria vida mediante uso de técnicas preventivas de
defesa (como banhos com infusões feitas à base de árvores-pajé). Não obtive um
conjunto unívoco de ações ou estágios que compõem a iniciação de um pajé entre
os Karipuna e Galibi-Marworno, já que as histórias de vida da maioria dos oficiantes
18 A expressão “pajé de nascença” é utilizada pelos Karipuna e Galibi-Marworno; os Palikur dizem
simplesmente ihamri (pajé), diferenciando do aviri, soprador (Capiberibe, 2001: 202). Para os três
grupos o índice forte de um pajé de nascença é a gravidez gemelar; para os dois primeiros é ainda
um nascimento prematuro. Em todos os casos o pajé de nascença é produto da união de uma pessoa
invisível (Karuãna, Bicho, Yumawali) com uma mulher cuja gravidez ocorreu durante o período de
suas regras.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
110
atualmente em atividade entre comunidades desses dois conjuntos manifestam
roteiros muito diferentes de iniciação, desde aqueles clássicos, com a passagem do
neófito por etapas formais de aprendizagem, até os que evidenciam uma introdução
quase autodidata. Não obstante a aparente pluralidade de procedimentos, ações,
regras e condutas na passagem para o xamanismo, o acesso à comunicação com
as pessoas invisíveis é franco e democrático, desde que se cumpra um script ritual
mínimo cujo papel é fazer a aproximação entre as partes. De acordo com Levên:
Qualquer pessoa vira pajé. Têm sete tipos de remédio, banhos, só
banhos. Depois dos sete, você vai provar o sangue do mururé-pajé, do
tawene. Tem um bem claro e outro bem grosso. Toma primeiro o claro,
bem pouquinho. Depois toma o grosso. Aí fica logo porreado (como se
tivesse ébrio), não se agüenta e pegam ele, devagar, e colocam pra
deitar. Quando ele dorme não pode ter nada de barulho, só duas ou três
pessoas acompanhando, que vão servir de palikás para ele. Está tudo
pronto lá; pajé está ensinando aos palikás e às koiaminãs. Vão dar a
bebida para ele beber [do tawene]. Se ele se tratar bem, não precisa
muito, apenas um pouquinho de cada bebida, da grossa e da clara. Aí
não se agüenta e vai dormir. Quando dorme, vão ver o que ele fala.
Ficam quietos, conversam com os Karuãna. Quando acorda está pronto
já, está pronto para bater o pé no tukay.
Tem de tomar banho de tawene para virar pajé?
Toma banho de tawari, de nuri nuri grande e pequeno, de iawê, de
takaiê, de arari e de apicuriwá. O tawene não, é só para beber. Quando
fizer tudo isso está pronto. Se guarda bem e vai ser pajé. Quando sonha
vê tudo e também quando fuma um cigarro com tawari, paliká19 e
tawene, clareia a vista e ele enxerga tudo.
[Levên. Kumarumã, junho de 2005]
De todo modo, estarão presentes: 1) a aprendizagem de cantos de
comunicação com as pessoas invisíveis; 2) o recurso a banhos com cascas de
árvores-pajé; 3) uso intenso do tabaco (normalmente envolto na finíssima casca da
árvore tawari) e; 4) abstinências relacionadas ao trato com as pessoas invisíveis
19 Também uma árvore pajé.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
111
dotadas de formas vegetais, tais como evitação de alimentos portadores de pitchiu,
como peixes e jacaré.
Expedito Arnaud, no entanto, fornece um roteiro geral de iniciação para os
pajés novatos do baixo Oiapoque:
“Durante um período que pode variar entre 20 e 30 dias, o candidato
fica recluso em uma palhoça sendo alimentado apenas com mingaus e
pequenos pássaros e sem poder entreter relações sexuais. O mestre
lhe ensina então a entrar em transe fumando cigarros de tabaco com
invólucro de tauari, bem como a invocar os sobrenaturais por meio de
canções acompanhadas com a percussão do maracá. Ao mesmo tempo
lhe dá para ingerir infusões de água com tabaco que atuam como
vomitórios, aplicando-lhe também banhos feitos com líquidos e cascas
de árvores reputadas como possuidoras de virtudes mágicas. Uma vez
considerado apto pelo mestre pode o iniciado entrar no exercício da
função, mas deve submeter-se a novos treinamentos se pretender ser
um grande xamã”.
]Arnaud, 1970: 4[
Desconheço a abrangência atual dessa propedêutica, mas, como é possível
depreender cotejando o roteiro com o que foi dito imediatamente antes, algumas
ações repetem-se, como o uso do tabaco, banhos e aprendizagem de cantos. A
seguir apresento algumas narrativas e diálogos sobre processos de iniciação ao
xamanismo e demais contextos xamânicos com o objetivo de marcar as relações de
reciprocidades nelas presentes. Note-se que as relações de cooperação que surgem
das primeiras narrativas são interpessoais e dizem respeito às relações
intercomunitárias, interindígenas ou com não índios envolvendo diretamente pajés
do baixo Oiapoque.
Relações dessa mesma natureza unindo conjuntos sociais, como famílias ou
comunidades inteiras, estão presentes na realização dos rituais xamânicos, como no
turé e, em escala menor, nas xitotós.20 Para uma etnografia das redes de
20 Sessões de cantos e consultas com as pessoas invisíveis do pajé que são solicitadas a fazerem
diagnósticos para doenças
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
112
cooperação interfamiliar presentes na produção dos complexos rituais de turé no rio
Curipi, há o trabalho de Tassinari (1998) focando a reprodução do modelo de
sociabilidade dessas famílias através do ritual (ib.: 252). No Capítulo V apresento
uma etnografia do turé galibi-marworno e relações intracomunitárias de cooperação,
acionadas por meio da produção ritual serão abordadas.
N.1 – Iniciação ao xamanismo
Raimundo Iaparrá. Aldeia Piquiá, BR-156 (maio/2005)
Eu tinha uns quinze anos e um dia estava lá no rio de Kumarumã, perto
de uma pedra grande, na beira do rio. Morava gente [na pedra] e nós
morávamos no outro lado. Lá um dia eu vi um rapaz bonito, de cuhone.
Todo dia ele perturbava a gente, dizia em meu sonho que queria fumar
comigo. Mas eu não sabia o que era. Tinha um pajé em Kumarumã e eu
falei para ele: “Todo dia eu vejo um rapaz bonito”. Ele me olhou bem e
disse: “Vê se enxerga mais ele”. Eu falei: “Todo dia eu sonho com muita
gente; eles me levam, trazem um negócio que parece um forno e dizem
para eu pular. Eu pulo em cima e vão me levando”. Era assim o
começo. Eu enxergava gente; se ia sozinho na roça, no rio, eu
enxergava pessoa bonita, com seus materiais (adornos), tudo. Gente.
Me convidavam para ir com eles. Eu morava em Kumarumã. O finado
meu padrinho morava em uma pedra grande assim, com a esposa,
filhos, tudo. Um dia eu atravessei o rio, cheguei lá e disse para ele:
“Aqui tem uma pessoa bonita, debaixo dessa pedra grande”. Ele disse:
“Será que você vai virar pajé?”. “Eu não sei, mas eu estou vendo muitas
coisas. Aqui tem uma Cobra Grande, aqui debaixo”. Ele olhou bem para
mim: “É verdade, aqui tem Bicho. Antigamente os pajés falavam a
mesma coisa”. Eu falei: “Hoje eu estou vendo as mesmas coisas. Está
me dando dor de cabeça”. “Sabe o que é pra fazer?”, ele disse, “faz um
banho de cerrado para você, de todo tipo de cerrado. Se outro pajé vir
(as pessoas invisíveis) ele vai tirar tudo e você morre”. Meu padrinho
estava explicando para mim. Eu não podia ir sozinho na roça ou ir caçar
que via gente me chamando. Mas gente bonita, com todo material e
pintura. Era gente mesmo, como as pessoas que a gente conhece. Eu
ficava olhando e depois desaparecia. Eles não deixavam eu andar
sozinho, porque Bicho podia me levar. A minha mãe, quem me criou,
disse: “Eu vou mandar buscar o pajé”. Ele veio, cantou de noite e disse:
“Não é nada. É o Bicho que gosta de você. Mas eu não posso tirar ele,
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
113
senão você vai ficar doente. Vou fazer remédio para você”. Mas ele tirou
quase a metade dos Bichos de mim e eu fiquei assim. Passou remédio
e banhos para mim. Lá um dia eu peguei o tawari. Ele veio cantar e
disse: “Eu vou chamar os Bichos e você vai segurar o maracá e
sacudir”. Quando foi a hora, ele me chamou. Tinha muita gente; ele
suspendeu o tukay e falou para as pessoas: “Vocês tenham cuidado.
Aprontem os cigarros e quando ele (Raimundo Iaparrá) cair joguem
fumaça nele, porque o Bicho é forte”. Eu sacudi o maracá, bati a perna e
quando vi não agüentei. Eu cantei, mas não agüentei; cai e começaram
a cantar e a me defumar. Eu acordei de novo e me colocaram no banco
do pajé para sentar. Eu sentei e me sacudiram de novo. Me seguravam,
eu ficava tremendo. E é pesado. Foi assim até... Eu peguei o cigarro e
comecei a fumar, fumar, fumar e pronto. Eu fumei com eles, eles
fumaram comigo, eu sacudi o maracá e aí me largaram. Depois eu
cantei o resto da noite. Mas tinha Bicho que me jogava no chão, eu não
dava conta. Quando amanheceu o dia eu fui dormir, passou uma
semana eu disse “vou de novo”. Aí comecei de novo, até me acostumar.
Você chegou a ficar doente?
Não, porque me davam banho, muito banho. Ele (o pajé) não tirou os
Bichos de mim. Os Bichos não gostavam dele. Se gostassem iam com
ele e eu morreria.
Se os Bichos gostassem poderiam ir com o pajé?
Sim, se gostar do pajé os Bichos o seguem, senão eles não vão, o pajé
fica só com os Bichos que já tem.
Porque os Bichos se agradaram de você?
Ninguém sabe, é a vontade da pessoa (dos Bicho) que manda. Você vai
numa loja, tem muita roupa lá, mas você não quer essa daqui, escolhe
uma que lhe agradou. A mesma coisa são os Bichos. Se eles gostam de
você, é só para você, não é pra mim.
A iniciação de Raimundo Iaparrá apresenta um fato comum a jovens iniciados
que é a intervenção direta da família – quase sempre a mãe ou o pai – no seu
processo de xamanização. Geralmente é por meio de seus consangüíneos que o
jovem é conduzido até um pajé tutor que lhe orientará e facultará a aproximação
controlada com os Karuãna por meio do ritual. Aqui é inevitável um paralelo entre
esta intervenção de consangüíneos e a constituição de alianças entre afins. Sabe-se
que um pajé maduro mantém com as pessoas invisíveis a ele associadas uma
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
114
relação simbólica de consangüinidade hierarquizada, pois elas são “como os filhos
dele”. Inversamente, essas pessoas poderão ser como seus afins, pois um pajé, com
estréia tardia, deve “dar” a elas o seu filho mais novo, uma prescrição raramente
observada hoje. Tem-se, pois, um processo de domesticação de pessoas invisíveis:
aliança com afins, “dando” um filho, que depois são consanguinizados ao viram eles
mesmos “filhos” do pajé. Contudo os Karuãna são, de fato, “como se fossem” filhos
do pajé, pois chamam-no de bopé (termo para WF em patois) e nunca de papá (F).
É exatamente o mesmo recurso à tectonímia ao qual fazem uso, sobretudo, os
Galibi-Marworno para consanguinizar os afins de um grupo local (vide Capítulo I).
Retomando a relação neófito-pajé tutor através do esquema da aliança
simbólica entre famílias (a mãe que entrega o filho ao pajé), chegamos ao ponto em
que o iniciado ocupa posição simétrica a dos Karuãna “filhos” do pajé, as pessoas de
quem o pajé aproximará o iniciado. E no fundo o processo de iniciação consiste em
fazer com que o neófito seja um pouco como os Karuãna e adquira “olho de Bicho”
com o qual enxergará no Outro Mundo e fará prognósticos divinatórios. As relações
de reciprocidade entre iniciado e seu pajé tutor são análogas àquelas que este
mantém com seus próprios Karuãna e que, por sua vez, correspondem ao tema
geral da relação entre afins e consangüíneos.
N.2 – Iniciação ao xamanismo
Levên, aldeia Kumarumã (junho/2005)
Eram os Bichos que estavam em cima dele?
Eram. “Você canta com ele (o maracá), dá fumo pra ele, dá bebida, vê o
que ele quer beber e cantar. Eu não posso mais fumar, não posso
beber. Só posso passar pra você; se você não quiser também vai ter de
assumir”. Quando ele me entregou (o maracá) eu corri pra Cecília:
“Pega esse pessoal (os Karuãna), eu não quero eles”. “Eu não posso
pegar, eles são mais fortes que eu. Remédio não tem pra passar pra
você, nada. Seu remédio é cantar. Se não quiser cantar o remédio é sua
morte. Pense bem o que é melhor pra você”. Aí eu fiquei pensando,
pensando, pensando. Estava com vergonha (de cantar). “O que é que
vou fazer? Vou até Macapá”. Eu fui falar com meu amigo pajé UrubuKaapor. Falei com ele e ele me disse: “Olha, meu amigo, isso não é
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
115
nada. Sabe de uma coisa? É pra você cantar, seu remédio é canto. É
trabalho, seu remédio é trabalhar. Porque você não vai querer
trabalhar? Aqui eu não posso fazer remédio pra você. Eu vou explicar
bem: esse remédio que você quer, pra não precisar fazer trabalho de
pajé, não tem. Você vai morrer se não cantar”.
Você estava doente?
Estava com uma dor, sem dormir bem. Era assim que eu estava.
Arsênio tinha morrido?
Já, fazia um mês. E virou tudo pra mim: “Ai, ai, ai”. “É pra você
trabalhar, vai ficar bom. Essa dor vai passar se você fizer trabalho, der
fumaça pra eles. Vai melhorar”. Mais pra frente eu comecei; ainda não
estava muito velho pra morrer. Cheguei lá em Oiapoque, na casa de
Cecília: “Vai cantar mesmo?”. “Eu vou, o que é que eu posso fazer?”.
Mas eu estava com vergonha. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes
e tinha de fazer agora... Na minha casa, aqui, ninguém sabia de nada.
Só eu. Eu armava tukay, cantava, fumava e ninguém aqui sabia [...] A
primeira vez que cantei aqui, quando deu a hora de cantar e armar o
tukay eu tive vontade de me esconder. Estava com vergonha.
Levên narra como foi o seu processo tardio de iniciação (após ter 60 anos de
idade), substituindo seu irmão mais velho, Arsênio, que fora primeiramente
assediado pelos Karuãna de seu pai, o grande pajé Chinois.21 Tendo declinado ao
xamanismo, Arsênio não reverteu os efeitos da doença ocasionada pela presença
dos Karuãna em seu corpo e morreu, deixando para Levên o poderoso maracá de
Chinois e o conselho para ele tornar-se pajé. De meu ponto de vista, há duas
considerações a fazer: a primeira aquisição de espíritos auxiliares de Levên se dá
com uma “transfusão” de Karuãna que recebe de Arsênio, episódio incomum nas
narrativas sobre iniciação e; há dois pajés protagonistas no episódio que são
determinantes para a iniciação de Levên, estabelecendo com ele forte relação de
cooperação.
Quanto à transfusão de Karuãna, que a edição da narrativa deixa apenas
entrever, mas que será retomada no Capítulo III, consiste em persuadir esses
espíritos auxiliares a deixarem de assediar uma pessoa e irem para uma outra,
21 Lux Vidal informa que eram os Karuãna do banco ritual de Chinois, guardado por Arsênio, que o
assediavam, levando-o a se livrar do banco (Vidal, 1998).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
116
comumente o pajé que dialoga com eles e que, neste caso em especial, era Cecília.
Trata-se de uma pajé galibi-marworno que mora na cidade de Oiapoque já há
bastante tempo e a quem Levên chama de tia, mesmo ela sendo dele FZD (vide
Diagrama 1 – Genealogias Xamânicas). Assim como o pajé Urubu-Kaapor amigo de
Levên que mora em Macapá, Cecília é uma pajé que, tendo se mudado para a
cidade, teve contato com conhecimentos rituais diversos (umbanda, mesa branca,
espiritismo etc.) extraindo desse acesso a força que atribui-se ao seu xamanismo
(Gow, 1996).
Portanto, as relações de cooperação com pajés experientes que marcam a
entrada de Levên no xamanismo são também um contato com cobiçados
conhecimentos xamânicos típicos de “pajés brasileiros” o que de resto marcará sua
trajetória ritual (veja adiante em N.1 e N.2 – Trocas de conhecimento) através do
contato contínuo que manterá com esses dois pajés urbanos. Não é à toa que usa o
nominativo tia para referir-se à sua prima Cecília, posto que aqui o que prevalece é
um, digamos, parentesco de iniciação ao xamanismo cujo termo tia (equivalente a
tan em patois), uma geração acima da de ego, expressa distância vertical
(hierarquia) e proximidade horizontal (cognação). Essa relação de cooperação com
sua “tia” Cecília e com o pajé Urubu-Kaapor de Macapá é suporte tanto para as
atividades rituais quanto clínicas, posto que é Cecília quem o auspicia nos turés e
nas xitotós, enquanto o pajé de Macapá fornece-lhe remédios e fórmulas que Levên
utiliza em seus pacientes.
N.3 – Iniciação ao xamanismo
Levên, aldeia Kumarumã (outubro/2004)
Tapiawara é o Bicho do mato. Em todos esses lugares tem Tapiawara.
O rapaz (Pajezinho) foi deixado no [igarapé] Pairá Marapinin; estava
muito doente, todo cheio de feridas. Os cunhados dele embarcaram na
canoa e levaram-no para a cabeça desse igarapé para ele morrer. Ele
pensou: “Vou morrer, eu não posso andar nem fazer nada”. Ele então
dormiu. No sonho dele veio uma pessoa, um homem, chamá-lo: “O que
é que você está fazendo aí?”. Ele disse: “Meus cunhados me largaram
aqui. Eu sei que vou morrer”. “Não, meu irmão”, assim mesmo que falou
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
117
pra ele, “você não vai morrer não. Tem remédio para você. De manhã
eu venho te buscar e nós vamos para casa. Lá vou te dar mingau,
comida e curar você”. Chegaram de manhã duas pessoas, dois homens:
“Você lembra bem o que lhe dissemos?”. Aí carregaram-no até a
cachoeira do Tapamurú. Tinha muita gente, muita gente mesmo lá. Ele
viu muita gente. Deram remédio, cuidaram dele, deram comida. Com
três dias ele estava bom, já podia tomar banho no rio.
Quem o curou?
Os Bichos do mato, gente do Outro Mundo. É gente encantada.
Tem pajé no Outro Mundo?
Foi um pajé quem curou ele, pajé do Outro Mundo que é um outro tipo
de pessoa. Pessoa encantada. Aqueles mesmos que o deixaram lá no
igarapé acharam que ele tinha morrido. Pai, mãe, todos acharam que
ele tinha morrido. Os Bichos resolveram que iam levá-lo até seus
parentes para que eles vissem como o rapaz estava: “Até agora sua
mulher está chorando”, disseram. “Na outra semana vai ter grande turé,
seu sogro vai fazer um grande turé” – o sogro dele era um pajé – “e nós
vamos”. Essa gente encantada só faz isso: dançar e cantar e beber
caxiri, não tem outro serviço. Quando chegou o dia disseram: “Se
arruma todo, toma banho, que nós vamos buscar os Cavalos”. Foram
sete pessoas; o pajé que o curou foi também. Eu fumava, fumava e ia
por cima do mato. Cheguei na cabeça do Warapucu, perto de um
igarapezinho, e o Cavalo deu um grito. Cheguei na montanha seguinte e
deu outro grito. Parecia barulho de navio apitando. Quando chegou já
na beira do rio deu um outro grito e o jeito foi começar a correr para
perto do lakhu onde estavam dançando. Correu de medo, pois ele não
sabia o que era e estava em uma ilha no rio. Aí apareceram; deram um
pulo de lá e caíram no rio, nem caíram no campo. Só um pajé ficou
rondando, os outros todos caíram para dentro do rio, para a canoa. Aí
apareceram as sete pessoas. Ninguém conheceu pajezinho na hora, ele
estava diferente, tava valente. Quando reconheceram, até os parentes
correram, foram parar na aldeia. O pajé foi ver e disse: “Não é nada”.
Ele veio para aldeia, ofereceram bebida, ele foi ver os filhos e falou com
eles. A mulher chorava para se acabar e o agarrava. “Eu não vim para
ficar”. Conversaram, deram conselho a ele, mas ele disse que quando
amanhecesse o dia iria embora. Aí os pajés que o curaram
persuadiram-no a ficar.
Eram Bichos?
Sim, Bichos. Disseram: “Fica com eles, passa uns dias com seus
parentes. Chegando lá no Pairá Marapinin a gente vai te buscar. Não
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
118
precisa nem avisar. Você não vai adoecer mais e se não quiser morrer –
você sabe que adoeceu para morrer – vem com a gente. Onde a gente
mora nunca se morre, mas no seu lugar tem morte. Nosso mundo é
junto com o mundo”. Aí eles beberam, agradeceram, deram cantos para
eles e foram embora, voltaram para o centro do mato. Esse Cavalo
queria encantar o rapaz para que ele virasse pajé e cantasse, como eu.
Mas ele não pode, não agüenta o resguardo. Ele também não tem gente
para fazer as coisas dele, o que ele quiser, não tem quem ajude. Tem
pai, tem filho, tem mãe, tem esposa, mas ninguém ajuda não, ninguém
quer. Então, ele falava comigo: “Vem tirar esse negócio de mim que eu
melhoro. Passa remédio pra mim”. Ele tremia, ele tem 700 pessoas
(Bichos)! “Pega essas pessoas, dá caxiri e tawari para elas no seu
trabalho. Me deixa livre”. Então comecei a tirar os Bichos dele e passei
remédio para ele. A mulher dele estava pulando, dizendo “não quero,
não quero, não quero ele com os Bichos”. Jogavam peixe em cima dele
(para afugentar os Karuãna) e ele, coitado, caído lá, tremendo,
chorando e dizendo que não aceita. Eu então falei que tirava, mas ele
teria de dizer na frente do pai que não queria os Bichos, para depois
não ter problemas comigo.
Trata-se do processo interrompido de xamanização de Tolan (conhecido por
Pajezinho), um rapaz da aldeia Kumarumã que fora assediado violentamente pelos
Karuãna, mas que, por pressão de sua família, os recusou. É um texto sobre uma
quase iniciação capaz de condensar passagens ricas sobre relações de cooperação
fundadas no xamanismo. O relato mistura realidades onírica e factuais – no limite
elas são a mesma coisa – e demonstra a participação de Levên, junto com outros
pajés, na saga fabulosa para livrar Pajezinho das pessoas invisíveis que
primeiramente o conduziram à doença grave e depois o curaram. Vê-se a repetição
de relações de cooperação que estiveram presentes no episódio da iniciação de
Levên, mas aqui é ele próprio quem tenta fazer uma transfusão de Karuãna, tirandoos de Pajezinho para adicionar ao seu repertório de espíritos auxiliares. Deve-se
entender, contudo, tal “transfusão” como uma passagem voluntária e acordada com
os Karuãna ou Bicho já que eles são pessoas e, assim, com vontade e
intencionalidade próprias.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
119
Uma outra história de iniciação xamânica merece ser contada. Não possuo
dela registro gravado, portanto farei a síntese que consta em meus cadernos de
campo. É sobre a introdução no xamanismo do poderoso pajé e hoje evangélico
Aniká, também ex-cabo do Exército Brasileiro, tendo inclusive estado na guerrilha do
Araguaia nos anos 70; chefe de posto e cacique no Encruzo por mais de 30 anos;
um dos iniciadores da aldeia Manga no rio Curipi e importante liderança karipuna.
Com 12 anos de idade ele fez sua primeira xitotó na aldeia Espírito Santo (rio
Curipi), casando-se no ano seguinte. Aos 18 anos de idade e morando no Marupi
com sua família, cerca de um dia a remo abaixo da Vila Brasil (rio Oiapoque), sua
mãe o levou até a vila Tampak, no rio Camopi, a fim de passar por ensinamentos
xamânicos com pajés Saramaká. Ficou trinta dias experimentando um intensivo
treinamento, submetido a uma dieta alimentar que consistia apenas de uma xícara
pequena de cachaça pela manhã, outra ao meio dia e outra ainda à noite,
acompanhadas somente por cigarros de tawari que ele fumava compulsivamente.
Seu treinamento foi conduzido por Panô, pajé que depois mudou-se para a vila
Tampac localizada no baixo Oiapoque.
A escolha da mãe de Aniká pelos pajés saramaká deu-se pelas boas relações
que os pais dele mantinham com os Saramaká vizinhos e porque seus pajés são
reputados como perigosos e conhecedores de fortes tchembuá, feitiços que nenhum
pajé índio consegue reverter. Após a experiência no Tampak, Aniká esteve no rio
Camopi onde permaneceu também um mês com os pajés waiãpi Kaimã, Chandele
(filho do primeiro) e Anapi.22 Segundo Aniká, ele foi “garantido” por esses três pajés,
tendo seu corpo e espírito trabalhos e tornando-se imune às agressões xamânicas
de outros oficiantes. Ao contrário de sua estadia no Tampac, no Camopi não havia
restrições alimentares tão severas e sua alimentação consistia de beiju e carnes de
caça preparadas à maneira da cozinha waiãpi no Camopi: moqueada e sem sal.
Durante os estágios xamânicos no Tampac e no Camopi, Aniká foi preparado
para receber Karuãna waiãpi e saramaká e sempre pode contar com o auxílio de
seus ex-mestres para protegê-lo de Karuãna de pajés hostis durante os trabalhos
rituais ou na vida cotidiana. Esta era a retribuição deles pelos serviços que Aniká
22 Esses pajés podiam também ser Emerillon e não Waiãpi (Dominique Gallois, informação pessoal).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
120
lhes prestara traduzindo os Karuãna que falavam línguas conhecidas por ele e que
chegavam durante os trabalhos rituais feitos pelos mestres de Aniká. Quando
resolveu se aposentar das atividades de pajé procurou por Panô no Tampak do
baixo Oiapoque e lhe comunicou sua decisão.
Estão claras as relações cooperativas com “pajés perigosos” mantidas por
Aniká ao longo de toda sua carreira xamânica. Talvez a escolha por ter estes pajés
como mestres tenha sido uma estratégia deliberada: antes ter pajés saramaká e
waiãpi como aliados a tê-los como inimigos potenciais. E dentre as permutas
estabelecidas estão conhecimentos específicos adquiridos ao longo das biografias;
conhecimentos xamanísticos por parte daqueles cujo pai ou avô tinha sido pajé e de
línguas por Aniká que, como militar e mesmo antes, havia percorrido muitos lugares
e conhecido hábitos e modos de vida diversos.
ii - Trocas de conhecimentos
N.1 – Trocas de conhecimentos
Wet e Hélio Labonté, aldeia Mangue, Urukauá (fevereiro/2007)
Wet: Tem muito pajé waiãpi. Antigamente tinha forte pajé waiãpi, mas já
morreu: Kaimã. O filho dele chama Chandele.
Você os conheceu?
Eu conheci. Kaimã antigamente estava aqui.
Aqui no Urukauá?Ele morou aqui?
Ele ficou quase dois anos aqui. Quando ele chegou foi lá com meu vovô
(o pajé Guiome), ficou lá com ele trabalhando, fazendo farinha muita
aqui. Teve muita pessoa que veio aqui. Kaimã chegou com maracá
grande dele, de manhã cedo, do Oiapoque. Foi pra casa de meu vovô e
pediu licença pra cantar. Tirou o maracá dele e cantou (Wet imita o som
grave de um canto monotônico). Meu vovô ficou escutando ele.
Hélio Labonté (traduzindo explicação de Wet): Ele estava cantando
isso pra avisar que já tinha chegado aqui, igual a uma ligação de
telefone.
Estava avisando ao Camopi?
Wet: É, ao Camopi, avisando que estava aqui já.
Kaimã veio sozinho?
Não, com esposa dele. Tinha muita gente com ele, acho que vinte e
cinco pessoas.
Tudo Waiãpi?
É, Waiãpi.
Do Camopi?
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
121
Sim.
Vieram fazer o que aqui, dançar turé?
Não, não era dançar turé. Vieram ajudar a gente a fazer farinha, tirar
tapioca. Trabalharam muito.
Deixa eu vê se entendi. Waiãpi já era amigo de Palikur? Kaimã conhecia
gente aqui?
Primeiro ele chegou aqui lá pra cima, na terra. Ele veio pra terra.
Hélio Labonté (traduzindo explicação de Wet): Primeiro Kaimã estava
passando por terra e viu tipo um rio lá no mato. Vieram na direção do
rio: “Aonde é esse rio?”. Depois saíram pra cima, tinha uma pessoa
morando lá e que chamava Yoyômin. Foram conversar, mas um não
entendia a língua do outro. Depois voltaram para o Oiapoque, passaram
por fora, pelo rio. Do Oiapoque pegaram o oceano (Baía do Oiapoque) e
vieram direto pra cá. Chegaram no Encruzo, tinha um brasileiro
mandando lá (agente do SPI), Ceará. Perguntaram onde era o rio
Urukauá. “É lá pra cima ainda”. Vieram numa canoa comprida, com
vinte e cinco pessoas. Bem cheia. Ceará disse: “Vão direto. Quando
virem dois ramos do rio, pega o da esquerda”. Aí eles vieram direto pra
cá, falaram com Guiome, que era o pajé.
Eles estavam passeando?
Hélio Labonté (traduzindo explicação de Wet): Ele disse que Waiãpi
vieram pra cá porque aconteceu um problema na aldeia deles. Tinha
outros índios que estavam brigando com eles.
Eram Waiãpi também esses?
Wet: Eram Ulkiani.
Hélio Labonté: Mataram eles muito, acabaram com todas as comidas
da cultura deles. Por isso eles vieram procurar aqui como fazia farinha
para levarem pro pessoal deles.
As relações de cooperação ritual entre os Palikur, Waiãpi e os “índios do
Camopi” foram referidas páginas atrás quando utilizei-me de uma descrição de
Nimuendajú sobre um turé e uma festa em homenagem ao mestre dos jacarés que
ele assistiu no rio Urukauá nos anos de 1920. No diálogo acima transcrito, vê-se
novamente permutas de conhecimentos, mas de uma outra ordem. Dessa vez não
há trocas rituais envolvidas. Chama a atenção o fato dos Waiãpi terem ido ao
Urukauá a fim de reaprenderem a fazer farinha com os Palikur, após terem sido
mortalmente atacados por “índios Ulkiani” que acabaram “com todas as comidas da
cultura deles”.
A julgar pelas explanações de Nimuendajú, dificilmente Waiãpi e Palikur não
mantinham relações anteriores amistosas, posto que o lugar que os estrangeiros
ocupam no gradiente das distâncias sociais no baixo Oiapoque os coloca mais perto
da agressão e da feitiçaria que da cooperação e da amizade. Para que a posição de
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
122
agressor potencial se reverta é preciso adotar processos de domesticação, seja por
meio das alianças matrimoniais, seja por meio da cooptação das pessoas invisíveis
e sua transformação em “filhos do pajé”. Contudo, sabemos que tais processos não
produzem posições fixas ou irrevogáveis e daí a necessidade constante de reafirmar
a proximidade com a diferença que se quer tornar semelhante, seja por meio do
parentesco produzido na convivialidade cotidiana de um grupo local (Overing &
Passes, 2000; Overing, 1999) ou do ritual que imprime a ordem da cultura sobre a
natureza (Clastres, 1972: 27; Lévi-Strauss, 1962). E os Waiãpi, segundo ponderei,
alcançaram o equilíbrio ótimo nessa escala de alteridade, estando a meio caminho
entre a cooperação e a agressão xamânicas. De todo modo, uma investigação
apurada sobre as relações históricas entre o baixo e alto Oiapoque (onde está o
Camopi) está por ser feita e meu palpite é que, considerando a presença muito viva
do Camopi entre os índios do Uaçá, Curipi e Urukauá (seja no domínio do
xamanismo ou na prestação de serviços e colocação de mão de obra sentido B.O.
A.O.), tal empresa traria bons rendimentos para uma melhor compreensão das
transformações e permanências de redes de relações interindígenas numa área
ampliada.
Retomando a narrativa de Wet sobre a visita feita pelos Waiãpi ao Urukauá
em meados dos últimos anos 40, há supostamente uma relação anterior
estabelecida entre Kaimã e Guiome, ambos pajés em seus grupos e fortes
lideranças. A reaprendizagem pelos Waiãpi do processo de produção da farinha de
mandioca e seus derivados deve, certamente, a estas relações cooperativas préfixadas, mas cuja natureza desconheço. O fato é que, ensinando aos Waiãpi a
indústria da mandioca, os Palikur se colocam em posição simétrica aos heróis
culturais doadores de importantes conhecimentos, ascendendo a vantagens e
encargos no circuito das dádivas.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
123
N.2 – Trocas de conhecimentos
Levên, aldeia Kumarumã (julho/2005)
[...] Não vê esse gadô de Macapá meu amigo, sobre quem eu falei? Ele
trabalha com todos esses negócios. E vira Bicho mesmo. A mulher dele
estava me falando, ele tinha saído, ela chegou pra conversar e disse:
“Meu marido é Bicho, é gente, mas é Bicho. Não é toda semana, mas
tem sexta-feira que ele saí, vai lá na beira d’água. O Bicho (Cobra
Grande) bóia e ele pula em cima. Depois some na água, seis e meia
para sete horas da noite”. Eu mesmo cansei de levá-lo: “Vamos lá na
beira que eu vou passear. A cidade é grande, lá a cidade é grande”.
Chegava perto d’água, pegava o charuto dele, botava fumaça; não
demora e o Bicho boiava. Grande. Ele subia e sumia no fundo. Uma vez
ele falou: “Vamos comigo, vamos comigo pra você ver como é bom lá”.
Você não quis ir?
Não, fiquei com medo. Sabe aonde ele vai? Ele vai para o centro do
mar. É lá que tem gente bonita, tem mulher bonita, tem cidade grande.
No fundo d’água.
É grande como Macapá?
É maior, como capital grande.
Tem tudo que tem na cidade?
Tudo, é do mesmo jeito. É diferente, porque é no Outro Mundo. Ele
dizia: “Vamos amigo, vamos comigo pra você conhecer como é e
aprender coisas lá”. Eu pensava: “Eu posso chegar bem, mal ou morto.
Eu não vou não”. Eu também estava na CASAI, não podia sair. Eu
queria ficar vinte ou trinta dias trabalhando junto com ele pra me formar.
“Se você passar vinte ou trinta dias, trabalhando comigo, você vai se
formar mesmo”.
Essa cidade aonde ele vai é só de amigos dele?
É sim. Ele me diz que o remédio que ele tem vai buscar lá. Quando falta
remédio ele vai buscar lá, pula na água e vai embora. Volta trazendo,
põe na garrafa e pronto.
Gadô23 é o nome que na Guiana Francesa se dá a oficiantes que fazem
divinações, curas terapêuticas e produzem agressões por meio de espíritos
23 Antonella Tassinari destaca que da palavra gadô é possível depreender seu sentido, tomado do
francês, de regarder, traduzindo-se o termo gadô por “aquele que pode enxergar” (1998: 255 – nota n.
19).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
124
auxiliares ou não. Seriam como os pajés e são mesmo geralmente identificados
pelos índios no baixo Oiapoque como pajés da Guiana Francesa ou, numa possível
versão, pajés urbanos. Assim é que o gadô referido nessa última transcrição é o pajé
urubu-kaapor de Macapá que aparece na primeira narrativa. Os gadôs são
considerados muito bons pajés. Possuem trânsito fácil entre Este e o Outro Mundo e
visitam com regularidade seus aliados invisíveis, obtendo deles conhecimentos e
fórmulas terapêuticas fantásticos. Isso tudo está bem claro no diálogo, como
também vê-se com facilidade que este conhecimento cobiçado é colocado à
disposição de Levên por intermédio do gadô. Como pajé urbano e acostumado às
diversas formas de procedimentos rituais de terapêutica e agressão, este oficiante
consegue produzir a “totalização dos pontos de vista singulares e irredutíveis”
(Carneiro da Cunha, 1998: 17) de cada alteridade com a qual transaciona. Por isso é
considerado um pajé poderoso e capaz de lidar com uma multiplicidade de situações
e de encontros.
N.3 – Trocas de conhecimentos
Levên, aldeia Kumarumã (julho/2005)
Quando eu cheguei na beira da rua [em Macapá], assim andando,
estava procurando onde estavam esses gadôs. Haviam me dito que
eles trabalhavam naquele pedaço. Uma mulher me viu e encostou: “O
que está procurando?”. Eu disse: “Estou olhando assim, procurando um
gadô que faça remédio”. “É, pode subir. É aqui mesmo. Quer fazer
consulta?”. “Eu queria ver se não está muito caro”. “Não está caro não,
são dez reais. Quer fazer, vamos logo”. Fomos por uma escada,
subimos lá em cima. Entramos, só eu e ela, começamos a conversar.
Ela pegou em minha mão: “O senhor tem cigarro?”. “Tenho uma
carteira”. “Me dê um cigarro”. Começou a fumar, conversamos. Tinha
uma santa bem preta, bem preta. Estava lá. Tinha um copo, uma chave,
chave fechada, pendurada. Eram as coisas dela. Ela olhou assim pra
mim: “Olhe, eu lhe digo logo: o senhor está assim, assim, assim. Está
meio baqueado, mas, vamos ver; se eu tiver remédio pra você eu lhe
digo na hora”. “Está bom”. Ela pegou o copo, derramou um pouco de
água dentro, até o meio do copo, pegou a chave e jogou na água,
“tchum”. “Bota seu dedo aí, bota esses dois dedos aí”. Eu botei. Ela
levantou, veio por trás de minhas costas começou a rezar e com três
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
125
minutos, a chave abriu, “vúuuu”, dentro do copo. “Pode tirar a mão. O
remédio é assim, assim, assim. São trezentos reais por tudo, completo”.
Aí fiquei... : “Eu não tenho dinheiro já, já não. Amanhã ou depois é que
vou ter”. Ela disse uma palavra que nunca vi, que nunca conheci. Falou
a verdade; parece que já conhecia há muito tempo: “Você tem sua
esposa aqui”. Eu falei: “Está lá na CASAI, internada com isso assim,
assim”. “Eu não quero saber a doença dela. Vou lhe contar o que ela
tem”. Ele me contou tudinho, bem certo. Eu fiquei olhando: “Quem
contou pra essa mulher que minha esposa está com isso, sofrendo
daquilo? Quem contou?”.
A narrativa repete o prestígio que os gadôs possuem na apreciação de Levên:
produtores/detentores de extraordinárias fórmulas fitoterápicas e habilíssimos nas
práticas divinatórias. É com esses oficiantes – que empregam de maneira criativa
diversas matrizes rituais, extraindo sua força dessa mestiçagem simbólica – que os
pajés do baixo Oiapoque às vezes se consultam quando vão à cidade, usando seus
serviços de divinação ou de herbarista. Se os pajés mestiços, no sentido concedido
acima, gozam de boas prerrogativas como tradutores, é notadamente porque eles
próprios são frutos da unificação de pontos de vista culturais diferentes,
conhecendo-os, supostamente, melhor e aproveitando melhor também as fontes de
poderes oriundos destes lugares. Podemos comparar com o que se passa em outros
domínios da Amazônia.
Peter Gow (1994) indica que o xamanismo urbano na região do Baixo
Urubamba consiste no amansamento dos espíritos da floresta – os arcanas ou
incantos, considerados pessoas – para que estes emprestem seus poderes de cura
ao pajé que, por sua vez, estabelece a comunicação com eles por meio da ingestão
da ayahuasca24 (ib.: 95). Trata-se de um retorno aos primórdios da história
(condensada no imaginário sobre a floresta) e somente o pajé mestiço pode fazê-lo,
já que ele, do ponto de vista amazônico, é o único cuja origem repousa na história
da região: “Mestizos, the ‘mixed-blood people’ descended from whites and Indians,
living between the cities and the Forest, become the masters of the paths between
them” (ib.: 104). Assim, o próprio surgimento na Amazônia de um xamanismo com
24 Além da ayahuasca, utiliza ainda o tabaco e o toé (Datura).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
126
ayahuasca, deveu-se à formação do mestiço enquanto uma categoria social,
somando-se o desenvolvimento dos centros urbanos da região e o ciclo da borracha
(Gow, 1994: 105; Gow, 2001: 137).
Tal xamanismo é tributário de um modelo histórico de relações sociais
(associadas, no caso do Baixo Urubamba, à exploração borracheira) vigentes ainda
hoje, produzindo respostas tanto para a experiência com a doença entre os
mestiços, quanto para as circunstâncias históricas de suas aflições (Gow, 1994:
111). E qualquer que seja o rendimento clínico que o xamanismo mestiço possa
proporcionar, no Baixo Urubamba ou nas cidades da Amazônia brasileira, sua fonte
de poderes estará ligada à floresta,25 completando um caminho do hoje às origens.
b) Agressões
i – entre pajés
N.1 – Agressões entre pajés
Raimundo Iaparrá. Aldeia Piquiá, BR-156 (maio/2005)
Você disse ontem que um pajé de Cayenne pode mandar os Bichos
para lhe atacar...
Pode sim, seja de qualquer lugar. Pode ser de Brasília, pode ser de lá
onde você mora, de todo canto. Tem pajé em todo canto. Enxerga de lá,
todo canto. Dorme e enxerga todo canto. É assim que é. Pajé não é
como nós. Eu não conheço o seu lugar, mas se for pajé ele conhece
todos os lugares onde tem pajé. “Ah, em tal lugar tem um pajé. Eu dormi
e fui lá. Vou mandar Bicho pra ele”. Aí daqui eu mando, lá pra São
Paulo. Ou então lá pro Camopi, eu mando, que lá tem muito pajé.
É como se fosse uma guerra?
É sim. Eu vou lá e se tiver condição, eu vou logo mexer com ele. Se eu
tiver fraco eu apanho, se não ele apanha. É assim que é.
Porque os pajés fazem isso?
É obrigação deles, estão fazendo a obrigação deles.
25 Como seus consortes urbanos amazônicos, os pajés andinos atribuem à floresta grandes poderes
xamânicos – devido aos agentes extra-humanos que lá habitam – temendo e admirando o potencial
predatório dos pajés ameríndios da floresta (Chaumeil, 1992: 102).
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
127
Talvez esta seja a modalidade mais comum de agressão entre pajés e está
baseada na simples exposição de força e poder ao oponente. Raimundo Iaparrá
naturaliza este conflito dizendo que os pajés cumprem seu papel, pois a agressão “é
a obrigação deles”. De resto, é o que se passa na cabeça de todos os meus
interlocutores com quem discutia o assunto. Retornamos a um importante ponto
discutido anteriormente neste mesmo capítulo e que diz respeito à unidade das
ações xamânicas quando concebidas como reguladoras de fluxos cosmológicos,
unidade que antes não opõe radicalmente agressão e benefício e menos ainda
estabelece protagonistas exclusivos para uma ou outra qualidade de relação.
N.2 – Agressões entre pajés
Levên. Aldeia Kumarumã (julho/2005)
Pr’aquele lado de lá tem feitiço?
É lá que tem, pro lado da Guiana Francesa. É ali que nasce o feitiço, de
tudo que é maneira.
Os Créole e Saramaká sabem fazer feitiço?
Humm... Lá também tem gadô que é muito forte, que tem Bicho. No
Suriname eles vendem feitiço na rua; parece o pessoal no Oiapoque
que vende picolé na rua.
Vende remédio e feitiço?
Remédio, feitiço, tudo na rua. “O que você quer?”. De vez em quando
passa na porta: “Hei, está aqui, não quer comprar? Isto é bom pra isso,
é muito bom. É tanto, está barato, aproveita pra comprar”, é assim que
fazem. Você aproveita e compra o mal também. Aí o vendedor explica
bem o que é pra fazer, como usa o feitiço. É assim. É a mesma coisa
dos vendedores no Oiapoque, que vendem aquelas pomadas pra
massagem. No Suriname vende muito feitiço na rua.
Um gadô de lá, ou da Guiana, manda feitiço pra cá?
Manda sim, manda mesmo. O mais que ele faz é pegar o nome da
pessoa. Se pegar o nome do cara está lascado.
Só com o nome?
Só com o nome, só com o nome ele faz feitiço pra você. Nome,
sobrenome tudo, aí, está lascado com ele. Você pode fugir pra qualquer
lugar que ele chega lá. Ali tem todas as coisas: tem pajé, tem gadô, tem
feitiçaria, tem todas as merdas enroladas.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
128
O dado relevante nesse diálogo é a extensão e elasticidade das redes de
relações xamânicas no baixo Oiapoque. Havia definido anteriormente, nesse
capítulo, alguns limites para tais relações, atentando para as recorrências das
origens geográficas dos feitiços. Penso que esses limites, em suas próprias
“limitações”, valem também para as relações de cooperação, posto que elas
desenvolvem-se dentro do mesmo conjunto de protagonistas. Não se briga aqui e
comercializa lá. E conforme o gradiente das distâncias sociais, os protagonistas mais
perigosos são tanto os desconhecidos mais distantes (como é o caso dos gadôs do
Suriname ou mesmo de Salvador, cidade onde há ruas onde “pajé fraco não vai”);
quanto os conhecidos mais próximos, neste caso os afins co-residentes de um
mesmo grupo local.
N.3 – Agressões entre pajés
Levên, aldeia Kumarumã (julho/2005)
[...] eles boiaram lá na ponta [...] a mulher tinha passado por baixo da
casa dele. Aí chegou perto, tinha muitas pessoas com ele.
Quem estava na canoa?
A mulher de Fanconi [...] Flecharam ele bem aqui, nesse osso aqui
(fêmur). “Táaa”. “Ihhhh”, ele gritou [...] Fanconi disse: “Só assim, tá bom”
[...] Ele tentou sentar pra cantar e não conseguiu [...] O espinho dessa
arraia foi no osso, se tivesse acertado só na carne não tinha matado ele,
mas acertaram no osso. O espinho quebrou dentro do osso.
Essa arraia era Bicho do pajé brasileiro Manoel Jorge?
Era sim. Ele era pai do finado Boliviano. Era assim que fazia [...]
Fanconi disse: “Mulher, arma o meu tukay que eu vou ver se eu canto,
se eu posso sentar pra cantar”. Armaram tudo pra cantar, mas ele não
podia sentar no banco. Só sentava de lado. Armaram tudo pra cantar,
mas não podia cantar sentado. Cantava deitado mesmo, não sentava no
banco. Só assim. Chamaram outro pajé pra cantar pra ele e fazer
remédio. O pajé pegou na ferida, fez curativo, operação. Tentava tirar a
ponta da flecha da arraia e saía um monte de pedaço de osso, “tac, tac,
tac”.
O espinho tinha ficado lá no osso?
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
129
Lá no osso, lá dentro do osso. Ele estava tentando tirar espinho, mas
tava quebrando o osso. Não sai, tem gancho. Tirou só um bocado de
pedaço de osso. Fanconi não agüentou e morreu. Se fosse só na carne
tinha salvado ele, mas foi no osso que entrou o espinho.
Manoel Jorge matou também seu pai?
Não, matou esse velho (Fanconi, tio de Chinois). Aí foi, passaram dois,
três meses, quase um ano, ele (Manoel Jorge) apareceu de novo,
chegou aqui de novo. Chegou aqui, pegou mulher aqui (em Kumarumã),
fez filhos. Ele veio ver o finado meu pai, veio falar com ele pra ficar
amigo. Meu pai disse: “Tá bom, não tem problema não”. Manoel Jorge
queria mesmo pegar meu pai, mas ele sabia: “Mataram meu tio,
mataram ele novo. Eu sou novo também. Ele vai se acabar em minha
mão agora”.
Na época de seu pai tinha outro pajé em Kumarumã, Felício...
É sim. Esse Felício era cunhado de meu pai. Eles brigaram muito,
brigaram feio. Na porrada brigaram sete meses. Brigaram um bocado.
Perto da casa de meu pai ninguém tinha coragem de sair quando dava
a boca da noite. Era muito Bicho! Muito Bicho, tudo quanto era Bicho
mandavam pra ele.
Só esperando ele pra pegar
Só esperando. Ele ficava assim, andando e rodando dentro dessa casa.
Quando era uma hora dessa ele dizia para os filhos e para a mulher:
“Se ajeitem antes de ficar escuro. Fiquem parados porque a coisa está
feia para o nosso lado”. A gente via mesmo; debaixo desse assoalho
aqui era unha, arranhando, que não tinha tamanho. Era a onça que
estava aí mesmo! Aí ouvia macaco, que estava passando, com o rabo
“pow, pow, pow”, batendo em tudo.
Tudo isso era Bicho de Felício?
Era, Bicho de Felício.
Por que eles brigavam tanto?
Era por causa de mulher [risos].
A mulher de Felício era irmã de seu pai?
Não, o finado meu pai tava com uma sobrinha dele.26 Agora, tinha uma
mulher que era dos dois, era namorada de um e do outro. Era por causa
dela que os dois brigavam [...]
Eles estavam brigando e não viram que podiam matar gente da família
deles. Estavam só reparando aquela outra mulher, a que eles queriam.
Eles brigaram, brigaram, brigaram até que mataram a sobrinha de
Felício. Quando o finado meu pai deu fé, já tinha morrido. A mulher do
26
Geni, mãe de Arsênio. Vide Diagrama 1 - Genealogias Xamânicas.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
130
outro pajé (Felício) era comadre do finado meu pai. Ele disse: “Mataram
minha mulher. Vou matar seu filho também”.
A mãe de Arsênio morreu por causa dos Bichos de Felício?
Foi sim, os Bichos. Eles brigaram, brigaram, brigaram muito. Até que o
finado Felício morreu, pronto.
Mas não foi Felício quem matou seu pai, foi Manoel Jorge?
Nem Manoel Jorge. O finado meu pai matou Felício, matou Manoel
Jorge e mais quatorze pajés que ele matou. Eles vinham pra brigar com
ele.
Manoel Jorge morreu de briga com os Bichos de seu pai?
Foi sim. É assim que eles estão fazendo, só defendendo. Se vem
experimentar, ser mais do que ele, morre.
No início do diálogo, Levên narra como o tio de seu pai (FMB), o temido
Fanconi, foi morto em combate xamânico com Manoel Jorge, pajé originário do litoral
do Amapá que se instalou no rio Curipi na primeira metade do século passado. A
outra guerra narrada por Levên e que produziu combates antológicos na história das
disputas xamânicas no rio Uaçá foi entre seu pai e o tio de uma de suas esposas
(FB). São, respectivamente, disputas intergrupos e intragrupo, produzindo dinâmicas
sociais diferentes. A segunda, por exemplo, envolvendo Chinois e Felício, de tão
intensa que era provocou baixas nas famílias de ambos e gerou uma seqüência de
vinganças levada adiante pelo cunhado de Levên e sobrinho de Felício (BS), o
também pajé Antônio. Após a morte de Felício por Chinois, Antônio muda-se com a
família para a montanha Bruyére, no lado francês da Baía do Oiapoque, e lá perece
atacado pelo mestre do camarão, um Bicho de Chinois.
A disputa com o pajé Manoel Jorge, do Curipi, foi mais ardilosa e permeada
de armadilhas, mas não comparável à violência com que Chinois e Felício brigavam
pelo amor da amante em comum. Nem também provocou movimento migratório
como ocorreu com Antônio Bryére e sua família.
N.4 – Agressões entre pajés
Manoel Labonté, aldeia Kumenê (fevereiro/2007)
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
131
A gente morria, morria e morria. Eu estava com dez anos de idade e
dizia para a finada minha mãe: “Mamãe, eu acho que eu não vou me
criar, não. A gente está morrendo demais. Eu acho que não vou viver,
não”. Ela dizia: “Não diga isso, meu filho, você vai viver e crescer. Deus
é grande”. No outro dia, de novo, todo dia, ao tinha esse dia que não
morresse gente. Eram dois, três; dois, três, assim [...]
No seu pensamento de criança, porque as pessoas morriam assim? O
que as pessoas falavam sobre isso?
Eu perguntava a minha mãe o que acontecia para morrer gente daquele
jeito e ela, com meu pai, contavam que era pajé, pajé que matava
gente...
Pajé de onde?
Daqui mesmo. Eu perguntava por que eles matavam, se havia alguma
coisa que as pessoas tinham feito a eles. Minha mãe dizia: “Não, meu
filho, não precisa fazer nada contra eles. Tem pajé que tem Karuãna
mau, mau mesmo, como pessoas que gostam de matar”. Eu aí
perguntei a minha mãe: “E qual a solução para evitar isso?”. “Não tem,
não tem solução não. A solução depende deles mesmos”.
As pessoas também procuravam os pajés para ter remédio, se curar,
não?
Procuravam, procuravam, sim. Mas, eles também faziam mal. É por isso
que matavam os pajés antigamente. Tem uma passagem aqui que todo
mundo usava para ir a festa no Uaçá. Muita gente esperava pajé lá e
matava. Matava muito pajé mesmo.
Eram Palikur os que esperavam?
Palikur mesmo. Eu não sabia de nada o que acontecia, mas eu acredito
que era pajé.
Os fatos narrados tiveram lugar no rio Urukauá e, a julgar pela idade atual de
meu interlocutor, provavelmente aconteceram nos últimos anos 30 causados por
epidemias. Ao contrário do que a bibliografia registra (Fernandes, 1950: 311), os
Palikur associaram as mortes em massa a ações de seus próprios pajés, produzindo
sérios conflitos entre grupos locais, então dispersos ao longo do médio Urukauá,
que, por sua vez, movimentaram a máquina coletiva da vingança. O resultado foi a
intensificação de assassinatos de pajés responsabilizados pelas mortes. Esta
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
132
dinâmica é uma das mais dramáticas de todas as dinâmicas sociais provocadas por
acusações de agressão xamânica em toda a região e tinha por conseqüência a
manutenção do estado latente de tensão entre os grupos locais e do padrão
dispersivo de ocupação das ilhas e campos secos do rio Urukauá.
A vigência de um estado contínuo de suspeição e desconfiança entre os clãs
e grupos locais Palikur produziam um maior isolamento de unidades sociais, mas
nem por isso a sociedade deixou de se reproduzir conforme o modelo das permutas
matrimoniais entre os clãs.
ii – Lugahu (labisônio)
N.1 – Lugahu
Wet e Hélio Labonté, aldeia Mangue, rio Urukauá (fevereiro/2007)
Wet: Ele foi embora. Foi pra cidade. Sabe o que chama cidade (para
labisônio)? Foi pra cidade. Todo dia de manhã cedo ele chega: “Ah, eu
fui dar um passeio ali na cidade”. “Aonde é a cidade?”. “Está ali”. É lá
no cemitério. Eu sabia que ele não é pajé, é labisônio. Mas, canta,
canta, canta e faz dança de turé também.
O que ele fazia no cemitério?
Ia comer gente que morreu. Tem gente que morreu hoje, aí enterra.
Amanhã labisônio vai lá no cemitério e vai comer tudo.
Labisônio é como um bicho?
É, como bicho.
Vira onça, vira bicho que mata?
É, vira onça, vira tudo. Vira tatu grande. Eu tenho medo do labisônio.
Vira fogo também?
Vira fogo. Antigamente tinha muito labisônio aqui. Tinha muito, muito
mesmo. Morria gente hoje, ia enterrar, aí estava passando avião no
cemitério. Ele vai lá comer gente morta, de manha cedo não pode
tomar nem água. Se tomar um pouco de mingau vomita tudo. A barriga
fica muito cheia. Aqui tem muito isso, no Kumenê tem muito.
Como a pessoa sabe que o outro é labisônio?
Hélio Labonté (traduzindo Wet): Ele está dizendo que é o próprio
labisônio quem fala. Ele diz que está aprendendo ser labisônio.
E as pessoas não vão atrás dele para dar cacete?
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
133
Wet: Não, como a gente vai fazer para pegá-lo? A gente não pode com
ele, só Deus. Quando ele morrer vai ver, ele vai pagar isso tudo. Tem
labisônio que mata gente, eu já vi: “Eu vou matar esse rapaz”. Ele
mata.
Mata como, vai lá e come?
Não, mata com osso, espinho.
Faz feitiço?
É, assim ele mata gente.
Manda doença...
É sim. Labisônio não é camarada não. Eu tenho medo dele [...]
Tem muito avii por aqui ainda?
Aqui não, agora não tem. Gente soprador mata gente, ele mata. Faz
feitiço. Ele mata gente com água, com peixe, com farinha. Assopra na
água e quando a pessoa toma, fica com a barriga assim (inchada) e
morre. Mas agora quase não tem.
Como acabou avii?
Foi Deus quem acabou.
Foi igreja que fez acabar?
É sim, acabou.
Avii foi embora ou deixou de matar gente?
Deixou de matar gente.
Virou tudo crente?
Foi, virou crente.
Mas tem labisônio?
Labisônio tem. Tem gente que diz que labisônio vira crente, mas não
deixa [de ser] labisônio. Meu cunhado morreu há dois anos. Ele virou
crente. Ele disse assim: “Eu sou crente, mas nunca deixei [de ser] meu
labisônio”. Se eu deixar [de ser] labisônio, vem outro e me mata”.
Falaram para meu cunhado: “Olha, se você não quer deixar [de ser]
labisônio, um dia você vai morrer”. Passou uma ano ele morreu.
Doença matou ele [...] Bíblia diz que pra virar crente tem de deixar tudo.
Deixar [de ser] soprador, deixar de matar gente, deixar raiva, deixar
tudo.[...] Já vi um rapaz que falou: “Eu sou labisônio, não [tenho
consciência de] conheço nada aí. Se minha filha morreu, eu vou para
comer; se minha esposa morreu, eu vou pra comer; se meu pai morre,
eu vou pra comer”. Ele não sabe da nada. Mas pajé não; ele não pode
matar o filho dele, ele não pode matar o pai dele. Se o filho morreu, foi
outro pajé quem o matou, não ele. Labisônio não, ele não sabe nada.
Alguém pede para Labisônio fazer feitiço pra inimigo? Labisônio faz
feitiço assim?
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
134
Não, mas pajé faz. Se eu falar com pajé ele pergunta: “Quanto você me
dá? Você me dá quatrocentos que eu vou matar ele”. Ele mata mesmo,
três dias depois já morreu. Labisônio dá pra matar gente também.
Mata de feitiço?
É, de feitiço, bota osso lá dentro, aí vai morrer.
Por que faz feitiço?
Ele faz porque não tem comida pra comer. Quando gente morre, você
chega em minha casa agora. Eu sou labisônio, falo assim: “Ugo, vamos
comigo lá, vamos pescar lá, vamos lá de noite”. Você não sabe o que
eu sou, aí você vem comigo. Quando for depois, já dentro da canoa, eu
vou contar pra você. “Vamos lá no cemitério”. Você diz assim: “Não,
não vou lá. Se eu soubesse que era pra ir ao cemitério eu não tinha
vindo”. “Vamos comigo, quando chegar lá você espera na canoa. Eu
vou lá na cidade”. Aí quando voltar de lá, amanhã você vai falar com
uma pessoa: “Eu fui lá na cidade com Wet, que é o cemitério. É
labisônio ele”. No Brasil tem muito labisônio, não é?
Tem muito labisônio? Você acha que tem muito?
É, eu falo assim. Tem labisônio em Oiapoque, Belém, Macapá [...]
Lugahu (ou fugahô) é o nome em patois para labisônio, uma pessoa visível
que, por meio de iniciação com um outro labisônio, adquire poderes de agressão
excepcionais, transformando-se em animais e bolas de fogo. É o tipo que está mais
perto da agressão exclusiva sendo, por isso, considerado “o feiticeiro” pela
população cabocla amazônica (Maués, 1990: 83) e também índios do baixo
Oiapoque. Apesar de seu grande poder de agressão, não se teme um labisônio mais
que a um pajé mediano em força e a característica mais marcante do primeiro é, sua
relação com os mortos. O labisônio, na verdade, dirige seu poder canibal aos
mortos, pois necrófago, viola sepulturas atrás de cadáveres. Contudo, poderá utilizar
seu poder de agressão para provocar mortes indiscriminadamente, dentro ou fora de
sua comunidade, dentro ou fora de seu grupo local, afim de ter provisões de
cadáveres. Ao contrário de um soprador, cuja identidade não revela facilmente, o
labisônio não esconde o que é e, mesmo assim, não lhe atribuem com freqüência
culpas por doenças ou mortes. Relacionando-se com os mortos, ele mesmo morre
socialmente e é no cemitério que se inicia, é no cemitério que aprende poderosos
potás de agressão, é no cemitério que visita a cidade grande onde os mortos vivem.
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
135
Ainda que seja devorador de cadáveres, não precisa temer retaliações, pois sua
devoração se limita aos corpos cujas almas já abandonaram e assim não há porque
sofrer agressão de qualquer espécie. Pois nem a ira dos parentes dos mortos
devorados o Lugahu parece levantar
A posição do lugahu no sistema das agressões no baixo Oiapoque faz dele
um agente excepcional de agressão, mas seus hábitos e agressão não retribuída o
põe no lugar de um solitário notívago transformista. E talvez devêssemos acatar a
sugestão de Arnaud (1970: 18) de que a crença em lugahu os índios do baixo
Oiapoque adquiriram recentemente (a menos de cem anos, talvez) da população
regional com quem mantinham contatos comerciais e isso poderia explicar que ainda
não sabem o que fazer com ele e onde encaixá-lo na cosmologia.
É mister que duas coisas tratadas e ponderadas neste capítulo fiquem
suficientemente claras. A primeira diz respeito à conceituação do xamanismo com a
qual opero, considerando-o o conjunto das relações cosmopolíticas desenvolvidas
com as pessoas visíveis e invisíveis sob o auspício de dois fatores precípuos (mas
não únicos): a agressão e a cura de doenças e infortúnios por ela provocadas. Isto
não reduz a atividade xamânica à sua clínica, mas avalia que as teorias etiológicas
no baixo Oiapoque são um meio excepcional de ordenação e expressão de relações
cosmológicas, posto que as doenças são, do ponto de vista do pajé, causadas por
um princípio-sujeito patológico que atua ou por iniciativa própria (vingança por
excesso de caça ou rapto de mulheres, por exemplo) ou por mando de um pajé,
lugahu ou soprador.
O segundo ponto tem a ver imediatamente com este e diz respeito às
especialidades dentro do xamanismo. Aqui eu as utilizo – como acabei de fazer –
como classificações pedagógicas cujo efeito desejado é demonstrar que não existe
confusão quanto às possibilidades de ação de um oficiante do xamanismo. Se todos
são piaii (segundo foi demonstrado neste capítulo) é porque vida e morte, curar e
matar são propriedades não antitética e, num certo sentido, são unívocas. Não
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
136
podemos confundir um profundo, e para nós estranho, sentido de identidade entre
predicados para nós antitéticos com incapacidade de reconhecer diferenças. Esta
unidade-identidade à qual me refiro e que procurarei desenvolver nos Capítulos IV e
V com base no que acredito ser a lógica do pensamento xamânico no baixo
Oiapoque é fruto primeiro da percepção e vigora sobre os pareceres morais que
costumeiramente empregamos ao abordarmos temas como agressão xamânica, a
prática de malefício e a acusação de infortúnios a outrem. Quando a moralidade é
utilizada dentro e pelo xamanismo ela direciona comportamentos e dinâmicas
sociais, mas não se mistura com sua teoria, conforme demonstrou Teixeira-Pinto
(2004) para os Arara.
O terceiro ponto deriva dos dois anteriores e poderia ser formulado dizendo
que não há, no xamanismo no baixo Oiapoque, relações exclusivas e excludentes
em termos de qualidade entre parceiros. Qualquer relação xamânica, independente
das partes, poderá ser de reciprocidades negativas e positivas, ou ainda ambas as
coisas, bastante comum. Não há aqueles com quem se troque agressões e não se
dirijam relações de permutas positivas, representadas por trocas rituais e de
conhecimentos. Neste caso, são justamente os pajés e Karuãna mais poderosos –
i.e., com maior poder de agredir – que possuem desejados conhecimentos sobre o
segredo das transformações e das domesticações de intencionalidades alheias e é
com eles que pajés menores procuram beber caxiri, fumar e aprender cantos
durante sonhos ou viagens extra-empíricas.
No
capítulo
seguinte
abordarei
as
pessoas
invisíveis
enquanto
individualidades, tipos e nas relações que elas mantém com os pajés e com pessoas
visíveis comuns. Somadas às redes de relações xamânicas multiqualitativas que
pretendi expor neste capítulo focando o protagonismo das pessoas visíveis, as redes
de relações xamânicas entre pessoas invisíveis e visíveis formam um conjunto total
de relações sócio-cosmológicas que produzem implicações recíprocas na sociedade
[Cap. II] Olho de guerra, olho de operação: das permutas xamânicas
137
e no cosmos, variando de direção segundo a entropia (quantidade de desordem) do
sistema total de relações e cujo equilíbrio deve ser procurado e mantido pelo pajé.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
141
Capítulo III
O
xamanismo no baixo Oiapoque apresenta as mesmas características
estruturais e funcionais do xamanismo descrito para demais regiões da
América do Sul. Em termos gerais, os atributos do pajé sul-americano – alguns deles
idênticos aos de seu consorte siberiano – listados por Métraux (1944a; 1944b) são:
a) é do sexo masculino1
b) é um indivíduo que agrega poderes extraordinários em função de sua
comunicação com espíritos e entidades homólogas;
c) tal comunicação especial lhe confere a posse de objetos de poder
(armas), manifestados sob a forma de flechas, espinhos, pedras etc., que
podem ser mantidos dentro no próprio corpo ou não;
d) mantém sob sua responsabilidade um conjunto de espíritos auxiliares que
lhe emprestam seus poderes e que confundem-se com suas próprias
armas mágicas;
e) seu poder depende da quantidade desses espíritos auxiliares que ele
mantém sob sua guarda e controle relativo;
f) uso de alucinógenos como a ayahuasca, huanto ou tabaco;
g) uma de suas principais funções é o combate à doença.
Tais características despontam como modelares e nem sempre aparecem
juntas, haja vista a diversidade de práticas na América do Sul catalogadas pela
antropologia como xamânicas e a dificuldade em atribuir-lhes todos esses pontos.
Mas o esforço em produzir modelos é sempre continuo e, como nota Viertler (1981),
1 Há registros de xamãs mulheres, sobretudo nas Guianas, que o autor considera equivocados, pois
referem-se a situações atípicas, circunstanciais (Métraux, 1944a: 198). Ao menos entre os Terena,
um grupo aruaque, sempre houve xamãs do sexo feminino, não se tratando de um fenômeno recente
(cf. Carvalho, 1996: 54).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
142
tanto a possessão quanto o vôo mágico – traços associados ao xamanismo
siberiano revelado por Mircea Eliade 1986[1951] – estão ausentes da tipologia
xamânica sul-americana sugerida por Métraux (Viertler, 1981: 308). A despeito das
diferenças, ambas categorizações para o xamanismo refletem não apenas contextos
geográficos diferentes (Ásia e América do Sul), mas etapas distintas dentro da
história da antropologia. A categorização apresentada por Mircea Elíade revela uma
influência da história das religiões asiáticas; a proposta por Métraux estaria apoiada
na história cultural americana de influência difusionista (Viertler, 1981: 314). Seja
como for, o fenômeno do xamanismo é central em boa parte das sociedades
ameríndias sul-americanas e o xamã, ou pajé2, atua como interventor em diversos
aspectos da vida cotidiana de seu grupo, não havendo atividade ritual significativa
que dispense a sua condução3 (Clastres, 1982: 79).
O xamanismo – um sistema simbólico amplo voltado para a comunicação
entre domínios distintos do Cosmos e uma forma de conhecimento do mundo que
articula os vários níveis da vida social – é uma instituição complexa que produz tanto
representações sobre a prática da ação no mundo, quanto a reflexão sobre ele
(Chaumeil, 1983: 36), atuando como um mediador epistemológico a ligar os vários
níveis da realidade (Carvalho, 2002: 17). Tal função permite que os indivíduos
assumam posições na malha de relações que ligam todas as pessoas do Cosmos,
tanto as visíveis entre si, quanto as relações que unem pessoas visíveis e invisíveis.
Não obstante as similitudes ou aspectos estruturais entre os casos, ao consideramos
o xamanismo enquanto um “sistema social, no sentido de que gera papéis, grupos e
atividades sociais, nas quais o xamã é o ator principal, mas não o único” (Langdon,
1996: 26), faz-se necessário focalizar as suas particularidades e o que é
conceitualmente a figura do pajé em cada um desses sistemas (ib.: id.). Para tal, a
proposta de Langdon (1996: 27-28) para uma nova abordagem do xamanismo pode
ser tomada como partida. Em resumo, deve-se estar atento para:
2 Daqui em diante utilizarei apenas o termo pajé como sinônimo de xamã, excetuando eventuais
transcrições, quando o termo será conservado.
3 Por exemplo, a transformação da carne de caça em vegetal executada todas as noites pelo ruwang
piaroa, rito essencial à correta comensalidade que confirma a humanidade dos Piaroa e afasta o risco
da atualização do estado predatório (Overing, 1995: 127).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
143
a) o fato de o universo ser formado por vários níveis (compondo realidades
visíveis e invisíveis);
b) uma entropia geral do universo, unificando os ciclos reprodutivos e suas
fases;
c) o conceito nativo de poder xamânico, relacionado à entropia cósmica;
d) um princípio de transformação, atestando a realidade profunda da
contigüidade entre os planos cósmicos e a possibilidade dos seres
assumirem diversas formas externas;
e) o papel de mediação desses planos do xamã e seu direcionamento para o
bem coletivo e a entropia cósmica;
f) uso da experiência extática como veículo que permite ao xamã cumprir o
seu papel de mediador.
Outro aspecto capital identificado no xamanismo sul-americano por Métraux e
que remete-nos diretamente a um dos pontos desta tese é aquilo que se concebe
como “posição moralmente ambígua” atribuída à função do pajé e, muitas vezes, a
ele mesmo. Para este autor a ambigüidade resulta da sobreposição da cura e da
agressão, pois sendo o pajé aquele que manipula alianças com agentes invisíveis e
utiliza seus poderes, ele é potencialmente capaz de curar doenças e de provocá-las,
produzindo até a morte (Métraux, 1944b: 339). Dessa posição derivaria a
necessidade de um controle social sobre as atividades xamânicas e o pajé que
perde seus poderes ou é freqüentemente acusado de produzir malefícios dentro de
sua própria comunidade está sujeito a rigorosas sanções que, comumente,
conduzem ao banimento ou à pena capital.
Não discordo de Métraux quanto à complementaridade entre cura e agressão
xamânicas, pelo contrário; mas é preciso refletir sobre onde, de fato, está a
“ambigüidade". Na introdução e no capítulo II expressei meu ponto de vista sobre o
tema argumentando que a ambigüidade reside mais em nossa moral dualista que
nos índios, posto lidarem de uma maneira mais pragmática com os efeitos possíveis
da ação xamânica, não obstante também adotarem discursos que opõem
irredutivelmente tais ações, separando a cura da agressão ao tornar a feitiçaria uma
[Cap. III] A humanidade dos Outros
144
prática especializada. Conforme mencionei na Introdução e no Capítulo II, diversos
autores já demonstraram com grande rendimento a indissociável relação entre curar
e agredir presente no xamanismo em diversos contextos etnográficos (cf, por
exemplo, Albert, 1985 – para os Yanomami; Descola & Lory, 1985 – para,
respectivamente, os Achuar e Baruya da Nova Guiné; Gallois, 1988 e 1996 – para os
Waiãpi; Andrade, 1992 – para os Asurini; Fausto, 2001 e 2004 – para os Parakanã;
Withehead, 1994; 2002 – para os Patamuna; Lagrou, 2004 – para os Cashinahua;
Langdon, 2004). Retomarei, um pouco mais à frente, este ponto da indissolubilidade
entre cura e agressão no xamanismo amazônico, procurando focar o contexto
etnográfico das Guianas.
Imago mundi
Em outubro de 2004, durante a minha primeira estada na região do baixo
Oiapoque, tive o seguinte diálogo com um pajé galibi-marworno:
Eles (os Karuãna) têm duas portas para lá. Antigamente ficavam abertas, mas
agora está trancada, era muito perigoso e os índios ficavam sumindo, viravam
comida de Bicho.
Quem trancou as portas?
Os pajés de antigamente. Pegaram a porta, dobraram e soldaram com aço. Faz
muito tempo, eu acho que meu pai nem estava no mundo. Essa porta já está
enferrujada e quebrada e daqui uns anos ela pode arrebentar. A gente enxerga
uma gente que vem de lá em uma canoa remando, vai para conversar e
quando chega perto são eles. É assim que eles estão fazendo para pegar
gente desse mundo, principalmente as mulheres. Por isso os pajés trancaram
tudo, viram que não ia dar certo. São Bichos, mas são iguais a nós. A gente os
vê e diz: “Ah, é gente em uma canoa”, mas não é, são eles.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
145
A narrativa de Levên – meu interlocutor e filho de um grande pajé que houve
no rio Uaçá, Chinois4 – serviria perfeitamente para responder à pergunta (que eu não
lhe havia feito): para que servem os pajés?
Há no diálogo uma explanação muito clara sobre a proximidade, inexorável e
perigosa, entre pessoas visíveis e pessoas invisíveis que determina o lugar do pajé
na sociedade, posto que seu papel, conforme foi descrito páginas antes, é mediar as
relações entre as diferentes intencionalidades do Cosmos permitindo que ele se
mantenha em equilíbrio. Por isso os pajés de antigamente do rio Uaçá tiveram de
trancar os Bicho com porta de ferro; a combinação apetite predador – transformado
em estratégia de obtenção de mulheres – e condição de pessoa desses entes
invisíveis põe em risco as pessoas do grupo social submetidas a encontros
dramáticos com eles e só o pajé – que os vê, tem acesso ao seu mundo e pode ser
um pouco como eles – é capaz de equacionar este ponto imobilizando a predação e
revertendo-a em proveito social.
Um aparente paradoxo se instala. O que, no fundo, determina a possibilidade
da predação enquanto relação radical com a diferença é a identidade representada
pela psyche.5 Enquanto predicado fundamental das diferentes pessoas que habitam
mundos diversos, a psyche permite que pessoas visíveis e invisíveis sejam
eqüipolentes, ou seja, possam agir interferindo umas nas vidas das outras. Tanto de
modo cooperativo, quanto de forma predatória. Tal condição comum compartilhada
com pessoas invisíveis marca aquilo que Viveiros de Castro (1996; 2002b) chamou
de multinaturalismo ou a doutrina das perspectivas várias associadas a hábitos,
modos de ser e de estar no mundo e afecções que estão referidos à multiplicidade
dos corpos. Epistemologicamente o perspectivismo6 ameríndio nega a possibilidade
4 O mesmo que aparece em narrativa de Manoel Firmino sobre o SPI e a fundação da aldeia
Kumarumã nos anos 40 (Capítulo I).
5 Utilizo “psyche” como sinônimo possível de “intencionalidade” e em lugar de “subjetividade”
conforme expliquei na introdução. No capítulo seguinte procuro desenvolver o idéia de psyche e
demonstrar a utilidade dela para a ontologia fenomenológica que integra o quadro de refeências deste
trabalho.
6 O perspectivismo é uma corrente filosófica moderna que se opõe ao objetivismo requerido pelas
ciências “duras”. Epistemologias baseadas em seu receituário foram desenvolvidas por Nietzsche e
Heidegger, dentre outros, tendo por fundamento o questionamento do valor da verdade e a
irredutibilidade dos pontos de vista: “[...] como diria Deleuze: não se trata de afirmar a relatividade do
verdadeiro, mas sim a verdade do relativo. É digno de nota que [Roy] Wagner associe a noção de
relação à de ponto de vista (os termos relacionados são pontos de vista), e que essa idéia de uma
[Cap. III] A humanidade dos Outros
146
de um único mundo, exterior e uno, ao negar a universalidade e univocidade sobre
ele quando inunda-o de valores; não há uma representação sobre o real que seja
correta em detrimento de outra falsa, os pontos de vista são congruentes e todos
igualmente verdadeiros (Viveiros de Castro, 2002b: 378-79). Há tantos mundos
factíveis quanto sejam as diferenças entre os pontos de vista.7
Um grave perigo decorre desta condição; o seqüestro do ponto de vista por
intencionalidades alheias que impõem o seu próprio ponto de vista e a efetivação do
mundo para o qual elas existem como agentes reais. Entre as pessoas eqüipolentes
que habitam o cosmos e estão em perigosa proximidade, quem não ocupa o lugar
do “sujeito” ocupará o da sujeição. O idioma-metáfora de tais relações entre pontos
de vista distintos é a caça ou a guerra e o seu corolário a antinomia
predação/familiarização que coloca ao centro o dilema entre ser a caça ou o
caçador. O mito de Yakaikai/Wamuí, o herói cultural que planejou a destruição da
Cobra Grande e possibilitou a libertação dos Palikur (i.e., a humanidade) desse
poderoso Karuãna, revela uma notável reflexão sobre a proximidade perigosa entre
pessoas dotadas de perspectivas diferentes. O mito é apresentado na sessão
Anexos em duas versões estruturalmente idênticas, mas que guardam importantes
variações: M. 01 (versão palikur) e M. 07 (versão galibi-marworno).
Sinteticamente, o tema mestre é a gradual transformação do ponto de vista de
uma pessoa visível (um velho que vira rapaz em M. 01 e um garoto em M.07) que é
levada para a morada de duas Cobra Grande e lá permanece enquanto se
transforma ela mesma em Cobra, até que consegue, junto com seus parentes
visíveis que as Cobras (a fêmea em M.01 e a macho em M.07) devoram como se
fossem papagaios (M.01) ou macacos (M.07), matar a ambas. Mas o destino de
Yakaikani/Wamuí já estava selado e, fugindo com o filho pequeno do casal de Cobra
assassinado, vai se instalar no lago Marapuruá, na divisa leste da TI Uaçá. Lá
permanece “até hoje”, encantado e vivo.
verdade do relativo defina justamente o que Deleuze chama de “perspectivismo”. Pois o
perspectivismo – o de Leibniz, Nietzsche como o dos Tukano ou Juruna – não é um relativismo, isto
é, afirmação de uma relatividade do verdadeiro, mas um relacionalismo, pelo qual se afirma que a
verdade do relativo é a relação” (Viveiros de Castro, 2002a: 129).
7 Veja sobre isso transcrição de Heidegger, comentando a entelequia de Leibniz, no Capítulo 4 (p. ))
[Cap. III] A humanidade dos Outros
147
Na versão recolhida por Vidal (s/d: 18-19) em Kumarumã com um outro
informante (muito assemelhada, por sua vez, à versão palikur), Yakaikani pede aos
parentes para matarem apenas a Cobra macho e pouparem a fêmea, mas eles
matam ambos.8 Revoltado com isso, Yakaikani vai para o lago Marapuruá, onde
mora outra Cobra irmão da Cobra macho assassinada, acompanhado do filho
pequeno do casal que enlouquecera com a morte de seus pais. Lá, no lago
encantado, o próprio Yakaikani vira Cobra e é convocado pelos pajés para auxiliálos.
Defronte do inevitável perigo da captura do ponto de vista o que fazer para
tornar o universo um lugar mais seguro para as pessoas visíveis? A resposta é
política cósmica (Viveiros de Castro, 1996: 120), desempenho que compete ao pajé
enquanto único habilitado a assumir pontos de vista alheios e negociar com os as
pessoas invisíveis. Isto porque ele próprio ou tem parcialmente essas psyches
estrangeiras em seu corpo9 e mantém com elas uma relação especial que vai da
simples associação efêmera à paternidade; ou é um pouco parecido como elas por
ter sido gerado da união entre pessoas visível e invisível.
Consideremos a seguir dois espaços especiais e conexos de manifestação de
tais relações entre o pajé e as pessoas invisíveis no baixo Oiapoque: as sessões de
cura e o turé.
8 Vidal (s/d: 49) sugere em boa hora que ambas as Cobras foram mortas porque o mito enfatiza a
tendência para a consanguinização entre cônjuges, bastante presente entre os povos do baixo
Oiapoque, não se distinguindo no mito as Cobras macho e fêmea (ambas co-extensivas em termos
de substâncias).
9 Os Ikpeng concebem o abrigo das potências xamânicas no corpo de seus xamãs como uma
gravidez que só é interrompida após a sua morte, quando essas forças espalham-se e ficam à deriva
na floresta (Rodgers, 2002: 113). Já para os Yaminawa o poder do xamã depende menos da
domesticação e abrigo de espíritos auxiliares em seu corpo que das transformações corporais
controladas por meio de ingestão de determinadas substâncias, isolamento social, abstinência sexual
etc. (Pérez Gil, 2004). Para os Waiãpi e Asuriní a iniciação de um pajé consiste na injeção em seu
corpo de certas substâncias que lhe conferirão poder, õpi-wan e amõ-ro no primeiro caso (Gallois,
1988: 313; 1996: 54) e karowara no segundo (Andrade, 1992: 107-109).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
148
Uma etiologia performatizada.
A causação das doenças
Os ritos de cura por meio do xamanismo no baixo Oiapoque já foram
largamente descritos por Tassinari (1998) e Dias (2000; 2005) e decorrem
diretamente da configuração do cosmos apresentada até aqui para as sociedades
amazônicas em geral. O preceito fundamental de tal configuração é o mesmo que
sustenta a teoria etiológica no baixo Oiapoque: a coexistência no cosmos de
psyches diversas e eqüipolentes – que venho chamando de pessoas visíveis e
pessoas invisíveis – cuja capacidade de ação pode transformá-las em agente
patológico. Segundo a lógica da retaliação (Carneiro da Cunha & Viveiros de Castro,
1985), a agressão será sempre respondida com outra agressão, que acompanha a
cura, e tal relação tornam indissociáveis cura e agressão. Não creio que se trate aqui
de vingança, no sentido de uma cadeia de retaliações alimentada perpetuamente
pela memória das agressões e vítimas pretéritas (Carneiro da Cunha & Viveiros de
Castro, 1985).
Este movimento de retaliação é evidente quando, durante uma sessão de
cura xamânica, o pajé extrai o princípio patológico do corpo do paciente e o envia de
volta ao agressor, retribuindo a agressão com uma outra agressão, encerrando o
combate. Presenciei apenas uma vez uma sessão de cura xamânica em que a
retaliação efetivamente se processou. Foi em fevereiro de 2005, na cidade de
Oiapoque, uma sessão para restabelecer a saúde da esposa de Levên e que foi
conduzida por Cecília, a pajé galibi-marworno que iniciou Levên no xamanismo (veja
N.2 - Iniciação ao xamanismo, Capítulo II).
Apresento mais adiante uma descrição dos procedimentos tomados durante
tal sessão de cura com extração de agente patológico que, ao que me parece, é
cada vez mais rara no xamanismo do baixo Oiapoque.10 Por dois motivos: necessita
que seja feita por um pajé cujos poderes terapêuticos sejam reconhecidos dentro e
10 Uma de minhas perguntas mais freqüentes quando conversava com alguém a respeito de um(a)
pajé que eu não conhecia, seja do presente ou do passado, era se ele(a) “chupava doença”,
procurando verificar quando e em que condições a retribuição da agressão era processada em uma
sessão de cura.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
149
fora de sua comunidade e; com as subseqüentes interferências de lideranças locais
nas atividades dos pajés, convencendo a maioria a não divulgar os nomes das
pessoas descobertas como autores de agressão, as doenças causadas por este
princípio perderam força para os Karipuna e retraíram um pouco entre os galibimarworno, embora esteja voltando à carga entre os Palikur.11 Não se deixou de
acreditar em piaii, mas agora há poucas ocasiões em que ele vira um assunto
público através do rito de extração do agente patológico. Além disso, a adoção cada
vez maior por parte dos AIS’s de um discurso médico alopático, vem produzindo
uma imagem desfavorável dos pajés que “chupam doença”, posto que este rito de
extração acentua a etiologia indígena, radicalmente contrária àquela defendida e
praticada por alguns AIS’s e enfermeiros que atuam nas aldeias da região.
De forma muito sintética, um agente patológico pode agir por mando de um
pajé;
12
de uma pessoa visível não-pajé (sobretudo o soprador que manipula potás ou
o lughahu); ou ainda; por conta própria ou mando de um pajé invisível. Neste último
caso o princípio da doença será enviado por um mestre de espécies animal ou
vegetal (como ocorrem com os derrames, caueru, provocados pela mãe da jaçanã e
pelo dono do tawari, muito comuns entre os Galibi-Marworno) que flecha ou assopra
a vítima, fazendo com que o agente patológico entre no corpo dela e se instale.13
Penso que somente os mestres de espécies animal e vegetal procedem desta
maneira, dentre as pessoas invisíveis, porque apenas eles são pajés, sendo também
os aliados de pajés visíveis em outros contextos.
Tem derrame que escurece a vista da gente aí cai, dando crise. Não
enxerga mais nada, entorta e fica aí. Esse não é de cigarro não. Tem
sopro, gente que sabe soprar. Mas aquele de cigarro não, aquele de
11 Qual não foi minha surpresa ao ouvir um rapaz – filho de um pajé karipuna e na época em
processo de xamanização – me dizer que “hoje quase não tem mais feitiço. As doenças são quase
todas de Deus” e, inversamente, escutar um interlocutor palikur falar que as pessoas no Kumenê
estão “retornando para os costumes antigos” e “aprendendo a soprar, porque estão achando a
vingança melhor”.
12 O urubu-rei (roi khobo ou khobo botã) é um dos Karuãna mais requisitados para a pratica da
agressão xamânica (Vidal, 2001a: 313).
13 As flechas e sopros não são instrumentos, no sentido que lhes conferimos, e eles mesmos são
psyche, são intencionalidade. Por isso repetidas vezes me contavam que, no Outro Mundo, tudo; é
Bicho: as armas, os carros, as cadeiras, as redes de dormir, as portas das casas, as casas, as ruas,
os potes e os “paletós” que as pessoas invisíveis usam para aparecerem Neste Mundo.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
150
cigarro faz enxergar gente, qualquer pessoa. Ai você enxerga gente que
dá tapa em você, enxerga gente.
Enxerga gente da mesma forma que pajé?
É sim, é isso porque está [andando] com o dono do cigarro. Enxerga
essa pessoa.
O dono do tawari?
É sim, dono do tawari14 que a pessoa está fumando com o pajé e aí fica
com derrame, caueru. Por isso que este caueru é tão forte assim,
porque tem gente no corpo da pessoa. Antes de entrar a pessoa
enxerga que é gente; enxerga gente e aí cai. Mas o outro derrame a
pessoa não enxerga nada; apenas a vista que fica escura e aí cai. Se
enxerga uma gente no tukay é essa pessoa que faz o caueru do cigarro.
[Levên. Aldeia Kumarumã, julho de 2005]
A agressão produzida pelo mestre de espécies animal ou vegetal pode ainda
dirigir-se à obtenção de mulheres visíveis que serão levadas para o Outro Mundo.
Rei do jacaré não é desse mundo, não aparece aqui e nem se vê. Ele
faz de conta que é um presidente e fica lá no mundo dele e de lá ele
não sai. Quando ele quer os outros vão levar as pessoas lá onde ele
mora.
Vão levar quem?
Uma mulher, quando ele quer. O pajé fala que é o rei do jacaré quem
fornece esses jacarezinhos. Ele é como um Governo que está lá
encantado. Ele está lá para fazer o mal à pessoa, sempre faz o mal,
nunca faz o bem.
[Getúlio. Kumarumã, fevereiro de 2005]
As pessoas raptadas passarão pela transformação definitiva, virando um
Bicho. Completada a transformação mediante os processos que citei anteriormente
(co-residência, consubstanciação, alimentação compartilhada) a mulher visível é
agora uma pessoa invisível e alimentará o fluxo das potências xamânicas. Nesse
caso o rapto é simétrico à caça que as pessoas visíveis empreendem aos indivíduos
14 Tawari é uma das várias árvores pajé da região e como tal é gente.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
151
de espécies animais, como são simétricas também as relações estabelecidas
(reciprocidade de agressão) e as posições do pajé visível e do mestre da espécie
animal, ele próprio pajé em seu mundo. A administração do fluxo das potências
xamânicas não é, por conseguinte, uma exclusividade do pajé visível, passando
igualmente pelas pessoas invisíveis. Não obstante a agressão empreendida pelo
mestre de espécie animal contra as pessoas visíveis (agressão que, do ponto de
vista das pessoas invisíveis, é obtenção de mulheres) as patologias que tem este
tipo de causação costumam ser tratadas da mesma forma que doenças provocadas
por substâncias perigosas, como o mênstruo (ver adiante). Isto porque, nos casos
em que o emissário da agressão é um mestre de espécie animal ou vegetal, são
previamente esgotadas todas as possibilidades diplomáticas, posto que retaliando
um mestre de espécie animal ou vegetal, o pajé também arrisca as relações
necessárias com as pessoas invisíveis.
Foi por esta via diplomática que Levên interrompeu o processo de
xamanização de Pajezinho, o rapaz seriamente assediado pelos Karuãna e que, por
conta disso, adoeceu gravemente (cf. N3. Iniciação ao xamanismo, Capítulo II),
negociando e intervindo exaustivamente, numa batalha, sem dúvida, mas sem
empreender retaliações. A bem da verdade, não me recordo de nenhum caso em
que uma doença por iniciativa de um mestre de origem animal ou vegetal incluísse
em sua terapêutica a retribuição da agressão; todas as vezes que soube de casos
em que, efetivamente, retribuir a agressão era parte do restabelecimento do estado
de saúde da vítima, o diagnóstico prévio havia indicado que o emissário do piaii era
um desafeto da vítima ou alguém que a “estava invejando”. No exemplo do rito de
extração do agente patológico que assisti e descreverei adiante, a pajé responsável
por “chupar a doença” e mandá-la de volta não sabia quem era o autor(a) da
agressão e ficaria sabendo apenas a posteriori observando quem, decorrido um
tempo, ficou gravemente doente. Ou seja, o agente patológico voltaria direto para o
seu dono, provavelmente um pajé que escalou uma de suas pessoas invisíveis para
a missão.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
152
Falei das pessoas invisíveis que agem como agentes patológicos ao expor
sua intencionalidade canibal. Há uma outra causa para doenças na etiologia do
baixo Oiapoque que não é derivada dessa mesma lógica, mas deriva de uma forte
relação simbólica entre estados de suspensão social e qualidades de secreções
corpóreas. Abaixo é possível ver como o princípio patológico presente nessas
substâncias difere daquele exposto anteriormente como ação predatória:
[...] Tem muitas coisas que fazem derrame. Tem frieira que entra no
corpo e faz derrame. Tem derrame quando a mulher está menstruada e
anda balançando as pernas ou quando teve criança e fica andando por
aí; esse sangue que sai dela entra no corpo da pessoa quando pisa em
cima e faz derrame. Está trabalhando no sol quente, torrando farinha
com corpo quente, suando. O suor está caindo. Larga o forno e pisa no
suor; é assim que entra derrame. As pernas vão ficando pesadas e a
pessoa não anda.
[Levên. Aldeia Kumarumã, julho de 2005]
Conforme se vê com clareza, há doenças cuja causação deriva da
combinação de aspectos constitutivos do agente patológico com sua função
decodificadora de posições e estados sociais. O sangue menstrual e do pós-parto
são exemplos eloqüentes, pois eles sinalizam estados de evitação/reclusão que
devem ser observados pela mulher que, sob eles, fica metaforicamente doente. E é
essa condição de doença simbólica que pode ser transmitida e contaminar
efetivamente quem com tais substâncias tiver contato. O risco principal de tais
condições femininas, sobretudo aqueles relativos à menstruação, deve-se à forte
atração que o cheiro do mênstruo produz em algumas pessoas invisíveis, efetuandose a partir dessa condição temporariamente à margem da mulher – posto que é para
fora da sociedade que ela é lançada no período das regras, sem participar
integralmente das atividades produtoras do convívio social – a união interespecífica
entre pessoas visíveis e invisíveis. É menstruada, e somente nessa condição, que a
[Cap. III] A humanidade dos Outros
153
mulher poderá engravidar dos Karuãna caso não proceda aos ritos de evitação
relativos ao seu estado.
Rito e cura: os Karipuna
Aqui apresento uma rápida descrição de rituais xamânicos de cura entre os
Karipuna. Apoio-me em Dias (2001) e Tassinari (1998) e em registros que produzi de
uma xitoto assistida na aldeia Manga em agosto de 2005. A estrutura das sessões é
a mesma que coordena as xitotós realizadas pelos Galibi-Marworno, variando
aspectos relacionados ao pajé que coordena a sessão, como os cantos. Os Palikur,
assim como os Galibi-Kalinã, não produzem – ao menos que se conheça – tais
rituais de cura, o que também não quer dizer que não os procure.15 De fato, durante
as várias incursões anuais à Guiana Francesa, os Palikur do Urukauá procuram por
serviços xamânicos entre os pajés Saramaká de Saint Georges e Cayenne, não
recorrendo aos pajés karipuna e galibi-marworno por achá-los menos poderosos ou
por pretenderem uma maior discrição em relação à utilização dos serviços que eles
oferecem.
As sessões xamânicas de cura entre os Karipuna, xitotó ou cantarola,
assemelham-se àquelas da pajelança cabocla amazônica.16 O doente é levado até o
pajé, ou este vai até ele, que inicia a sessão com defumações de tabaco e cantorias
rituais a fim de chamar seus Karuãna auxiliares. O pajé permanece durante todo o
rito sob um casulo de tecido chamado tukay e que consiste de um quadrado de 1m
de lado feito com uma estrutura de quatro varas enfiadas no chão, fechadas
completamente até uma altura de 2 m com lençóis unidos por costura e de cores
claras, de modo a formar uma pele esticada sobre a estrutura de varas. Uma
15 Os Palikur, mesmo convertidos, não deixaram de vez o xamanismo e associaram os próprios
missionários que os introduziram no pentecostalismo a um xamanismo mais poderoso cuja potência
xamânica, Deus, era superior a seus pajés (Capiberibe, 2001: 155). Com a gradual adesão ao
pentecostalismo, o xamanismo palikur passou a ser reduzido à agressão e os pajés foram
responsabilizados pelas dissensões intracomunitárias. Contudo, ao adotarem a crença evangélica e o
modelo extático do pentecostalismo, os Palikur estenderam a todos a possibilidade da experiência
xamânica, antes restrita aos pajés, e passaram a experienciar a divindade cristã através do sonho e
do transe (Capiberibe, 2001: 183).
16 Para uma descrição da pajelança cabocla amazônica cf. Maués (1990) e Galvão (1955).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
154
abertura frontal permite a entrada e saída do pajé do casulo e a entrada das ofertas
de bebida feitas aos Karuãna que chegam.
Durante todo o tempo o pajé fica sentado no banco zoomorfo de seu Karuãna
principal. Dentro do casulo, completamente abrigado da audiência, ele fuma
compulsivamente cigarros de tawari e tabaco preparados por seus assistentes
diretos, geralmente co-residentes do pajé, cujo nome, paliká, é tomado de uma
árvore-pajé. O paliká também zela pelo espaço ritual enquanto o pajé viaja pelo
Outro Mundo a fim de encontrar seus zami, além de recepcionar e conversar com os
Karuãna que aparecem durante a sessão.
Ao chegarem, os Karuãna convidados fazem o diagnóstico da doença. Se for
causada por agressão xamânica, o agente patológico poderá ser removido do corpo
do paciente por meio de sucções tópicas em sessões subseqüentes; caso seja
“doença de Deus” as prescrições poderão ser banhos, cataplasmas de ervas ou o
conselho para que um médico seja procurado (Dias, 2000: 245). Confirmada a
agressão, o pajé chamará Laposinie (as plêiades)17 a fim de extrair o agente
patológico que surge em sua boca sob a forma de “pequenos objetos pontiagudos e
insetos” (Dias, 2000: 246). Os karuãna dos pajés karipuna são chamados também
de Bichos encantados, ou Bichos do fundo, e possuem gênios diferentes; os Djabs
podem devorar almas humanas, e são impertinentes com seus “donos” pajés,
exigindo-lhes coisas, ao passo que há os Karuãna kamahad, são afáveis:
“[...] a designação karuãna refere-se a todos os seres que têm relação
com determinado pajé. Um karuãna está sempre ligado à figura de
algum pajé, e também pode ser chamado por ele de amigo (zami) ou
camarada (kamahad), sendo sempre considerado uma individualidade,
tendo inclusive uma história e personalidades próprias. Os karuãnas de
um pajé englobam ‘bichos’, como cobras, jacarés, macacos e pássaros;
‘almas’ como ‘arari’, ‘tauari’, mas também categorias diferentes de
seres, habitantes de mundos diversos, como os ‘curupiras’ (djab dan
bua), ‘diabos’ (djab), banahes, entre outros. A todas essas categorias
são atribuídas capacidades próprias, às vezes línguas específicas, e
17 As Plêiades são um aglomerado de aproximadamente 500 estrelas, conhecido desde a préhistória e localizado na constelação de Touro. Seis ou sete dessas estrelas são visíveis a olho nu e
por isso chamam também de “Sete irmãs” ou “Sete estrelas”.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
155
também podem ser chamados pelo termo mais genérico de ‘bichos do
pajé’ “.
]Tassinari, 1998: 238[
Retornarei adiante à classificação das pessoas invisíveis que atuam como
espíritos auxiliares dos pajé no baixo Oiapoque, propondo uma classificação mais
ampla que inclua os Encantado dos pajés galibi-marworno. Os pajés karipuna são
de dois tipos: de nascença,18 que podem ser irmãos gêmeos ou o primeiro irmão a
sucedê-los, e os que, por não terem um dom especial, tiveram de passar por um
processo de aprendizagem, comumente coordenado pelo próprio pai, também
pajé, que cederá ao neófito alguns de seus Karuãna (Dias, 2000: 173). Sua
atuação pública são as xitotós, mas também utiliza os poderes de seus espíritos
auxiliares para intervir na caça e na pesca, aumentando a população das
espécies ao soltá-las nos planos do cosmos que se encontram aprisionadas em
currais.
Não obstante a importância das cantarolas, o complexo xamânico karipuna
é condensado no turé, ritual organizada pelo pajé como prestação às curas
obtidas por interferência dos Karuãna. É o momento em que também dissipam-se
as dúvidas sobre as habilidades de um pajé, sua disposição em empregá-las ou a
natureza de suas atividades, pois se há retribuição aos Karuãna é porque a clínica
xamânica está à serviço de todos e operando satisfatoriamente.
A preparação de um turé entre os karipuna mobiliza uma rede de
agenciamentos e reciprocidade inter-familiar. Trata-se de uma festa em que se
oferece caxiri19 (cerveja de mandioca) aos Karuãna como retribuição às curas,
cabendo às famílias dos doentes curados providenciar os ingredientes para o
preparo da bebida; mas também é a ocasião de se fazer arranjos matrimoniais,
18 São aqueles cujas mães se enamoraram, oniricamente, de Karuãna durante a gestação. Os pajés
de nascença têm, pois, parentes no fundo e em algum momento de suas vidas serão por estes
convidados a conhecer sua outra família (Tassinari, 1998: 239).
19 O caxiri karipuna é feito dissolvendo-se beiju de mandioca em água e adicionando-se açúcar e
bata doce. Toda a mistura é colocada em potes tampados com folhas de bananeira, deixada
fermentar por uma noite e coada na hora que for bebida (Tassinari, 1998: 226).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
156
corroborar circuitos de reciprocidade, reforçar alianças e fronteiras sociais. Por
meio do rito, o xamanismo karipuna denota uma série de atividades voltadas para
a manutenção de relações de reciprocidade com as pessoas invisíveis que
possuem grandes poderes de intervenção na vida das pessoas visíveis. Ao pajé
cabe, portanto, inverter tal equação que, se mantida, poderia acarretar prejuízos à
vida social; ele domestica as pessoas invisíveis e utiliza seus poderes para intervir
Neste e no Outro Mundo. Entretanto, como tal capacidade também pode voltar-se
contra o bem comum (transformando-se em agressão), o pajé tem a obrigação de
organizar o turé para comprovar seus rendimentos clínicos e para que todos
possam dançar e beber com seus Karuãna.20
A reciprocidade entre pessoas visíveis e invisíveis segue o mesmo padrão
das relações cotidianas interfamiliares, sociabilidade apropriada a uma sociedade
em processo de construção cultural (Tassinari, 1998: 252-253). E é este processo,
derivado da conjunção de fluxos culturais diferentes e que elege a abertura para o
exterior como modo de reprodução coletiva, que produz influentes pajés, cujos
poderes são regionalmente conhecidos e respeitados. O processo karipuna de
construção cultural coloca à disposição do xamanismo novos conhecimentos e
saberes oriundos de diversas matrizes (sobretudo dos brancos) e que,
controlados, agregam poder e força aos seus pajés.
Uma situação semelhante de acesso privilegiado a bens e conhecimentos
distantes que quando controlados revertem-se em poder xamânico, experimentam
os pajés waiãpi do Camopi, alto Oiapoque. A proximidade com setores do mundo
dos brancos e a experiência com essas relações, permite-lhes, na ótica dos
Waiãpi do Amapari, ao sul, uma notável capacidade de agressão e cura. Assim, é
com os pajés do Camopi que os Waiãpi do sul vão buscar a cura para as doenças
mais perigosas (Sztutman, 2000: 228-229). A identificação do norte como o foco
dos poderes xamânicos de agressão pelos waiãpi do Amapari localizados ao sul,
revelaria
uma
dinâmica
intercomunitária
de
repartições,
articulações,
20 Aqui, nitidamente, é o social que predomina sobre a atividade do xamã, controlando-a, ao contrário
do que ocorre em algumas sociedades, como entre os Akawaio, povo carib da Guiana, onde o poder
de cura do xamã se converte em poder de controle social (Butt, 1966: 154).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
157
aproximações e distanciamentos que tem no xamanismo um dos canais de
expressão (ib.: 230).
Retaliação: extração do agente patológico
a- A mulher pajé
Cecília é uma pajé atuante em cenários urbanos diversos cuja clientela é
composta por índios (de ambos os lados da fronteira), Saramaká e brasileiros
regionais. Todos a procuram e seu prestígio proporciona-lhe atuar em centros
maiores, como Belém e Macapá, ou lugares mais distantes, como o interior de
Goiás. A procura pelos seus serviços xamânicos e sua mobilidade entre contextos
diferentes fazem de Cecília um ponto na textura maior das relações regionais para
onde elas convergem e tornam-se densas; seus deslocamentos, antes de
proporcionarem experiências pictóricas de lugares, são experimentos de relações
sociais intensas (como toda viagem xamânica) com pessoas de lugares diferentes
(Vilaça, 2000: 68). E não é esta condição de estar em trânsito, se mover por
alteridades, totalizar pontos de vista singulares que possibilita o trabalho de tradução
do pajé? (Carneiro de Cunha, 1998). Assim, inverter-se-ia a relação de causalidade
das prerrogativas: Cecília é boa porque viaja (soma pontos de vista) e não viaja
(soma clientela) porque é boa.
Já havia algum tempo, desde que tomei conhecimento de suas atividades
como pajé, que esperava conhecê-la, mas a aproximação tinha de ser cautelosa e a
ocasião pertinente para um encontro ainda não havia surgido. Tudo o que eu sabia
sobre a pajé Cecília antes de encontrá-la era que ela iniciou Levên no xamanismo
(ao fazer a transfusão dos Karuãna de Arsênio para ele, assunto que tratei no
Capítulo II); a mãe era Karipuna e o pai Galibi-Marworno e que ela havia saído de
Kumarumã há bastante tempo por causa de acusações de inépcia ritual; o motivo
não teria sido feitiçaria, mas a cura não obtida de um garoto do qual ela estava
[Cap. III] A humanidade dos Outros
158
tratando e terminou por falecer21. Sua fama de pajé poderosa também não me era
estanha; o próprio Levên e seu paliká, indicado por ela, haviam se referido à Cecília
como habilidosa curadora e conhecedora, como ninguém, dos cantos de turé.
Ritualmente, a relação que ela mantém com Levên revela forte influência sobre ele;
segundo foi visto no capítulo antecedente, ela o fez enquanto pajé, ou melhor, ainda
o está fazendo, já que o processo não atingiu sua completude, não concedendo a
Levên licença para realizar algumas operações xamânicas, como “chupar doença”.
Esta relação de mestre-pupilo ela ilustra dizendo que ele é seu “filho no trabalho” e
precisa ainda ser monitorado e auxiliado; a contrapartida são as visitas xamânicas
que Levên lhe faz a quando realiza xitotós em Kumarumã.
Cecília é pajé de nascença, foi escolhida pelos Karuãna, e embora seu pai
fosse pajé, ela traçou um caminho autêntico, iniciando suas funções aos seis anos
de idade com seu próprio conjunto de espíritos auxiliares, sem ter herdado Karuãna
de seu pai. Este contato muito cedo com as pessoas invisíveis contribuiu para sua
posição de prestígio visualizada na procura por seus serviços xamânicos. A sessão
de cura que ela realizaria naquela noite era o final do tratamento da esposa de
Levên que há quase um mês vinha sendo assistida por ela com preparados caseiros
fitoterápicos. Como ocorre na maioria das vezes, a causa da doença era agressão
xamânica, mas o tratamento com Cecília vinha sendo feito em conjunto com o
acompanhamento alopático da enfermaria da CASAI em Oiapoque. O quadro
sintomatológico indicava, para os médicos, uma indisposição generalizada do
organismo em função de pressão alta e descompassada apresentada por Madame
(sempre a tratei assim, um pronome feminino de distância emprestado aos créoles e
utilizado pelos índios do baixo Oiapoque). Para Cecília, feitiçaria. A finalização do
tratamento consistia de duas etapas: uma operação, que seria realizada pelos
Karuãna mais experientes, e a extração do agente patológico.
21 Informação pessoal de Lux Vidal. Responsabilizo-me pela eventual falta de correção dos detalhes
desta informação, pois que ela me vem agora na memória.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
159
Conheci Cecília um dia antes de vê-la tratar Madame, quando estive em sua
casa na companhia dela e de Levên em uma das visitas diárias que o casal lhe fazia.
Em Kumarumã já havia sido informado pelo paliká de Levên da finalidade da estada
de ambos no Oiapoque, mas as demais pessoas quase sempre diziam que tratavase de uma terapêutica alopática apenas, que Madame estava internada na CASAI
ou algo do gênero. Pura desinformação ou a revelação de um tratamento de
neutralização de forças xamânicas patológicas põe em perigosa evidência a teia da
agressão?
Em uma comunidade como Kumarumã – uma espécie de vila indígena com
mais de 1600 pessoas compondo hãs, “bairros”, setores e outras segmentações
espaciais – a participação nos assuntos da vida alheia é evitada ao máximo, pois as
acusações de agressão xamânica, que muitas vezes se originam como reação às
bisbilhotices de vizinhos, é uma das formas de relações intracomunitárias mais
ativas e as pessoas temem, de fato, os seus efeitos (Vidal, 2003).22 E tal temor se
expressa tanto ao se evitar circular por certas regiões da ilha, locais reconhecidos
como de morada de poderosos sopradores, quanto pela garantie23 que algumas
pessoas portam presas ao pescoço. Mesmo as que “não acreditam em feitiço”,
conforme dizem. Também para os Karipuna a agressão xamânica, embora esteja
arrefecendo, é fato e causa de boa parte das doenças; ela está virtualmente
presente em qualquer atividade do xamanismo, sendo preciso que o pajé anuncie
publicamente antes de iniciar um trabalho de cura sua opção e parceria com
pessoas invisíveis comandadas por Deus (Tassinari, 1998: 246). Para os Karipuna, o
feiticeiro tem o diabo ou o lobisomem como parceiros (ib.: 256).
22 Uma demonstração eloqüente do temor da agressão xamânica em Kumarumã ocorreu em 2003,
quando o chefe de posto local, índio Galibi-Marworno e respeitável liderança, apesar de estar
causando descontentamentos pelos seus serviços administrativos, vinha se mantendo no cargo
porque as pessoas temiam sofrer retaliações na forma de feitiçaria da parte dele (Vidal, 2003).
Tensões entre famílias de Kumarumã motivadas por acusações de agressão xamânica são as mais
difíceis de serem solucionadas, como uma vez me disse uma respeitada liderança galibi-marworno.
23 Espécie de amuleto protetor que faz o corpo do usuário ficar refratário a qualquer agressão
provocada por pessoas invisíveis ou fórmulas incantatórias (potás).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
160
O universo da agressão xamânica é latente no Uaçá e mobiliza relações intra
e intercomunitárias que preenchem um cotidiano que se desenvolve em surdina, até
que emerge bruscamente na forma de doenças ou de acusações públicas. Aquela
sessão de cura que Cecília realizava para extrair o agente patológico do corpo de
Madame era apenas mais uma dentre várias já cumpridas e certamente não seria a
última, haja vista a devolução da agressão com o envio do agente patológico ao seu
remetente original. Assim, na escala das redes de relações o circuito da agressão
pode ser retro-alimentado a cada nova intervenção xamânica feita para neutralizar
pontualmente (em um corpo individual) a agressão; tratar um indivíduo assaltado por
feitiçaria é intervir em uma cadeia de relações de agressão, gerando novas relações
agressoras.
b- A extração do Bet
Antes da sessão de cura iniciar é preciso preparar o espaço. Na sala da casa
de Cecília – feita de madeira, coberta com telha de zinco e suspensa, como é o
padrão nas cidades e nas aldeias da região – seu marido, e paliká, armou o tukay
juntamente com Levên, afastando antes alguns poucos móveis. Este tukay era
idêntico ao que descrevi algumas páginas atrás, excetuando o mastro colocado
atrás, que não havia.
Não havia também audiência, nem caxiri, muito apreciado pelos Karuãna; em
seu lugar, cerveja industrial e refrigerante. Cecília, Levên e o paliká usavam cigarro
de tawari, o preferido pelos espíritos auxiliares. A pajé toma o seu lugar no tukay,
cuja parte superior é a única que permanece aberta todo o tempo, e comunica-se
com seus consortes invisíveis sem ser vista, apenas ouvida. Dentro deste minúsculo
espaço de contato, apenas o maracá e o seu banco a acompanhava, instrumentos
que, junto com o bastão ritual (saurú ou pairá), compõe o arsenal com o qual o pajé
se basta. Cecília utilizava um pequeno banco comum de madeira, sem desenhos,
entalhes ou representação zoomorfa de seu Karuãna principal, destoando do que é
praxe na região e nas Guianas em geral (Métraux, 1963: 594).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
161
A seqüência de cantos é o convite para que os Karuãna do pajé estejam
presentes para a diagnose e cura das doenças. Os cantos são entoados conforme a
convocação desejada e adequada ao momento, pois há Karuãna que desempenham
papéis que só a eles competem, como fazer a extração do agente patológico.
Observei uma seqüência parecida com a que havia visto antes nos trabalhos
realizados por Levên e por Cocotinha, em Kumarumã; o detalhe ficou por conta de
um canto em português em louvação a mestre Jarí. Esta seqüência era especial
para consultas e operações, sendo eficientes no chamado aos Karuãna doutores,
mas não se utiliza no turé.
Após o 4º canto teve início o processo de retirada do agente patológico que se
instalara no corpo de Madame. Levên havia me dito que toda a seqüência anterior
do tratamento havia sido realizada com relativo sucesso, mas que sua esposa só
ficaria boa quando o Bicho (Bet) fosse retirado de seu corpo, processo que ele
mesmo não poderia realizar como pajé, pois não tinha competência ritual para lidar
com os Karuãna que fazem operações deste gabarito. Os Karuãna que vêm realizar
a operação para retirar o agente patológico são os doutores, gente de Laposinie, os
principais em termos de poder de cura. “São doutores, doutores mesmo, como a
gente vê no hospital, todos de branco”, explicava-me Levên. Antes dos doutores,
entretanto, vêm outros Karuãna que elaboram os procedimentos preparatórios para
a operação de extração do Bet, como identificá-lo e localizá-lo com precisão no
corpo da pessoa. Tendo cumprido esta etapa, Cecília começou a defumar
vigorosamente o corpo de Madame, direcionando a fumaça para a sua barriga
(aparentemente para que a fumaça – um veículo potencial para o pajé e os Karuãna
– penetrasse no corpo). Todo este procedimento decorreu fora do tukay, assim como
acontece para as demais atividades de atendimento clínico que o pajé desempenha
junto às pessoas que o procuram.
A extração do Bet é o clímax. No local do corpo de Madame a ser operado, já
previamente defumado, Cecília faz sucções tópicas e em seguida cospe em uma
tampa média recoberta de algodão um corpo preto, com o formato de um pequeno
bastonete de 5 cm de comprimento e textura firme. Sua aparência era de fibras de
algodão misturadas a betume. Os Karuãna doutores operam tal qual médicos em
[Cap. III] A humanidade dos Outros
162
uma sala de cirurgia, utilizando os instrumentos apropriados e manipulando o corpo
da pessoa. A partir daí houve uma longa pausa para se observar, detalhadamente,
aquele corpo e se especular sobre ele. Levên me mostrava aspectos físicos do Bet,
que já estava em estado avançado de crescimento e desovando dentro de sua
esposa: “Aqui tem um olho, a boca... cheia de dentes! Dá até pra ver os dentes.
Você esta vendo aqui?”. Com um pouco mais de tempo a saúde de Madame estaria
seriamente comprometida, como também se complicariam as condições para a
extração do agente patológico, posto ser uma intencionalidade canibal que vai
devorando o doente por dentro. A etapa seguinte é a devolução do Bet ao emissário
da agressão (chamado de dono da doença). Tudo transcorre de forma muito rápida;
o corpo preto é assoprado por Cecília e pronto, imediatamente some do algodão. Já
está a caminho de seu dono (meio machucado, talvez, pelas várias cutucadas que
recebeu) indo agora se instalar em seu corpo como agente patológico. Conforme
comentei, seria apenas com a manifestação da doença devolvida que seu emissário
original (agora receptor) poderia ser conhecido. E uma vez no corpo de sua nova
vítima, seu próprio “dono”, o Bet vai crescendo até provocar a morte do doente, caso
não seja retirado por um outro pajé.
Isto merece atenção. Nunca se sabe, ao certo, quem é o emissário da doença
e a cadeia de agressões xamânicas é alimentada por acusações, suspeitas, venetas
e ardis. Uma boa dose de desejo de revide completa um ciclo de agressão e dá
prosseguimento às novas suspeitas. Mas raramente tudo isso é dirigido a uma
pessoa em especial e quando o é, é porque ela reúne suficientemente prerrogativas
para ser um agente de agressão em potencial; membro de um grupo local rival ou
distante, pessoa de um grupo conhecido por ter pajés poderosos e perigosos,
estrangeiros, afins etc. O exemplo dos Kanamari de Rondônia é especialmente
didático nesse sentido; os pajés conseguem identificar de que grupo local (Djapa)
kanamari ou grupo estrangeiro veio o agente patológico (tukurimi), mas apenas os
pajés mais poderosos e notórios podem fazer a identificação individual da agressão
(Carvalho, 2002: 307), atribuindo-lhe normalmente a alguém que está no raio
sociológico da “distância próxima”, mas fora dos Djapa (Reesink, 1991: 99).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
163
A agressão xamânica opera com uma classificação de pessoas cujo eixo
principal está orientado pelas distâncias sociais entre elas, pondo em evidência e
atualizando relações estabelecidas dentro dessa escala de proximidade e distância.
A metáfora canibal
O argumento basilar para a definição de um xamanismo como metáfora da
guerra e da predação é aquele que diz que a atividade xamânica é agressão dirigida
para fora e dentro do grupo social do agressor e, portanto, comporta-se como se
fosse a continuação da guerra por meios ritualizados. Os Yanomami apresentam um
tipo exemplar de xamanismo agressivo (shaburimu), bastante adaptado à sua
dinâmica socio-política de grupos locais autônomos que concebem um gradiente de
perigo e agressão à medida que aumentam o distanciamento e a não-convivência
entre eles, substituindo-se a reciprocidade entre os consangüíneos e afins próximos
de uma mesma aldeia – espaço social da convivialidade – pela predação entre os
puramente outros que habitam as aldeias desconhecidas (Albert, 1985; 1992).
O xamanismo agressivo yanomami está edificado sob um “modelo simbólico
de hostilidade intercomunitária” (Albert, 1985: 311), forma êmica de interação
política, e opera através da convocação por parte do xamã (shaburibë) de seus
espíritos auxiliares (hekurabë). O chamado ocorre sempre mediante o transe por
ingestão de substâncias alucinógenas e é performatizado com coreografias e cantos
específicos aos auxiliares convocados. Esses são, na maioria, espíritos animais ou
réplicas de entidades sobrenaturais apresentadas ao xamã yanomami sob a forma
de humanóides miniaturizados (ib.: 312), cuja ação consiste em atacar, com suas
armas de agressão, a imagem vital (ou duplo) de pessoas residentes em
comunidades inimigas e devorá-las; podem ainda extrair objetos patogênicos de
pessoas aliadas ao xamã ao qual estão ligados (ib.: 313-317). Tanto os hekurabë
quanto os në wanibë (“filhos de espíritos maléficos da natureza”) são convocados
pelo xamã conforme o tipo de exercício a ser realizado; suas marcas são a
[Cap. III] A humanidade dos Outros
164
especialização de cada grupo de espíritos ou indivíduos e não essências diferentes24
(ib.: 314).
Entre os Pirahã – um grupo mura dos rios Marmelos e Maici, Amazonas – não
há xamanismo associado a rituais de cura, ou de caça e nenhum tipo de prática
terapêutica é desempenhada com sua aplicação; ele caracteriza-se por ser um
“espaço de criação da cosmologia” (Gonçalves, 2001: 145). O xamanismo pirahã
assemelha-se parcialmente aos xamanismos de agressões simbólicas dos
Yanomami e dos Achuar da Amazônia peruana e é alimentado pelo permanente
estado de tensão e perigo que atravessa as relações entre os grupos locais
(aldeias), entre os humano e seres-demiurgos abaisi e entre os humanos e os
animais de caça (ib.: id.). Entretanto, o xamã pirahã não desempenha a função
guerreira dos xamãs yanomami, por exemplo, e apenas “troca de lugar” com
habitantes de outros patamares do cosmos a fim de que, facultando-lhe a palavra
durante as sessões xamânicas, estes avisem os humanos sobre riscos iminentes
que eles correm. A narrativa do xamã revela, pois, uma perspectiva extra-humana:
“Enquanto os seres do Cosmos estão no patamar pirahã durante a sessão do
xamanismo, o xamã ‘troca de lugar’ com eles e passeia por ‘outras terras’. É a
ocasião em que os seres falam pela boca do xamã, o qual torna literalmente
presente a apreensão dos demais seres – os abaisi, os kaoaiboge, os toipe e os
animais – sobre o Cosmos” (ib.: 146).
O xamanismo parakanã é uma modalidade eloqüente de relação com o
exterior (Fausto, 2001: 336). Esse grupo tupi do Sul do Pará insere-se no complexo
de relações de predação com a alteridade, sintetizado por aquilo que Viveiros de
Castro (1986) chamou de “economia política da predação”. Não há especialistas
nessas relações, nem em ritos de retirada de agentes patogênicos canibais –
karowara e topiwara – enviados por um feiticeiro e nem mesmo em ritos de caça
(Fausto, 2001: 338), dispensando os Parakanã maior atenção aos inimigos humanos
vivos. Dominar os karowara e adquirir poderes xamânicos está acessível aos
24 Os Yanomae do Alto Toototobi empregam atributos morais aos espíritos, conforme o espaço social
ou grupo local em que eles predominam, e compete ao xamã identificar tais atributos na hora de com
eles estabelecer relações (Smiljanic, 1999: 94). Essa postura reflete a dinâmica de distanciamento e
agressão entre os subgrupos yanomami.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
165
parakanãs através dos sonhos e qualquer um pode assumir, transitoriamente e em
situações de urgência, a atividade terapêutica (ib.: 355). O ofício xamânico,
entretanto, só é alcançado por um conjunto especial de pessoas, tais como os
brancos, os inimigos ou as mulheres raptadas, e a maneira parakanã de acessar os
bens de cura é ter, sob controle, inimigos-xerimbabos oníricos doadores de cantos25
terapêuticos, sobretudo os cantos karahiwa (ib.: id.).
A economia simbólica da guerra visa a reprodução do grupo através da
aquisição das subjetividades alheias e o xamanismo parakanã, sem xamãs, permite
isso à medida que não emprega ritos de dessubjetivação, sobretudo aqueles
aplicados à caça: “Na guerra (ameríndia), em vez de desubjetivação, temos a
determinação da condição subjetiva da vítima para dela se apropriar mais
eficazmente. Atividade guerreira e cinegética são formas diferentes de consumo: a
primeira visa à aquisição de princípios de subjetivação para a produção ontológica
de pessoas; a segunda implica a extração prévia desses mesmos princípios para
assegurar o crescimento vegetativo do indivíduo” (ib.: 538).
Entre os xamãs kanamari da Amazônia Ocidental, os artefatos-sujeitos
patogênicos e os espíritos auxiliares animais (tukurimi) correspondem à mesma
potência xamânica, os djohko ou karowara, que são fabricados e cultivados pelo
xamã (Carvalho, 2002: 303-304). Tais objetos possuem as propriedades para matar
(agressão) e para curar (anti-agressão) desempenhando uma ou outra conforme a
relação estabelecida com o xamã (ib.: 306). Os djohko são confeccionados a partir
da combinação de resina vegetal com partes de um animal cuja qualidade letal
pretende-se adicionar à peça em preparação; após isso serão guardados
apropriadamente pelo seu xamã que os introduzirá no corpo dos neófitos ou no seu
próprio para permanecerem refratários aos ataques de xamãs adversários (ib.: 304311). A relação que o xamã mantém com seus djohko é a de “dono” ou “pai”, o que
não o escusa de reciprocidade para com esses seres; ao contrário, o não
cumprimentos das ofertas de fumo pode levá-lo ao abandono por seus djohko,
25 Para um exame amplo da presença do canto xamânico entre sociedades ameríndias amazônicas
veja o trabalho de Cesarino (2003).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
166
demonstrando que seu poder está sujeito à transitoriedade e depende da
manutenção da reciprocidade.
Tal virtualidade na relação mostra, por sua vez, que o processo de
domesticação dos tukurimi é um processo análogo aquele de familiarização dos
xarimbabos-inimigos parakanã, fonte do poder curativo (Fausto, 2001: 355).
Dispondo dos poderes xamânicos desses artefatos-sujeitos patogênicos, os xamãs
kanamari representam uma fonte virtual de perigo para o seu próprio grupo local e
têm, constantemente, seus limites de atuação sancionados coletivamente, pois o
consenso é que “o xamã deve ajudar a população, defendê-la, expectativa que,
contrariada em larga extensão, pode justificar a destituição, e mesmo a eliminação,
do xamã [...]” (Carvalho, 2002: 309). Com base no cenário kanamari de
fracionamento do espaço social em diversos grupos locais rivais, vemos que a
ideologia da predação perpassa o xamanismo e o processo de domesticação – a
transformação do tukurimi em djohko – o que demonstra que, no plano ideal da
sociedade kanamari, o controle de forças patogênicas por seus xamãs presta-se
tanto para a cura intra-Djapa quanto para mover uma dinâmica de agressão
xamânica inter-Djapa com o envio de djohkos (ib.: 350).
O pajé waiãpi guarda em seu próprio corpo os artefatos-sujeitos que utiliza
tanto para curar quanto para produzir agressões (Gallois, 1996: 41). Para os Waiãpi,
a força do xamã decorre deste arsenal de armas e substâncias e seu ofício é uma
demonstração de que o possui; o xamã é i-paie, aquele que “tem pajé”. O
xamanismo não decorre de uma qualidade especial do i-paie, mas da apropriação,
domesticação e manutenção sob o seu controle de potências xamânicas alheias, o
que quer dizer que ele comunica-se de forma especial com os domínios extrahumanos, tendo acesso à potência xamânica do arsenal que o acompanha
(designado por paie, “pajé”), e domina, através de sua iniciação, os procedimentos
técnicos de cura e agressão (ib.: 42). Dois elementos são essenciais ao
desenvolvimento do xamã; o warua – espelho com o qual ele vê os seres do
universo em sua verdadeira forma, a prístina e humana – e o tupãsã, fios invisíveis
que unem as criaturas aos seus respectivos “donos” e que são manipulados pelo
xamã para recriar relações (ib.: 42-43). Como é válido para o pajé kanamari, o poder
[Cap. III] A humanidade dos Outros
167
do xamã waiãpi é revogável, caso relaxe o compromisso com seus espíritos
auxiliares. Ocorrendo, ele perde o paie e a comunicação com os planos extrahumanos. Durante seus embates nos níveis supra-empíricos, o xamã sofre alteração
que deixa-o mais próximo das substâncias das potências combatidas, acarretandolhe modificações permanentes no corpo que, de resto, transforma-o em “outro”e
possibilita o desempenho de suas funções mediadoras: “O xamã suporta a
alteridade em seu próprio corpo, capacitando-o para uma relação imediata e
permanente com o mundo não-humano. Ele ocupa uma posição ambígua, pois tanto
representa a sociedade dos vivos no mundo sobre-natural quanto encarna a
presença do sobre-natural no mundo dos vivos. A especificidade dos xamãs está
nessa ‘mistura’ que lhes conferem as substâncias do paie: um estar intermediário,
entre seres normalmente separados” (Gallois, 1988: 335).
As pessoas do pajé
Assim como nas demais províncias etnográficas das terras baixas sulamericanas e alhures, o xamanismo na região do baixo Oiapoque tem a função de
produzir a relação controlada entre as pessoas visíveis (o grupo social) e demais
habitantes invisíveis do cosmos cuja capacidade de ação permite-lhes intervir no
destino daqueles, seja positiva ou negativamente. Tudo se passará conforme a
atitude do pajé e o controle que ele desenvolve sobre os Karuãna, pessoas invisíveis
aos olhos comuns e dotadas de poderes extraordinários provenientes de armas que
utilizam e que, por seu turno, são entes em psyche e ação autônoma. Tanto os
Karuãna dos índios da região do baixo Oiapoque; o Karowara dos Asuriní do
Tocantins (tupi) (Müller, 1993) e dos Kanamari do alto Jutaí e médio Juruá (katukina)
(Carvalho, 2002); o Karorawa-topiwara dos Parakanã (tupi) (Fausto, 2001); o Karawa
dos Wari’ (pakaa nova/txapakura) (Vilaça, 1992); e os Aruanã dos Javaé da Ilha do
Bananal (jê) (Rodrigues, 2004), são poderosas potências xamânicas, às vezes com
excepcionais poderes de predação, com as quais lidam os pajés. Sugiro, amparado
na afinidade das nomenclaturas e de sua causalidade, tratar-se de variações
topológicas de uma mesma e única estrutura de relações pan amazônica (Viveiros
[Cap. III] A humanidade dos Outros
168
de Castro, 1986) que incluiria outras substâncias-forças xamânicas cujo efeito
predatório é saliente.
Na região do baixo Oiapoque a terminologia portuguesa comum e geral para as
pessoas invisíveis do pajé é Bicho e chama-se paletó (e também camisa) ao
invólucro ou envelope que elas utilizam a fim de apresentarem-se às pessoas
visíveis com os poderes e as características de um determinado animal, planta,
fenômeno meteorológico ou objeto inanimado. Desse modo, sem a mediação do
pajé, aproximam-se das pessoas visíveis a fim de raptar-lhes as mulheres e lhes
introduzir doenças; ou ainda para lhes prestar assistência em alguma desventura.
Não sendo possível uma pré-avaliação segura da índole desses entes – salvo,
talvez, aqueles especializados no suporte à clínica xamânica e que são chamados
pelos pajés de zami ou kamahad – os encontros das pessoas visíveis com os Bichos
são sempre imprevisíveis, devendo, portanto, ser evitados. A etnologia amazônica
tem se referido largamente à capacidade de alteração morfológica dos entes que
povoam os cosmos das populações indígenas, designando por “roupa” ou
“envelope” o artefato-sujeito responsável por tais transformações (cf., por exemplo,
Gallois, 1988, 1996; Albert, 1985; Andrade, 1992; Barcelos Neto, 2004; Carvalho,
2002; Chaumeil, 1992; Fausto, 2001; Lima, 1996; Maués, 1990; Rivière, 1995;
Smiljanic, 1999; Viveiros de Castro, 1986, 1996; Vidal, prelo; Vilaça, 1992).
Como todo o poder dos pajés emana dos Encantado que ele domina ou com
quem mantém relações amistosas, o rito principal do xamanismo na região, o turé,
será dirigido às pessoas invisíveis que, auxiliando o pajé na reversão e prevenção
de doenças que assaltam os membros de sua comunidade, receberão as prestações
coletivas por seus serviços. 26
Bicho (Bet em patois), Encantado e Karuãna são as nomenclaturas das
pessoas invisíveis com as quais os pajés lidam, combatendo umas e aliando-se a
outras. Dessas derivam ainda os Djab, bastante presentes entre os Karipuna (cf.
Tassinari, 1998 e Dias, 2000) e Galibi-Marworno, cuja especificidade parece estar na
26 Dá-se também o nome turé à flauta de bambu produzida para ser utilizada na festa-ritual
homônima e que, por seu turno, é um Karuãna do “centro do mato” chamado pelos Galibi-Marworno
de Karamatá. Tanto os Asuriní do Xingu quanto os Waiãpi do Amapá possuem clarinetes rituais
denominadas turé, sendo que os Asuriní as utilizam em rituais xamanísticos, que levam o mesmo
nome, para chamar a cobra, um dos principais espíritos auxiliares do pajé (Müller, 1993: 92).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
169
sua notável habilidade de predação. Apesar de todas essas hierarquias serem
compostas por pessoas, elas diferem entre si conforme a “nação” ou a “raça”27 que
formam, cada uma delas habitando uma cidade diferente no Outro Mundo. Assim, o
Galo da Campina, o Urubu-Rei e o Jacaré pertencem a nações diferentes, do
mesmo modo as Piranhas que, conforme o tipo (preta, vermelha etc), constituem
diferentes raças separadas pelos ecossistemas que ocupam.
De forma geral, esse conjunto de alteridades invisíveis que povoam o cosmos
dos povos indígenas do baixo Oiapoque é uma transposição para o domínio invisível
do principal problema filosófico anotado por Overing (1983-1984: 333) para as
sociedades das terras baixas sul-americanas: a relação entre identidade e
alteridade; proximidade e distância; afinidade e consangüinidade; reciprocidade e
predação; segurança e perigo necessária para que a sociedade possa existir. Numa
só questão formular-se-ia tal problema: como compatibilizar relações antagônicas,
indesejáveis, mas necessárias ao social?
No plano menos sintético das classificações dos entes invisíveis no baixo
Oiapoque está o Encantado, visto que o nome para o sujeito é também um
predicado aplicado a todas as pessoas invisíveis. Assim, diz-se, por exemplo, que
Yakaikani está encantado e não morreu para marcar sua principal qualidade
(encantado = invisível, mágico e vivente; difere dos espectros dos mortos).
Transformando o predicado em substantivo, tem-se que Yakaikani é um Encantado,
além de ser um Karuãna e Bicho. Essas três modalidades de entes representam
níveis mais ou menos inclusivos, mas embaralhados em termos de predicação. Isto
quer dizer que elas não denotam diferenciações ontológicas (os Karuãna, por
exemplo, possuem uma agência básica e fundamental comum a todos eles, variando
na potência conforme o paletó ou roupa que usam) e o que há são diferentes planos
cognitivos aplicados e ordenados hierarquicamente conforme a extensão dos
conjuntos diferenciantes de entes.
27 “Raça” e “nação” são termos utilizados no baixo Oiapoque para classificar pessoas segundo o hã
ou a linhagem à qual pertencem (Tassinari, 2006). Quando aplicados às pessoas invisíveis servem
para separá-las e classificá-las conforme uma tipologia morfológica, possuindo “raça” extensão menor
que “nação”.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
170
Um exemplo: Karinay’ô (jovem que reside nas matas e que vem tomar caxiri
no turé quando convidado pelo pajé) e Kadeicaru (variação da Cobra Grande que
vive na mata e seduz mulheres visíveis) são Encantado, mas nem todos os
Encantado são redutíveis às predicações desses entes, podendo ser, além de
Encantado, Djab ou Bicho. Entretanto, as predicações particulares dessas duas
últimas modalidades não são definitivas, posto que não estão definidas a priori, mas
dependem do horizonte de relações que estabelecem com as pessoas visíveis,
pajés e não pajés. Este aspecto pretendo demonstrar no capítulo seguinte.
Com base na etnografia do xamanismo do baixo Oiapoque é possível dizer
que a hierarquia Encantado – que é pan-amazônica e aparece também em outras
regiões de predominância cultural indígena ou afro-brasileira – é a forma geral e
mais sintética aplicada ao domínio do invisível e daí a economia de atributos:
invisibilidade e biografia. Os seres com atributos mais específicos e particulares,
como os Djab dã buá que são qualificados particularmente por sua capacidade
agressora, são também Encantado, pois são literalmente pessoas invisíveis com
poderes que decorrem do invólucro que usam. Moram em cidades, aldeias ou sítios
e são vistas apenas pelos pajés que cruza a fronteira entre os Mundos e retorna de
lugares em que não há morte ou doenças.
Encantado,
pois,
não
quer
dizer
outra
coisa
que
invisibilidade
e
intencionalidade, as qualidades precípuas das pessoas invisíveis que remetem a
poderes excepcionais e diferentes. Com o recurso à ontologia fenomenológica
heideggeriana, acredito ser possível transitar de maneira mais adequada entre as
hierarquias presentes no xamanismo do baixo Oiapoque e propor a hipótese,
amparada na etnografia: percepção e relação são os elementos fundamentais na
apreensão de mundos por racionalidades não-metafísicas como o xamanismo
regional. Devido a isto, optei por nomenclaturas como “pessoas visíveis” e “pessoas
invisíveis” em lugar de, respectivamente, “humanos” e “não humanos”. Segundo
discuti na Introdução, não considero equívocas essas posições que têm largo uso na
antropologia hoje e já demonstraram suficientemente seu proveito.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
171
Entretanto elas são impróprias quando trata-se de procurar acesso a uma
lógica específica cuja ontologia está antes lastreada na relação e na percepção e
não na disjunção do conceito e da imagem. Para essa ontologia fenomenológica, ao
dizer “humanos” e “não-humanos” estou dizendo que a ontologia que sustenta tais
estados é uma “metafísica da cisão” (ou da de-cisão, no sentido fornecido por
Heidegger), posto que a identidade entre elas só pode ser um dado secundário e
obtido através de uma reconstituição. Com as nomenclaturas “pessoas visíveis” e
“pessoas invisíveis” a unidade se projeta em primeiro plano (pessoa) e o dado
seguinte é imediato, pois sensível, e não metafisicamente lógico, como acredito ser
congruente em cosmologias onde a lógica deriva da – e, ao mesmo tempo é –
physis. E o princípio primeiro desta lógica, contrariando a não-contradição
predicativa da lógica metafísica, poderia ser assim enunciado: o que aparece é,
sempre no aparecer.
O Encantado é vivo porque, ao passar para o Outro Mundo, adquire um novo
corpo apropriado aos seus novos costumes (sobretudo alimentar), morada e
parentes. Sua passagem não é uma completa “descorporificação”; não virou
espectro, haja vista que ainda tem um corpo, agora com novas capacidades. E uma
das principais talvez seja apresentar-se, simultaneamente, enquanto matéria e nãomatéria. Não no sentido de ser ora uma coisa, ora outra; mas, simplesmente as duas
coisas a um só tempo. A antinomia que envolve essas duas qualidades está
suspensa e ambas são o mesmo. Assim, a qualidade precípua do Encantado, ao
lado de estar vivo, seria ter um corpo. Resumidamente, ser uma pessoa. E corpo
esse que lhe garante diferenciação em relação aos espectros descorporificados,
comumente figuras com as quais os pajés não mantêm relações amistosas. Entre os
espectros dos mortos e os Encantado há uma relação de transformação. Ao morrer,
o princípio vital de uma pessoa pode, conforme a teoria do destino das almas dos
Galibi-Marworno, tanto ir para o céu – se a causa da morte não foi uma intervenção
dos Encantado, mas uma “doença de Deus” – quanto para o Outro Mundo em
situações em que houve o rapto/predação da alma humana pelos Karuãna e Bicho.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
172
Somente o pajé enxerga os verdadeiros corpos dos Encantado e percebe-os
como humanos. Há duas regiões de morada de pessoas invisíveis: o fundo das
águas fluviais, lacustres e marinha (fõn djilõ, em patois) e o “centro do mato” (itutai
iranã, em galibi ritual). Esta última região é representada por áreas remotas, de
acesso difícil, na savana ou na floresta, mas onde há caça em abundância que atrai
as eventuais vítimas de fortuitos encontros com os Bicho. Esses são pessoas que
constituem diferentes “nações” conforme a espécie animal cuja roupa utilizam:
Jacaré, Macaco, Onça, Sucuriju, Lagarto, Guariba etc. Ou ainda são os mestres
dessas espécies. Os Karuãna, por sua vez, estão comumente associados a biomas
aquático ou etéreo, residindo em grandes cidades em baixo de rios e lagos ou no
mar, constituindo, comumente, nações de gente com belas feições e jeito tratável.
São o conjunto de auxiliares de maior prestígio na clínica xamânica, notoriamente
Laposinie (as plêiades) (Vidal, prelo), mas podem utilizar paletós de Onça, Cobra ou
Jacaré e optarem, Neste Mundo, pela predação.
Embora sejam aliados ou componentes do plantel de espíritos auxiliares de
um pajé, os Encantado não são sua propriedade, posto que são pessoas e, como
tais e não sendo servos, possuem vontade, autonomia e liberdade. Com os cantos
as coisas se passam um pouco diferentes. Um canto de turé é dado por um Karuãna
a um pajé durante encontros oníricos ou nas visitas que são feitas ao Outro Mundo.
Ocorre também dele recebê-los de seu predecessor, que poderá ser seu pai
biológico, classificatório (o sogro, bopé) ou aquela pessoa que o iniciou no
xamanismo. Pode ainda acontecer de a oferta ser para acelerar um processo de
“xamanização” em curso, fazendo com que o “xamanizada” vire pajé. De tal modo
que os cantos são parte de acervos privativos dos pajés porque formam a chave da
comunicação e da aliança com as pessoas invisíveis, haja vista que é por meio deles
que os Karuãna deslocam-se até o cerimonial de cura (cantarola ou xitotó) e
celebração (o turé). Não se trata de uma permissão, mas de um transporte mesmo,
assim como é a fumaça dos cigarros de tawari que o pajé fuma e o mastro localizado
no centro do lakhu em dias de turé ou atrás do tukay armado na casa do pajé para
as xitotós.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
173
O que será reivindicado como exclusivo é o canto, a senha da aliança com um
Karuãna, e não este propriamente. Com freqüência ocorre entre os pajés da região
acusação velada de roubo ou plágio de cantos, salvo aqueles que pertencem ao
“domínio comum” e constituem a estrutura básica da seqüência ritual do turé. Com
os Karuãna não há, entretanto, a mesma relação de exclusividade, embora as
disputas por eles não inexistam.28 Os Karuãna possuem vontade − são pessoas
stricto senso − e a relação do pajé com eles não é de subordinação, mas de
equidade e diplomacia, evitando-se, assim, a contra forma da relação simétrica: a
predação. Esta realiza-se sobremaneira na forma de doenças que são causadas por
um Bicho que, instalando-se no corpo da vítima, irá comer-lhe as partes vitais até
que ela padeça por completo.
Assim, quando morre um pajé, seus Karuãna decidem seu próprio destino e
se passam ao domínio de um novo dono é porque assim quiseram. No máximo, a
relação entre os pajés e “sua gente”, como definem seus planteis de espíritos
auxiliares, é regida por um contrato aventureiro atualizado, ou não, a cada ritual de
xitotó e cura e solenizado publicamente no turé. O canto seria o marcador de uma
relação entre o pajé e as pessoas invisíveis e o rito o qualificador do contrato.
Segundo comentei, fala-se em Encantado a fim de situar as prerrogativas
genéricas das pessoas invisíveis e em Karuãna, Bicho ou Djab quando se pretende
especificar qualidades, competências, modos de ser, ações e costumes de um
Encantado em particular, mostrando do que ele é capaz, qual a relação adequada
para com ele e o que dele se deve esperar. Tais classificações, entretanto, servem
tão somente para anteceder relações apropriadas conforme a pessoa invisível e não
para fixar perfis, haja vista que o que eles são defini-se na relação das pessoas
visíveis com eles. Isto quer dizer que aquilo que compreendemos como a essentia
de algo está presente apenas muito difusamente para os Encantado em geral e sua
classificação não deve ser tomada como substantivista. De tal modo que as pessoas
28
O exemplo recente mais eloqüente é a disputa que se sucedeu, há cerca de cinco anos, entre
Cocotinha e Levên pelos Karuãna de Chinois, pai do segundo. Ambos os pajés iniciaram suas
atividades quase simultaneamente e era fundamental terem um acervo de espíritos auxiliares. E o
que estava disponível naquele momento era o plantel de Chinois que, desde sua morte, nunca tinha
sido reclamado, já que seu primogênito, Arsênio, havia declinado completamente ao xamanismo (vide
narrativas sobre Arsênio ao final do Capitulo 2).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
174
invisíveis no baixo Oiapoque são ordenadas conforme o que se deve esperar delas
na relação direta e não tendo por lastro o que elas, a priori, são. A incerteza é
diminuída somente quando é o pajé a lidar com eles, pois sua habilidade está em,
justamente, reconhecer as intenções e capacidades potenciais de cada pessoa
invisível com quem pretende lidar.
Um outro aspecto da classificação das pessoas invisíveis no baixo Oiapoque
é a completa dissolução das nossas fronteiras taxológicas aplicadas à natureza. O
que se compreende por Bicho não é apenas o ente invisível cuja forma exterior ou
envelope é um animal – sucuriju, jacaré, cuamba, arara, papagaio, urubu-rei etc. –
mas toda pessoa invisível com quem lida o pajé, seja possuidora de envelopes
vegetal ou de fenômenos meteorológicos e astros. Dentre os primeiros estão
plantas-pajé com largo emprego na clínica xamânica, a saber: nuri nuri, tawene,
apucuriwá, paliká, arari; e entre os últimos, o arco íris (lakã ciel), alguns tipos de
nuvens (nuage) e estrelas (como as plêiades – Laposinie, ou a estrela d’alva –
Warukamã). O que entes tão diferentes, colocados por nós em compartimentos
conceituais incomunicáveis entre si, têm em comum é o fato de serem todos psyche,
do mesmo modo que as pessoas visíveis são. Portanto são equivalentes enquanto
pessoas. A hierarquia Bicho utilizado no baixo Oiapoque refere-se não à forma
exterior, à fisionomia definidora que utilizamos para classificar entes como animais,
vegetais ou inanimados em geral, mas percorre todos os entes que são psyche ou,
no jargão familiar aproximativo, possuem uma “alma humana”. Daí a possibilidade
de algumas plantas-pajé serem Bicho, porque antes são reconhecidas como
pessoas, gente.
Tal desdobramento acena para um tema que coloca, a reboque, um problema
precípuo a ser enfrentado. A questão de fundo seria a seguinte: se todos os entes,
conforme categorizamos – homens, plantas, animais, a chuva, o sol etc. –, são uma
mesma psyche, a maneira como eu me percebo é igual à auto imagem do cuamba,
por exemplo, para ele mesmo. Destarte, para os entes humanos (as pessoas
visíveis) a medida será a humanidade e pensarei que o cuamba se pensa como
humano. No entanto, se a reflexividade é exercida da parte do cuamba, a medida
será a “cuambidade” e não mais a humanidade. Tal alternância de pontos de vista
[Cap. III] A humanidade dos Outros
175
existente nas cosmologias amazônicas é pensada dentro da corrente do
multinaturalismo ou perspectivismo ameríndio introduzido na etnologia por Viveiros
de Castro (1996) e Lima (1996) que insiste na vigência potencial de múltiplos
mundos em contraposição a várias representações sobre um mundo único. O
pensamento dos índios amazônicos postularia que o mundo tal qual os humanos
conhecem, onde os Juruna, por exemplo, caçam cuamba, existe enquanto a
humanidade é a medida, ou enquanto o ponto de vista dos humanos vigora sobre os
demais. Tudo inverter-se-ia se, numa brecha, a “cuambidade” se tornasse a medida
e vigorasse o ponto de vista dos cuamba pensando que os humanos se pensam
como cuamba.
O problema para os índios dos cuamba se pensarem como humanos aparece
quando se vai à caça deles, posto que o risco iminente do canibalismo e da
agressão está colocado. As soluções para esse conflito normalmente recorrem a
interditos culinários e rituais xamânicos de despersonificação do animal morto a fim
de transformar o que é gente em carne de caça, ficando o pajé responsável por
afastar os riscos do canibalismo e da retaliação do espírito da caça devorada (ou do
dono da espécie) que retorna na forma de agentes patológicos canibais (veja, por
exemplo, o caso do jamikarawa dos Wari’ em Vilaça, 1992. A transformação
simbólica de gente em carne de caça ou vegetal ocorre também nos ritos
endocanibais, como é descrita por McCallum, 1996). Portanto, procurar desviar-se
do canibalismo da caça não é uma mera questão moral, mas técnica, posto que as
teorias etiológicas indígenas indicam como uma das principais causas para as
doenças a vingança dos espíritos da caça pelo ato canibal.
Beleza e perigo
As pessoas invisíveis, Bicho, Karuãna e Djab dã buá, aproximam-se de
pessoas visíveis como belas e joviais figuras a fim de facilitar a conjunção. Suas
vestimentas são iarari (belas) para elas e, embora provoquem medo pela
abundância de cores e extravagância, atraentes para suas vítimas que, inebriadas,
deixam-se seduzir por convites de prazer. Esta beleza perspectivada é indicativa do
[Cap. III] A humanidade dos Outros
176
perigo que a proximidade não controlada com as pessoas invisíveis representa,
posto que ela é o prelúdio da união entre diferentes que devem estar ordinariamente
separados, mas que se interconectam mediante a beleza e o encantamento. Nos
encontros entre pessoas invisíveis e visíveis a beleza desempenha este papel de
atração a fim de mascarar a predação iminente ou a conjunção indesejável entre
diferentes.
Os encontros de pessoas visíveis com os Encantado são geralmente oníricos
ou transcorridos na mata e nos igarapés, fora do espaço transformado da aldeia.
Exceto alguns Djab dã buá, habitantes da grossa floresta que se apresentam às
suas vítimas em formas humanóides aterradoras, as pessoas invisíveis são belas,
usam vistosos adereços de miçangas e magníficas roupas que trazem as marcas
associativas a uma determinada espécie animal.29 Assim eles se vêem e assim
também são vistas tanto pelo pajé quanto por aqueles com quem procuram
aproximação. Também são belos e graciosos os lugares de morada dos Karuãna do
fundo de lagos, rios e do mar. São belas cidades, com ruas, casas e espaços
erguidos para a dança do turé; tão grandes, populosas e vivas são essas cidades
que se igualam a qualquer “capital grande”. Às vezes ainda os Karuãna do fundo
possuem bens tecnológicos e meios de transporte super avançados.
Os Encantado que mais freqüentemente mantém relação com os pajés30 ou
que são assíduos nos encontros com pessoas visíveis transcorridos na mata são:
29 Algumas delas, com aspecto horrendo, utilizam invólucros e se apresentam às mulheres visíveis
como homens belos e viris, como é o caso anão ho-ho, que aprecia a cópula com as mulheres. A
julgar por uma estatística rápida, suponho que os habitantes da floresta densa sejam representados
mais freqüentemente com aspecto horrendo que aqueles que estão no fundo de rios ou do mar.
30 Os Encantado que são mestres de animais ou variações de Cobra Grande dificilmente são
exclusivos de um determinado pajé, ocorrendo a aliança dele com vários pajés. Há ainda mestres de
animais com os quais os pajés se consorciam, notadamente aves, dos quais se fazem bancos, como
o Urubu-Rei, a Uaramim (pomba galega), Arara, Gaivota e Gavião Marrom.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
Encantado da floresta
(Djab dã buá, Bicho, Yumawalí)
Yorokã
Parapitoitoimun, como chamam os Galibi-Marworno
em seu potá, e Orokô para os Palikur. Monstro
antropomorfo de sete bocas, cabeludo e de ferocidade
bestial. Possivelmente é o Mapinguari do folclore
amazônico
Encantado das águas - rios, lagos,
igarapés e mar
(Karuãna, Bicho)
Yumawarê (Tunakurú, mamã djilõ)
Sereia do mar que atrai homens e
mulheres para seu mundo, mantendo-os lá
como seus parentes. É uma mulher muito
bela e sensual
Ho-ho
I
N
V
Ó
L
U
C
R
O
Anão cabeludo, de gênio arisco, é sempre visto
andando aos pares na floresta, alimentando-se de
pequenos caranguejos que lá encontra. Ardiloso,
copula com as mulheres visíveis menstruadas. A
gestação da fêmea Ho-ho é invariavelmente gemelar
Kaipora
Aspecto de uma grande cuamba, faz as pessoas
perderem-se na mata para depois devorá-las. Possui
um pé virado para trás e pontiagudo com o qual bate
nos rochedos fazendo a floresta estrondar
A
N
T
R
O
P
O
M
O
R
F
O
Karinay’ô
Rapaz belo, de comportamento apreciável, convidado
para dançar turé
Kudarawá
Rapaz belo e sedutor. Doador de marcas
com as quais bancos cerimoniais são
pintados.
Wanarê
Gente festiva e amistosa que gosta de ser convidada
para de beber caxiri nos turés
V
E
G
E
T
A
L
Mulher joven e bonita convidada para servir o caxiri
durante o turé. Homólogo das lahines visíveis que
fazem o serviço do caxiri em dia de festa
Apucuriwá Iawê
Arari
Nuri-Nuri
Tawene
Paliká
Kadeicaru
Rapaz belo e garboso que seduz as mulheres
visíveis e as engravida quando menstruadas. Possui
invólucro de Cobra Grande
I
N
V
Ó
L
U
C
R
O
D
E
Konestabi
Mulher sedutora e perigosa cuja morada
fica em frente à montanha Bryére, na Baía
do Oiapoque
Yakaikani
Uriô
I
N
V
Ó
L
U
C
R
O
177
Índio Palikur que, depois de ser raptado
pela Cobra Grande, passou a viver no lago
Marapuruwá (Cf. M.01 e M.07 - Anexos)
Ghãpapa Kaimã
Mestre dos jacarés, é bastante acessível
aos apelos do pajé para soltar jacarés no
rio quando a população deles está
diminuindo
C
O
B
R
A
G
R
A
N
D
E
[Cap. III] A humanidade dos Outros
178
Quando os encontros são amistosos, os ciclos de reciprocidade entre as
pessoas diversas se complementam. Os Karuãna e Bicho ensinam às pessoas
visíveis os cantos que classificamos de xamânicos e, mostrando-lhes suas
vestimentas, inspiram grafismos utilizados em artefatos de uso doméstico. São eles
também que, através do pajé, combatem os agentes patológicos das doenças
causadas por agressão sobrenatural. Os motivos decorativos de bancos e mastros
e, mais raramente, pintura facial, preparados para um turé são igualmente
transmitidos, em sonho, pelos Karuãna ao pajé anfitrião da cerimonia. Depois disso,
ele repassa-os à sua equipe de ajudantes que atua na preparação da festa,
composta pelas pessoas por ele curadas ao longo de um período, os familiares
destas e os seus próprios. Em troca os Karuãna bebem caxiri, fumam tawari e
dançam. Parece pouco, mas não para pessoas que atravessam seus dias de
imortais fazendo exatamente tais coisas.
Encontros menos amistosos, entretanto, são marcados pela perfídia e
concluídos com raptos de pessoas visíveis ou uniões sexuais indesejáveis. As
mulheres são mais vulneráveis a tais conseqüências porque o cheiro do mênstruo
provoca a atração das pessoas invisíveis, especialmente Djab dã buá.31
A primeira modalidade de encontro, o rapto, acontece quando os Encantado
provocam uma doença grave numa pessoa a fim de, com a morte, levar o espírito
dela que passará a ter um outro corpo e usará um invólucro (chamado pelos índios
de camisa ou paletó) com o qual aparece no mundo habitado pelas pessoas visíveis.
Com menos freqüência, o rapto acontece também com pessoas saudáveis em
circunstâncias oportunistas cujo cenário é extra aldeia. O segundo tipo de encontro,
as uniões sexuais indesejáveis, ocorre quando uma mulher é seduzida por um
Encantado, normalmente um Bicho (como Kadeicaru) ou um Djab dã buá (o anão
Ho-ho, por exemplo), que seguiu o cheiro de seu mênstruo fixado ao corpo do
marido e apresentou-se a ela em sonho como um belo e viril rapaz.
31 Há também os raptos e seduções entre as pessoas invisíveis, como fez Yorokã, que raptou a
mulher do anão Ho-ho e a levou para sua casa, dando origem a uma lamuriosa e bela canção que
condensa as lamentações do marido pela perda da esposa.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
179
Quando a mulher está menstruada, fica em casa, não sai pra longe. Até
mesmo no corpo do homem tem o cheiro da mulher e isso pode atrair os
Bichos. Eles dizem: “Aqui tem um cheiro muito bacana, vou acompanhar
essa pessoa”. E acompanha o marido até a casa dele, quando vê a
mulher tem filho de Bicho. A mulher dorme e sonha: “Eu sonhei com um
homem tão bonito, um estranho muito bonito”.
Ela engravida no sonho?
No sonho, espírito de Bicho, quando vem, não aparece com carne. A
mulher só sonha com Bicho, mas ela não o enxerga. Aí o pajé canta e
diz que a mulher está grávida de um Bicho que acompanhou o marido
dela. O Bicho vem no sonho, só assim a gente vê, não em carne e osso.
Ela sonha com um homem bonito e quando vê, está grávida do Bicho.
Basta o Bicho namorar uma vez a mulher para engravidá-la. Essas
coisas são obra dos Bichos que moram em lugares muito longe, na
mata ou na montanha [...]
[Getulio. Kumarumã, fevereiro de 2005]
Após enamorarem-se apenas uma vez, a mulher gerará um “filho de Bicho” que
virá à luz com seis ou sete meses e cuja verdadeira origem da gravidez só poderá
ser revelada pelo pajé. Se vingar, o produto da união entre o Bicho e a mulher visível
será um “pajé de nascença”32 com grandes poderes, pois meio Bicho também. Esse
fruto da união entre pessoas visíveis e invisíveis testemunha que, embora sejam
diferentes, não são antitéticas e a identidade em cada uma das partes visa à parte
alterna.33 Caso a gravidez gere um natimorto, o pajé dirá que o pai da criança veio
buscá-la para morar junto a seus parentes invisíveis, levando às vezes sua esposa
visível quando ela fenece no parto.
Seja qual for o final dessa gravidez, a menstruação aparecerá sempre como
condição primeira, posto que é o cheiro do mênstruo – aprazível e excitante para os
Bicho – que indica que a mulher está apta a conceber um “filho de Bicho”.
32 A gravidez gemelar também pode ser interpretada como índice de conjunção indevida. Nesse caso
espera-se que um dos dois filhos seja pajé de nascença. Poderá ser assim considerado também o
filho subseqüente aos gêmeos (Dias, 2000: 173).
33 A relação entre identidade, diferença e complementaridade é tema do mito palikur das borboletas
Kassugwiné (Anexos – M. 02).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
180
Kadeicaru é uma cobra muito perigosa, encantada, cobra da terra que
mora dentro de buraco. Ele é muito danado pra fazer filho com mulher, é
muito perigoso. Quando mulher está menstruada ele sente o cheiro e
vai atrás, faz filho nela.
O cheiro da mulher menstruada não afasta os Bichos, não é como
pitchiu de peixe?
Não, afasta uns, mas atraí outros. Pra nós o cheiro é um, mas pra ele o
sangue é como uma coisa cheirosa e ele vai no rastro da mulher
namorar com ela e quando vê, a mulher está grávida de um filho de
Kadeicaru. Muitas pessoas, não só aqui, mas no Curipi também, são
filhos de Bicho, nasce aleijadinho, sai com cara de sapo. [...] Kadeicaru
só namora mulher quando ela está menstruada, ele acha bom o cheiro
do sangue. Quando nasce filho de seis, sete meses já sabe que é filho
de Bicho, que nasce antes de nove meses. Aí o pajé canta e diz de qual
Bicho é o filho, se é de Kadeicaru, de Jacaré, de Lagarto. Eles namoram
a mulher quando ela está menstruada, pegando só o rastro do sangue
dela. Até hoje acontece isso.
[Getulio. Kumarumã, fevereiro de 2005]
De tal modo que, é a qualidade de liminaridade da mulher menstruada que,
afastando-a de todo o ciclo reprodutivo do social (ela deve se abster de atividades
econômicas e rituais), aproxima-a do invisível e permite que ela tenha uma antigravidez. Não podendo gerar pessoas visíveis durante o período das regras, a
mulher poderá, no entanto, fazer “filhos de Bicho”; a conjunção nesses termos entre
pessoas visíveis e invisíveis serviria para mostrar que, sendo ambos diferentes, a
síntese só transcorre quando a condição precípua para a reprodução do social (de
iguais) está provisoriamente suspensa.
Tal atributo liminar da mulher é igualmente perigoso nos dias de turé ou durante
as sessões xamanísticas de canto e cura, por permitir um encontro indesejável ou
além do que se deseja e se busca como aliança com os Encantado.34 Portanto, à
34 Dias (2005) informa que os Karuãna em geral não toleram o cheiro do mênstruo, assim como não
suportam o cheiro de peixe e de pimenta, devendo a mulher menstruada ficar distante do lakhu em
dias de turé (ib.: 130). De fato, e conforme mencionei pouco atrás, mulheres nesse estado devem se
abster de todo ciclo de reprodução do social, inclusive por meio dos ritos, mas penso que sua
[Cap. III] A humanidade dos Outros
181
menstruação se dirige uma série de interditos que procuram afastar o perigo da
conjunção não controlada entre pessoas visíveis e invisíveis; dentre eles há regras
subprescritivas, mas levadas bastante a sério, que inibem as mulheres menstruadas
de banharem-se em rios e igarapés onde possa haver morada de Bicho e incentiva
seus maridos a tomarem cuidados na volta de uma incursão de caça, visto que
alguns Djab dã buá, como o anão Ho-ho, chegam às suas vítimas seguindo o seu
cheiro fixado nos corpos dos parceiros.
Contudo, o que para as pessoas visíveis é predação e conjunção indesejável
mediadas pelo belo, para os Encantado em geral é domesticação e produção de
afins, haja vista que a aproximação que eles provocam conosco é uma das formas
que possuem de obter conjugues.
O destino das almas e a renovação das potências xamânicas
Se a beleza desempenha um papel mediador na aproximação entre as pessoas
invisíveis e visíveis, tornando a diferença sedutora e atraente, para o pajé os Bicho
são belos porque são familiares e, assim, um pouco semelhantes a ele.35 Os pajés
com grande capacidade de atuação – geralmente “filho de Bicho” – desenvolvem, no
convívio com as pessoas invisíveis que o auxiliam, um corpo capaz de conter as
capacidades dos corpos dos Encantado, ao mesmo tempo que mantém as
especificidades da matéria humana. Ele visita com regularidade seus camaradas do
ausência no lakhu não se dá porque os Encantado em geral não toleram mulheres menstruadas, mas
porque alguns deles adoram e seria um problema para o pajé controlar a energia sexual dessas
pessoas em dia de festa. Desta forma, o cheiro do mênstruo não pode ser comparado ao pitchiu de
peixe ou de pimenta, pois possuem funcionalidades distintas; uns apenas afastando, outros afastando
e atraindo as pessoas invisíveis para permitir a produção de “filhos de Bicho”, aqueles que poderão
ser grandes pajés.
35 A relação entre beleza, capacidade predatória e canibalismo pode ser atestada para a Anaconda,
doadora de belos grafismos impressos em sua pele, e que foi morta por um pajé Wayana porque,
com seu feroz apetite, obstava as relações entre os Wayana e os Aparai ao impedir que indivíduos
desses dois grupos realizassem trocas (Van Velthem, 2003: 293). Esta mesma relação de beleza,
sedução e predação envolvendo a Anaconda, está presente para os Waiãpi (Gallois, 1988: 139) e
para os Galibi-Marworno, na forma de Kadeicaru (Vidal, prelo). Similarmente, os mestres de espécies
animais são relatados pelos Waiãpi como pessoas belamente paramentadas com colares de
miçanga, adornos de cabeça e pinturas corporais, além de terem vida social adequada, pois
semelhante a dos humanos (Gallois, 1988: 103).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
182
Outro Mundo, sobretudo aqueles que moram no fundo; come e bebe caxiri com eles,
dança e fuma tawari. Assim, diz-se que um pajé tem olhos de Bicho a fim de aludir à
sua excepcional visão (em duplo sentido, de clarividência e sensorial) e capacidade
de ver as coisas no e do Outro Mundo.
[...] ele (o pajé) enxerga, é Bicho. A pessoa que é pajé, é Bicho já. Os
olhos dele não são como os seus. É assim que é o Bicho. Uma cobra
passa por você e lhe morde sem você nem vê-la. Assim também é com
o Bicho: ele (o pajé) lhe enxerga, mas você não o enxerga. Pajé é
Bicho.
Pajé vê no Outro Mundo só com seu olho de Bicho?
É sim, porque ele é Bicho! Não é pajé? É Bicho. Se for pra Macapá, pra
Brasília, ele já está lá, porque já está vendo todos os lugares por onde
vai passar. Já sabe tudo o que tem na frente. É assim que é.
[Raimundo Iaparrá. Aldeia Piquiá, BR-156, maio de 2005]
Conforme vimos páginas atrás, o pajé de nascença, figura fundamental na
regulamentação dos fluxos de intencionalidades ou psyches, é um dos produtos da
conjunção entre pessoas invisíveis e visíveis. Caso não vingue e seja um natimorto,
sua vida transcorrerá no lugar de seu pai, no Outro Mundo, onde poderá vir a ser
Karuãna ou Bicho de um pajé visível. Semelhantemente ao que ocorre com as
pessoas visíveis cuja morte é provocada por um Karuãna que intenciona roubar-lhe
o princípio vital. As mortes que não são atribuídas às pessoas invisíveis – seja por
agressão ou roubo de conjugue – são ditas obra de Deus.36 Neste caso as almas
migram para o céu e nada que o pajé faça poderá impedir esse deslocamento, posto
que, ao contrário dos Karuãna e Bicho, Deus não negocia seus atos.
No entanto, a perda imputada às pessoas visíveis pelos Bicho e Karuãna é
compensada à sociedade por um contra fluxo de potências xamânicas dominadas
conforme a habilidade do pajé em persuadi-las. Tais potências são Bicho ou
36 Não estou certo ainda qual o papel que Deus ocupa na cosmologia Galibi-Marworno, além de ser
o grande demiurgo, como também o é para os Karipuna (Tassinari, 1998: 236; Dias, 2000: 176), para
os Galibi-Kalinã (Vidal, s/d: 65) e Palikur (Capiberibe, 2000). Por vezes, os Galibi-Marworno falavam
de Deus para mim como se aludissem a um grande pajé, o maior e mais poderoso de todos, aquele
que tem controle total sobre as potências xamânicas do universo.
[Cap. III] A humanidade dos Outros
183
Karuãna e entre elas estão as almas raptadas de pessoas visíveis que foram
levadas para o domínio da alteridade invisível.
O roubo de alma acontece porque uma maneira que as pessoas invisíveis têm
de conseguir conjugues é raptando-os às pessoas visíveis ao provocar-lhe a doença
e a morte.
Eles também levam as pessoas para suas casas no Outro Mundo?
Levam também.
Porque fazem isso?
Para arrumarem companheiras, beber um caxiri, dançar turé. Casam
com as mulheres, fazem filhos. Depois de um tempo a mulher fica do
jeito deles, come a mesma comida, fica com o cheiro deles. Vira Bicho.
Igual a Yakaikani. Depois de um tempo não reconhece mais os
parentes.
[Getúlio. Aldeia Kumarumã, fevereiro de 2005]
Nesses casos segue-se a transformação da pessoa visível em um Encantado
quando ele passa a adotar o ponto de vista de seus raptores a partir do convívio com
eles.37 Tal transmutação, que é uma transubstanciação, inclui a partilha dos
alimentos, a aliança matrimonial, a co-residência e a aquisição de todos os hábitos,
potências e capacidades relativas aos novos estatuto e corpo. Este processo
poderá, contudo, retroceder, imobilizando-se os princípios fundantes da produção de
socialidade representados pelo viver, comer e trabalhar juntos e o cuidar-se
mutuamente) (Viegas, 2003). Competirá a um exímio pajé reverter o processo de
transformação38 de uma pessoa visível em Bicho, caso trate-se de uma doença
grave e a vítima ainda não tenha perecido. Para tal empresa ele viaja até a morada
encantada dos Karuãna raptores, toma caxiri com eles, dança em suas festas,
37 Esta transformação do ponto de vista mediante a domesticação pela alteridade é um dos temas do
mito da Cobra Grande, apresentado nesta tese nas versões galibi-marworno (Anexos – M.07) e
palikur (Anexos – M. 01), que trata do rapto de uma pessoa visível e da graduação transformação de
seu ponto de vista mediante a convivialidade (Overing & Passes, 2000) com as pessoas invisíveis.
38 É preciso neste ponto distinguir transformação de metamorfose, pois se esta representa uma
transformação definitiva e radical, com a anulação de personagens, aquela é uma alteração provisória
e reversível (Gallois, 1988: 87 apud Monod-Becquelin).
[Cap. III] A humanidade dos Outros
184
conversa e negocia, retornando em seguida ao mundo da realidade para os
humanos. Se for bem sucedido, convencerá seus camaradas invisíveis a deixarem a
vítima em paz, prometendo-lhes algo em troca (normalmente um fornecimento de
tabaco e bebida) que ficará a cargo dos parentes da vítima. Se esta morrer, o pajé
nada poderá fazer a não ser consolar seus parentes dizendo que ela permanece
viva no Outro Mundo e junto aos seus novos afins.
As doenças cujas causas são a agressão sobrenatural que, deliberadamente,
têm por fim conduzir a pessoa atingida à morte, podem ser tanto atos da vontade
dos Karuãna buscando conjugues, como provocadas por um pajé ou soprador
mediante a recitação de potás de agressão. Diferentemente do adoecimento
induzido pelas pessoas invisíveis, as doenças para a morte possuem uma dinâmica
de predação e produção de identidades invisíveis que aproxima-as estruturalmente
dos raptos, mas diferem destes por serem inexoráveis quanto a reversibilidade da
transformação do ponto de vista. Isto em uma escala, pois se olharmos o conjunto
das relações de transformações vemos uma reposição (potencialmente) contínua
dos mortos à sociedade quando estes, ao virarem Bicho, ficam passíveis de redomesticação pelo pajé.
Tudo converge para a realização de um fluxo de pessoas que continuadamente
passa pela direção dos pajés (visíveis e invisíveis), pois tanto a domesticação
operada pelos Bicho (quando eles “se agradam” de uma pessoa e querem tomá-la
como conjugue/afim ou como pajé/pai/consangüíneo); quanto a agressão deliberada
na forma de predação, produzem psyches invisíveis, novas potências xamânicas
que poderão ser utilizadas em favor da sociedade ou complicá-la de uma vez,
dependendo do manejo que se faça de tais forças. Ao fim do percurso, a morte –
entendida como causada por pessoas invisíveis empenhadas, seja na agressão, ou
na domesticação (do ponto de vista delas) – colabora virtualmente para a
manutenção do socius ao operar como repositora de forças cósmicas. A união
sexual entre pessoas visível e invisível produziria efeito simétrico ao da morte por
agressão ou rapto pelos Encantado, posto que o produto de tal união, o “filho de
Bicho”, é em potência um poderoso pajé que, efetuando suas prerrogativas,
combaterá os encontros não controlados entre pessoas visíveis e invisíveis
[Cap. III] A humanidade dos Outros
185
O xamanismo no baixo Oiapoque teria, portanto, um papel precípuo na
manutenção de um nível entrópico do universo favorável às pessoas visíveis,
permitindo a canalização do fluxo das potências xamânicas virtuais em favor da
sociedade. Atuando deste modo, cooptando e domesticando tais potências para
prevenir agressões e raptos e produzir novas agressões, o pajé, aquele que transita
entre mundos e faz a comunicação entre alteridades distintas, aquele que “é ele
mesmo Bicho” sem, contudo, abandonar sua condição de pessoa visível, afirma que
é do lado da sociedade – e não contra ela – que ele está. Segundo a síntese de
Gallois (1988) para a função do pajé waiãpi no controle e supervisão dos fluxos
energéticos do cosmos:
“[...] apoderando-se da força dos não-humanos, trabalha a favor dos
humanos, coloca-se à disposição dos seus, para evitar perdas. Ao
mesmo tempo sua atuação consiste numa atividade civilizatória, quando
ele reconduz elementos culturais dos ‘outros’ para o domínio da
humanidade. Conectando todos os domínios cósmicos, o xamã não
perde sua identidade ‘humana’, uma vez que, individualmente, ele
também acede, após a morte, à morada celeste de Ianejar [...] Assim,
ele é apenas um compromisso necessário, para defender a integridade
dos vivos”.
[Gallois, 1988: 357]
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
189
Capítulo IV
“Há metafísica bastante em não pensar em nada”.
]Fernando Pessoa.
O guardador de rebanhos[
E
ste capítulo tem por argumento a vigência simultânea de qualidades
mutuamente antinômicas como um aspecto trivial de determinados entes da
cosmologia no baixo Oiapoque. O assunto em questão, presente em diversas
cosmologias amazônicas, será abordado de forma conjunta para os três grupos com
os quais venho trabalhando ao longo desta tese e que, no domínio xamânico,
elaboram predicações não pautadas no juízo lógico de exclusão da contradição,
permitindo, deste modo, a unidade entre atributos opostos. De tal modo que esta
categorização anti-substancialista indicaria a preeminência da relação sobre as
partes ou sobre a condição particular de cada ente do cosmos considerado
isoladamente e a priori como diferença.
Ver-se-á que o ponto crítico do presente capítulo é justamente a definição de
relações e termos “contraditórios”. Esta caracterização – para nós inequívoca e
inquestionável, pois congruente com os princípios lógicos fundamentais da nãocontradição e do terceiro excluído – decorre de um pensamento cujas regras
estipulam que os entes devem ser precisa e substantivamente predicados (conforme
a entidade, a substância que lhes é constitutiva) antes de relacionarem-se entre si,
separando-se as relações possíveis das não possíveis. Assim procede nossa ontológica (a lógica formal), tanto na ciência quanto no cotidiano. Lógicas prépredicativas1 (basicamente sintéticas) teriam, ao contrário, a relação por princípio
1 É necessário que o que segue fique suficientemente claro: o “pré” em sentido algum aqui
empregado é indicativo de um estágio antecedente e inferior de uma escala evolutiva e geral para o
pensamento humano. E quando, adiante, falar-se em pensamento “pré-filosófico” é apenas em
relação ao contexto particular donde emerge a filosofia, na Grécia, pois sabemos que a história do
pensamento grego tem um antes e um depois desse episódio circunstancial. Portanto, não se fala em
pensamento pré-filosófico referindo-se às cosmologias não ocidentais, indicando que algum dia elas
desenvolverão ou alcançarão, necessariamente, a metafísica e a filosofia.
190
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
fundamental, definindo transitivamente os termos e derrubando os princípios formais
de identidade e não-contradição. Com isso as “qualidades mutuamente antinômicas”
referidas anteriormente devem ser vistas como regionalmente definidas (à luz das
regras do nosso discurso enunciativo), mas co-pertinentes e, assim, não
classificadas como “antinômicas” à luz do contra-exame do pensamento prépredicativo – onde relações antecedem à predicação dos termos e, assim, permitem
as antinomias como processo constitutivo do pensamento.
Afim de desnaturalizarmos os conceitos e qualificarmos o pensamento prépredicativo, falta perguntar se, com o uso do nome “lógica”, já não decidimos as
regras de um pensamento diferente do nosso que ordena mundos e constrói
relações operando conforme esquemas rapidamente adjetivados como não-lógicos.
Em outros termos: são possíveis lógicas cuja constituição inclui a contradição? Com
o título “lógica” já não se diz e nomeia como fundamento do correto pensar a
expulsão da contradição que desdiz a entidade? A questão produz ainda
ressonância. Contudo, a criação nos anos 60 do último século das lógicas
paraconsistentes (não clássicas) – hoje largamente empregadas como suporte a
teorias aplicadas à robótica, ciência da computação e Inteligência Artificial,
produzindo
com
base
nelas
sistemas
multiagentes,
circuitos
eletrônicos,
representações de conhecimentos (frames) e linguagens paralog de programação –
veio comprovar a validade de sistemas lógicos que incluem o paradoxo e a
contradição (Costa & Abe, 2000), refutando o fundamento popperiano da
impossibilidade
contraditórios.
de
sistemas
triviais
(cujas
sentenças
são
demonstráveis)
2
A paraconsistência permite atribuir a um mesmo objeto predicação do tipo “a
e ~a” que consente a contradição predicativa e derruba o princípio do terceiro
excluído da lógica clássica ao formular sentenças em que a=b=~b. Com efeito, o
castelo da identidade como igualdade do mesmo consigo mesmo desmorona. Sendo
2 A impossibilidsade dos paradoxos nos sistemas lógicos clássicos decorre da demolição de pilares
que suportam a ordem do real: “The argument that sustains a paradox may expose the absurdity of a
buried premise or of some preconception previously reckoned as central to physical theory, to
mathematics, or to the thinking process” (Quine, 1966: 3). Desta feita revela-se que a formulação
medieval para a verdade (baseada em Aristóteles) – que faz corresponder o pensamento à coisa –
está em plena forma e vigência.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
191
tributária de questões filosóficas fortes, a lógica paraconsistente oferece ainda uma
demonstração alternativa às velhas e gastas demonstrações intuitivo-dedutivas
utilizadas por teorias gerais de fluxos e de contrários, como a dialética e a teoria dos
conjuntos (Costa, 1997).
O pensamento xamânico no baixo Oiapoque, não sendo lógico no sentido
formal acima descrito e muito menos pré-lógico na direção de um pensamento ainda
por conhecer a razão coerente, seria, por assim dizer, “paraconsistente”. Tal alegoria
pretende nomear o xamanismo regional como uma racionalidade que faz-se abrigo
da contradição e do paradoxo e cuja proveniência está na não disjunção (ao menos
decisiva) entre imagem e conceito3; síntese e análise; transcendência e imanência;
sensível e inteligível; concreto e abstrato; sujeito e objeto. A rotura desses termos –
não imperativa à razão humana – constitui o acidente mais universal do pensamento
do Ocidente e baliza uma decisão continuada pela metafísica, pelo conceito, pelo
transcendente, pela subjetividade e pelo discurso representativo da verdade que faz
corresponder o pensamento às coisas. Mais precisamente, é o desenvolvimento do
pensamento metafísico, ou filosófico, que inaugura a tradição disjuntiva que
chamamos de civilização ocidental.
No verso dessa história e decisão estão formas outras de pensamento
habitualmente associadas à apreensão sintética da experiência de estar-no-mundo e
cuja linguagem principal e quadro cognitivo de referência é o mito, “la terre natale de
toutes les formes symboliques” (Detienne, 1981: 194) e onde estão reunidas tanto as
consciências prática, teórica, quanto a arte, a moralidade e os fundamentos do
Estado (ib.: id.).
Assim é que o xamanismo no baixo Oiapoque, e provavelmente em outras
paragens amazônicas, possuiria qualidades indicadoras de uma experiência de
pensamento deste tipo, tratando predicados cosmológicos, metafisicamente
antitéticos, em termos de identidade e contigüidade. Tais sínteses, que não
3 A imagem é o artefato (e artífice) noético resultante da experiência imediata com o mundo. É
totalizadora e tem por função “d’exprimer une part de l’expérience vécue, assez fondamentale pour se
répéter, pour se reproduire, et ainsi résister à l’analyse intellectuelle qui voudrait em décomposer
l’unité” (Detienne, 1981: 221). O conceito, inversamente, é a unidade formal representada pela Idea
que contrapõe-se e supera a multiplicidade figurativa. É ele que permite a vigência da linguagem
como enunciação e representação (Heidegger, 2002b: 266).
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
192
suprimem as antíteses – como é o propósito da dialética – apresentam-se sob a
forma de pares de contínuos relacionados a ações fundamentais do xamanismo
karipuna e galibi-marworno, elencáveis nos binômios unitários a saber:
i) palavra–coisa: relativo às ações iniciadas com o pronunciamento de
fórmulas incantatórias, os potás (evil spells, breathing sorcery).
ii) identidade–diferença: relativo às atividades rituais de separação e
conjunção de pessoas diversas;
iii) matéria–não matéria: contínuo relativo à natureza dos corpos dos pajés e
das pessoas sobrenaturais com as quais lidam, os Bicho e Karuãna;
Tais binômios podem representar unidades, atentando-se para um quesito de
fundo que subjaz a todos eles; que a possibilidade de identidade entre termos, no
nosso ponto de vista, antinômicos e equipolares dá-se pela ausência da cisão que
habita e lastreia a decisão histórica do Ocidente pelo conceito, pela representação e
pela subjetividade versus objetividade. No início e ao longo deste caminho no qual
permanecemos e no qual construímos os dois grandes monumentos da civilização
ocidental – a filosofia e a ciência – está a metafísica e a experiência filosófica do ser,
erigidas como máxima diferenciação e alheamento de tradições mito-poéticas
conectadas ao pensamento pré-predicativo. Não que este pensamento desconheça
a abstração ou os processos analíticos;4 a diferença para o conhecimento baseado
no conceito é que, devido a uma especial noção de rendimento e à posição que os
afectos e os perceptos têm na apreensão/construção do real, o pensamento mítico
“élabore des structures en agençant des événements, ou plutôt des résidus
d’événements” (Lévi-Strauss, 1962: 32), de modo que “la connaissance du tout
précède celle des parties” (ib.: 35).
4 Discordo de Detienne quando ele afirma o seguinte sobre o pensamento mítico: “Prisonnière du
contenu de l’intuition, elle ignore la représentation et demeure étrangère à l’action conceptuelle”
(1981: 193). De meu ponto de vista, Lévi-Strauss (1962) está mais atento à natureza noeticamente
híbrida do mito quando diz que as imagens e os conceitos estão reunidos no signo com o qual
trabalha o pensamento mítico. Retornarei a este ponto adiante.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
193
A fim de argumentar pela vigência no xamanismo no baixo Oiapoque de uma
variação da razão pré-predicativa refratária às análises da lógica metafísica, balizo
minha compreensão de racionalidade pela de Michel Paty – físico, filósofo e
epistemólogo da ciência – que a concebe de forma múltipla (sem perder de vista a
unidade de sua função) e atentando para sua relação com as condições de
conhecimento em contextos culturais e históricos específicos (Paty, no prelo). Sendo
uma função da mente humana, a racionalidade se adapta às novas possibilidades de
conhecimento e tem por atributo elaborar a síntese de elementos externos (“do
mundo”) e internos (“do sujeito”) a fim de situar o sujeito na totalidade. Deste modo,
a racionalidade produz a inteligibilidade através do sujeito concreto; e como este é
um compósito multidimensional (que inclui emoções, projetos, valores, escolhas,
inquirições metafísicas, senso estético etc.) o racional articula-se, no sujeito, às
formas não-racionais de conhecimentos decorrentes da experiência imediata com o
mundo (Paty, 2005a: 371).
Tal síntese deriva do fato do pensamento não se desligar do corpo (o veículo
das sensações e da experiência de estar-no-mundo), por conseguinte o
entendimento necessariamente fará uso das percepções a fim de construir a
inteligibilidade (Paty, no prelo)5. Sendo inclusive uma “expressão do corpo”, para
definirmos um aspecto das relações entre razão e sensibilidade, a racionalidade
sempre será multiforme, uma vez que “o racional não é unívoco e transborda
largamente a lógica; ele pode, nas modalidades da compreensão, apoiar-se sobre a
intuição intelectual, a qual mobiliza fatores cuja complexidade resiste à análise. Ele
funciona nos registros do real e do possível, implicando a consideração de dados
múltiplos e de situações complexas que multiplicam as situações concebíveis a
priori” (Paty, 2005a: 372).
5
Cf. também a seção “Estética Transcendental”, Livro I, da Crítica da Razão Pura de Kant.
194
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
Onto-lógicas
Quando
propriedades
antinômicas
pertencem
a
um
mesmo
ente
simultaneamente, diz-se que o pensamento é contraditório. O lógos (razão e
discurso, para a tradição do Ocidente) é alvejado porque o enunciado é contra suas
regras (há uma contra-dicção). É a enunciação de uma impossibilidade lógica. Isto é
tão consensual para nós que sua demonstração é dispensável, pois tal regra atémse a um princípio básico do (modo de) ser dos entes. Aristóteles, o autor6 desse
postulado essencial do pensamento ocidental, formulou-o da seguinte maneira:
“Pois aquele princípio que deve ser conhecido por todos que queiram
entender qualquer um dos entes não é uma hipótese, mas algo que
necessariamente deve saber aquele que queira conhecer qualquer
coisa e cuja posse é prévia a todo conhecimento. Evidentemente, pois,
um tal princípio é o mais certo de todos. Qual seja ele, vamos dizer
agora: um mesmo atributo não pode, simultaneamente, pertencer e não
pertencer a um mesmo sujeito com relação à mesma coisa”.
]Metafísica. IV, 3, 1005b 15 – 21[
O mesmo postulado é repetido de modo bastante semelhante e inequívoco
em outra passagem da Metafísica: “Há nos entes um certo princípio sobre o qual não
é possível enganar-se, mas que necessariamente se fará sempre o contrário, ou
seja, descobrir a verdade; a saber: não é possível que uma coisa seja e não seja ao
mesmo tempo ou que admita qualquer oposição semelhante” (XI, 5, 1061b 35 –
1062a 3). O principium contradictionis aristotélico ressoa a séculos a fio como norma
fundamental do (correto) pensamento adequada, segundo Kant, para todo o
conhecimento em geral (Heidegger, 2002a: 125). Para a lógica formal, o problema
da contradição predicativa é a negação da unidade da entidade – a
(ousia),
6 Um esboço prévio desse princípio – partindo da distinção entre o ser e o não-ser, o imóvel e o
mutável, o uno e o múltiplo – foi apresentado por Parmênides em seu poema Peri Physeos do qual
restam hoje apenas fragmentos. Com isso Parmênides, e não Platão, teria sido o verdadeiro iniciador
da tradição metafísica (sobre a polêmica da paternidade do pensamento metafísico ocidental cf.
Béaufret, 1965; Cornford, 1952; Curd, 1992; 1999; Finkelberg, 1986; Vishwa, 2001).
195
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
que na tradução latina é essentia. Por seu turno, negar a unidade da essência de um
ente é não reconhecer-lhe uma substância, pois, sem unidade a ousia seria múltipla
e não idêntica consigo mesma. Portanto, o problema da contradição predicativa é
também um problema de identidade, entendendo-a aqui em sentido metafísico que é
o da igualdade do mesmo consigo mesmo que exclui a diferença como fator
constitutivo. Sem a unidade da essentia não há identidade; e vice-versa.
“Portanto, algo haverá que signifique substância; e, sendo assim, estará
demonstrado que não é possível predicar termos contraditórios ao
mesmo tempo. Além disso, se as contradições são todas
simultaneamente verdadeiras e ditas de um mesmo sujeito,
evidentemente tudo será uma coisa só. Pois a mesma coisa será uma
trirreme, um muro e um homem, se de tudo é possível afirmar ou negar
qualquer coisa, como necessariamente hão de admitir aqueles que
compartilham das idéias de Protágoras”.
]Metafísica. IV, 4, 1007b 16 – 24[
Aristóteles reconhece que seu princípio da não-contradição predicativa não
pode ser demonstrado; ele é axiomático e ponto de partida para todos os demais
postulados sobre as categorias, ou o modo de dizer o ser através da predicação do
ente nas proposições. Sua validade reside na força de uma tradição constituída por
meio de uma razão discursiva e conceitual proveniente da gradual translação do
lógos originário grego da ambiência da physis, cujos sinais são a relação e a
percepção, para o universo metafísico da identidade (ipseidade) e da abstração. Tal
tradição de racionalidade, depurada e transformada em doutrina tanto pelos
pensadores medievais da igreja quanto pela moderna ciência, se constituiria em um
dos componentes mais vigorosos daquilo que conhecemos por civilização ocidental
e não há porque consentir que permaneça invisível o fato de que esta racionalidade
é uma criação da história e não um universal da mente humana ou que, em sendo
particular, não é mais eficiente que as demais formas particulares de racionalidade.
A eficácia das representações simbólicas é pertinente a todas as racionalidades,
assim como a função de inteligibilidade e a habilidade em promover a comunicação
196
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
em uma determinada cultura ou entre sistemas de racionalidades diferentes (Paty,
2005b: 3274).
A prova do rendimento de processos simbólicos constitutivos de diferentes
racionalidades são as cosmologias que edificam conhecimentos sem o recurso da
exclusão da contradição predicativa e, indo mais além, a utiliza como conector
noético a fim de elaborar explicações sobre mundos. Tais mundos, por certo,
decorrem de uma peculiar experiência estética que, atentando para as qualidades
sensíveis dos entes, apreende-os a partir da transitividade no horizonte de sua
aparescência que, determinando-lhe o modo de serem e existirem, é um manifestarse como e com, compondo quadros e esquemas cognitivos em que as coisas são
predicadas tão somente a partir de tal zona de relação. Estas cosmologias seriam
assim, e ao contrário das demais fundadas na predicação a priori dos entes,
relacionistas (ou relacionalistas), conforme Viveiros de Castro (2002a: 129: 2002b:
382)
percebeu
para
as
sociedades
indígenas
amazônicas
que
têm
no
perspectivismo sua onto-lógica nativa. Devido a um certo sentido prático colado às
reflexões, as tradições relacionistas ater-se-iam às qualidades sensíveis dos entes;
mas, sem precisar experimentá-las uma a uma, operam por meio de um raciocínio
analógico que detecta as correspondências entre elas e seus níveis de
permutabilidade (Lévi-Strauss, 1962: 30-31).
Pois, se os atributos da essentia são a forma, a unidade, a identidade e a
imutabilidade, os do ente são a multiplicidade, a diferença e a mudança. A essentia
como tal só pode ser determinada por meio do conceito, ao passo que o ente –
manifesto em sua aparescência e no percurso da emergência à imergência – é um
“algo para”, um objeto da percepção. O ser é lógico; o vir-a-ser é sensível. Mas os
pensadores gregos pré-platônicos não fizeram a diferenciação radical desses
atributos, pois nomearam por “ser” tão somente aquilo que é mais comum nos entes
em geral: o fato de serem, aparecerem, surgirem por um movimento imanente que já
é também perecimento. O ser está no horizonte da manifestação, do fenômeno. Ele
é aparência, ao passo que dela também se distingue. Simples assim, este mistério e
enigma fundamentais dispensam qualquer metafísica.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
197
Esta, aliás, torna inverossímil as racionalidades sintéticas e coloca sobre
suspeita sua validade como modelo de explicação de mundos, pois fundado em
classificações elaboradas pela sensibilidade que, recolhendo as percepções
advindas da experiência humana fundamental de ser um ente com os entes, procura
pelo lugar do homem no mundo das coisas, mas sem abandoná-lo. Segundo a
interpretação de Heidegger para o pensamento pré-filosófico (mito-poético) na
Grécia: “Para os gregos, o que aparece a partir de si mesmo, que ‘vigora’ junto do
homem, é o ente em sentido autêntico, porque, por razões que ainda não somos
capazes de discutir, eles fizeram a experiência de ser no sentido de um vigor de
presença. O que surge a partir de si mesmo, e aparece em todo vigor de presença, é
7
” (Heidegger, 2002a: 73).
Este abando das coisas, dos entes é, num certo sentido, a metafísica.
Constituído como
(metà tà physiká) tal pensamento ultrapassa o
horizonte de manifestação dos entes (aquilo que chamei de aparescência) para
ascender ao reino das idéias e dos conceitos à procura da essentia, o universal e
necessário que está fora das coisa. Metà tà physiká é também o salto por cima e
para além da reunião originária da physis, onde estão tanto o imanente quanto o
transcendente, o ente e o ser. É o movimento que, iniciado na Grécia sob o auspício
de um conjunto complexo de contingências históricas e culturais, criou uma
racionalidade vigorosa que permitiria a invenção de dois modelos de pensamento
baseados no conceito e na análise: a ciência e a filosofia. A racionalidade metafísica
vem sendo destilada ao longo de mais de dois milênios e embora não seja possível
dizer que ela sempre tenha sido a mesma, a rotura entre sensível e inteligível em
todo o tempo a acompanhou.8 Vê-se isso já no diálogo platônico sobre a Idea (ε δο
– eidos), o Parmênides. Platão define assim a relação que há entre as coisas e as
formas abstratas:
7 Tá physei onta, tá physiká; os entes da physis ou os entes físicos.
8 Talvez Nietsche, o último grande pensador da tradição metafísica, seja uma das poucas exceções.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
198
“Suponhamos, por exemplo – disse Parmênides – que um homem é
escravo, ou que é senhor. Se for escravo, não será escravo do senhor
em si, da essência-senhor; nem, se for senhor, senhor do escravo em
si, da essência-escravo. Como homem, será senhor ou escravo de um
homem. Pelo contrário, o senhorio em si referir-se-á à escravidão em si,
qualquer que seja; e, do mesmo modo, a escravidão em si referir-se-á
ao senhorio em si. Mas as coisas que existem em nós, não mantêm
relações com as idéias, nem as idéias conosco. As idéias relacionam-se
unicamente com as idéias e as coisas que nos rodeiam relacionam-se
exclusivamente consigo mesmas”.
No começo da filosofia, no começo da metafísica, já não existe mais a reunião
originária da physis que, num sentido, permite a antinomia predicativa ao
estabelecer a primazia da relação sobre a predicação. Por isso considero adequado
chamar de “pensamento pré-predicativo” às racionalidades não-metafísicas e
relacionistas que encontramos como transformações da consciência mítica, seja o
xamanismo, a poesia, a arte ou algumas formas de religião. Aristóteles já percebera
que a antinomia predicativa, contra a qual formulou o axioma primeiro da lógica
formal, decorria de qualidades perceptíveis dos
(entes da physis) e que
eram pensadas como oposições constitutivas da realidade pelos pensadores gregos
pré-filosóficos.
“Há alguns que, como dissemos, sustentam, por um lado, que uma
mesma coisa possa ser e não ser ao mesmo tempo, e que, por outro,
assim se pode pensar. E utilizam esta linguagem muito daqueles que
tratam da physis (9). Mas, quanto a nós, acabamos de ver que é
impossível ser e não ser simultaneamente e, deste modo, temos
demonstrado que este é o mais indiscutível de todos os princípios”.
]Metafísica. IV, 4, 1005b 35 – 1006a 5[
9 Normalmente traduz-se por “físicos” o nome aplicado àqueles que, no período cosmológico do
pensamento grego, tratavam da physis, como Heráclito, Demócrito, Pitágoras, Empédocles,
Anaxágoras e Parmênides. Provavelmente porque Aristóteles e os filósofos de seu tempo chamavamno de
(physikói) ou
λ
(physiológoi) (Carneiro Leão, 1993: 17).
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
199
A criação de uma racionalidade metafísica no Ocidente produziu como
conseqüência uma profunda alteração naquilo que os physikoi chamavam de physis:
o modo de ser e a reunião dos entes; o ser enquanto fenômeno (aparescência) e a
relação. À medida que os entes são (isto é, vem à percepção) pertencem ao domínio
do que vive, pois o sentido originário que os gregos formularam para vida muito
pouco tem a ver com aspecto morfológico ou condição fisiológica. E o que é vivo têm
como seu fundamento
(psyche), cuja tradução latina é “alma”. Contudo, ao
contrário do sentido reservado à anima na tradição cristã, a psyche não é
transcendente. Antes ela é uma propriedade que tem a ver com o fato dos entes
existirem e, assim sendo, deriva de noções sensíveis relacionadas à extensão e a
corporalidade. Não minuciarei agora este assunto que procurarei abordar melhor em
uma outra oportunidade; contudo quero antecipar o ponto em que, ainda no início da
racionalidade metafísica na Grécia clássica, aos entes eram atribuídas qualidades
essenciais que talvez correspondam ao que entendemos por “vida” (
“alma” (
- zoe) e
- psyche) (Heidegger, 2002b: 307), atribuições que, por certo,
derivaram da apreensão sensível e sintética do devir impresso nas coisas e que
delimita a fronteira entre racionalidades e tradições distintas.
Pois se os entes possuem “vida” e “alma” não estariam eles subtraídos do
domínio objetivo da matéria inerte? Basta recordar que aos entes da physis compete
o movimento imanente (e não exterior) de emergir e declinar, uma realização
inexorável que ocorre em sua aparescência. Que os gregos pré-filosóficos, que
ainda meditavam sob a guarda da racionalidade mítica, eram animistas não é um
fato surpreendente. Que outra coisa poderia ser uma sociedade cujas divindades
estavam ali, tão próximas dos homens que com eles produziram gerações e
gerações de daimones, meio humanos e meio deuses? Ou tão presentes no
cotidiano a ponto de fazerem com que os pitagóricos, místicos e matemáticos,
dissessem que “tudo está repleto de deuses” para exprimirem um aspecto de sua
doutrina? Com isso, devemos admitir que a totalidade dos entes, a physis, é
determinada por aquilo que os gregos pensaram originalmente como “vida” e “alma”,
os atributos essenciais que fazem equivaler em potência todos os entes. E é a ação,
200
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
ou melhor, um modelo de ação-em-devir que Aristóteles denominou de energeía que
torna os entes equipolentes.
Dessa totalidade dos entes, cujo modelo análogo os gregos nomearam de
(cosmos), participavam o homem, a cultura e a história (Heidegger,
1987[1953]: 45). Mas a transição difusa para a racionalidade metafísica consolidou
um setor autônomo em relação à physis nomeado como
(nomos) e associado
aos costumes e às leis da cidade. Inversamente à physis, nomos não é universal,
mas restrito a um determinado conjunto de relações sociais, a uma sociedade
urbana em particular e a seus membros. O que dá suporte e existência a nomos é a
vontade coletiva presente no contrato vigente entre os membros de uma sociedade
(agreement) e não a força independente dos homens que vigora na physis e compõe
a ordem estável do mundo sensível (Ostwald, 1990: 298).
Conforme a physis produz a identidade entre os entes, faz equivaler não
apenas os homens, os animais, os deuses, o mar e a pedra – todos, como
destaquei, partícipe da zoe (vida) e da psyche (alma) – mas indistingue também os
homens entre si, obliterando as diferenças culturais tão marcantes entre as cidades
da Grécia clássica. Com nomos um ateniense distinguia-se de um espartano e um
grego de um bárbaro. Ultrapassavam a inexorável identidade imposta pela physis
enquanto entes. Deste modo, além de permitir a isonomia entre iguais (as partes do
contrato social, os habitantes de uma mesma cidade-Estado submetidos às mesmas
leis e portadores de costumes semelhantes ou “controlados” pelas leis citadinas),
nomos marcava também a diferença entre gregos de cidades diferentes ou entre
gregos e não gregos. Em síntese, nomos é o universo particularizante da cultura e
das normas jurídicas que emerge da forte tradição urbana grega.
Com a ascensão da racionalidade metafísica no início da filosofia grega, a
distinção entre physis e nomos se consolida e criam-se setores distintos da
realidade, senão antagônicos, impulsionados pela emergência de um lógos
transformado em discurso, argumento, razão e instrumento humano a favor do
julgamento da verdade que constitui a busca da filosofia. Physis passa a ocupar o
lado reverso da unidade tensa que compõe com nomos, preservando-se sua
natureza universal, inabalável, rígida, mas da qual o homem se separa enquanto o
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
201
ente citadino regido por nomos. Esta diferença entre physis e nomos, que mais tarde
se converteria em antítese fundamental para o Ocidente, é a gênese da distinção
natureza/cultura e um dos grandes marcadores da ascensão da racionalidade
metafísica que opõe e hierarquiza o inteligível e o sensível, capacidades da razão
humana antes inseparáveis na consciência mito-poética.
To be and not to be
Eis a questão: a racionalidade metafísica da qual extraiu-se a lógica formal e
com ela o princípio da não contradição predicativa pelo qual guiamos nosso
pensamento é uma contingência, produto da confluência de matizes culturais
diversas na península grega há mais de dois milênios, e não um universal da razão
ou uma etapa do desenvolvimento da mente humana. Onde ela está ausente, o
pensamento permite uma reflexão originária sobre o ser e o ente predicando-o,
inclusive, antinomicamente. Fora da metafísica do lógos, ser e não-ser podem ser o
mesmo.
Este modo de proceder diante das coisas é também um modo de estar-nomundo com as coisas (os entes); um relacionismo que decorre da experiência
sensível de que tudo participa de uma mesma reunião e que é nessa reunião
participativa – que os gregos pré-platônicos chamaram originalmente de
(lógos) – onde as coisas aparecem e são. Tal condição de ser e aparecer constitui a
identidade do diverso, a unidade do múltiplo que se oferece como princípio
fundamental do pensamento pré-predicativo inspirado por uma rigorosa classificação
das qualidades sensíveis.
Tudo ocorre como se, partindo das constatações perceptivas e intuitivas sobre
o diverso, o pensamento procurasse conhecer o que há de comum na multiplicidade
dos entes e, fazendo um percurso pericêntrico mas de resultado, declarasse uma
conclusão que é também um retorno ao ponto de partida: que a unidade reside no
fato dos entes serem e serem com. Ou seja, o sensível é, simultaneamente, o objeto
de interpelação e a resposta. Em sentido originário grego (isto é, de um pensamento
202
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
pré-filosófico) este domínio é o da experiência e da transição como vigência
universal dos entes, um domínio onde as coisas são em seu surgimento e declínio;
um domínio que é, ao mesmo tempo, os entes, seu modo de ser, a identidade entre
eles e a conjuntura de sua diversidade. A isto chamaram os gregos de
(physis):
“Physis significa o vigor reinante, que brota, e o perdurar, regido e
impregnado por ele. Nesse vigor, que no desabrochar se conserva, se
acham incluídos tanto o ‘vir-a-ser’ como o ‘ser’, entendido esse último
no sentido restrito da permanência estática. Physis é o surgir, o ex-trairse a si mesmo do escondido e assim conservar-se [...] O ente como tal,
em sua totalidade, é physis”
]Heidegger, 1987(1953): 45-47[
Contudo, à physis não atribui-se apenas uma estrutura fundamental de
relações ou o movimento do devir que rege todas as coisas e é captado pelos
sentidos; nos poemas gregos cosmológicos do 7º ao 5º século AC, a própria physis
aparece como um protogenoi, um dos primeiros imortais a emergir no universo ao
lado de elementos conhecidos da cosmologia grega, como Khaos, Eros, Gaia, Nyx e
Khronos. Ela é, portanto, uma pessoa. E como prova testemunhal da persistência
das idéias durante as épocas de sua transição, no período clássico a palavra physis
ainda conservava a qualidade de “brotar”, designando por força das reminiscências
semânticas por trás das transformações dos significados “aquilo que brota por si
mesmo e aparece”. É o que se vê em uma passagem de Aristóteles:
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
203
“Chama-se physis (
)10, em um sentido, a gênese das coisas que
crescem, o que se depreende se pronunciarmos o (a letra upsilon do
alfabeto grego) de forma alongada. Em outro sentido, a parte primeira e
imanente de uma coisa que cresce, da qual provém o seu crescimento.
Também é aquilo de onde procede em cada um dos entes da physis o
movimento primeiro, que neles reside constituindo sua essência”.
]Metafísica. V, 4, 1014b 17 – 21[
Ao pensarem a physis os gregos não apenas reuniam todos os entes, todas
as coisas que são, e extraiam-lhes a vigência comum ou o seu modo de ser como
presença (a síntese unificante entre brotar [aparecer] e declinar [recolher-se e
perecer]). Fundamentalmente pensavam-nos no âmbito dos próprios entes e do ser
dos entes. Esta franca inclinação para pensar o ser dos entes como, por assim dizer,
aparescência, foi determinada – na experiência grega pré-filosófica – pela posição
que as imagens possuíam como conectivos no processo de construção das
estruturas que edificavam o mundo conhecido, processo este cujas formas análogas
estão – conforme pretendo argumentar – em todas as variações de pensamentos
lastreados no mito.
Um pensamento assim estabelecido não postula a diferenciação entre
imanência e transcendência, pois nele os entes (as coisas existentes) são a partir de
seu modo de ser (ou a partir daquilo que conhecemos simplesmente por ser). De
acordo com uma expressão grega conhecida,
! (on hè on – “o ente como
ente”) as coisas são pensadas a partir de sua presença e do modo como se
apresentam enquanto
(“fenômeno”, palavra cujo radical designa “vir à
luz”). Assim, na consciência pré-predicativa imanência e transcendência são o
mesmo, já que “a razão das coisas está nas próprias coisas” (Cavalcante, 1992:
10 As traduções do texto aristotélico trazem termos derivados da palavra latina “natura” (natureza,
naturaleza, nature etc.) em lugar de physis. No texto original, entretanto, a presença da palavra
é inequívoca.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
204
103). Em resumo, no período cosmológico11 de sua tradição – quando ainda
pensavam o mundo tendo por prumo o mito e a poesia – os gregos concebiam o ser
(ou o modo de ser dos entes) a partir do horizonte de manifestação dos entes,
destacando-se nessa modalidade de apreensão do mundo duas qualidades
precípua: relação e percepção.
Estes dois elementos, somados à identidade, são os constitutivos noéticos da
physis que, como procurarei demonstrar com o auxílio da etnografia do xamanismo
do baixo Oiapoque, fazem parte de todas as formas de consciências míticas,
transformações daquilo que Lévi-Strauss (1962) chamou de “pensamento selvagem”
para designar o pensamento analógico que “approfondit sa connaissance à l’aide
d’imagines mundi” (ib.: 348); e Merleau-Ponty (1945) disse ser uma “ontologia
selvagem” referindo-se ao espaço fenomenológico pré-analítico da experiência
humana. Estas caracterizações não possuem, obviamente, qualquer vinculação com
a “mentalidade pré-lógica” de Lévy-Bruhl, epíteto da entrega aos afetos e à
irracionalidade da alma primitiva. O pensamento e a ontologia selvagens, assim
como seus correlatos morfológicos, estão no horizonte da racionalidade humana e,
não constituindo “formas irracionais de conhecimento” (para acentuar o equívoco
que esta expressão sugere), podem indicar, entretanto, modelos de desrazão – no
sentido de revelarem um conhecimento que, procedendo da unidade entre imagens
e conceitos, está à vontade com o paradoxo e a contradição.
O salto radical que conduziria para além e, posteriormente, contra esta forma
originária de conhecimento foi primeiramente experimentado com a especulação
filosófica e metafísica: “Pensar o ente a partir da idéia, do supra-sensível, é o que
distingue o pensamento que recebe o nome de ‘metafísica’” (Heidegger, 2002b:
266).
Longe de ser um imperativo do espírito humano presente em todas as épocas
e ecúmenos conforme variantes regionais; e mais distante ainda de ser o madurar da
razão alcançado inelutavelmente em tempos diferentes pelos homens, a filosofia é
um acidente, o acaso ocidental inventado pelos gregos que iniciaram uma marcha
11 Utilizo aqui a divisão operada pela história da filosofia que sugere um período em que os
pensadores pensavam as causações naturais e o universo (cosmológico); e outro no qual
debruçavam-se sobre as grandes questões humanas (antropocêntrico).
205
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
onde o pensamento mítico, superando a si mesmo, “[...] contempla, más allá de las
imágenes aún adheridas a la experiencia concreta, um mundo de conceptos
liberados de esta servidumbre y cuyas relaciones se definen libremente:
entendamos, no ya por referencia a uma realidad externa, sino según las afinidades
o las incompatibilidades que manifiestam unas hacia otras en la arquitectura de la
mente” (Lévi-Strauss, 2005[1966]: 393).
E mais: além de ascenderem a uma lógica das formas com a superação (que
não, necessariamente, destruição) do mito, os gregos passariam a interpretar –
conforme este novo modelo de pensamento – sua própria mitologia; teriam sido,
assim, os pensadores pré-platônicos que pensaram a physis em termos binários
(alto e baixo; parte e todo; frio e quente; seco e úmido; ser e não-ser; água e fogo;
idêntico e diferente) os verdadeiros precursores do estruturalismo (Detienne, 1981:
211-212).12
No sentido que lhe dá Lévi-Strauss, filosofia é o pensamento construído sob o
auspício da lógica das formas, já presente seminalmente no mito onde atua em
conjunto com a lógica das qualidades sensíveis (Lévi-Strauss, 2005[1966]: 394).
Esta atitude – que não tem a ver com um fazer cumprir a programação da estrutura
da mente – só foi possível mediante um conjunto complexo de condições
historicamente dadas, disposições e combinações de fatores externos com os quais
os gregos tiveram contato, principalmente através das redes mediterrâneas de
comércio e guerra. Mas é verdade que também corroborou para esta grande síntese
o espírito audacioso grego.
Assimilando saberes estrangeiros e recolocando-os em outra ordem – fosse a
matemática chinesa, a geometria suméria e egípcia, o espiritualismo órfico da Trácia
ou o xamanismo asiático (Detienne & Vernant, 1974; Cornford, 1952) – geriram a si
mesmos numa direção nunca antes experimentada pelas sociedades humanas. Com
tal ímpeto, criaram cidades que eram modelos reduzidos do cosmos, culturalmente
efervescentes, onde o destino e as leis comuns estavam sob o regimento da palavra
desritualizada
(substituta
da
palavra
mito-mágica
dos
profetas
e
poetas)
12 Esta interpretação de Detienne parece-me que desloca o verdadeiro lugar dos opostos na
cosmologia pré-platônica e corrobora a noção, inaugurada e defendida por Hegel, de que os
pensadores da physis (notadamente Heráclito) teriam sido os pioneiros na leitura dialética do mundo.
206
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
transformada em força persuasiva de autoridade do Estado e de participação política
(Vernant, 1962: 34). A narrativa do mito cedia cada vez mais espaço à palavra
argumentativa da filosofia e da sofística que floresciam na polis aonde a ordem
política ia se separando da organização cosmológica (Vernant, 1965: 304).
O período cosmológico da tradição grega é aquele em que a linguagem mitopoética era utilizada pelos pensadores pré-platônicos a fim de falarem sobre os
entes, as coisa que existem dentro de uma vigência. A este conjunto, melhor
dizendo, a esta conjuntura que tudo reúne e onde todos os entes são e aparecem –
os astros, os deuses, as palavras, o homem, a pedra, a árvore, os animais, os
espectros etc. – é que os gregos deram o nome de physis. De acordo com o que
expus linhas atrás, physis designa, a partir de uma experiência estética fundamental,
a condição primeira comum a todos os entes, a saber, o fato de existirem e virem à
presença como modo do ser.
“O que diz, então, a palavra physis? Evoca o que sai ou brota de dentro
de si mesmo (por exemplo, o brotar de uma rosa), o desabrochar, que
se abre, o que nesse despregar-se se manifesta e nele se retém e
permanece; em síntese, o vigor dominante daquilo que brota e
permanece. Lexicamente ‘phyein’ significa crescer, fazer crescer [...] A
physis, entendida como sair e brotar, pode-se experimentá-la em toda
parte, assim, por exemplo, nos fenômenos celestes (nascer do sol), nas
ondas do mar, no crescimento das plantas, no nascimento dos animais
e dos homens [...] Tal sair e sustentar-se fora de si e em si mesmo não
se deve tomar por um fenômeno qualquer, que entre outros observamos
no ente. A physis é o Ser mesmo em virtude do qual o ente se torna e
permanece observável”.
]Heidegger, 1987(1953): 44-45[
A physis, sendo os próprios entes a partir de sua vigência emergente, designa
tanto o todo e a relação quanto a parte ou o termo (Heidegger, 2002a: 169) que,
segundo o fragmento 123 de Heráclito, tenderia, simultaneamente, ao brotar e
declinar incessantes relativos à geração e à corrupção das coisas.
207
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
" #
$
% (physis kryptesthai philei)
“Surgimento (physis) já tende ao encobrimento”13
“Surgimento favorece o encobrimento”14
Esta sentença revela o vigor da percepção no pensamento sobre o ser dos
entes (ou o modo de ser das coisas existentes) desenvolvido na tradição
cosmológica grega, pois diz da identidade entre ser e devir a partir da identidade
entre relação (ser = physis) e termo. É uma onto-lógica que não é metafísica,
porquanto aqui imanência e transcendência são o mesmo. Physis é tanto o modo
constitutivo dos entes quanto a sua conjuntura. No sentido que Lévi-Strauss (1962)
permite, essa onto-lógica é a lógica sintética do signo que une sob o mesmo teto a
imagem e o conceito e com a qual o pensamento selvagem edifica as estruturas do
conhecimento como mosaico de fatos (ib.: 32). E seriam outra coisa os “fatos” senão
arranjos perceptivos? Como tais, disponibilizariam ao bricoleur – seja o nativo
australiano, o índio da Amazônia ou o physiokoi grego – uma matéria heteróclita
formada por elementos que, não sendo significados a priori, são predicáveis na
relação. Retornando à ambiência do pensamento pré-filosófico grego, agora para
iluminar o pensamento selvagem de Lévi-Strauss, o modo de presença dos entes (o
ser dos entes = a conjuntura do diverso = physis) é a relação.
“&#
(epistéme physiké) é o entender-se com alguma
coisa que pertence à
ou, mais exatamente, aos
(physei onta). Trata-se dos entes que abrigam em si geração e
corrupção como surgimento e declínio: céu e terra, as estrelas, o mar,
as montanhas, as pedras, as águas, a flora e a fauna. Tomando-se o
que surge e o surgido como vigência e aparecimento, em sentido amplo,
então pertencem aos
até mesmo homens e deuses, uma
vez que aparecem e vigoram, desvigoram e desaparecem”.
]Heidegger, 2002b: 217[
13 Tradução de Emmanuel Carneiro Leão (1993: 91)
14 Heidegger (2002a: 122).
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
208
O avesso de tal pensamento – aquele cuja predicação dos termos antecede à
relação que terá sua pertinência avaliada por meio de juízos – é a metafísica, a
condição precípua para a elaboração da filosofia, do reino das formas (os conceitos)
e sua onto-lógica correspondente. Falando com mais precisão, filosofia é metafísica
(Heidegger, 1991[1968]: 113) e para chegar ao ponto de rotura em que, em um
determinado momento e lugar, o pensamento filosófico supera o pensamento prépredicativo baseado no mito – ou melhor, o absorve completamente e em modo
reverso a ponto de diluí-lo por inteiro e dissolver uma tradição que ficaria, na tradição
vindoura da filosofia e da ciência, acantonada na arte e na poesia15 – é preciso que
seja considerado o pensamento filosófico de modo radical, naquilo que o distingue
de outras formas de pensar e de construir realidades.
Assim, o sentido prosaico de filosofia enquanto pensamentos reflexivo,
especulativo, racional ou, o que é pior, conhecimento fino, não serve como
diferença, uma vez que formas outras de conhecimento possuem todas estas coisas
sem, no entanto, serem “filosóficas”. Somente a convicção subliminar de que a
filosofia é o modelo superior de conhecimento, aliada aos ativismos que corrompem
conceitos em nome de um relativismo programático que prega a suspensão a todo
custo do binômio “nós / os outros”, podem justificar noções vagas e confusas de
filosofias fora da tradição filosófica ocidental ou de seu raio orbital. Seria algo como
buscar um outro Ocidente, fora do Ocidente, sem atentar para o acaso do filosofar e
de suas especificidades. De tal modo que as reais diferenças entre tradições, as
particularidades que compõem a multiplicidade, são subsumidas face à pré-noção do
universal e do necessário, tamanha as suas aderências à nossa mentalidade.16 Os
outros ficam, então, cada vez um pouco mais diferentemente iguais a nós...
15 As relações da filosofia nascente com o mito não são objetos de consenso na história da filosofia.
Todavia, eram os sofistas os alvos das críticas mais virulentas de Sócrates e Platão, e não as
narrativas heróicas de Hesíodo e Homero ou as sentenças de Heráclito ou Anaximandro (Cornford,
1952: 133-134).
16 Nas ciências sociais em geral, e na antropologia em particular, a corrupção dos conceitos é, por
vezes, motivada pelo movimento de sua “politização”. Isto porque, ao pretender atribuir voz às vozes
historicamente caladas, a antropologia acaba por “restituir” aos seus clientes toda sorte de atributos
dignificadores, mesmo aqueles que nunca lhes disseram respeito (para um panorama de tal processo
dentro da antropologia brasileira – via práxis indigenista – mas com uma crítica também algo
engajada, cf. Cardoso de Oliveira, 1993).
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
209
Tal questão assume relevância em duas direções; dissipar a noção de que a
metafísica (isto é, a filosofia) é universal e imperativa a todos os povos e pensar
como um pensamento sobre o ser e o ente – que não é nem metafísica nem, num
certo sentido, ontologia (embora seja uma onto-lógica) – pode estar presente em
tradições orbitais ao mito que não fizeram a de-cisão histórica pelo pensamento
filosófico. Aquele pensamento que venho chamando de pré-predicativo dado à
preeminência da relação sobre as partes predicáveis e à presença de antinomias
como forma constitutiva do raciocínio, é um exemplo de racionalidade não metafísica
e não filosófica (no sentido anteriormente argumentado) próxima a outras
linguagens, como a arte e a poesia. É uma variação do pensamento,
simultaneamente sintético e analítico, que – movendo-se entre qualidades sensíveis
e mediando, através dos signos, as imagens e os conceitos a fim de construir
estruturas a partir das evidências e ordenar o mundo – Lévi-Strauss (1966) chamou
de “selvagem”, porque originário e intemporal.17 Em tal experiência originária de uma
racionalidade não metafísica estaria incluído o pensamento xamânico, cujo quadro
cognitivo de referência é o mito. Este é o argumento tema do presente bloco cuja
congruência se procurará, no capítulo vindouro, com o auxílio da etnografia do baixo
Oiapoque.
Alguns prolegômenos são ainda necessários. A fim de iluminar aspectos da
etnografia do xamanismo no baixo Oiapoque que utiliza um esquema lógico onde as
antinomias são percebidas como identidades por um pensamento que pensa as
relações entre as modalidades de entes do cosmos regional (pessoas visíveis,
Karuãna, Bicho etc), utilizei a seguinte seqüência: considerando que o xamanismo
no baixo Oiapoque tem o mito por quadro cognitivo de referência, conforme procuro
demonstrar adiante, e que a estrutura do mito é universal (Lévi-Strauss, 1962), pois
originária, tomando em conta que a rotura radical com tal pensamento originário é
histórica e fundadora da filosofia e da tradição ocidental; e ainda, que, sendo o
pensamento originário estruturalmente o mesmo em todas as épocas e lugares,
operando conforme esquemas culturalmente diversos, mas logicamente homólogos,
17 Como o próprio autor argumentou, “pensamento selvagem” não é o mesmo que pensamento dos
selvagens ou de povos primitivos, mas o pensamento em estado selvagem, antes da domesticação
que visa à obtenção de rendimentos (Lévi-Strauss, 1962: 289).
210
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
as comparações entre formas de pensamentos pré-predicativos não são apenas
legítimas, mas desejáveis quando se busca uma compreensão alternativa que traga
ao claro certos aspectos presentes em um tipo específico deste, no caso, o
xamanismo.
Assim é que utilizo o pensamento pré-filosófico grego – cujo eixo é a
cosmologia e a linguagem a mito-poesia – notoriamente aquele revelado nas
sentenças de Heráclito, em comparação ao xamanismo no baixo Oiapoque a fim de
compreender a vigência, nesta região, da lógica da transformação das antinomias
predicativas
em
identidades.
Ademais,
sendo
tributário
de
conhecimentos
geograficamente dispersos entre a Ásia, a África mediterrânea, o médio Oriente e a
Europa austral, os primeiros pensadores gregos incorporaram o xamanismo asiático
que unificava no xamã as figuras do poeta, do profeta e do sábio, aquilo que eles
mesmos eram: “[...] once they are seen against the background we have tried to fill
in, some at least of the early philosophers show clearly enough a consciousness of
their position as the successors of the composite shaman type” (Cornford, 1952:
108).
Procurando ascender a um conhecimento que estava além da experiência
empírica numa era em que o lógos ainda não era visto como uma ferramenta do
homem, como mais tarde se conceberá quando convertido em “razão”18, os
pensadores gregos pré-platônicos agiam também como herdeiros dos antigos poetaprofeta-sábios que tinham por função serem destinatários de conhecimentos
superiores revelados; faziam, assim, ao modo dos xamãs asiáticos cuja influência
alcançou outras paragens culturais na Europa meridional, a mediação entre os
homens comuns e os deuses (Cornford, 1952: 143). Com alguma dose de ironia, é
em Parmênides – o mais próximo da metafísica e da tradição filosófica dentre os
pensadores originários – que se vê a vigência das técnicas xamânicas de
comunicação inter mundos quando narra, em seu poema ' " (
(peri
physeos, “A cerca da physis”), sua saga pelo caminho do conhecimento verdadeiro
18 A filosofia grega nascente dizia que o homem era “ )
*
” (zoon lógon echon), “aquele
ser vivo que possui o lógos”, compreendendo por lógos a razão e a capacidade humana de
julgamento por conceitos (Heidegger, 2002b: 293), noção completamente estranha ao pensamento
pré-filosófico grego.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
211
que relembra “the heaven-journey of the shaman’s ritual drama” (Cornford, 1952:
118).
A epopéia inicia com o pensador sendo conduzido por cavalos guiados por
ninfas19 até a morada da deusa Dike. O local é guardado por um grande portal cujo
ferrolho que abre e fecha a porta é controlado pela própria deusa que, convencida
pelas ninfas, permite a entrada do pensador e, acolhendo-o, faz-lhe revelações
sobre dois caminhos: o da obediência e da verdade e o que é “totalmente insondável
como algo inviável” (Parte II)20. Deverá Parmênides conhecer ambas as passagens,
mas guiar-se-á apenas pelo caminho da investigação da verdade, afastando-se
completamente daquele outro “o qual mortais, que nada sabem, trilham errantes [...]
multidão sem decisão, a quem ser e não-ser vale como o mesmo e como o nãomesmo” (Parte VI). A seqüência do poema é, para alguns historiadores da filosofia, a
aurora da metafísica, pois trata-se do primeiro texto conhecido a discutir em termos
predicativos o ser e o não-ser, postulando a radical distinção entre ambos.
Parmênides estaria, assim, sobre o eixo da dobra; a forma de seu pensamento ainda
é originária, conectada claramente à linguagem da mito-poesia e ao modelo
xamânico de comunicação inter mundos, mas seu teor inclina-se para a superação
de tal tradição ao postular de maneira então inusitada a diferença entre o ser e o
não-ser.
Com estas explicações a escolha pelo pensamento pré-filosófico grego não
está fundada naquilo que percorre as mentes quando se fala na Grécia clássica; a
crença uníssona na superioridade das produções do espírito grego, sejam os mitos,
as artes, a ciência ou a filosofia. Conforme afirmei antes, formas de pensamento cujo
esquema de referência é o mito são eqüipolentes e, assim, não há o que justifique
uma deliberada hierarquização entre elas. Além disso, sem um inventário à mão das
sinopses dos pensamentos de povos não ocidentais (inventário que deveria observar
seus objetos no espaço e no tempo, portanto, improvável pela total insuficiência de
19 As ninfas eram filhas de Zeus, deidades femininas dos poetas cantadores (os aedos) como
Homero, Hesíodo e Arquíloco, que estavam relacionadas à fertilidade e habitavam montanhas, grutas
marinhas, lagos, nascentes d’água e árvores (Lurker, 1989).
20 Utilizo aqui a edição bilíngüe do poema de Parmênides apresentada em Pensadores Originários
(Anaximandro, Parmênides , Heráclito), Petrópolis: Vozes, 1993.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
212
registros), falta uma medida que consinta a emissão de juízos sobre a superioridade
de um pensamento sobre os demais.
Ocorre que, por motivos contingênciais relativos à história, o pensamento préfilosófico grego pode chegar até nós devido não apenas ao seu registro escrito
(notemos que a maior parte dos manuscritos originais se perdeu), mas à sua
sistemática reinterpretação que permitiu, já dentro da tradição filosófica, posteriores
apontamentos, compilações, explanações e comentários. Por certo, este conjunto de
anotações subseqüentes – que se inicia já nos diálogos platônicos, atinge o seu
auge com os compiladores neo-romanos entre os anos 60 ac e 500 dc e continua
ainda hoje – é uma visada da filosofia sobre o que ainda não é filosofia. Se por um
lado tais leituras sistemáticas e introdutórias ao pensamento grego pré-platônico
fizeram-no reproduzir em uma ressonância milenar cujos resultados podem ser
vistos nas contemporâneas edições populares de pocket books contendo traduções,
introduções e interpretações dos fragmentos de Anaximandro, Parmênides ou
Heráclito, por outro tais explanações são às vezes tão desataviadas e distorcidas
que estes pensadores, transformados em místicos ou espiritualistas, vão desfrutar
da companhia dos livros de auto-ajuda ou de “filosofias” new age nas prateleiras das
livrarias.
Mesmo as interpretações célebres dos pensadores pré-platônicos, como a
que faz Aristóteles em sua Física e Metafísica, costumam ser um julgamento em
termos filosóficos daquilo que está se encaminhando para a filosofia, mas ainda
pertence à tradição oral do pensamento mito-poético grego. Uma filosofia da história
– hoje vigente e que está fundamentada na fé no desenvolvimento e progresso das
idéias (Carneiro Leão, 1993: 32) (lembremos do positivismo na filosofia e do
evolucionismo na antropologia) – emerge com esta disposição que transforma a
razão filosófica em medida e aquilata filosoficamente todo tipo de pensamento,
sejam aqueles por trás dos mitos ou da cosmologia de Empédocles vista por Hegel.
Os physiokoi – os gregos que pensavam o cosmos numa tradição anterior à
filosofia – foram os primeiros a experimentarem o julgo filosófico sobre outras
racionalidades. Forçados por Platão e Aristóteles a abandonarem o solo mito-poético
cuja tradição era constitutiva de seu pensamento, seguiram desterrados para um
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
213
estágio germinal e pouco desenvolvido do filosofar dos filósofos, pois confuso e
cativo da corrupção racional.21 Deste modo inaugurou-se um percurso que é
simultaneamente historiográfico e ajuizador, pois a história das idéias é uma história
do juízo filosófico sobre as idéias. A filosofia é o parâmetro, o sujeito de uma razão
representadora que, por ser capaz de representar a si mesma na relação com o
representado, transforma-se no absoluto hegeliano da relação dialética de
purificação do conhecimento.
Se toda a história da filosofia é também uma filosofia da história (Carneiro
Leão, 1993: 19), para justificarmos a visada equivocada que se aplica aos
pensadores gregos pré-platônicos, podemos ampliar tal jugo para demais formas de
pensamento lastreadas em racionalidades culturalmente diversas e eqüipolentes.
Um inventário de tal natureza incluiria todas as lógicas nativas mais profundas a
partir das quais se arquitetam desde o intercâmbio matrimonial ao xamanismo; da
dádiva ritual à escolha de parceiros em novas relações comerciais. Cientes do poder
subliminar do julgo filosófico das idéias, seria forçoso aos antropólogos se
perguntarem o que do conjunto das nossas (no sentido de construídas pela
antropologia) “categorias nativas”22 são, de fato, “ontologia”, “metafísica”, “filosofia”
21 Um adendo deve ser feito. Embora se atribua, com propriedade, a Platão (que também era a voz
de Sócrates) e Aristóteles a instauração do pensamento filosófico cuja presença seminal já estava ,
de certo modo, em seus antecessores, houve tanto rupturas no pensamento dos primeiros filósofos
em relação ao pensamento originário mito-poético quanto continuidades (cf. Heidegger, 2002b: 320;
Detienne, 1981: 212; 1995 [1967]: 204; Cavalcante, 1992: 103; Cornford, 1952: 66-70). A primazia
das rupturas sobre as continuidades entre ambas as tradições de pensamentos foi se firmando de
modo definitivo ao longo da idade média e no início da era moderna.
22 As aspas aqui exprimem uma suspeita, pois um termo composto por um substantivo necessário e
universal (categoria) e um adjetivo acidental e particular (nativa) deve ter algum problema. As
categorias são conceitos, sejam enquanto sinais manifestos de um determinado ente e a ele
atribuídos no discurso (modos de dizer o ente ou a forma de predicação do ente em uma proposição,
como em Aristóteles) ou, conforme Kant, decorrentes da intuição dos princípios a priori – as
condições de possibilidade de um dado objeto – responsáveis pelas “condições do pensamento numa
experiência possível” (Crítica da Razão Pura. Analítica dos Conceitos, A 111). No primeiro caso tratase de predicados atribuídos a um ente no lógos, no discurso – fiéis à noção grega de categoria como
acusação, imputação pública de atributos a alguém – mas necessários, pois essenciais. No segundo,
são formas inatas de funções cognitivas pelas quais se produz o conhecimento. Durkheim & Mauss
(1981[1903]) procuraram demonstrar o caráter coletivo das categorias, aludindo aos contextos sociais
em que são desenvolvidas, num contraponto à noção kantiana de que as disposições categoriais
estão previamente impressas nas mentes dos indivíduos. Entretanto, a qualidade universal das
categorias permanece e é nesta direção que está o esforço de Mauss (2003[1938]) e da escola
sociológica francesa de construírem “uma história social das categorias do espírito humano” (ib.: 369).
Desconfio que a justa substituição do termo “categoria nativa” – que seja congruente tanto com Kant e
214
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
ou se não estamos simplesmente aplicando a formas completamente outras de
racionalidade a medida e avaliação filosóficas, tornando-as semelhantes às nossas
próprias (quando os nativos somos nós) “categorias nativas”. Tais diferenças são,
sem dúvida, melhor comparáveis quando não são assimiladas umas às outras e o
esforço autêntico que podemos fazer a fim de desviarmo-nos de tal perigo –
identificando os idênticos e diferenciando os diferentes – é o da demonstração
etnográfica coerente com os conceitos correntes para os tópicos em exame e cujo
campo semântico está originalmente fora da antropologia.
Para a tarefa anunciada de buscar em uma forma eqüipolente de pensamento
pré-predicativo subsídios elucidativos de uma lógica da transformação de antinomias
em identidades presente no xamanismo do baixo Oiapoque, é preciso – conforme
deve estar suficientemente justificado – recorrer a uma interpretação que ao menos
indague sobre os sentidos possíveis que as palavras têm em uma conjuntura cultural
ainda atada à oralidade e sujeita ao campo gravitacional do mito. Este esforço, que
não é só de tradução, deve adentrar, através da língua nativa, nos domínios íntimos
da cultura, desvelando códigos e recompondo esquemas cognitivos constitutivos de
uma tradição.
Tradução e tradição
Martin
Heidegger
é
um
filósofo
alemão
contemporâneo,
da
lavra
fenomenológica e controverso. Bastante controverso. Querelas à parte, não
interessa explorar os motivos que fazem de Heidegger um pensador de grande
monta, tanto no que diz respeito às dissonâncias quanto às adesões e basta guardar
o que sobre ele disse Richard Rorty, da escola pragmática norte-americana atual:
Aristóteles, quanto com Mauss e Durkheim – possa ser feita em alusão a “modos nativos de
categorização”, preservando e exprimindo, assim, a qualidade classificadora das categorias.
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
215
“[...] I have been reading Heidegger by my own, Deweyan lights. But to
read Heidegger in this way is just to do to him what he did to everybody
else, and to do what no reader of anybody can help doing. There is no
point in feeling guilty or ungrateful about it. Heidegger cheerfully ignores,
or violently reinterprets, lots of Plato and Nietzsche while presenting
himself as respectfully listening to the voice of Being as it is heard in
their words. But Heidegger knew what he wanted to hear in advance ”.
]Rorty, 1991: 49[
Particularmente discordo disso, no entanto não cabe aqui um debate sobre
Heidegger. Penso que sua interpretação do pensamento pré-platônico grego,
sobretudo o de Heráclito e Parmênides, é mais interessante que a média porque,
não apenas ele faz um mergulho filológico na língua desses pensadores (Nietzsche
também o fez, magistralmente), mas por procurar na língua grega os sentidos
originários da tradição pré-filosófica grega.
Uma parte das críticas dirigidas a Heidegger é motivada justamente por sua
interpretação dos gregos. Como para ele a história da filosofia é a história do
esquecimento do ser, isto é, do questionamento originário proveniente da unidade da
percepção com a abstração e que conduz à apreensão do modo fundante dos entes
– caminho iniciado pela metafísica ao instaurar a separação entre sensível e suprasensível radicada no reino das idéias – o pensamento heideggeriano vai na direção
da superação da metafísica que teria esgotado todas suas possibilidades com o
advento da massificação da técnica moderna (Heidegger, 1991[1968]: 118). Este
seria o ápice de um percurso milenar de objetivação do ser tomado com ente. Para
Heidegger filosofia é metafísica e a superação da metafísica é também o fim da
filosofia como tal (Heidegger, 1991[1968]: 113-114). A superação da metafísica não
é, entretanto, sua negação ou rejeição da lógica e da modernidade, como alguns
críticos apontam (incluindo Richard Rorty).
A superação da metafísica é o questionamento da essencialização do homem
como animal rationale. Esse questionar se dá através do retorno ao fundamento
esquecido da metafísica (o ser) que está aonde ela não existe como tal: no
pensamento pré-platônico grego que pensa o ser do ente como “la présence du
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
216
présent” (Heidegger, 1968a[1938]: 37). Mas tal retorno ao pensamento que
Heidegger nomeia como originário não pretende ser uma anti-metafísica, nem é
contra a metafísica e menos ainda é o renascimento do pensamento pré-platônico
grego. A metafísica permanece como a filosofia primeira, a raiz da filosofia, mas não
alcança o fundamento do pensamento (o ser) (Heidegger, 1968a[1938]: 26). Daí as
traduções serem rigorosamente balizadas por este projeto que é mais audacioso do
que a ideação nietzschiana do super-homem que manteve-se balizada na edificação
de uma nova metafísica: a metafísica da vontade de poder.23 Ao fazer a crítica à
metafísica, Heidegger toca no fundamento do pensamento ocidental: a radical (mas
não irremediável) separação entre eidos (conceito) e as imagens provindas da
apresentação dos entes enquanto tais (Heidegger, 1968a[1938]: 68).
Lévi-Strauss abordou a mesma questão atribuindo ao pensamento selvagem
– mais precisamente à ciência do concreto e à reflexão mítica cujas atividades são
análogas à do bricoleur – a unidade, mediada pelo signo, das imagens e dos
conceitos (Lévi-Strauss, 1962: 28-30, 174, 348-349).24 O pensamento selvagem,
operando através de signos e não de conceitos, apreende o real aplicando ao
domínio exterior atributos do universo humano, como os valores morais e as
escolhas (Lévi-Strauss, 1962: 30). Aqui reside a impotência da distinção inequívoca
entre “objetividade” e “subjetividade” nas racionalidades conectadas ao mito. Com
efeito, esta diferenciação ocorre apenas onde há um “sujeito” construtor de
representações sobre as coisas e sobre si mesmo; um “sujeito” privilegiado capaz de
objetivar os entes a partir do movimento de sua transcendência, do ultrapassar o
ente enquanto ente (Cavalcante, 1992: 111). Este sujeito transcendental e
representador aparece com a metafísica da subjetividade advinda do cogito
cartesiano. Não esteve sempre dado, portanto, mas é produto de um momento da
história do Ocidente em que o homem passa a avaliar seriamente o seu lugar no
mundo, na totalidade dos entes. Inversamente e devido à experiência religiosa
medieval que concebia a participação de todas as coisas no lógos divino, os entes
23 Para Heidegger, a filosofia (isto é, a metafísica) encontra seu acabamento (no sentido de
cumprimento de suas possibilidades) exatamente com a metafísica de Nietzsche (cf. Heidegger,
2001b[1954]: 95).
24 “L’image ne peut pas être idée, mais elle peut jouer le rôle de signe, ou, plus exactement, cohabiter
avec l’idée dans um signe” (Lévi-Strauss, 1962: 30).
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
217
em geral – isto é, todas as coisas que existem e são – podiam ser vistos como
sujeitos (subjectum, no jargão da Escolástica); o homem, o animal, os objetos
inanimados (Cavalcante, 1992: 105-106). A tudo pertence um lógos, o divino, e o
que existe é subjectum.
Embora contemporâneo de Descartes, Leibniz demonstra consonância com
tal metafísica ao conceber que a cada enteléquia (mônada) corresponde uma pulsão
(a vis activa); uma força particular que permite a sustancialização das enteléquias
como ação e subjectum (Monadologia, § 18). Heidegger observa que é da
essencialização da enteléquia como ação, por meio da vis activa, que decorre a
noção leibniziana de ponto de vista:
“Em cada mônada reside, conforme a possibilidade, todo o universo. A
individuação que se realiza como unificação na pulsão é, portanto,
sempre essencialmente individualização de um ente que faz
monadicamente parte do mundo. As mônadas não são partes isoladas,
que apenas dão como resultado o universo, quando somadas. Cada
mônada é como pulsão caracterizada, cada vez o universo mesmo, à
sua maneira. A pulsão é pulsão re-presentadora, que sempre
representa o mundo desde um ponto de vista [...] Cada mônada é, de
acordo com o grau de seu estar desperto, uma história do mundo que
torna presente o mundo. Por conseguinte, está o universo, de certa
maneira, tanta vezes multiplicado quantas sejam as mônadas que
existem [...] A diferenciação das mônadas é necessária, ela faz parte de
sua essência. Unificando, sempre a partir de seu ponto de vista,
individuam-se a si mesmas. As mônadas são por isso, elas mesmas a
fonte de sua diversidade por causa de seu modo de ver, perceptioappetittus”
]Heidegger, 1979(1928): 228-229[
Esta metafísica do subjectum, que está muito próxima dos primórdios da
filosofia, não contempla ainda aquilo sobre o qual estará assentada toda a
possibilidade moderna de se conhecer algo, ou seja, a representação como
transcendência e objetivação:
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
218
“Nem Platão, nem Aristóteles, nem mesmo qualquer um dos primeiros
pensadores gregos conheceram algo como ‘psicologia’. O pressuposto
para a possibilidade de uma psicologia reside na colocação do homem
enquanto aquele que sabe de si mesmo, aquele que quer a si mesmo,
ou melhor, enquanto aquele que está certo de si mesmo e de sua
essência asseguradora de si. Pensando-se assim, faz-se a experiência
do homem como ‘sujeito’ e do mundo como ‘objeto’. A concepção do
homem como ‘sujeito’ e como subjetividade é inteiramente estranha
para o mundo grego. Por isso, não apenas não ocorre, como não pode
ocorrer uma ‘psicologia’ no mundo grego. E muito menos no começo de
sua história e de seu pensamento”.
]Heidegger, 2002b: 320[
Se considerarmos a subjetividade como a substância moderna do homem,
conforme quer Heidegger (1968a[1938]: 36), e a sua ausência em tradições
fundadas no pensamento pré-predicativo, teremos de suspeitar de sua eficácia
semântica quando transposta para universos culturais onde o conhecimento não se
produz a partir da transcendência de um sujeito sobre o mundo. Onde há a
“subjetividade” há a sua contra parte – a “objetividade” – e, no meio, a representação
por intermédio do conceito que unifica formalmente a multiplicidade dos entes. O que
pretendo argumentar é que, ao nomearmos por “subjetividade” aquela propriedade
dos entes invisíveis da cosmologia no baixo Oiapoque que lhes permite serem
chamados pelos karipuna e galibi-marworno de “pessoas”, nos afastamos um pouco
mais da compreensão do esquema cognitivo do xamanismo na região e, quiçá, na
Amazônia em geral. Não se deve, entretanto, abdicar de uma noção especial de
sujeito, aquela contida no subjectum escolástico e que possibilita sua definição a
partir da imanência e da percepção (referidas ao “o que é e existe como tal” – os
entes em geral) e não da transcendência e da abstração que subjazem no sujeito
moderno.
Contudo, uma outra nomeação parece melhor adequar-se ao núcleo do
pensamento xamânico no baixo Oiapoque na demonstração da natureza de entes
cuja ação produz ressonância no destino dos homens, como os Karuãna e os Djab –
conforme foi descrito no capítulo anterior. Este termo, transliterado do grego como
219
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
psyche (
), tem para nós uma tradução neo-latina bastante próxima e
conhecida, pois recoberta pela semântica cristã: alma, anima. O que ele, entretanto,
determina, isto é, dentro de seu domínio noético e lingüístico originais, é uma
experiência estética diante dos entes, daquilo que é e aparece:
“
(psyche), a animação, e
(zoe), ‘a vida’, são o mesmo, desde
que se pense
de maneira grega. Isso exige que se pense
e
a partir daquilo que os pensadores gregos chamaram de
(physis), no contexto em que pensaram o ser dos entes. Tudo o que é
‘vive’ à medida que é, e enquanto vivo é animado, de certo modo,
sempre diferente”.
]Heidegger, 2002b: 291[
Tal experiência estética não é, de meu ponto de vista, particularmente grega,
mas tributária de um certo modo de apreensão da realidade onde as imagens e os
perceptos são parte ativa do conhecimento do mundo e que, quer chamemos de
pensamento selvagem, pensamento pré-predicativo, originário, tradição mito-poética
ou racionalidade não-metafísica estaremos dizendo a mesma coisa. Os gregos
indicaram e preservaram, com toda força e densidade, através da língua a
experiência, o espanto e o mistério de estar no mundo co-habitado com outros entes
que, como o homem, também existem e são. Este enigma é o mais comum, o mais
elementar e originário experimentado pelos homens em todos os tempos e lugares
e, assim, produz as mais diferentes respostas e questões, sejam aquelas de domínio
da arte, do pensamento xamânico, da religião, da filosofia, do mito ou da ciência.
E os gregos revelaram tal enigma com o nome
(physis), cuja tradução
latina e tardia por “natureza” indica apenas a translação semântica e a pertença de
ambas as palavras a tradições diferentes. Para nós, modernos, a dificuldade de
compreensão do que diz o nome
enquanto experiência humana de ser e
existir como e com os outros entes com os quais dividimos o mundo, está
relacionada à nossa forma de apreensão do concreto que, ao construir
transcendentalmente representações sobre os entes, faz com que o sujeito do cogito
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
220
deixe, num certo sentido, de co-habitar com eles no mundo. Conforme MerleauPonty (1997[1964]: 9) exprimiu de maneira eloqüente na abertura de um célebre
ensaio: “La science manipule les choses et renonce à les habiter”.
Esta distância entre mundo e sujeito – fundadora da ciência e da filosofia
modernas e sobre a qual edificamos com segurança nossa cosmologia – está em
nós como uma escarificação que, ironicamente, apenas as críticas filosófica e
científica podem avaliar e projetar sua superação.25 Eis o paradoxo: alçado à
posição de ente privilegiado com a subjetividade do cogito cartesiano, o homem
separa-se radicalmente das coisas para produzi-las enquanto representação. Talvez
por causa desse abismo fundante de nosso pensamento moderno, talvez por causa
da escarificação olhada ainda de esguelha somos inaptos a compreender a
identidade como antinomia, ou vice-versa. Como lidar com o paradoxo da predicação
antinômica do xamanismo galibi-marworno sem recorremos à dialética, já que este
jogo dos contrários é a sublimação da metafísica e deve seu movimento justamente
à supressão da contradição deslocada no devir?
Heidegger evita e denuncia o julgo filosófico de um pensamento cuja
originalidade é ser originário, ainda não filosófico, e, simultaneamente, a pedra
fundamental para a filosofia e a tradição do Ocidente. E é aqui que reside sua
serventia para esta tese: fornecer uma rigorosa interpretação filosófico-filológica de
uma tradição pré-predicativa de volumosa, embora nubilosa, ressonância na filosofia
atentando para códigos e sentidos que, por estarem ainda ligados à tradição
cosmológica anterior à filosofia e à metafísica, podem corresponder a códigos e
sentidos vistos alhures em outras paragens onde o mito é a linguagem de referência.
Para um dia podermos tratar interpretações e traduções (em duplo sentido,
filológico e cultural) deste tipo não apenas como história da filosofia, mas enquanto
potenciais suportes à pesquisa etnológica que devem ser levados tão a sério quanto
as crônicas de viajantes e exploradores, os relatórios de missionários ou os balanços
de expedientes administrativos feitos por funcionários coloniais, teremos de
considerá-las a partir de seu esforço hermenêutico para alcançar os sentidos
subterrâneos de tradições diferentes daquela do pesquisador. E aí teremos de cuidar
25 Cf. a discussão procedida por Heidegger (2001a[1954]: 65 ss) sobre as possibilidades dos
métodos científicos superarem este distanciamento.
221
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
para que tais esforços não nos sejam mais inauditos, reservando às palavras
fundamentais onde está condensada a seiva de uma dada tradição de pensamento o
mesmo olhar interessado lançado sobre nomes como mana, hau e tabu.
Há três palavras fundamentais, dentre outras, na interpretação heideggeriana
do pensamento pré-platônico de Heráclito e Parmênides. São elas
(lógos) e +
$
(physis),
(aletheia). As traduções latinas costumam designá-las por,
respectivamente, “natureza”, “razão” e “verdade”. Todas estas traduções são
insuficientes, para não dizermos desfigurativas, pois produtos do julgo filosófico
depurado pelos filósofos medievais da igreja responsáveis por boa parte das
interpretações dos gregos ainda em vigor. Devido a tal deficiência é que Heidegger
reinterpreta radicalmente (no sentido literal, relativo à raiz de um problema) as
palavras dos pensadores pré-platônicos, de tal modo que sua tradução nos serve
como acesso ao solo do pensamento não-metafísico constitutivo de uma
racionalidade consolidada por meio da linguagem do mito.
“O processo de tradução do grego para o ‘romano’ não é trivial e
inofensivo. Assinala, ao invés, a primeira etapa do processo que deteve
e alienou a Essencialização originária da filosofia grega. A tradução
latina se tornou, então, normativa para o Cristianismo e a Idade Média
cristã. Daqui se transferiu para a filosofia moderna que, movendo-se
dentro do mundo de conceitos da Idade Média, criou as idéias e termos
correntes, com que ainda hoje se entende o princípio da filosofia
ocidental [...] Aqui, porém, saltaremos por cima de todo esse processo
de desfiguração e decadência para tratar de reconquistar a força
evocativa indestrutível da linguagem e das palavras. Pois as palavras e
a linguagem não constituem cápsulas, em que as coisas se empacotam
para o comércio de quem fala e escreve. É na palavra, é na linguagem,
que as coisas chegam a ser e são”.
]Heidegger, 1987(1953): 44[
Em que sentido devemos entender a síntese heideggeriana de que “é na
palavra, é na linguagem, que as coisas chegam a ser e são”? Suponho que uma
[Cap. IV] A physis ameríndia e o pensamento
222
experiência bem sucedida de exploração deste ponto – ou seja, da relação entre
palavras e coisas – deva transcorrer além da simples vinculação entre significado e
significante. Em um sentido tangencial àquilo que Austin (1962) definiu como ato
perlocucionário, a obtenção de efeitos mediante o dizer, mas que ainda não
contempla a real identidade entre as palavras e as coisas que existiria na
racionalidade não-metafísica e, notadamente, no pensamento mito-poético.
Desejo investigar, em uma oportunidade vindoura, esta questão e,
simultaneamente, com ela iluminar um importante componente do xamanismo no
baixo Oiapoque; o estatuto que a palavra assume nas fórmulas incantatórias
regionalmente denominadas de potás, recurso mágico de intervenção na realidade
largamente difundido não só na Amazônia, mas alhures, como em África e na
Oceania.
Esse ponto merece uma reflexão e será rapidamente abordado no capítulo
seguinte. Diz respeito à relação entre os mecanismos subjacentes nos potás e os
processos patrocinadores de curas que tem lugar no ritual xamânico conduzido pelo
pajé. Se em ambos está presente o mesmo princípio fundamental da interferência de
psyches (seja da palavra dita nos potás, seja dos Karuãna aliados do pajé) sobre a
realidade, alterando-a, a relação que o oficiante mantém com elas não é,
certamente, de mesmo tipo, sendo negociação ou manipulação conforme a posição
do agente de psyche.
!
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
225
Capítulo V
“Le rituel est le moyen de transformer, en le socialisant, un
donné brut immédiat en un système symbolique médiatisé; ou,
pour le dire autrement, c’est dans et par l’espace du rituel que
l’ordre naturel se convertit en ordre culturel”.
]P. Clastres, 1972: 27[
C
om as demonstrações procedidas no capítulo anterior procurei argumentar
que o xamanismo no baixo Oiapoque compreende uma racionalidade não
metafísica análoga àquilo que Lévi-Strauss chamou de pensamento selvagem para
designar um processo simbólico voraz desenhado pelo mito. Venho referindo-me a
tal racionalidade como pensamento pré-predicativo a fim de acentuar duas de suas
características mais contundentes: a primazia da relação sobre os termos e a
percepção como modo de apreensão sintética da totalidade. Este último ponto
coloca em evidência a função das imagens e dos signos na composição da
inteligibilidade pelo pensamento xamânico, mas não exclui os conceitos e os
processos analíticos da dinâmica do conhecimento. Ao contrário: o conhecimento
combina sistematicamente a multiplicidade imediata e a unidade mediada, a síntese
e a análise, pois não faz a disjunção radical entre o concreto e o abstrato (sem fazer
confusão entre ambos). Eis porque defendo que o xamanismo – enquanto variação
de conhecimento pré-predicativo – não é metafísica e não se deixa compreender
com ferramentas radicadas na lógica formal que guiam o nosso próprio pensamento.
Insistir na disjunção entre síntese e análise (que nos conduzirá a indelével
conclusão de que o mito dos outros é sintético e a nossa ciência é analítica) é seguir
um fetiche metafísico que designa a oposição entre as imagens e os conceitos, as
coisas e as formas. As evidências da combinação de tais elementos na dinâmica
cognitiva do pensamento pré-predicativo podem ser testemunhadas com o recurso
ao pensamento selvagem:
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
226
“[...] tout ce que nos prétendons avoir démontré jusqu’à présent est que
la dialectique des superstructures consiste, comme celle du langage, à
poser des unités constitutives, qui ne peuvent jouer ce rôle qu’à la
condition d’être définies de façon non équivoque, c’est-à-dire en les
contrastant par paires, pour ensuite, au moyen de ces unités
constitutives, élaborer um système, lequel jouera enfin de rôle
d’opérateur synthétique entre l’idée et le fait, transformant ce dernier en
signe. L’esprit va ainsi de la diversité empirique à la simplicité
conceptuelle, puis de la simplicité conceptuelle à la synthèse signifiante”
(grifos originais).
]Lévi-Strauss, 1962: 174[
“Les caractères exceptionnels de cette pensée que nous appelons
sauvage et que [Auguste] Comte qualifie de spontanée, tiennent surtout
à l’ampleur des fins qu’elle s’assigne. Elle prétend être simultanément
analytique et synthétique, aller jusqu’à son terme extrême dans l’une et
l’autre direction, tout en restant capable d’exercer une mediation entre
ces deux poles”.
]ib.: 290[
Mediante tais características, o pensamento consente, sem reservas, a
antinomia de predicados, refutando o princípio lógico formal da não-contradição e do
terceiro excluído. E um dos principais resultados da antinomia predicativa é a
prescrição de uma identidade cuja fundamentação não é o mesmo – como acontece
no princípio metafísico de identidade em que a=a – mas a diferença (Heidegger,
1968b[1957]), permitindo algo como a=~a=b, conforme demonstrei, no capítulo
precedente, destacando a validade de tal equação para a lógica paraconsistente
que, penso, explicar melhor as proposições vigentes no pensamento xamânico no
baixo Oiapoque.
Diante de tal princípio paradoxal, os termos “o mesmo” e o “outro” não podem
ser vistos como antitéticos (o que se justificaria onde a=a
a b) provocando uma
perturbação na fronteira ontológica entre ambos que, sem fazer com que se
misturem por completo a ponto de não se distinguirem, revela que identidade e
diferença são relações co-pertinentes. Inversamente ao que Platão formulou, no
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
227
início da filosofia, como regra do pensamento. Tome-se, por exemplo, o seguinte
trecho de seu diálogo Parmênides acerca das idéias:
“Sócrates – Como entendes isso, Zenão? Se os seres são múltiplos, é
necessário que, ao mesmo tempo, sejam semelhantes e
dissemelhantes; mas isso é impossível, pois o que é dissemelhante não
pode ser semelhante. Não é isso que queres dizer?”.
Sugiro que tal interdigitação entre “o mesmo” e “o outro” que se expressa
como um continuum identidade-diferença, é fruto do princípio relacional da physis
que produz uma pan-identidade mediante a noção – já evocada antes para o
pensamento pré-filosófico grego – de que os entes são sempre com, ou seja, que
seu horizonte de manifestação é sempre relacional e nunca, por assim dizer,
soliloquial. E dois dos conectivos dessa identidade geral da physis são a psyche,
cujo sentido pode ser tangenciado – e nada mais além disso – pela noção de
subjetividade, e zoe (vide Capítulo IV). Este princípio relacional da physis que julgo
estar presente como modelo de construção de inteligibilidade em formas outras de
racionalidade não metafísica, foi descrito para o mito pelo filósofo Ernst Cassirer
como uma lei de participação concernente à identidade entre as partes e o todo
(Paty, 2005b: 3265) e encontra ressonância em Heidegger (2002a) que diz ser a
physis simultaneamente termo e relação (ib.: 169).
É preciso guardar que as transformações do pensamento pré-predicativo têm
em comum justamente a precedência da relação sobre a categorização a priori dos
termos, decorrendo daí a caracterização a posteriori dos entes no mundo. Não
considero como predicação o fato de aos entes aplicar-se psyche e zoe1, pois são
1 Estou inclinado a aceitar que, no baixo Oiapoque, a relação dos entes de que trata o xamanismo
(Encantado, Karuãna, Djab dã buá, espectros etc.) com a psyche não é de posse, de maneira que
esta não se caracteriza por ser um instrumento através do qual os entes são passíveis de vontade e
ação, conforme diríamos da razão ou da subjetividade a fim de descrevermos processos psicológicos
para nós familiares. Antes parece ser o inverso; a psyche tem os entes e isto lhes atribui agência.
Mas não está em questão uma transcendentalidade da psyche, que creio não existir simplesmente
porque a oposição entre transcendência e imanência não se coloca para o pensamento prépredicativo. Isto porque, conforme defendi no Capítulo IV, tanto o ente quanto o seu modo de ser (o
ser) são aparescência e, enquanto tal, vigoram no horizonte fenomenológico de sua manifestação.
Este é o fundamento do ser com que exprime a precedência da relação sobre os termos na
arquitetura do conhecimento pré-predicativo.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
228
justamente estes elementos que, imprimindo a ação como marca comum aos entes,
impossibilitam a fixação de substâncias com as quais poderíamos conceituá-los
previamente a qualquer contexto de relação. Tudo transcorre como se o devir da
physis, que também evoquei no capítulo precedente – empiricamente assimilado por
regras lógicas de correlação ao imponderável e ao transitivo constitutivos da psyche
– permitisse apenas a aplicação aos entes de definições contingenciais mais ou
menos duráveis conforme seu horizonte de manifestação. Dizendo de outra forma, o
acaso moral atribuído aos entes invisíveis devido à sua agência e vontade potenciais
(psyche) tanto é testemunha do trasbordamento dos valores para além do universo
que determinamos “humano” (em oposição ao natural) – em função de uma
exigência do signo (Lévi-Strauss, 1962: 30) – como é parte da faina das
classificações empíricas que exprimem as transformações e o devir das coisas
enquanto resultantes da imponderabilidade do mundo concreto.
Com efeito, o que quer que seja um Karuãna em particular não está dado e
fixado previamente por uma essentia transcendental amparada no conceito2, mas
conforme sua relação com os demais entes, admitindo dizer que os Karuãna são
definidos a partir de sua aparescência ou de seu horizonte de manifestação (que,
lembremos, é sempre relacional – “ser com”). Segundo o que expus no Capítulo III
seus atributos primários e necessários evocam propriedades sensíveis, como
invisibilidade; intolerância ao cheiro do mênstruo (para uns), a ruídos de aparelhos
eletro-eletrônicos, à luz e ao pitchiu de peixe. Além de gosto por: caxiri, cheiro de
mênstruo (para outros), cerveja industrial e/ou cachaça e por tawari e/ou cigarro
industrial3. Por seu turno, os atributos secundários e contingentes são morais e
2 Refiro-me à noção platônica (metafísica) para as idéias, apresentada no Capítulo IV e da qual
podemos derivar a noção de conceito partindo da relação das idéias apenas consigo mesmas e
apartadas dos objetos sensíveis que, por sua vez, formam um sub conjunto da realidade.
3 A tolerância a barulhos e às bebidas e fumo preferidos dependem da proveniência do Karuãna. Já
disse anteriormente que os pajés galibi-marworno e karipuna podem dispor da assistência de pessoas
invisíveis que habitam o substrato de rios, igarapés ou marinho; os espaços astral e celeste; o interior
da floresta grossa (sobretudo nas montanhas dispostas ao longo do território comum); ou ainda as
imediações das cidades de brancos, tanto brasileiras (como Amapá, Cassiporé, Macapá, Belém, etc.)
quanto francesas na margem esquerda do rio Oiapoque (sobretudo Saint Georges e Tampac).
Karuãna associados a aldeias exteriores à área indígena (notadamente Camopi, no alto Oiapoque)
são mais raros, contudo ocorrem. Desses todos, aqueles habituados ao consórcio com “pajés
brasileiros” (vide o Capítulo II para referencia a este termo) são os menos melindrosos e exigentes,
não obstante tenham suas preferências, como a cerveja industrial e/ou cachaça e cigarro branco ao
caxiri e tawari. Para explicar-me essas diferenças, no dia seguinte a uma cantarola em sua casa
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
229
decorrem da psyche, a vontade e agência que percorrem os entes. Tais predicados
criam uma persona para os Karuãna conforme um contexto de relações que a
qualificará e embora a fugacidade e a mudança sejam próprias de tal persona – que
transforma-se de acordo com os cenários de aparescência – certos Karuãna
possuem tendência a agirem de maneira previsível, desde que se mantenha com
eles o mesmo contexto de relações. Por exemplo: um pajé sabe com alguma
segurança que poderá contar com Ghãpapa Kaimã (o mestre dos jacarés) para lhe
assistir em suas viagens ao Outro Mundo se mantiver suas prestações atualizadas
para com este Karuãna.
Saberá também que não se pode contar com a amizade de Poraquê, Karuãna
modelo da anti-sociabilidade que não fuma, não bebe caxiri e nem dança turé (Vidal,
prelo) e por isso é temido por todos; e aconselhará às mulheres em dias de regas
que evitem afastarem-se da aldeia para que não terem encontros fortuitos com o
sedutor Kadeicaru. Contudo essas qualidades não estão fixadas nos respectivos
Karuãna e, se assim podemos dizê-las, pertencem aos contextos em que eles
costumeiramente aparecem e relacionam-se com pessoas visíveis. Alterando o
horizonte de manifestação, altera as qualidades, permitindo, assim, a contradição
predicativa. Pois as pessoas invisíveis são simétricas quanto à capacidade de
inversão de seus atributos segundo os contextos de relação com pessoas visíveis.
As qualidades morais não podem ser constitutivas de uma essentia extra
relacional para os Karuãna e pessoas invisíveis em geral por causa dos pontos de
vistas plurívocos presentes em cada encontro entre elas e as pessoas visíveis. Se
para o pajé a verdadeira causa mortis de uma parturiente foi o rapto de sua alma
pelo Djab Ho-ho, para este sua ação será compreendida como afinização, porque
busca por mulher.
Se aos Karuãna atribui-se psyche é este atributo que fará com que tais
pessoas invisíveis, capazes de vontade e ação, sejam qualificadas nas
circunstâncias e não previamente recorrendo-se a uma essentia transcendental.
Pois, a rigor, o que os Karuãna são depende de como são. Este é o fundamento da
Levên me disse gostar dos Karuãna brasileiros porque não se assustam com os barulhos de
aparelhos eletrônicos (televisão, som etc.) nem com a iluminação noturna, elementos que em
Kumarumã, uma aldeia com quase duas mil pessoas aglomeradas, marcam a vida social.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
230
aparescência que informa que o princípio responsável pela entidade do Karuãna é
algo que, não estando fora de sua condição fenomenológica, está em seu corpo.
Tal juízo foi defendido no Capítulo III e refere-se a um aspecto do
perspectivismo indígena amazônico desenvolvido por Viveiros de Castro (1996,
2002b) e Lima (1966; 2005) – ambos apoiados na etnografia Tupi e, em certa
medida, no perspectivismo da Monadologia de Leibniz mediado por Deleuze – que
diz que, na ontologia ameríndia, o ponto de vista pertence ao corpo e não à
representação. Enquanto os corpos são responsáveis pela diferença expressa no
ponto de vista, a reflexividade e a cultura representariam a identidade fundamental
entre entes diversos.
No xamanismo do baixo Oiapoque, o perigo não é somente a diferença, mas
igualmente esta identidade fundamental que a psyche exprime por tornar
eqüipolentes entes visíveis e invisíveis e permitir que estes interfiram no curso
cotidiano e destino daqueles. Sobretudo quando atuam como agentes patológicos,
um dos principais pontos da teoria etiológica no baixo Oiapoque. É a identidade que
a psyche exprime que traz à luz capacidades comuns que produzem o risco da
intervenção das pessoas invisíveis no cotidiano social e não a diferença que
perpassa os entes, pois a ação é um atributo fundamental que varia conforme a
modalidade dos agentes.
A diferença acresceria (e não fundaria) o perigo que provém da identidade
porque, no domínio do outro, a capacidade fundamental de ação está
potencialmente fora de controle, agravando o risco da agressão. E a melhor maneira
de afastar o risco iminente da interferência dos Karuãna é controlando ritualmente
sua agência. De certo o que melhor exprime esta identidade fundamental da psyche
é a capacidade de agir e não a referência a um self, de maneira que é a ação o que
iguala os entes. Segundo uma formulação de Heidegger:
“No sentido de seu raio ilimitado de ações todos os entes se equivalem.
Um elefante numa floresta virgem da Índia é tão bem um ente quanto
um fenômeno de combustão química no planeta Marte ou qualquer
outra coisa”.
]1987(1953): 35[
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
231
A alusão a um self, que responderia pela qualidade reflexiva da ação de
alguns entes “não humanos” nas cosmologias amazônicas (Viveiros de Castro, 1996,
2002b; Lima, 1996, 2005), eleva a subjetividade à altura da condição potencialmente
comum aos entes “humanos” e “não humanos”. Contudo, ao universalizar o “sujeito”
o perspectivismo repõe a relação metafísica com um “objeto” (agora transformado
em referência imobilizada) pois onde há subjetividade e sujeito, há transcendência,
representação e objetivação, funções precípuas tanto para a noção moderna de
conhecimento quanto para a ascensão do homem sobre as coisas. Se onde há o
ponto de vista há a posição de sujeito (Viveiros de Castro, 1996: 126) e estando o
ponto de vista no corpo e não no espírito (ib.: 128), devemos entender que aquilo
que Viveiros de Castro diz ser subjetividade para referir-se à propriedade relativa a
certos entes das cosmologias amazônicas não é representacional. Todavia a
concepção de uma subjetividade que não é representação objetivante e
transcendental transparece como uma anti-subjetividade.
Creio que o proveito da referência à psyche, tal qual foi demonstrado em
consonância com a physis, está em permitir uma alternativa à “subjetividade”
enquanto substrato ontológico da ação, introduzindo em seu lugar a concepção de
vontade a fim de denotar um impulso em ato (tangenciando a noção leibniziana da
vis activa que revela as mônadas como ação) pertinente aos entes em geral e
particularmente àqueles considerados pessoas invisíveis que figuram nas mediações
procedidas pelo pajé. Aproximar-se-ia da noção fenomenológica de intencionalidade
– apropriada ao horizonte do ser com que evoquei a fim de situar a dimensão
relacional de ontologias não metafísicas – também utilizada por Viveiros de Castro
(1996: 117, 119) como um aparente sinônimo de subjetividade.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
232
A conjunção de pessoas
Domesticar e direcionar tal impulso – neutralizando seu poder destruidor
configurado como capacidade patológica e transformando-o em potência a serviço
da sociedade – é o intento do ritual xamânico do turé, principal contexto de
conjunção controlada entre homens e Karuãna no baixo Oiapoque. Contudo, o turé
não é uma cerimônia que propicie a anulação de uma ação patológica em
andamento; o rito direcionado a este fim transcorre durante as xitotós e são o
prolongamento da terapêutica que o pajé efetua privativamente em seus pacientes,
visitando-os com regularidade em suas casas ou abrigando-os na sua própria que
serve de enfermaria. O turé está fora de um ciclo particular de anulação do efeito
patológico porque as pessoas a quem se destinam a cerimônia não são, em
princípio, as mesmas causadoras das doenças combatidas pelo pajé. É para as
pessoas invisíveis com as quais mantém relações de cooperação que um pajé
dedica o turé, sobretudo os Karuãna que compõem seu plantel de auxiliares. No
entanto, como a diferença entre os Karuãna que figuram como agentes patológicos e
aqueles que os combatem é totalmente circunstancial – devido à identidade entre as
duas posições expressa pela vontade e capacidade de ação (psyche) comum a
ambas – a cerimônia do turé faz o papel de uma política de prevenção de patologias
ao reafirmar as alianças entre o pajé (e sua comunidade) e as pessoas invisíveis,
fechando um ciclo de obrigações ofertando-lhes festa, fumo e caxiri.
Conforme disse antes, os Karuãna não podem ser definidos a priori, fora de
contextos de relações, e é o cumprimento, ou não, de obrigações estabelecidas
entre eles e um pajé que definirá se atuarão como agentes patológicos ou aliados no
combate a estes. Se o turé está fora de um ciclo particular e final de combate à
doença, cabendo à xitotó esta função, apresenta-se como cerimônia de prevenção
ao afirmar a aliança do pajé com seus Karuãna e neutralizar sua capacidade de
agressão.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
233
Além da função mediadora, a realização do turé pode projetar no pajé um
status similar ao do chefe político, destacando-o dentro da malha de relações intra e
intercomunitárias conforme sua habilidade em mobilizar arranjos familiares locais
para a dura e complexa preparação do ritual. Deste modo é que os mais prestigiados
pajés do baixo Oiapoque foram também grandes chefes e lideranças respeitadas,4
superpondo e igualando prestígios político e ritual, pois, sendo absolutamente
tolerável, o acúmulo dos dois desempenhos notabiliza uma liderança por sua
competência em assuntos de mediação política e resolução de problemas oriundos
da coexistência de pessoas (em sentido amplo) diferentes. Todavia, uma grande
liderança política local que não acumule o prestígio de pajé por não possuir
publicamente conhecimentos xamanísticos relativos, sobretudo, ao desempenho
clínico poderá ser temida pelo avesso, ou seja, por dominar escusos saberes
patogenéticos associados à feitiçaria. De um modo ou de outro vê-se a aproximação
entre poderes político e ritual, transformados em competências eqüipolentes, pois
relativas ao gerenciamento da diferença, seja dentro (a política local) ou fora (o
xamanismo, a política externa) dos limites ontológicos da pessoa. (Whitehead &
Vidal, 2004)
Como o ritual é realizado com freqüência irregular – pois depende da
avaliação, feita pelo pajé, das possibilidades de reunir um número satisfatório de
pessoas que o auxiliem em retribuição aos serviços prestados durante um dado
período – pude presenciar apenas um turé completo durante todas as minhas
estadas em campo, salvo outra ocasião em que os Karipuna da aldeia Manga
fizeram uma “representação” comemorativa ao dia do índio do ano de 2005.5 Estes
turés comemorativos – sejam realizados em datas nacionais ou em função de
4 Cito três exemplos recentes, respectivamente das aldeias Kumarumã (galibi-marworno),
Manga/Encruzo (karipuna) e Piquiá (karipuna da BR 156): Chinois (pai de Levên), Aniká e Raimundo
Iaparrá. Arnaud destaca a simbiose entre poderes político e ritual na região: “A assunção de chefias
por parte de xamãs, embora com pouca freqüência, tem corrido na época atual. Nimuendajú não cita
nenhum caso de tal natureza entre os Palikur, mas refere-se à existência de um capitõ de nome José
Celso entre os Galibi que ‘era apontado como feiticeiro. Fernandes, por sua vês, menciona o capitão
Palikur Guilherme Iramrê como sendo ‘um grande pajé da tribo’ ... Nos informaram também que, um
outro xamã Galibi (Evaristo Chinois [citado acima]) foi capitão pela década de 1930, porém, o
delegado do SPI o afastou do cargo por conveniência administrativa” (Arnaud, 1970: 3-4).
5 Estive ainda em outro turé feito sob o comando de Cocotinha, em Kumarumã, no dia 16/07/2005.
Por conta da grave doença de sua esposa – que veio a falecer dois dias depois – o ritual durou
apenas duas horas, tempo para a entoação de quatro cantos.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
234
assembléias internas ou convites externos de prefeituras ou órgãos do Governo
estadual – movimentam outras redes de relações intra e intercomunitárias, não
necessariamente associadas às prestações devidas a um pajé e constituem um
cenário privilegiado de exposição de tais redes. 6
O xamanismo praticado hoje pelos Karipuna entrecruza-se com o catolicismo
popular e com o poder dos santos, mas mantém relativa autonomia em relação a
este sistema de crenças. De modo que coexistem, entre os Karipuna, dois sistemas
de representações a cerca do sobrenatural com finalidades semelhantes, mas cujos
meios e contextos diferem. O que os une é o fato deles terem em Deus um poderoso
(e talvez único) demiurgo – fonte de todas as coisas, inclusive dos poderes dos
Karuãna e Bicho do pajé – mostrando que, embora não exista entre os Karipuna
uma cosmologia global que integre catolicismo e xamanismo, estes dois domínios
compartilham alguns princípios ordenadores, presentes tanto nas relações entre as
pessoas visíveis e invisíveis, quanto nos intercâmbios entre as famílias (Tassinari,
1998: 48). Tal fato testemunharia o processo de construção cultural dos Karipuna
que, há mais de cem anos, vêm elaborando uma cultura discreta a partir da
confluência de influências diversas e heterogêneas. Com isso, o xamanismo
karipuna possuiria, além das marcas dos contextos ameríndios tupi e carib, aspectos
da pajelança amazônica e do xamanismo crioulo da Guiana francesa, elementos
estes retrabalhados dentro daquilo que chamam de “nosso sistema” (Tassinari,
1998: 235).
Assim como o turé dirigido aos Karuãna, o turé como “representação” é
também um rito de conjunção com pessoas invisíveis e visíveis, posto que, sendo
performatizado para ser visto por convidados não-índios ou índios de fora da região,
é, ao mesmo tempo, a linguagem de aproximação e de expressão da diferença. E
não obstante a natureza festiva e lúdica de tal rito de conjunção com outras pessoas
visíveis, sendo menos grave que o turé dirigido aos Karuãna, o pajé à frente do
desempenho deverá convocar seus auxiliares invisíveis e manter a vigília contra
6 Tais ocasiões foram analisadas por Tassinari (1998) e Dias (2000) para os Karipuna, reiterando o
reforço de circuitos de reciprocidade ente famílias que a ocasião promove, incluindo, entretanto, nos
arranjos de trocas políticos, militares, pessoas influentes regionalmente e lideranças que participam
dessas comemorações como convidados.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
235
qualquer agressão vinda de dentro ou de fora de sua comunidade. Deste modo, a
despeito de ser visto pela audiência e pelos participantes como uma performance
lúdica vazia de conteúdo de comunicação com os Karuãna, o turé como
“representação” deve ser levado a sério pelo pajé, pois o rito abre sempre uma
brecha às agressões xamânicas. Duas coisas se depreendem daí: que o rito é
sempre rito e não existe representação ritual enquanto puro simulacro, assim como
não há palavra como pura representação no domínio xamânico, implicando sempre
o risco da ontofania (vide Capítulo II); e que o encontro com a diferença é sempre
perigoso, devido à identidade (capacidade de ação) não controlada, mas é preciso
estar alerta, pois o inimigo pode ser alguém da própria comunidade.
Assim sendo, não considero que sejam substancialmente diferentes os turés
como “representação” e aquele dirigido aos Karuãna, posto que ambos possuem os
mesmos ingredientes, variando em grau. Se diferem em tipo de comunicação, um
dirigindo-se às pessoas invisíveis e o outro falando a linguagem da identidade
étnica, são potencialmente iguais quanto aos riscos concernentes aos encontros
com a diferença. Por isso não há realização de turé sem o comando do pajé ou de
alguém habilitado a fazer a mediação com as pessoas invisíveis, já que todo o turé é
para elas dirigido. O que constitui a diferença precípua entre os tipos rituais são as
redes de relações que eles engendram antes, durante e após a execução do rito e
não a sua finalidade cosmológica ou política, já que política e cosmologia não são
horizontes didaticamente separáveis.
De modo que um turé dirigido aos Karuãna aciona redes de relações intra e
mais raramente intercomunitárias sustentadas por prestações devidas a um pajé e
que serão cumpridas tanto pelas pessoas que este tratou e curou quanto pelos
parentes delas. Ao programar um turé, o pajé dirá aos seus ex-pacientes que eles
foram curados pelos Karuãna e que agora é preciso retribuir-lhes as curas com festa
e caxiri para que as pessoas invisíveis não se sintam logradas e venham a provocar
ciclos de doenças na comunidade, vingança contra a qual o poder do pajé seria
impotente. Ele é o mediador das relações com as pessoas invisíveis, o centro difusor
das prestações devidas a elas, o responsável pela cooptação de apoio e pela
distribuição dos esforços que ocorrerá na forma de festa e caxiri para todos. Ainda
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
236
assim, contará com o apoio de lideranças aliadas – normalmente com as quais
possuem vínculos que passam pelas alianças constituídas entre afins – capazes de
prover a festa com recursos logísticos importantes à sua realização, como óleo
diesel para iluminar as noites de dança e ir buscar longe na mata a matéria prima
para a preparação das flautas que ressoarão nos dias em que durarem o ritual.
No turé como “representação” a coordenação do ritual competirá igualmente
ao pajé, mas está fora de sua competência determinar quando e onde ele será
realizado. Isto porque turés desta natureza, como afirmei antes, acontecem em
ocasiões de vigência do poder político das lideranças, seja por convite de órgãos
públicos ou durante as assembléias multicomunitárias abertas ou restritas que
ocorrem com regularidade a fim de se discutir assuntos pertinentes aos quatro
grupos que co-habitam as TI’s Uaçá, Juminã e Galibi. Neste caso a promoção do
ritual fica a cargo do cacique e de lideranças da aldeia sede da assembléia ou
convidada para a performance fora da área indígena e o pajé não precisa fazer
funcionar sua rede de obrigações.7
Aqui convergem redes locais e multilocais geradas por obrigações para com
um pajé, parentesco ou afinidade, pois, estando o turé como “representação”
também sob a coordenação de um pajé, este escolherá para a performance pessoas
com as quais trabalha há um tempo e que, algum dia, elas mesmas ou algum de
seus parentes usufruíram de seus serviços clínicos. Mas além deste processo de
escolha, o pajé terá de lidar com as interferências de lideranças de sua comunidade
ou de outras que indicam participantes, seja por julgá-los experientes dançarinos ou
conhecedores dos cantos ou por quaisquer outros motivos menos declarados. De
modo que lideranças tendem a se preocupar com a face espetáculo do turé e com o
seu potencial de comunicação da diferença.
7 A promoção ritual por parte de lideranças não implica que assumam as expensas de realização do
turé, ficando elas a cargo ou do emissário do convite (para as representações extra aldeia) ou de um
fundo formado para a cobertura de despesas gerais, quando o turé tem lugar em uma assembléia
dentro da área indígena. O único caso que conheço em que lideranças assumem formalmente as
expensas de realização de festejos comunitários são as comemorações anuais do santo(a)
padroeiro(a) de uma aldeia e ainda assim o compromisso é voluntário e válido apenas quando a
liderança antecipadamente declara-se festeiro para a comemoração seguinte.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
237
Cerimônia
No final de maio de 2005 eu estava na cidade de Oiapoque quando soube por
três índios galibi-marworno que Levên faria seu début como pajé dali a menos de
uma semana. Havia retornado quatro dias antes da aldeia karipuna Curipi, no km 40
da BR 156, e ocupava-me com idas diárias à sede da AER-FUNAI a fim de obter do
cacique recém escolhido de Kumarumã uma autorização via rádio para ingressar na
aldeia. Tratava-se de uma liderança da nova geração e toda decisão a ser tomada
estava passível de consulta às autoridades indígenas locais tradicionalmente
aceitas, notadamente ex-caciques, chefe e ex-chefes de posto da FUNAI. Portanto
eu tinha motivos para temer que minha estada compulsória na cidade se
prolongasse a ponto de não conseguir chegar a tempo para o turé de Levên.
Em geral, a iniciação xamânica no baixo Oiapoque ocorre com a coordenação
da primeira xitotó (Dias, 2000; Tassinari, 1998), mas o verdadeiro batismo de fogo é
o turé e aquele, previsto para início de junho, ocorreria em uma época
absolutamente atípica, pois em plena estação das chuvas. Como Levên me diria
depois, a data do turé havia sido acordada com Cecília que, cantando
simultaneamente em sua casa, viajaria até o lakhu a fim de prestar-lhe assistência
contra Karuãna fortuitos enviados por pajés contrários. E a cerimônia deveria ocorrer
entre fim de maio e início de junho porque, findado este período, Cecília viajaria para
Goiás a fim de visitar uma filha e lá não poderia cantar.
Havia encontrado Levên da última vez em janeiro do mesmo ano quando
fomos à casa de Cecília, em um bairro de Oiapoque próximo à BR 156, para que ela
extraísse o Bicho (bet) que estava consumindo o corpo combalido da esposa do
pajé, de quem estava tratando há algumas semanas. Segundo abordei no Capítulo
III, o diagnóstico da doença de Madame tinha sido feito no início do tratamento e
aquela era a última vez que Cecília cantaria para ela. Era também a primeira ocasião
que ficavam para mim evidentes as relações concebidas pelos Galibi-Marworno
entre canibalismo e doença – descritas na literatura amazônica como vingança do
espírito do animal, ou do “dono” ou “mestre” da espécie, por desmedidas no ato da
caça (excesso) e inversão simbólica da predação (Vilaça, 1992; Gallois, 1988;
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
238
Andrade, 1992; Smiljanic, 2000; Barcelos Neto, 2004); ou vingança empreendida por
especialista no ofício da agressão xamânica, igualmente metaforizada como
predação canibal via doença (Albert, 1985; Carvalho, 2002.; Fausto, 2001). O que eu
testemunhei foi um exemplo deste último:
O bet, agente patológico enviado por um pajé contrário ou por alguém que
domina as técnicas de agressão por meio de potás, instala-se no corpo de sua
vítima e consome as partes ou órgãos pré-designados. Se estes forem vitais, como
coração e cérebro, o processo de adoecimento e morte transcorrerá de forma breve;
caso contrário será lento e doloroso, a menos que a doença seja prontamente
diagnosticado e o agente da doença extraído. Era esta ação que Cecília realizaria
naquela noite. Não minudenciarei aqui novamente os eventos orbitais à cerimônia de
extração do feitiço e que são articulados no complexo sistema de relações geradas
pelo xamanismo no baixo Oiapoque, tema abordado no Capítulo III. Pretendo agora
apenas situar que, embora a retirada do agente patológico do corpo do doente faça
parte do ritual das xitotós e esteja fora das performances desdobradas no turé, é
esta ação que faz emergir, a cada repetição do rito, tanto as redes de sociabilidade
intra e intercomunitárias lastreadas nas trocas de agressões simbólicas, quanto as
redes de sociabilidade cosmológica geradas pelas prestações mútuas entre os pajés
e as pessoas invisíveis.
Contudo, como as redes são constituídas por entes visíveis e invisíveis
virtualmente eqüipolentes e capazes de ações diversas e mesmo antagônicas, não
há especializações que liguem, de maneira exclusiva, classes de entes à agressão
ou à cooperação8, sendo mister que ambas as coisas geram relações de
8 Há exceções, como sempre. Alguns Karuãna estão relacionados quase exclusivamente às
atividades de cura ou de agressão física ou simbólica. Os Galibi-Marworno e os Karipuna
reconhecem, por exemplo, que pessoas Laposinie (as estrelas que formam as Plêiades) são exímios
doutores e vêm apenas para retirar o feitiço depois que os Karuãna “enfermeiros” (i.e., menos
habilidosos) preparam o paciente para sua intervenção. São pessoas que se tem em alta conta,
comparáveis a “doutores americanos, muito finos” que chegam, fazem rápida e eficientemente seu
papel e vão embora, pois bastante ocupados. Na ponta da agressão maximizada estaria Orokã
(Galibi-Marworno), um Djab dã buá antropomorfo, de fúria bestial e dotado de sete bocas fartamente
dentadas. Desconfio que Laposinie e Orokã ocupam posições máximas em um eixo cujas
extremidades são o ideal da civilização e o pavor da barbárie. Não estou apto a discutir as imagens
relacionadas a cada um desses pólos e que poderiam ser produto de uma longa experiência de
contato entre os índios do baixo Oiapoque e populações de colonizadores franceses e portugueses
(para uma interpretação algo nessa linha de Laposinie, cf. Vidal, prelo).
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
239
reciprocidade. Pois se os Karuãna consorciam-se aos pajés permitindo-lhes a
dissolução de enfermidades, são eles também os agentes canibais das doenças
quando agem como bet. Simetricamente, as pessoas visíveis (pajés e não pajés,
como sopradores) capazes de agressão simbólica consorciam-se reciprocamente a
fim de realizarem a cerimônia do turé.
O que desejo sublinhar é que a construção das redes de relações
cosmopolíticas no baixo Oiapoque segue o princípio da volubilidade moral da pessoa
(entenda-se “moral” sem o recurso a juízos de valores, mas como amplitude de
ações possíveis em decorrência da psyche) e, assim, redes de agressão e de
cooperação são partes constitutivas das relações entre pessoas diversas que
habitam o cosmos. Decorre também de tal princípio a indissociabilidade do ataque
simbólico e da aliança ritual, da agressão associada à doença e da cura xamânica,
no complexo das relações cosmológicas que denominamos de xamanismo. Basta
atermo-nos ao fato de que toda agressão simbólica coordenada por um oficiante
consorciado às pessoas invisíveis é gerada por esta aliança – que poderá já ser
motivada por uma agressão, caso pensemos nas ações de vingança encadeadas no
tempo – e a diferença entre ambas (aliança e agressão) estaria configurada em
termos de meios e fins circunscritos a um determinado contexto de relações.
A seguir descrevo as cenas do primeiro turé realizado pelo pajé galibimarworno Levên, em junho de 2005 na aldeia Kumarumã.9
A cerimônia dialógica
Um turé começa antes mesmo de começar. Sem os esforços precedentes à
festa no lakhu e que geram as condições logísticas para a sua realização nada
poderia ser feito. Não se trata apenas de preparativos: em termos de dinâmicas
9 Numa ocasião vindoura, pretendo trabalhar meus dados de campo sobre o turé que presenciei na
aldeia Manga no dia 19/04/2005, em comemoração ao dia do índio. Minha intenção não é cotejar
tipos distintos de turé, já que afirmei que não creio que o turé dirigido aos Karuãna seja
substancialmente diferente daquele feito como “representação”, mas indicar as dinâmicas intra e
intercomunitárias que sustentam cada um deles.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
240
intra-sociais e de ativação das relações com as pessoas invisíveis do pajé anfitrião
os prolegômenos da cerimônia são tão importantes quanto ela mesma. Pois eles
acionam simultaneamente e articulam reciprocamente o circuito das prestações
devidos a um pajé, as clivagens intracomunitárias, as relações de gênero que
ordenam as atividades produtivas em uma aldeia, o sistema de classificação
ecológica, as categorias do parentesco, as representações sobre o poder, a
produção de arte como modelo de intervenção das pessoas invisíveis, dentre outros
componentes da vida social. A realização de um turé mobiliza uma ampla rede de
agenciamento e reciprocidade intracomunitária. É preciso muito beiju para preparar
uma grande quantidade de caxiri (não menos que 300 litros para um turé ofertado
aos Karuãna); fazer bancos e mastros de 6 metros de comprimento; pintá-los
conforme a orientação do pajé; ir longe na mata a fim de tirar a matéria prima para
os turés (flautas de bambu) e cutis (espécie de flauta de taboca) e cercar com varas
(pirorô) e cordas enfeitadas com penas de garça e algodão o espaço onde será
assentado o lakhu para a dança.
Por tudo isso desejava chegar em Kumarumã durante os três ou quatro dias
de intensas atividades pré-rituais. E cheguei, junto com uma pequena equipe ligada
ao Projeto de Valorização e Resgate Cultural desenvolvido em aldeias da região
com recursos do PDPI (Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas). Esse
projeto, desenvolvido em quase todas as aldeias das TI’s Uaçá e Galibi, consiste em
oficinas ministradas por mestres indígenas locais a um grupo pequeno de alunos em
cada uma delas. As oficinas foram criadas conforme as demandas apresentadas nas
aldeias tendo em vista tecnicas tradicionais em vias de desuso (cerâmica, joalheria,
grafismos em cuias, cestaria, esculturas e bancos zoomorfos em madeira, cantos
rituais etc.). Em Kumarumã uma das oficinas implementadas era de cantos de turé,
ministrada por Levên, Cocotinha e Getúlio a grupos distintos e pequenos de alunos
formados basicamente pela parentela próxima que já participava das atividades
rituais ligadas ao turé (no caso dos dois primeiros mestres de oficina). A transmissão
era, assim, essencialmente familiar e ocorria conforme a metodologia escolhida pelo
mestre e em sua própria casa.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
241
O turé que Levên organizava no início de junho de 2005 não era apenas uma
oferta aos Karuãna pelas primeiras curas realizadas. Tinha também o intento
secundário e tácito de objetivar os resultados parciais do trabalho que ele vinha
fazendo como mestre de oficina do PDPI. Em novembro do ano anterior Cocotinha
havia retomado o turé em Kumarumã após um vácuo ritual de décadas e alguns dias
depois realizar-se-ia outro turé (na verdade uma seqüência de três, em dias
subseqüentes) na aldeia como parte da programação do I Fórum Socioambiental
dos Povos Indígenas do Oiapoque. A primeira cerimônia contou com grande
audiência da própria comunidade e foi realizada basicamente pelas pessoas do hang
de Cocotinha (esposa, filhas e genros). A segunda, ocorrida durante o Fórum, foi
uma co-produção Galibi-Marworno e Karipuna montada especialmente para a
ocasião, com direito à ampla audiência multiétnica e institucional, à sólida presença
de pajés da região e recepção do governador do estado do Amapá com caxiri dentro
do lakhu (Vidal, 2004b).
O turé que presenciei em junho de 2005 realizou-se, portanto, dentro de um
período de ocorrências significativas relacionadas ao diálogo com agências e
agentes externos (governos estadual e do município de Oiapoque; representantes
do Ministério Público Federal; FUNAI, CIMI, ELETRONORTE etc.) em função de dois
episódios importantes em processo: a pavimentação da BR 156, que corta a TI
Uaçá, e a passagem, também pela TI Uaçá, de uma linha de transmissão que
termina na cidade de Oiapoque. Não creio que o revival cerimonial em Kumarumã
tenha diretamente algo a ver com esta fase de diálogos externos intensificados que
vem reordenando a teia fugaz de relações regionais intergrupos. No entanto, uma
afinidade entre o xamanismo regional e o protagonismo indígena nas questões sobre
os projetos intervencionistas em curso não deve ser imediatamente rejeitada.
Sabemos que o xamanismo, por dirigir suas ações às relações com a
alteridade das pessoas invisíveis, pode ser ativado em momentos decisivos de
diálogo com a alteridade visível. O exemplo dos Yanomami da região ocidental de
Roraima é eloqüente; após os primeiros contatos perenes com as frentes de atração
e experiências de encontros desastrosos com garimpeiros, passaram do discurso
endógeno sobre o outro ao discurso exógeno sobre si; de “um discurso cosmológico
242
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
sobre a alteridade a um discurso político sobre a etnicidade” (Albert, 1993: 353),
movimento conduzido pelos xamãs. Contudo esta não é uma via de mão única e os
processos dialógicos envolvendo índios e agentes externos, motivados por
categorias e dinâmicas internas, podem exilar o xamanismo em planos marginais da
vida social, ocasiões em que se procede a uma “etnicização do discurso xamânicopolítico indígena”, conforme se observa ente os Kiriri da Bahia (Carvalho, 2003: 2).
Acredito que uma “terceira via”, como mescla (ou alternância) de ambos
processos, é o que vem experimentando os Tumbalalá do sub-médio Rio São
Francisco ao exprimirem no complexo xamânico do toré diferentes dinâmicas
internas de inserção nos circuitos regionais de reciprocidade político-ritual. As
diferenças entre os “sistemas de Encantado” nos núcleos de lealdade do São Miguel
e na Missão Velha revelariam o quanto o xamanismo está atento aos eventos e à
história,
estruturando-se
conforme
princípios
estipulados
pelas
redes
de
sociabilidade presentes em ambos os núcleos e criando um modelo onde as
relações intercomunitárias são refletidas (Andrade, prelo). Tal abertura do
xamanismo às redes de relações inter e intracomunitárias foi analisada por Tassinari
(1998) para o baixo Oiapoque, sublinhando o paralelismo entre os esforços
xamânicos de aproximação e domesticação dos Karuãna e os movimentos das
famílias karipuna visando trazer estrangeiros para suas redes de parentes e círculos
de cooperação (ib.: 1998: 252).
No primeiro caso (Yanomami) – adaptação do xamanismo a uma linguagem
de comunicação de diferença – o que se vê é que formas indígenas de
conhecimento aplicadas como modelo de discurso e diálogo com o exterior são
substituídas por outros modelos dialógicos, como a etnicidade (entendida aqui na
dimensão semântica, como linguagens da diferença). Entretanto, se o xamanismo
deixa de operar enquanto modelo dialógico interétnico, os princípios que ordenam
suas práticas continuam agindo em outros domínios do social, notadamente no meio
religioso, ainda que fragmentados e dispersos (como se passa com os Kiriri). Ou
seja, o xamanismo pode deixar de atuar na ordem do político (sendo “etnicizado”),
mas não deixa de ser operativo epistemologicamente.
243
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
Isto porque ele funciona como instituição de tradução, um esforço de
planejamento das ações de intervenção sobre um mundo em constante devir e
compete ao xamã, ou às suas variantes, realizar a convergência de pontos de vista
parciais, já que é o único a transitar entre eles. Sua importância está, portanto, no
fato de ser alguém que cria respostas às novas situações, pois “se trata, de fato, de
muito mais do que uma simples ordenação, e a tradução não é só uma tarefa de
arrumação, de guardar o novo em velhas gavetas; trata-se de remanejamento mais
do que de arrumação” (Carneiro da Cunha, 1998: 12-13).
Por ora esgotarei este assunto, meio intruso neste bloco, que pretendo
retomar em outra ocasião a fim de indicar possíveis semânticas originadas na
interface
do
xamanismo
com
o
protagonismo
indígena
nas
questões
intervencionistas no baixo Oiapoque. Segue agora uma descrição das etapas
constitutivas da cerimônia do turé.
Um turé para os Karuãna
a- A produção dos artefatos-pessoa: a flauta Karamatá e o cuti
Turé é o nome que no baixo Oiapoque se dá à flauta utilizada durante a
cerimônia homônima e cuja coleta da matéria prima (uma espécie de bambu
utilizado ainda verde) constitui uma das primeiras medidas a ser tomada.10 Saindo
de Kumarumã, em canoa a remo subindo o rio Uaçá, dois ou três dias serão gastos
até se encontrar e retornar com os tubos de bambu de diâmetros apropriados à
confecção das flautas. Os Galibi-Marworno referem-se a elas também por sinal e
Karamatá, este último sendo o termo mais comumente empregado. São três tipos,
variando conforme o tamanho e a sonoridade que produzem: do maior para o menor
e do mais para o menos grave são mamã (grande), mitã (médio) e pêti (pequeno).
Além do tamanho – respectivamente em torno de 110, 80 e 45 cm, mas sempre com
três gomos e dois nós – a variação no diâmetro (de 1,5 a 6 cm) contribui para a
10 Comparar com tipos tupi de turé waiãpi (Gallois, 1988) e assurini (Muller, 1993; Andrade, 1992).
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
244
sonoridade diferente das flautas que deve ser uníssono conforme o talhe, de modo
que para cada tamanho deve corresponder apenas um tom. Para que isso aconteça
todas as flautas são testadas na linha de produção montada nas adjacências da
casa do pajé.
A produção do som pelo bambu, entretanto, é fruto da vibração de uma
palheta colocada dentro dele e que chamam kumin. O kumin é um pedaço de cerca
de 30 cm de bambu fino (menos de 1 cm de diâmetro) que é perpendicularmente
secionado, próximo a uma de suas extremidades, até a metade do diâmetro e
depois, partindo deste ponto, novamente seccionado longitudinalmente até antes de
findar seu comprimento. Esta operação produz uma longa e firme lingüeta que
vibrará com a passagem do ar por dentro do kumin, encaixado em um furo feito em
um dos nós que dividem o bambu. Se necessário, utiliza-se um anel de barbante de
algodão para melhor fixar o kumin cuja extremidade perpendicularmente secionada
fica próxima à extremidade da flauta que será assoprada.
Externamente as flautas recebem decoração de motivos geométricos que são
desenhados raspando-se com faca a sua superfície verde. Essas marcas são uma
forma estilizada do grafismo dãdelo (dentes d’água), compartilhado entre os grupos
do baixo Oiapoque, mesclado a traços verticais e estão dispostas em ambas as
pontas, ficando livre o miolo. Não constituem simples decoração de um objeto: antes
são as insígnias distintivas da pessoa Karamatá cuja matéria serve de suporte à
flauta do turé. Assim como as árvores-pajé Nuri-nuri (grande e pequena) Tawene,
Apucuriwá, Arari etc. e demais plantas a quem se recorre no tratamento fitoterápico,
Karamatá é um Karuãna que possui invólucro vegetal (veja quadro de classificação
das pessoas invisíveis na p. 177). Apenas o pajé consegue ver sua verdadeira
configuração e descrever as marcas que estas pessoas possuem, denotando por
Bicho tais entes. Assim, se nossas categorizações ressaltam características
morfológicas a fim de separarmos entes em vegetal e animal, os Galibi-Marworno
procedem a uma lógica inversa: partem de um substrato comum a tais entes (a
psyche) e chamam-no pelo mesmo nome (Bicho) a fim de sublinhar a vontade e
ação de que são capazes. Por isso, referi-me no Capítulo III às especificidades das
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
245
classificações ecológicas no baixo Oiapoque, destacando sua vinculação às
categorizações xamânicas.11
O turé é, assim, a cerimônia coletiva e uma das pessoas (Karamatá)
convidadas para a solenidade e que, de certo modo, dela já participa antes do
convite. Isto porque não há ritual sem as flautas turé, como também não há sem a
participação das pessoas invisíveis, destinatário principal da festa. Contudo, a
equivalência entre a flauta e o convidado não diz respeito apenas à posição marcada
que ambos ocupam na cerimônia; ela sublinha que a distinção entre objetos e
pessoas é estranha para o xamanismo regional e que “coisas” têm também sua cota
de ação e vontade, conforme demonstrei nas sessões precedentes desta tese.
Simultaneamente à confecção da flauta turé fazem-se os cutis que serão
usados no anúncio da festa. Trata-se de outro instrumento de sopro, elaborado a
partir de uma taboca mais facilmente encontrada que o bambu karamatá, cuja
serventia é divulgar a todos (pessoas invisíveis e elementos da aldeia) que um turé
está para ser iniciado. O cuti possui som mais grave que qualquer uma das flautas
turé e, ao contrário delas, não emprega kumin em seu interior. De uso mais difícil,
pois exige abundante potência pulmonar para fazer repercutir alto o seu som, é
composto por um tubo de aproximadamente 1 m de comprimento, 12 a 14 cm de
diâmetro e uma pequena cavidade retangular ao centro onde o tocador sopra. Como
a flauta turé, o cuti possui três gomos e dois nós, mas, ao contrário do Karamatá, é
completamente raspado e adquire marcas ocres nas extremidades, variações
aproximadas do grafismo dãdelo. Tais marcas são apenas decorativas e não
padronizadas, pois, inversamente às flautas turé, não representam as “pintas” de
uma pessoa, já que a matéria prima do cuti não é gente como Karamatá. Outra
diferença está em seu uso. Conforme disse, a função do cuti é anunciar o turé aos
convidados e após o início da festa seu som não reverberará mais dentro do lakhu,
dominando o conjunto das flautas turé enquanto os cutis ficam presos ao pé do
mastro principal.
11 O verbete proposto para animal em um dicionário da língua patuá em fase de elaboração por
professores indígenas sugere a definição de “um ser vivo que pensa” (Vidal, 2005: 22).
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
246
Finda a cerimônia, todos os instrumentos serão recolhidos à casa do pajé até
que, passado um tempo, possam ser descartados.
b- Os bancos e mastros
Os bancos xamânicos possuem como principal predicado serem pessoas.
Não se trata de uma representação morfológica, mas de uma morfologia com
psyche. A relação aqui entre forma e figura é, de meu ponto de vista, exatamente
análoga àquela que há entre significado e significante nas fórmulas incantatórias dos
potás. Ou seja, assim como as palavras são entes com psyche e não mera
representação simbólica, os bancos não são apenas representações plásticas de
conceitos.
No xamanismo praticado no baixo Oiapoque os bancos são sempre
zoomorfos e desempenham papel proeminente.12 Os individuais, alguns de uso
exclusivo do pajé, têm em média 25 X 20 cm (altura X largura) e apresentam formas
de animais da fauna regional, preferencialmente aves como gaivota (guelã /
uananã), pomba (ramin / uaramim), colhereira, arara (kinorô), pato silvestre e urubu
(gereu). Este último é a forma do banco usado na aplicação do lamane, copiosa
dose de caxiri dada como castigo aos faltosos – o urubu é a pessoa convocada ao
final do turé para consumir todo o caxiri que sobrou – e fica costumeiramente do lado
de fora do lakhu
13
. Outros bancos pequenos, mais raros, são ainda mamíferos, tais
como porco silvestre e quati.
Com cerca de 6 m de comprimento, os bancos coletivos comportam até 15
pessoas. São sempre cobras, jacaré e espadarte (peixe-espada, mais comum entre
os Karipuna) – cujas marcas são, respectivamente, kuahi, kahô e lakãsiel – mas
quase tão variados morfologicamente quanto os bancos individuais, pois é rica a
transformação da Cobra Grande na cosmologia do baixo Oiapoque. Esta produz
12 Metraux (1944a) observou a importância dos bancos de formas animais no xamanismo nas
Guianas.
13 Confira o artigo de Vidal (2001b) para uma descrição apurada da função dos animais na
cosmologia do baixo Oiapoque.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
247
cobras de uma, duas cabeças bifurcadas (konestabi / mamã dilõ) e ainda três, além
de animais híbridos (metade cobra, metade jacaré) que começam a despontar como
formas desejáveis a serem representadas. Para a pintura dos bancos, os Karipuna e
Galibi-Marworno empregam tintas industriais de cores variadas (amarelo, vermelho,
azul, preto, branco, laranja, verde etc.) compradas na cidade de Oiapoque; os
Palikur costumam utilizar apenas as cores preta e vermelha obtidas respectivamente
das plantas kumatê e urucum e adicionadas a fixadores vegetais. Para a ocasião do
turé de Levên foram fabricados dois bancos individuais, um de gaivota (guelã) e um
de pomba galega (uaramim); um banco para duas pessoas de cobra Kadeicaru; e
dois bancos coletivos também de cobra. Havia ainda o banco pessoal do pajé, de
arara (kinorô), que ele havia mandado fazer tempos atrás.
Os bancos são talvez os artefatos-pessoa mais importantes e em relação aos
quais deve-se agir protocolarmente. A falta para com eles, subindo em cima ou
simplesmente transpassando-os, é um dos motivos mais freqüentes de reprimendas
do pajé e de seus palikás e se o erro for cometido durante um turé será passível de
correção com aplicação de lamane. Dentro do lakhu podem-se empregar bancos
complementares simples, de uso cotidiano e rusticamente feitos com tábuas de
madeiras, mas sua aplicação é restrita à audiência e eles nunca serão substitutos
dos bancos zoomorfos. A fabricação dos bancos, assim como dos mastros,
transcorre sob a rígida supervisão do pajé que normalmente encarrega de fazê-los
pessoas notoriamente capacitadas aos trabalhos com madeira.
Mais cioso ainda é ele em relação à pintura. Conjuntamente aos cantos
xamanísticos, as marcas (ou pintas) dos bancos e mastros cerimoniais constituem o
patrimônio de um pajé e sinalizam, por via sensível, o consórcio que este mantém
com os Karuãna. Isto porque ambos, marcas e cantos, são obtidos através de
contatos oníricos com as pessoas invisíveis e quanto mais excepcionais forem (não
se repetindo para outros pajés), mais exclusivas serão as relações de um pajé com
os respectivos Karuãna doadores. Logo, marcas e cantos cerimoniais são um dos
principais elementos de disputas dentro do xamanismo na região do baixo Oiapoque,
posto que demonstram a manutenção do fluxo de relações com os Karuãna (vide
Capítulo III). Isto porque, sendo as pessoas invisíveis entes com psyche, elas podem
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
248
ir e vir segundo sua vontade, não constituindo precisamente propriedades de um
pajé. Conforme mencionei no Capítulo III, o que pode e é reclamado como posse por
um pajé é o direito ou monopólio das relações com algumas dessas pessoas,
demanda cuja legitimidade é conferida pelos cantos e marcas cerimoniais doados
diretamente a ele ou herdados de outro pajé que os recebeu dos Karuãna. Assim, o
xamanismo reforça a necessidade da aliança e da negociação com os componentes
do cosmos e simultaneamente sublinha sua revogabilidade.
Paralelamente a estas coleções privadas há um repertório comum de marcas
e cantos disponível a qualquer um. Contudo, se um pajé recorre exclusivamente a tal
conjunto trivial e não apresenta cantos e marcas próprios durante um turé, fará com
que desconfiem de sua habilidade para manter relações positivas com os Karuãna,
lançando dúvidas sobre sua competência e sobre a natureza de seu desempenho,
posto que feiticeiros são vistos como menos dedicados à manutenção de relações
com novos Karuãna.
Como aquele era o primeiro turé de Levên, sua atenção estava especialmente
voltada à segurança das marcas dos mastros e bancos. Ele já havia confidenciado
antes que, de sua casa, conseguia ouvir seus cantos sendo entoados durante as
xitotós de sábado realizadas na morada de Cocotinha, situada a cerca de 200
metros a Sudeste do pátio de Lêven. Desta vez a precaução parecia incluir um sério
controle sobre a circulação de suas propriedades imateriais e via-se na frente da
casa do pajé uma advertência escrita em português irretocável: “Aviso: Proibido
fotografar sem autorização do doutor. Agradeço sua compreensão”. A primeira coisa
que pensei quando vi o pedaço de papel colado à porta era que Levên pedira a um
de seus netos que freqüentam a escola local para escrever, pois havia nele um
cuidado que se vê nas tarefas escolares. Levên disse-me que a advertência era
dirigida a pessoas da própria aldeia que vinham fotografar suas marcas e depois a
levavam para a Guiana Francesa e Suriname onde pajés locais usavam-na como
suas.
Disse isso em particular, do lado de fora da casa, ao chamar-me para mostrar
o aviso que só notei depois de ter feito fotos dos bancos e mastros sendo pintados.
Não havia dúvidas: a advertência escrita em bom português e a câmera fotográfica
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
249
presa a mim como um apêndice indicavam que o verdadeiro destinatário do aviso
era eu. Não creio, entretanto, que Levên desconfiasse que eu andava distribuindo
fotografias de suas marcas entre pajés do Suriname e da Guiana Francesa. Já havia
sido isento dessas suspeitas. O que ele queria mesmo impondo restrições à
reprodução de sua arte era ser levado a sério não como “doutor” ou medicine man,
mas como liderança.
Em toda a região do baixo Oiapoque, xamanismo e política se interseccionam,
embora tais domínios mantenham mútua autonomia. Não se aproxima do modelo
xinguano, onde a linhagem quase havaiana da chefia não permite a ascensão de
xamãs (Barcelos Neto, 2004); ou do quadro das lideranças proféticas do noroeste
amazônico (Hugh-Jones, 1994; Wright, 2004) Nem afastamento provocado por uma
austera distribuição do poder, nem mútua assimilação; antes, xamanismo e política
no baixo Oiapoque estão em um contínuo movimento de aproximação e
distanciamento regido por nuances históricas. Em tempos atuais, os pajés Aninká e
Raimundo Iaparrá, ambos Karipuna, somaram seus notórios desempenhos rituais a
uma forte atividade política que, no caso do primeiro, incluía ainda uma dupla
pertença a quadros do Estado brasileiro: como militar e chefe de posto da FUNAI.
Portanto, quando Levên dizia-me repetidamente que no turé quem mandava
era ele e não o cacique ou qualquer outra liderança da aldeia, estava assinalando
que sua competência como mediador de pessoas visíveis e invisíveis que coabitam
o cosmos coloca-o em pé de igualdade com os líderes políticos cuja tarefa é
gerenciar os múltiplos interesses e as diferenças intra e intercomunitárias. Mesmo
não reivindicando colocação política, seu discurso e o aviso pregado à porta
lembravam (a mim, sobretudo) que, dada à equivalência virtual entre o pajé e o líder,
a mesma postura protocolar dirigida ao cacique (solicitando autorizações para
realizar em sua aldeia atividades de pesquisa) deveria ser tomada em relação a ele,
o “chefe” daquele trabalho cerimonial.
Retornando à feitura dos bancos zoomorfos rituais após essa digressão, a
qualidade de madeira utilizada normalmente é a mesma dos mastros e varia
conforme a disponibilidade próxima à aldeia do artesão. Bancos de origem palikur
costumam ser talhados em caju – madeira leve, mole e resistente – enquanto os
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
250
Karipuna utilizam variações do louro (vermelho e amarelo) e limão bravo (papaquaiú)
e os Galibi-Marworno dão preferência ao marupá. Há atualmente ao menos quatro
pessoas (dois Galibi-Marworno, um Palikur e um Karipuna) que recebem
encomendas de bancos xamânicos; duas dessas são especialistas em trabalhos em
madeira, sendo que uma tem sua produção de bancos e esculturas zoomorfas
espalhada por toda região e na Guiana Francesa. Há ainda pajés que fazem seu
próprio banco ou encomendam a um auxiliar, freqüentemente um genro. Nestes
casos não se espera que o resultado final tenha a mesma qualidade estética que os
bancos encomendados a especialistas.
A pintura dos bancos de pajé não constitui uma especialidade e fica a cargo
do próprio escultor que poderá também dividir a tarefa com seus co-residentes
(filhos, esposa e genros). Conheço apenas uma exceção em que um conceituado
escultor palikur da aldeia Mangue sempre entrega suas peças para suas filhas
pintarem em local reservado e onde homens não podem freqüentar. Neste caso elas
são orientadas por seu pai que indica a pintura de cada peça utilizando combinações
de marcas deixadas por seu avô materno, um antigo pajé palikur.
Os mastros, assim como os bancos zoomorfos, são elementos essenciais no
turé. Conforme disse-me Levên certa vez, eles são “escada de Bicho”, referindo-se à
sua função de interligar planos cosmológicos distintos e permitir a comunicação
entre as pessoas que os habitam. Contudo possuem um papel mais prosaico; servir
de arquibancada para os Karuãna que comparecem ao turé e de posto de vigília
para os que ficam responsáveis pela segurança local durante a cerimônia. Esta
função responde a uma das principais preocupações de um pajé ao longo de uma
cerimônia xamânica, visto que os assaltos provenientes de um pajé contrário são
sempre possíveis e mesmo esperados. Para ser mais preciso, as agressões entre
pajés fazem parte das regras do jogo e não há necessidade de vingança para
cometê-las; basta o intento de medir forças ou experimentar o poder de um pajé
desconhecido para que elas ocorram, conforme demonstrei no Capítulo II. Por isso
toda atividade xamânica precisa ser amparada e coberta pelas “pessoas do pajé”
que cuidam de sua segurança pessoal.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
251
Quatro mastros estavam dispostos dentro e fora do lakhu, quantidade
adequada ao seu diâmetro e número de entradas. O maior deles, de tamanho
equivalente ao dos bancos coletivos, fica ao centro e é encaixado em um buraco de
cerca de 1 m de profundidade, feito para acomodá-lo, e equilibrado por cordas com
uma extremidade presa ao chão e outra fixada na parte superior do mastro. Este é o
mastro mais ricamente paramentado, todo preenchido com marcas iarari (as nuvens
da aurora) multicolor. Possui o corpo na forma de uma haste eqüilátera com cerca de
25 cm de face e entrecortada na parte superior por dois braços serrilhados com
aproximadamente um metro cada. Os braços são pregados ao mastro em posição
angular, de modo a formarem um “V” aberto e recebem marcas macocô (pontinhos
representando estrelas múltiplas). No topo do mastro principal está uma pequena
pomba uaramim, personagem importante no xamanismo regional e considerada o
“chefe” dos Karuãna que fazem a segurança. Logo abaixo da pomba e acima dos
braços estão duas divisões rotundas – que chamam de maracá devido à
semelhança morfológica com este instrumento – intercaladas por desenhos e
esculturas de estrelas Warukamã. Bandeirolas coloridas e algodão decoram o
mastro. Porém o papel principal, sobretudo do algodão (mauru), é sinalizar aos
Karuãna que chegam voando em seus suportes o local em que devem se instalar,
pois para eles os chumaços de algodão são luzes que orientam o pouso. Se
desejam dançar e beber caxiri, descem pelo mastro e juntam-se aos seus anfitriões.
Os dois mastros menores, localizados ao lado de cada entrada do lakhu, têm
cerca de 3 m de altura e são os mesmos empregados atrás do tukay durante as
sessões de xitotó. Com paramentos mais simples e cores menos vibrantes, ostentam
também decoração de bandeirolas e algodão e morfologicamente são uma versão
reduzida do mastro principal (excetuando a pomba uaramim, presente apenas
neste). O único mastro que fica efetivamente fora do lakhu tem cerca de 1,5 m, é
toscamente pintado e paramentado e acompanha o banco de urubu onde o faltoso
senta a fim de tomar o lamane, o caxiri como castigo. A cuia usada para tal fim
comporta cerca de dois litros da bebida que poderá ser dividida entre pessoas
indicadas pelo infrator para auxiliá-lo.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
252
O jandame, pessoa responsável pela ordem durante as atividades cerimoniais
no lakhu (a “polícia”, conforme dizem rindo os Galibi-Marworno) poderá também
solicitar, ou melhor, ordenar, que ajudem o infrator a tomar toda a cuia de caxiri e,
embora vigore nestas ocasiões resistências cênicas a tais ordens, não presenciei
ninguém recusar tomar um gole ao menos da bebida a fim de ajudar um outro
punido com lamane. Os auxiliares, nestes casos, são do gênero oposto àquele que
auxiliam e como são os homens que cometem mais faltas no lakhu, as mulheres
acabam sorvendo – meio que involuntariamente – altas doses do fermentado de
mandioca.
Todos os mastros recebem, in loco e antes de serem fixados em seus
respectivos lugares dentro ou fora do lakhu, abundantes lufadas de fumaça
provenientes dos cigarros de tawari e tabaco que o pajé fuma antes e durante a
cerimônia do turé.
c- O lakhu, espaço cerimonial.
Se o turé é a cerimônia de conjunção de pessoas visíveis e invisíveis, o lakhu
é o ambiente em que tal encontro pode transcorrer de forma segura, pois controlado
pelo pajé. Vimos que a função do mastro principal é sinalizar o lakhu para os
Karuãna que chegam voando em seus suportes; proporcionar-lhes pouso e meio
para atingirem o solo a fim de beberem e dançarem com seus anfitriões. Para que
tudo transcorra bem e seja salvaguardada a satisfação das pessoas invisíveis é
preciso, entretanto, que se tome no espaço cerimonial uma etiqueta em relação a
elas, isto é, que aos bancos, principalmente, seja dirigido um comportamento
protocolar vigiado tanto pelo pajé quanto pelos jandames. Subir em cima,
transpassá-los ou mesmo sentar em um deles depois de ter comido peixe ou jacaré
são atitudes aviltantes penalizadas com aplicação de lamane.
Isto ocorre porque, conforme sinalizei páginas atrás, os bancos cerimoniais
não são simplesmente coisas ou madeira transformada em animais; um banco, seria
correto dizer, não é mera representação, pois aqui as formas são conteúdos.
Parece-me que a semiótica que explica a qualidade de artefatos-pessoa dos bancos
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
253
de turé é análoga àquela que vigora no potá para as palavras e as coisas e que
tratei no capítulo precedente. Seria a hierofania – e não ontofania como ocorre para
os potás – o elemento a produzir a contigüidade entre as formas e os conteúdos no
caso dos artefatos-pessoa presentes na cerimônia do turé.
Portanto a conjunção de pessoas visíveis e invisíveis só poderá ser
assegurada pelo pajé mediante o controle moral das primeiras dentro do espaço
cerimonial do lakhu, posto que a recorrência de erros, com a falta de observância do
regime protocolar para com os artefatos-pessoa, poderão parecer chistes e
zombarias aos olhos das pessoas invisíveis. Por conseguinte, efetiva-se o risco da
retaliação imediata (na forma de tombos, tropeços ou esbarrões) ou adiada (doenças
como agressão canibal), além do perigo das pessoas invisíveis aviltadas quererem
desfazer o consórcio com o pajé anfitrião.
Dito isso, fica patente que não basta circunscrever um espaço cerimonial para
que a reunião com os Karuãna seja de controle do pajé, haja vista que o andamento
de tal conjunção – perigosa por excelência – dependerá das relações que se
estabeleçam entre pessoas visíveis e invisíveis. Contudo, delimitar o espaço
cerimonial e edificar o lakhu é função precípua para a realização do turé.
Em Kumarumã existe um sério problema de erosão que modifica a topografia
da aldeia e que é agravada por valas onipresentes abertas por conta de um
fraudulento projeto de saneamento que nunca se concretizou. Some-se ainda a
relativa densidade demográfica da porção da ilha ocupada. Não há, portanto, muitos
espaços livres das valas, das casas e das irregularidades do terreno, mas ainda
assim Levên escolheu fazer o seu lakhu bem defronte a sua casa, como
normalmente fazem os pajés. O lakhu é um circulo de varas unidas por fios de corda
e que contém ao menos uma abertura por onde se entra e sai. O processo de
construção inicia com a escolha de sua localização que será condicionada pela
qualidade topográfica do terreno, condição que definirá também o seu diâmetro.
Demarca-se o lakhu com o auxílio de um compasso improvisado feito a partir de uma
longa tábua com um prego em uma das extremidades que será girada enquanto a
outra é segura no chão. O objetivo do uso desse instrumento simples, porém
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
254
eficiente, é obter um circulo o mais perfeito possível cujo centro será ocupado pelo
mastro principal.
Recorrer a instrumentos de medição e obtenção de proporcionalidade (como
compasso, esquadro e régua) na preparação do turé é comum entre os GalibiMarworno que prezam pela perfeição e simetria das formas nas pinturas e esculturas
cerimoniais que executam. Habilíssimos construtores de canoas – que chegam a
vender, por encomenda, aos funcionários franceses da Gendarmerie de Saint
Georges e aos índios Waiãpi do alto Oiapoque – os Galibi-Marworno conhecem e
lidam bem com tais instrumentos, preferindo-os ao uso da mão livre na confecção
das linhas e curvas. Tudo é antes esquadrinhado, medido, remedido, calculado,
discutido e traçado. Somente depois é que cortam ou pintam por sobre as linhasguia. A parafernália instrumental de obtenção das formas perfeitas ajusta-se bem
ainda aos grafismos que compõem as marcas cerimoniais, como o kuahi, dãdelo,
kahô, iarari, todos desenhados segundo uma proporcionalidade e simetria. Se não
fosse pelo fato de os Galibi-Marworno buscarem a harmonia geométrica em
atividades ordinárias como a indústria náutica, seria de se especular que o cuidado
com a proporção e beleza das formas revela o desejo subliminar da simetria entre as
pessoas visíveis e invisíveis obtida por meio do rito, o momento de conjunção das
diferenças.
O lakhu erguido para o turé de Levên devia ter algo em torno de 12 metros de
raio, a julgar pelo tamanho da tábua que serviu de compasso. Depois de desenhado
no terreno o círculo, buracos são cavados em cima da linha do perímetro a fim de
receber as varas (pirorô)14 de cerca de 2,5 metros de altura e decoradas com
algodão ao topo e listras vermelhas horizontais. Ao todo eram 40 varas ligadas por
duas carreiras de corda de nylon enfeitadas com penas de garça (zeget).presas a
elas por barbantes.
As duas aberturas do lakhu estavam no eixo Leste-Oeste e funcionavam,
ambas, como entrada e saída, ostentando cada qual um mastro pequeno ao lado.
Ao centro do círculo ficava o mastro grande. Um lakhu depois de armado sempre
oferece perigo para quem nele adentra. Mesmo durante os intervalos diurnos do turé
14 Pirorô também é o nome de um pequeno pássaro vermelho que compõe a avifauna local.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
255
quando o terreiro fica vazio, transpassar a arena cerimonial é sempre arriscado,
sobretudo para as crianças que podem ser vítimas fáceis de Karuãna que estão
bêbados dentro do círculo. O conselho do pajé para os pais é que não deixem seus
filhos pequenos brincarem próximo ao lakhu, já que adentrar nele é quase irresistível
para as crianças que sofrem riscos de serem raptadas.
Outros objetos de uso durante o turé e que não foram ainda citados são os
maracás de cabo longo, o bastão do jandame, o cuhone e o butiê. Os maracás
possuem cabos com cerca de 1,5 metros e são predominantemente (mas não
exclusivamente) manuseados pelas mulheres, ao passo que os homens, e apenas
eles, tocam as flautas turé. São constituídos por uma pequena cabaça em forma de
pêra, fartamente pintada e cheia com sementes pequenas variadas ou miçangas.
Esta cabaça possui no topo e ao lado penas de arara e de garça, esta última cortada
em serrilha formando a silhueta do grafismo dãdelo e contendo nas pontas
penugens coloridas de arara presas com bolotas de cera de abelha. As penas
maiores são fixadas na parte do cabo logo abaixo da cabaça e acima desta em um
pedaço de pau que lhe é espetado; todas são firmemente amarradas com fios
torcidos de algodão untados com cera de abelha. Alguns maracás são
completamente desprovidos de penas e no lugar delas a cabaça é fartamente
ornada com algodão. Abaixo dessa usa-se sempre uma bandeirola retangular de
tecido vermelho.
O bastão consiste em uma insígnia de poder e é também utilizado pelo pajé
como arma contra Karuãna inimigos durante suas incursões ao Outro Mundo. O do
pajé é normalmente produzido em marapinim, madeira bastante dura e resistente, e
ornado com chumaços de algodão presos a ele, ao passo que o do jandame, maior
e de madeira menos nobre, apresenta apenas listras horizontais toscamente
pintadas como ornamento. O cuhone e o butiê são paramentos utilizados tanto por
homens quanto por mulheres durante o turé. Cuhone é uma coroa de penas do peito
da arara, cuja tonalidade varia entre vermelho, amarelo e branca, presas a um
trançado de forma circular que se põe sobre a cabeça. Seu substituto é a plumage,
espécie de chapéu feito a partir de um trançado de talas finas de cipó decorado com
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
256
penas de arara, garça e uma cortina traseira de placas de buriti (dossiê) unidas por
fios de algodão e que costumam receber desenhos com temas variados.15
Um outro elemento de percussão, mas menos potente que o maracá, é o
butiê, fabricado com fios de miçangas recobertos com pequenos penachos de
algodão e contendo na extremidade asas do besouro mamã soleil, muito comum nas
roças de mandioca em uma dada época do ano. Esta é a forma simples desse
adorno, pois há variações em que os fios de miçangas formam uma teia, sem
penachos de algodão, terminada com as asas do mamã soleil e pendurada atrás da
cabeça, presa ao cuhone. Essas asas – rígidas, belamente coloridas ao natural e
com até 5 cm de tamanho – ao chocarem-se umas contra as outras produzem um
retinir compacto, mas suave. O butiê simples é colocado em volta do pescoço do
dançador, com os fios de miçanga pendendo sobre o tronco, de modo que, como as
demais versões, não é preciso manuseá-lo a fim de fazê-lo repercutir.
O setting do cerimonial
Neste bloco descrevo, o mais fielmente possíve, o registro que efetuei do turé
de Levên em junho de 2005, as etapas seqüenciadas do cerimonial. As operações
pré-cerimoniais – que são também ritualizadas, mas que transcorrem antes do início
da festa dentro do lakhu no cair da tarde – são multilocais, de modo que não pude
acompanhar todas em tempo integral. Outras ainda não foram registradas porque,
ao chegar na aldeia Kumarumã apenas um dia antes do início do turé, elas já
haviam sido executadas. Destaco neste caso a feitura do caxiri e a coleta da matéria
prima para a confecção das flautas turé. Os cantos merecem um item à parte, posto
que demarcam e distinguem as ações pré-cerimoniais, assim como possibilitam a
efetuação da festa como conjunção de pessoas visíveis e invisíveis, já que é por
meio deles que os convites às segundas são feitos.
15 O turé onde as pessoas portam suas plumage é considerado mais forte e poderoso que um turé
feito de cuhones. Não estou certo quanto ao motivo de tal diferença, mas parece-me que está
novamente presente a alusão a conectores de planos cosmológicos diversos representado na
plumage pelas longas penas, das caudas da garça e da arara, dispostas verticalmente e presas ao
trançado que reveste a cabeça.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
257
Os cantos e o caxiri
Falei sobre os aspectos da produção material que suporta o turé, resta agora
descrever alguns de seus elementos imateriais e sua posição no rito. Os principais
deles são, sem dúvida, os cantos. Já sublinhei a importância que eles têm no
complexo xamânico regional e o papel que desempenham como constitutivos de
cobiçados patrimônios privados, ao lado dos grafismos que enfeitam os bancos e
mastros rituais e que são uma dádiva desses artefatos-pessoa que se comunicam
previamente com o pajé em seus sonhos. Por isso os cantos são alvos de cuidados
especiais que previnem o seu roubo por outros pajés; é a acusação de plágio de
cantos xamânicos que predomina hoje entre os pajés do baixo Oiapoque, uma vez
que as agressões ficaram despersonalizadas com as contínuas intervenções de
lideranças coibindo os pajés de suas comunidades de revelarem os nomes dos
autores de feitiços. Além disso, é por meio dos cantos que se produzem os principais
desqualificadores rituais dirigidos a outro pajé, insinuando que este possui um
minguado repertório, não tem gente competente para ajudá-lo a cantar ou que “canta
errado”.
A única ocasião durante todo o meu trabalho de campo no baixo Oiapoque
em que apresentaram claramente desconfianças em relação aos registros que eu
fazia – fotografias das situações rituais, incluindo os grafismos, e gravação dos
cantos xamânicos nas xitotós e no lakhu – teve justamente os cantos como
protagonista. Foi em Kumarumã, pouco antes de concluir minha primeira estada
nessa aldeia em 2005, e o próprio cacique foi, a contragosto e acabrunhado, ter
comigo. Disse-me que “viram” os cantos utilizados em Kumarumã sendo vendidos
em fita cassete em Macapá e, mesmo sabendo que eu não tinha nada a ver com
isso, tinha de cumprir o papel que lhe fora solicitado. Esse papel era fazer a
mediação entre mim (acusado) e não sei quem (o acusador), pois nunca procurei
investigar de onde partira a suspeita e esqueci o assunto quando perguntei ao
cacique quanto ele achava que valiam os cantos e porque alguém os comprariam
em Macapá. Resolvi, por conta desse episódio, não apresentar aqui a transcrição
integral dos cantos xamânicos que levantei em Kumarumã, medida meramente
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
258
preventiva, posto que pretendo ainda, nas fases porvir da pesquisa na região,
trabalhar com mais precisão os cantos xamânicos, tanto nos diversos contextos em
que parecem como os cotejando com os potás.
Um turé apresentará variações nos cantos conforme o repertório do pajé
patrocinador, mas, segundo o que disse antes, há uma estrutura inicial invariável da
qual depende o transcorrer ulterior da cerimônia. Esta seqüência primária
corresponde a procedimentos que visam atrair as pessoas invisíveis para o espaço
cerimonial do lakhu e são realizados através da entoação de cantos convites. A
rigor, tais cantos não precisam vir sempre na mesma sucessão, mas é
imprescindível que se mantenha sua unidade morfológica, isto é, que todos eles,
independentemente da série, sejam cantos convites.16 Os dois primeiros costumam
ser dirigidos às pessoas Karamatá, as flautas-turé; um de confecção e o outro de
afinação das flautas17. São entoados todo o tempo em que as flautas turé estão
sendo preparadas por cerca de vinte pessoas volantes sentadas dentro e fora da
casa do pajé.
O terceiro canto é na verdade um conjunto de quatro cantos muito parecidos
entre si e que marcam o momento de beber o caxiri dentro da casa do pajé. O
primeiro canto desta seqüência convida os Karuãna da mata a virem tomar parte na
festa, servindo-lhes o fermentado de mandioca. O segundo é entoado no momento
em que os “donos do caxiri”, aquelas pessoas que prepararam a bebida, são dela
servidos. O terceiro é o canto do caxiri das mulheres, quando apenas elas, primeiro
as koiaminãns e depois as demais, são servidas. Por fim, o caxiri é franqueado a
todos e entoa-se outro canto da bebida na da casa do pajé.
16 Ou cantos de saudação e deferência, como é o canto do mastro (nikawrô) que aparece na série
inicial.
17 Os Karipuna consideram que o turé deve iniciar com o xãte ban, o canto para beber caxiri
(Tassinari, 1998: 228).
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
259
“As koiaminãs estão atrás do tukay e os palikás na frente; eu estou no
meio, começo [os cantos] e largo para eles. E eles respondem, atrás e
na frente do tukay. É a mesma coisa que o maracá que tem dois olhos;
quando canto aqui, começando a remexer, responde no mar e no mato
também. As koiaminãs e os palikás são para me dar força no trabalho,
eles são a força do trabalho. Se eles não cantam, eu não tenho força
para levantar, para reforçar, formar os cantos. Não pode, está muito
fraco. Quando eles cantam, eu tenho sustento para cantar e levantar.
Quando eu paro na escada para viajar, buscar outras pessoas, fica
parado no tukay. Os palikás e as koiaminãs é que levam os cantos, não
deixam parar, senão eu iria enfraquecer e morrer. É por isso que esses
quatro não podem faltar. Todos os pajés têm de ter duas koiaminãs
atrás e dois palikás na frente, para formá-lo, dar força e sustento. É um
apoio muito grande. E também ao lado do tukay tem ajuda para dar
apoio nos cantos, para eu poder agüentar o corpo. Quando a gente
canta no tukay a alma sai do corpo, fica só o corpo aí. É por isso que
tem de ter ajuda, para a alma não se afastar muito, porque se for muito
longe não quer mais voltar, quer ir embora. É por isso que tem tudo
isso”.
[Levên. Aldeia Kumarumã, julho de 2005]
O serviço da bebida, sobretudo dentro da casa do pajé, é especialmente
ritualizado. Os grandes potes de barro, de origem palikur, e as bacias de plástico e
alumínio utilizadas para acondicionar os cerca de 300 litros de caxiri produzidos dois
dias antes são guardados na parte da casa próximo ao local de preparo dos
alimentos, cobertos com lonas plásticas e peneiras de ahumã. O trajeto de ida e
volta do compartimento frontal da residência, aonde o caxiri é servido, até a parte
posterior, aonde é armazenado, é feito pelas lahines – mulheres que servem a
bebida – sob escolta de dois jandames. As mulheres seguem batendo ritmicamente
seus maracás de cabo longo no chão, enquanto os jandames fazem retumbar seus
bastões no assoalho de tábuas. Ao chegarem próximo ao banco onde alguém
aguarda sentado pelo caxiri, os jandames dizem, para os que não dominam o patois,
como eu,: “Aqui está a bebida”. A cuia contendo o fermentado é então oferecida pela
lahine que a segura todo o tempo enquanto o líquido é integralmente sorvido.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
260
A gradação alcoólica do caxiri depende do tempo de fermentação da bebida
que pode ser apressado com o uso de açucares provenientes de frutas, com
abacaxi, ou industrial. Um caxiri pouco fermentado não será apreciado, por estar
fraco em teor alcoólico, assim como não é do gosto da maioria o caxiri que azedou
devido ao tempo prolongado de fermentação. Normalmente a bebida está com sabor
e gradação alcoólica agradáveis ao paladar entre o segundo e terceiro dias após o
preparo. O sabor, entretanto, varia também conforme os ingredientes empregados e
não somente em função do tempo de fermentação.
Há várias receitas de caxiri utilizadas na região do baixo Oiapoque. Todas,
porém, têm como base um preparado de água e beiju. Os Galibi-Kalinã, por
exemplo, adicionam ao fermentado de mandioca uma pequena batata vermelha que
dá sabor e cor característicos à bebida (Vidal, 2000: 47). Os Karipuna utilizam uma
receita que incluí, além de água e beiju, açúcar e batata doce (Tassinari, 1998: 226).
Há também receita karipuna de caxiri que leva cana-de-açúcar, gengibre e curimocó
(uma erva nativa). Desconheço a composição do caxiri servido no turé de Levên,
pois não acompanhei sua preparação. Presenciei, entretanto a preparação do caxiri
servido em um turé realizado por Cocotinha um mês e meio depois.
Sua composição era: tucupi, batata doce, cará, beiju e água. A mandioca para
a preparação dos beijus foi beneficiada um dia antes e estes, grossos e grandes,
assados no mesmo dia e postos em grandes potes de barro com água. No dia
seguinte as batatas doces e os carás foram cozidos no tucupi até se desfazerem e o
composto foi adicionado ao beiju, já devidamente desmanchado e repousando
dentro d’água. Para acelerar a fermentação, pois havia chegado o dia do turé,
adicionou-se açúcar industrial à bebida. O caxiri poderá ainda ser coado em um
pedaço de tecido ou então deixa-se decantar os ingredientes sólidos e vai-se
retirando a porção mais superficial da bebida. Para servi-la usam-se cuias pintadas
com cumatê, ornadas com grafismos e desenhos em baixo relevo e de tamanhos
variados, comportando entre 300 e 700 ml (excetuando a cuia do lamane, bem
maior).
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
261
Além dos cantos do caxiri que citei, há mais dois; um para a bebida servida no
lakhu e outro para o lamane, quando o caxiri-castigo é imputado do lado de fora do
círculo cerimonial. Portanto, são ao todo seis os cantos do caxiri: quatro para
ingestão dentro da casa do pajé e dois para ingestão pública, todos variações de um
mesmo canto da bebida. Simultaneamente a esses cantos entoados dentro da casa
do pajé, ouve-se o canto do Karamatá pelos colaboradores volantes que produzem
as flautas turé do lado de fora e vez ou outra interrompem o trabalho a fim de
servirem-se da bebida refrescante.
Seguindo a série dos cantos do caxiri vem o canto do mastro (nikawrô) do
tukay, o mesmo posteriormente fixado em uma das entradas do lakhu. Na casa de
Levên este mastro fica sempre posicionado atrás do tukay nas ocasiões em que há
sessões de xitotó e sua função é a mesma do mastro principal dentro do lakhu, isto
é, servir de “escada de Bicho” permitindo que os Karuãna desçam por ele e
encontrem o pajé em transe em seu casulo cerimonial. Quando não estão em uso,
os mastros menores e as quatro varas de armação do tukay são armazenados na
estrutura de madeira que suporta o telhado da casa, onde, aliás, é costume guardar
utensílios domésticos diversos. Os bancos são conservados em um canto do
compartimento maior da casa, ao passo que o mastro principal, aparentemente
grande e pesado demais para o esteio do telhado, era acondicionado do lado de fora
sob o teto de uma ampla casa em construção.
Volto a assinalar que tanto os cantos quanto os procedimentos cerimoniais, e
seus respectivos encadeamentos, aqui descritos são relativos a um turé em
particular que pude seguir e documentar na íntegra e não devem ser generalizados
como se compusessem um mesmo e único script. Nem para os Karipuna, o outro
grupo do baixo Oiapoque que também realiza turé, e nem mesmo para os GalibiMarworno em geral. Sabemos que o rito promove um contexto de transmissão
cultural favorável a ações individuais de oficiantes que, simultaneamente, seguem e
modificam a cultura. Neste sentido, o estudo de Fredrik Barth sobre os Ok das
montanhas centrais da Nova Guiné revela que a continuidade e integridade das subtradições desse povo dependem do sucesso da transformação dos símbolos que as
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
262
compõem pelos oficiantes que procuram criativamente recriar, na performance
pública, os materiais articulados em sua memória (Barth, 1987: 29).
O problema que se coloca na pioneira monografia de Barth – e que acredito
estar presente em outros contextos de exibição ritual – é o da variação cultural
existente em um mesmo coletivo humano. Focando esta questão pertinente a todo o
campo da antropologia e, posteriormente, sugerindo a equivalência entre cultura e
conhecimento com o qual as pessoas constroem e vivem em seus mundos, o autor
defenderá uma antropologia que esteja atenta às variações cognitivas encontradas
em um mesmo contexto social (Barth, 1995: 67) e às suas inúmeras formas de
produção, representação, transmissão e aplicação (Barth, 2002: 10). Com isso, Barth
propõe um método para lidar com problemas relativos à variação, transmissão e
reprodução cultural que enfatiza não o que está sendo transmitido, mas o cenário e
as formas de transmissão e circulação do conhecimento. Deste modo, Barth refuta,
ao mesmo tempo, as teorias e metodologias que costumam conceber o
conhecimento enquanto arranjos de idéias abstratas e ordenadas conforme
esquemas lógicos específicos. Segundo o autor: “The analyses pursued here have
emphasized the place of elements in the context of social situation, juxtaposition, and
praxis more than the place of the element in the context of an abstract logical system”
(ib.: 85).
Penso que as variações que têm lugar entre as exibições de turé devem ser
lidas exatamente nesta chave que ressalta os diferentes contextos de transmissão e
considera o conhecimento transmitido como um conjunto criado junto a uma práxis.
E nesse sentido um dos itens que sobressaem no xamanismo no baixo Oiapoque
são os acervos privados de cantos xamânicos que farão com que um turé nunca
seja igual ao outro. Não obstante tais diferenças, a seqüência inicial dos cantos
manterá um certo padrão morfológico, pois trata-se de convidar as pessoas invisíveis
para a festa que, sem elas, não se realizaria. Haverá também constância nas
atividades preparatórias de confecção das flautas, fabricação e pintura dos mastros
e bancos (quando necessário), preparo e oferta de caxiri e edificação do lakhu.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
263
No lakhu
As atividades pré-cerimoniais que testemunhei do turé de Levên duraram dois
dias e meio. No primeiro dia os bancos e mastros estavam ainda sendo pintados
pelo grupo de cooperação do pajé; no dia seguinte, o lakhu foi armado, os mastros
fixados e os bancos grandes de cobra colocados no círculo cerimonial. No terceiro
dia pela manhã o lakhu teve sua ornamentação concluída com a colocação, no topo
das varas (pirorô), de chumaços de algodão e penas de garça nos fios que as
uniam. Todos os trabalhos eram iniciados no início do dia e interrompidos para o
almoço, quando as pessoas se dispersavam e depois retomavam as tarefas.
Dentro do círculo cerimonial e após os primeiros cantos do caxiri e do
Karamatá seguem-se mais dois cantos do caxiri. Importa guardar que, como há
atividades sobrepostas durante os preparativos do turé, isto é, antes da dança
propriamente ter lugar, há entoação simultânea de cantos, posto que eles também
demarcam tais séries de atividades. Deste modo, os canto do Karamatá fora da casa
do pajé segue em paralelo aos cantos do caxiri dentro de casa. Nesta ocasião os
auxiliares diretos do pajé – incluindo sua esposa e filhas, mais os palikás e suas
parentelas e ainda demais pessoas assíduas às sessões de xitotó – dançam em
volta do mastro menor (em sentido horário) erguido dentro de casa, cantando e
batendo sincronicamente o maracá de cabo longo no chão. A dança é, ora
emparelhada (homem-mulher, eventualmente mulher-mulher), ora individual.
Os dois cantos de caxiri entoados dentro do lakhu são muito parecidos entre
si e não associei a eles atividades diferenciadas, haja vista que ambos surgiram no
momento em que o lamane estava sendo imputado. Entretanto, não houve, de fato,
atribuição de castigo nesta ocasião; Levên e seus auxiliares diretos (incluindo os
palikás) foram os primeiros a tomar, voluntariamente, as fartas cuias de caxiri e,
segundo disseram, fizeram-no pelos erros que eles mesmos e os pesquisadores
presentes haviam cometido durante a preparação do turé. Isto foi no terceiro dia pela
manhã, quando tudo já estava preparado para a festa. Tomaram o lamane não no
gereu, do lado de fora do lakhu, mas dentro do círculo cerimonial, sentados nos
bancos menores de arara, uaramim e gaivota e ao pé do mastro maior. Apenas a
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
264
cuia era a do castigo e não estou certo se tudo não passou de uma pilhéria cênica
do pajé ou se havia mesmo uma mensagem moral nesta ação.
No dia em que o turé foi iniciado houve, no período da manhã, mais canto do
Karamatá dentro do lakhu, ocasião em que as flautas e os cutis foram tocados
enquanto uma fila indiana de homens e mulheres liderados pelo pajé circundava, em
sentido horário, o mastro principal. Não era ainda a coreografia da dança do turé,
mas uma espécie de cortejo composto por alguns daqueles que participaram dos
preparativos da festa. O caxiri foi solenemente servido pelas lahines ao pé do mastro
aos que estavam presentes, enquanto o canto seguia sem alterações. Para esta
ocasião trouxeram grandes vasilhas da bebida, de modo a não ser necessário ir
buscá-la nos fundos da casa do pajé toda vez que alguém era servido, conforme
descrevi anteriormente para o serviço do caxiri. Tudo isso não durou mais que duas
horas e por volta de meio dia houve uma interrupção para o almoço.
Nas circunstâncias relativas às cerimônias xamânicas, qual seja o turé e as
xitotós, apenas a bebida é parte da dádiva às pessoas invisíveis, primeiramente, e
às visíveis. Comida nunca entra no circuito das ofertas e prestações, nem mesmo no
período das intensas operações pré-cerimoniais na casa do pajé e adjacências
(fabricação e pintura dos bancos e mastros; fabricação dos karamatás; edificação do
lakhu etc.).18 Chegada a hora do almoço, que nunca ultrapassa às 13:00 local, as
pessoas vão comer em suas casas e voltam depois a fim de retomarem suas tarefas.
Dependendo da ocasião e dos Karuãna em questão, a bebida servida poderá ser,
além do caxiri, cachaça ou cerveja industrial (vide nota n. 3 neste capítulo e o texto
referente a ela), mas em um turé a vigência oficial será sempre do fermentado de
18 A oferta de comida e bebida, como refrigerantes, vinho e cerveja, acontece durante as
comemorações dos dias de santo. Em junho de 2005 eu estava em Kumarumã durante a festa em
homenagem a Santo Antônio (seu dia é 12/06) patrocinada, naquele ano, por um grupo de seis
festeiros que gastou cerca de R$ 5.400,00, R$ 900,00 cada um, a fim de oferecerem música – brega
e forró, tocados em aparelhagem de som – bebida e um almoço para a comunidade. O baile no
espaçoso centro comunitário da aldeia aconteceu das 20:00 do dia 11 até a alvorada do dia 12/06.
Nestas ocasiões o fraco controle cotidiano sobre a bebida, notoriamente cachaça, feito pelas
lideranças locais é praticamente suspenso. No dia seguinte à festa, por exemplo, precisei ir até a
cidade de Oiapoque com urgência, mas foi impossível reunir os itens necessários à viagem: 40 litros
de gasolina, um motor de popa e, principalmente, um condutor sóbrio. A ebulição coletiva é também
propícia. Neste mesmo dia os festeiros ofereceram um almoço no centro comunitário. Como alguns
deles insistiram para eu fosse tentei participar do repasto, mas não tive êxito em chegar na mesa
colocada no centro do salão, retornando ao alojamento a fim de improvisar uma refeição. Música e
bebidas retornaram no início da noite para durarem até 0:00.
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
265
mandioca, única bebida ofertada, não obstante a ocasião proporcionar o consumo
de destilados industriais na periferia do lakhu por parte daqueles que participam da
audiência e que, embriagados, animam-se a dançar dentro do círculo cerimonial.
A série de cantos no lakhu recomeçou às 15:15 com uma nova homenagem
(ou novo convite) às flautas turé. Não há mais atividades fora do círculo cerimonial,
onde todos da linha de frete do turé estão concentrados. Até próximo do fim do dia
bebe-se caxiri, desta vez ao som do canto da arara (kinorô). Na abertura dessas
ingestões, repete-se a seqüência realizada na casa do pajé: primeiro bebem as
pessoas que são os “donos do caxiri”, depois as mulheres koiaminãs e por fim a
bebida é servida a todos, etapas marcadas pelos diferentes cantos da bebida citados
anteriormente.
O turé inicia propriamente por volta das 17:00 com a uarimã, canto e dança do
gengibre. Consiste em salpicar, com uma pena de garça, o sumo do gengibre nativo
ralado contido em três cuias de posse de três mulheres (apenas uma delas era
koiaminã). O líquido, aspergido nas pernas e pés de todos os presentes no lakhu,
visa propiciar resistência e agilidade a estas partes do corpo para que a continuidade
da dança noite afora esteja garantida. O conjunto coreográfico do turé é pouco
variado e tem como marcha básica uma combinação de movimentos intercalados
dos pés com discreta inflexão das pernas; saindo primeiramente o pé esquerdo,
flexionando-se a perna ligeiramente ao pisar o chão e, com a alteração do centro de
gravidade do corpo, trazendo o pé direito para alinhar-se ao esquerdo. Esta
coreografia é realizada de forma sincrônica e repetitiva por uma coluna compacta de
dançadores que fica mais próxima do perímetro do lakhu quanto maior for o número
de fileiras de participantes, sem, contudo, fechar completamente o círculo. A
evolução circular da coluna transcorre sempre em sentido horário e em torno do
mastro principal.
Os dançadores são homens e mulheres, jovens, adolescentes (não crianças)
e velhos que, conforme o momento ou a disponibilidade, dançam em pares de
homem-mulher (normalmente cônjuges), em trio mulher-mulher-mulher/mulhermulher-homem ou em quarteto de mulheres. Nunca dois homens dançam juntos. As
mulheres ficam no lado esquerdo da coluna e levam os maracás de cabo longo com
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
266
os quais batem no chão marcando o ritmo; os homens, portando as flautas turé,
ficam do lado direito e “conversam entre si” soprando seus instrumentos em
uníssono conforme o tamanho deles. O pajé, sentado em seu banco de arara
posicionado ao pé do mastro principal, canta, fuma fervorosamente cigarros de
tawari e tabaco e bebe caxiri. Todo o momento ele está acompanhado por sua
esposa e demais pessoas que vêm sentar-se nos bancos pequenos zoomorfos
dispostos ao seu redor e por outras que, em pé, cantam e fumam o tawari. Não há
uma hierarquização quanto à ocupação dos espaços dentro do lakhu, de modo que
todos circulam entre eles e vez ou outra, enquanto o pajé encabeçava com sua
esposa a coluna de dançadores, via-se alguém sentado em seu banco cantando ou
apenas descansando. As restrições quanto à permanência e trânsito no lakhu
atingem, entretanto, as crianças e as mulheres menstruadas. As primeiras por serem
vulneráveis aos Karuãna ali presentes; as segundas por conta do odor do mênstruo
que tanto afugenta as pessoas invisíveis quanto a deixam perigosamente excitadas.
Os adornos pessoais como colares de miçangas e sementes, pulseiras,
brincos, cuhones e butiês são fartamente ostentados pelas mulheres que vestem
longas saias coloridas de um mesmo corte. Os homens, usando também cuhone e,
alguns, butiê, portam vestes menos vistosas, compostas por calças e camisas de
manga curta de diversas cores. Não houve vestimenta padrão como ocorreu no turé
realizado por ocasião do Fórum Socioambiental dos Povos Indígenas do Oiapoque
quando as mulheres trajavam saias rodadas vermelhas e os homens vestiam o
kalembé, tecido vermelho em volta da cintura.
À noite a audiência em volta do lakhu era grande. Como costumam fazer
quando há eventos noturnos na aldeia – alojando-se no local da maneira mais
confortável possível – as famílias armaram redes sob o espaçoso vão da casa em
construção ao lado do lakhu e lá permaneceram até alta madrugada. Algumas redes
alcançaram a aurora no mesmo lugar. A evolução do turé durante a madrugada
segue períodos que se repetem; dança, pausa para caxiri, dança, pausa para
repouso dos dançarinos, dança. Todas as etapas transcorrem com cantos e
raramente havia um intervalo maior que cinco minutos entre eles. A interrupção ficou
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
267
por conta da copiosa, mas rápida, chuva que desabou por volta das 03:40, fazendo
com que as pessoas se transferissem provisoriamente para a casa do pajé.
No alvorecer havia dentro do lakhu menos de um terço dos que estavam
presentes no início da noite. Alguns, pelo excesso da bebida e fadiga, tinham
capitulado no próprio local. Outros, ainda com forças para permanecerem sentados,
estavam próximo a fazê-lo. As mulheres mais velhas, as koiaminãs de Levên,
permaneciam sóbrias e ainda dançavam em quarteto ao som de cantos esmaecidos
acompanhados por poucas vozes
Antes de 09:00, com o sol já completamente feito, o turé foi finalizado pelo
pajé. Imediatamente os bancos, mastros, karamatá e maracás de cabo longo foram
retirados do lakhu e guardados na casa do pajé. Manteve-se de pé, contudo, o
próprio lakhu, que seria utilizado na semana seguinte para a finalização do ciclo
cerimonial: a kulev
A kulev acontece no sábado após o turé e consiste em enviar a Cobra
Grande, a mais temida e poderosa das pessoas invisíveis, de volta para sua morada.
Este rito é condição precípua para se encerrar um turé, pois como as pessoas
invisíveis foram convidadas a participarem da festa, a proximidade delas somado
aos excessos que também cometem com a bebida, os descomedimentos da folia
podem fazer com que o controle da conjunção entre pessoas visíveis e invisíveis
seja perdido pelo pajé. Todavia, é precisamente por meio do excesso que a ordem e
a vida na aldeia são restituídas após a conjunção ritual com os Karuãna, posto que o
retorno à separação entre pessoas visíveis e invisíveis somente estará concluído
quando a Cobra Grande deixar Este Mundo.
O ardil coordenado pelo pajé consistirá em oferecer ainda mais caxiri à Cobra
Grande para que, embriagada, seja conduzida até sua morada no outro mundo. Para
o rito da kulev as pessoas se reúnem antes do ocaso na casa do pajé onde dançam
em torno do mastro utilizado nas sessões de xitotó, cantam e tomam caxiri. Nesta
ocasião entoam o canto da Cobra enquanto os dançadores mantêm uma formação
similar a que toma parte no turé dentro do lakhu. Esta formação, com pares de
casais em fila indiana, será o análogo morfológico da Cobra Grande e terá à frente o
pajé e sua esposa formando a cabeça da cobra cuja língua é uma grande pena de
[Cap. V] Conjunção de pessoas: o processo ritual do turé
268
arara acoplada ao maracá do pajé. Presentificada nesse conjunto, a Cobrai sai da
casa do pajé, passeia no seu entorno, toma caxiri e entra no lakhu de onde tenta sair
algumas vezes sem sucesso, pois todas as saídas são fechadas com potes da
bebida. Ao invés de encontrar a liberdade, a Cobra encontra mais caxiri que nunca
recusa (todos os dançadores que compõem o corpo da Cobra Grande bebem caxiri
quatro ou cinco vezes durante a kulev); embriagada com tamanho excesso, a Cobra
segue até o mastro principal do lakhu e por ele o pajé a envia ao Outro Mundo,
finalizando o ciclo do turé. Sem tal arremate toda a aldeia estará exposta aos perigos
relacionados à convivência não controlada com as pessoas sobrenaturais que ficam
ainda nas proximidades, embriagadas pela beberagem.
Com o ciclo do turé e a cosmologia, o xamanismo dos índios do baixo
Oiapoque denota uma série de atividades direcionadas à manutenção de relações
de reciprocidade com as pessoas invisíveis, além de estarem muito próximas dos
humanos, possuem poderes para interferirem em suas vidas. Ao pajé caberá afastar
os riscos virtuais de inversão dos pontos de vista e efetivação das realidades sobre
as quais apenas os pajés do Outro Mundo têm controle, esforçando-se em
domesticar os Bicho e Karuãna a fim de utilizar seus poderes para intervir nas
realidades invisível e empírica. Somente assim as pessoas visíveis mantêm o
comando nas relações com a diferença sobrenatural. Como tal capacidade pode a
qualquer momento voltar-se contra o bem comum (transformando-se em agressão),
o pajé tem a obrigação de organizar o turé para comprovar seus rendimentos
médicos e para que todos possam dançar e beber com os Karuãna. Aqui,
nitidamente, é o social que prevalece sobre a atividade do pajé, controlando-a, ao
contrário do que ocorre em algumas sociedades onde o poder de cura do xamã se
converte em poder de controle social (cf. Butt, 1966: 154, para o caso dos Akawaio,
povo caribe da Guiana).
Epílogo
269
Epílogo
Xamanismo, relação e percepção
Em um artigo de 1966 sobre a função e classificação dos paradoxos e das
antinomias nas lógicas clássicas, Quine afirmaria: “Of all the ways of paradoxes,
perhaps the quaintest is their capacity on occasion to turn out to be so very much
less frivolous than they look” (Quine, 1966: 20). Ainda está longe de ser um aval às
contradições e Quine está aludindo ao fato de o absurdo expresso por um paradoxo
poder ser apenas uma ilusão inicial dissipada nos argumentos subseqüentes (ib.: 4).
Neste caso não haveria, de fato, um paradoxo e a sentença caberia canonicamente
nos limites do verdadeiro e do real. A outra posição é, determinando-se a vigência
de antinomias irredutíveis, deduzir a prova de que a realidade contida nas sentenças
antinômicas não existe. De um modo ou de outro o paradoxo será neutralizado com
a simples determinação de sua inexistência ou da realidade que ele pretende
exprimir.
Aqui chegamos a uma questão precípua que perpassa, direta ou
transversalmente, alguns temas abordados nesta tese: que aquilo que determinamos
por paradoxo ou relações antinômicas decorre da predicação a priori dos termos
relacionados. Inversamente, o pensamento manifesto através do xamanismo no
baixo Oiapoque concebe que os termos relacionados são qualificados na relação e
cada vez diferentemente em consonância com os contextos relacionais por eles
vividos (vide capítulos IV e V). Em suma, tal pensamento pensa e concebe
realidades paradoxais, dos tipos impossíveis para Quine.
Chegado este ponto em que as linhas principais que compõem a presente
tese foram expostas e argumentadas é indispensável retomá-las a fim de se
ressaltar a conexão entre elas procurada ao longo dos capítulos. Reunidas de forma
sintética em um mesmo espaço facilitarão a recomposição do conjunto de que trata
este trabalho e que pode ter sido estilhaçado no percurso por idéias aparentemente
Epílogo
270
desarmônicas como “redes de relações”, “ontologia fenomenológica”, “pensamento
pré-predicativo”, “physis” e “aparescência”. O fio de Ariadne que ajuda a deixar este
labirinto são as relações, melhor dizendo, o relacionismo,1 a idéia de que, para as
sociedades indígenas em particular e não-ocidentais em geral, a relação é a
condição fundante tanto do social quanto do cosmos, campos indistintos e conexos,
pois a um o outro pertence como seu corolário. Desnecessário dizer que tal
argumento não constitui uma inovação, posto que o domínio sócio-cósmico tem sido
largamente demonstrado na etnologia sul-americana e alhures ao se tratar o
xamanismo como atividade de comunicação entre diferentes, mas contíguos,
mundos e seus habitantes.
A seguir exploro alguns temas que acredito serem centrais na tese e em torno
dos quais articulam-se outros temas distribuídos ao longo dos capítulos.
Redes e metafísica
Encontramos aqui outro aspecto fundamental desta tese – a tessitura do
mundo pelo xamanismo no baixo Oiapoque como um ser com – abordado com o
recurso ao pensamento pré-filosófico (entenda-se cosmocêntrico) grego e à noção
de physis. O xamanismo faz ressaltar um pensamento em que as relações são
fundantes, o princípio fundamental donde deriva a intencionalidade e o movimento
dos entes do cosmos. Traduzindo em alusão às redes, quer dizer que elas (as
redes) não preexistem às relações e são formuladoras dos coletivos sociais.
1 Podemos situar o relacionismo nas filosofias escolástica (de Duns Scotus e William Ockham, por
exemplo) e contemporânea (filosofia da ciência, epistemologia da física quântica) a partir da idéia
central de que as relações são constitutivas às coisas e delas derivam a ação mútua aplicada a entes
relacionados. A diferença do relacionismo filosófico para o relacionismo indígena seria, de meu ponto
de vista, que, enquanto o primeiro acredita na relação entre coisas “reais”, o segundo subverte a
noção onto-teo-lógica de realidade e estabelece que o “real” é fruto da relação, pois somente ela é o
a priori. Eis a atividade do pensamento pré-predicativo: classificar, categorizar e predicar os termos no
contexto da relação com outros termos. Desta feita, a realidade não pode ser mensurada como uma
propriedade das coisas. O que é real é a relação.
Epílogo
271
Antes de retomar tal noção a fim de alinhavar alguns pontos ainda soltos,
gostaria de indicar novamente os motivos para evocar um conceito aparentemente
tão distante do pensamento ameríndio. Primeiramente, pretendi abordá-lo como um
“conceito nativo” familiar, posto derivar de uma sociedade e domínio de relações
sociais onde ainda estavam vigentes as ordens do mito, da mito-poesia e das
interações ordinárias entre deuses e homens, notadamente no que diz respeito à
produção do parentesco entre essas duas séries de entes. Estes pontos, acredito,
autorizam as correlações entre os domínios histórico (“os gregos”) e etnográfico (o
xamanismo no baixo Oiapoque) separados no tempo e no espaço.
Segundo, em função de uma interpretação vigorosa e audaz (e, por causa
disso, não menos controversa) desse campo de relações que acredito iluminar
aspectos do pensamento xamânico no baixo Oiapoque e, quiçá, do pensamento prépredicativo ou selvagem, conforme quis Lévi-Strauss, em geral. Refiro-me à
ontologia fenomenológica de Martin Heidegger cujo rendimento para os assuntos
aqui em pauta pretendi focar nos Capítulos IV e V, marcando a primazia da
percepção que, atentando para as qualidades sensíveis dos entes, apreende-os a
partir do horizonte de sua aparescência, horizonte que, determinando-lhe o modo de
serem e existirem, é um manifestar-se com, compondo quadros e esquemas
cognitivos em que os entes são predicados tão somente a partir de suas zonas de
relação (cf. Capítulo IV, p. 196).
Nesse sentido é que a idéia de physis é proveitosa para este trabalho, posto
que ela possibilita compreender a unidade do diverso (i.e., o cosmos) como
presença e relação. A physis é o que reúne e faz equivaler todos os entes do
cosmos; os entes que são e manifestam-se em um infinito movimento de sair e
brotar (aparecer).
Epílogo
272
“A
, o puro surgir, não é apenas uma abstração do âmbito restrito
que denominamos natureza, e nem tão pouco um traço essencial
posteriormente transferido para os homens e os deuses. A
diz, ao
contrário, aquilo em meio ao que já muito antes o céu e a terra, o mar e
as montanhas, a árvore e o animal, o homem e os deuses surgem e se
mostram como o que surge, de maneira a serem chamados de ‘entes’
nessa dimensão. O que para nós aparece como processos da natureza,
para os gregos só se torna visível à luz da
”
]Heidegger, 2002a: 102[
Physis não é, definitivamente, “natureza”, nem no sentido daquilo que se opõe
à cultura e à história, nem na direção da qualidade essencial constitutiva de alguma
coisa (Heidegger, 2002a: 114). Ela é o primado das coisas porque, no pensamento
originário, tudo dela provém. É de onde as coisas emergem e nela declinam.
Transcendência e imanência; emergência e declínio. Estamos no domínio da
percepção enquanto verdade, da imagem enquanto realidade sem a cisão com o
conceito. Com a transformação do ser em Idea pela metafísica, inverteu-se o
primado; agora é o universal, a essentia a proveniência dos entes particulares e
objeto do pensamento filosófico.
Physis, acredito, exprime de forma eloqüente um traço fundamental da
ontologia anímica tratada por Tim Ingold: a relação entre vida e vir-a-ser do mundo.
Antes de se apresentar como uma propriedade inerente a determinados entes, a
vida (aquilo que nos permite distinguir “coisas” e “pessoas”) não emana de um
mundo pré-existente, já pronto, mas é imanente ao processo de nascimento
contínuo do mundo oriundo das relações (Ingold, 2006: 10). Se o animismo atribui
vida e alma a entes que cremos inertes, tais qualidades, não sendo propriedades
dos entes, exprimem relações a partir das quais os entes são-no-mundo:
“Animacy, then, is not a property of persons imaginatively projected onto
the things with which they perceive themselves to be surrounded [...] it is
the dynamic, transformative potential of the entire field of relations within
which beings of all kinds, more or less person-like or thing-like,
continually and reciprocally bring one another into existence” (ib.: id.).
Epílogo
273
A vida, concebida pela ontologia anímica como uma “geração de ser-nomundo” (Ingold, 2000), é correlata à physis a medida que esta constitui uma unidade
com psyche e zoe, segundo demonstrei, com apoio em Heidegger, em um trecho já
citado anteriormente (Capítulo IV, p. 219)
“
(psyche), a animação, e
(zoe), ‘a vida’, são o mesmo, desde
que se pense
de maneira grega. Isso exige que se pense
e
a partir daquilo que os pensadores gregos chamaram de
(physis), no contexto em que pensaram o ser dos entes. Tudo o que é
‘vive’ à medida que é, e enquanto vivo é animado, de certo modo,
sempre diferente”.
]Heidegger, 2002b: 291[
Ingold pensa ainda o meio ambiente de forma simétrica à physis, refutando as
noções substantivistas aplicadas à natureza. Em lugar de um domínio autônomo e
pronto que abriga objetos, coisas e não-pessoas, a natureza é para a ontologia
anímica um enredamento (entanglement), um emaranhado de rastros entrelaçados
(indicativos do movimento de emergência dos entes percebidos como ser-nomundo), continuamente feito aqui e desfeito acolá, dentro do qual “beings grow or
‘issue forth’ along the lines of their relationships” (Ingold, 2006: 14). Assim sendo, a
relação seria a condição fundante de um modo de conhecimento estabelecido pela
ontologia anímica (Hornborg, 2006: 28). Tanto o recurso à physis heideggeriana
quanto a idéia de enredamento (entanglement) proposta por Ingold, permitiriam
superar a ruptura cultura/natureza :: sujeito/objeto :: pessoas/coisas, corte que
começa a ser ensaiado pela primeira vez com a nomeação de um setor autônomo,
fora, além e contrário à physis e pertinente às leis da cidade e aos costumes: nomos
(
(cf. Capítulo IV, pp. 200-201).
De acordo com o que defendi no capítulo supra, tal rotura natureza/cultura e
os pares antitéticos correlatos (sujeito/objeto; pessoa/coisa; humano/não-humano
etc.) derivam do pensamento metafísico instaurado como hegemônico na história do
Ocidente e qualificador de relações absolutamente assimétricas entre tais termos. A
simetria entre termos (ou entes) – obtida mediante a eqüipolência a eles atribuída,
seja na physis ou no enredamento (entanglement) – exige o retorno ao fundamento
Epílogo
274
da relação como o a priori, condição peculiar ao pensamento pré-predicativo. Pois a
impossibilidade de relações simétricas entre termos diferentes ocorre quando estes
são pré-qualificados, tomados por uma essentia constituinte e definidora que os
opõem, definindo relações hierarquizadas segundo uma classificação das categorias
expressas por cada essentia isoladamente.
Inversamente, as redes cujo fundamento é a eqüipolência dos entes partem
de um princípio de identidade formulado a partir da diferença e da pertença à
unidade do múltiplo.2 Esta eqüipolência equivale, por exemplo, à capacidade de
ação ou de agência dos entes diversos descritos pelas cosmologias ameríndias
amazônicas, fazendo com que eles sejam vistos como pessoas. E no limite, não há
distinção entre humanos e não-humanos, mas gradações e níveis ordenados seja
conforme as capacidades de vontade e ação (segundo sugeri para os Encantado em
geral no baixo Oiapoque – vide Capítulos III e V); ou as qualidades possíveis de
trocas de informações baseados em aptidões lingüísticas, como fazem os Achuar
em sua classificação dos entes que povoam o cosmos (Descola, 1998: 26). Abdiquei
de termos como “humano” e “não-humano” para designar os entes do cosmos no
baixo Oiapoque por dois motivos. Primeiro porque, de meu ponto de vista, eles
refletem um marcador ontológico do tipo metafísico, onde a identidade do conceito
“humano” permite a compreensão dos termos nas suas variantes afirmativa e
negativa.
Segundo porque, acompanhando a ontologia fenomenológica, a percepção
passa a ser o fundamento para os marcadores designados por “pessoas visíveis” e
“pessoas invisíveis”, estando assim também congruente com a qualidade precípua
dos entes que habitam o Outro Mundo das cosmologias dos povos indígenas no
baixo Oiapoque: a invisibilidade. No capítulo V afirmei que os predicados primeiros
desses entes eram referidos à percepção e aos sentidos (sobretudo visão, olfato e
paladar), decorrendo dos contextos de relações (o horizonte de manifestação ou
aparescência) deles com as pessoas visíveis os atributos morais, transitórios e
2 Tal unidade é a physis e a identidade fundada na diferença que ela comporta deve ser pensada
como determinante do ser, que é um traço desta identidade. De modo contrário à identidade
metafísica, amparada no princípio da unidade do mesmo consigo mesmo e representada como um
traço do ser (Heidegger, 1968b[1957]: 262).
Epílogo
275
flexíveis.3 Aqui há uma correlação entre verdade, presença e percepção que
subverte a verdade enquanto discurso (lógos), uma característica encontrada em
outras formas de racionalidades não-metafísicas.
“Em sentido grego, o que é ‘verdadeiro’, de modo ainda mais originário
do que o
(lógos), é a
(aisthesis, termo gerador de
Estética4), a simples percepção sensível de alguma coisa”.
]Heidegger, 1989(1927): 64, § 7, b[
Tais referências à percepção qualificam as pessoas invisíveis e também as
ordenam dentro da escala regional de distâncias sociais. Os Encantado, por
exemplo, que apreciam o cheiro do mênstruo e copulam com mulheres visíveis,
como a cobra Kadeikaru e o Djab dã buá Ho-ho, ocupam o lugar dos estrangeiros
distantes, perigosos raptores de mulheres; ao passo que Laposinie, apreciador de
um caxiri bem feito, como os próprios índios, são os principais agentes de cura
consorciados ao pajé e com quem é possível haver trocas matrimoniais (Cf. Anexos
– M. 04).
Com todas as pessoas invisíveis, entretanto, haverá a possibilidade de se
estabelecer relações recíprocas de qualidades diferentes, pois o que afirma o
estatuto de pessoa é justamente a capacidade de manter relações com outras
pessoas (Hamlyn, 1984: 201-202). E o índice de tal qualidade é psyche (que prefiro
traduzir por vontade ou intencionalidade) e zoe (anima), funções decorrentes da
relação e não suas condições. Onde dá-se o inverso, onde as possibilidades e
qualidades de relações decorrem do estatuto da pessoa assimetricamente
distribuído, há as distinções radicais entre os termos relacionados manifestos como
antíteses (sujeito/objeto; intencionalidade/objetividade; pessoa/coisa etc.). Nesse
3 Para uma etnografia da presença simbólica dos sentidos nos ritos de iniciação xamânica no centro
asiático, cf. Dulam (1998).
4 Na Crítica da Razão Pura a sensibilidade retorna à função gnosiológica depois de passar-se por
suspeita pelo racionalismo cartesiano. Para ant, os sentidos (intuições) são a origem do
conhecimento e dele participam tanto quanto o entendimento, já que “pensamentos sem conteúdos
são vazios; intuições sem conceitos são cegas” (CRP. Lógica Transcendental, A 51- 52).
Epílogo
276
domínio metafísico não há eqüipolência, posto que é a essentia de cada termo que
determina sua posição e qualidade frente aos termos alternos.
As redes de relações instituídas conforme o primeiro modelo, as redes
indígenas geradas no e pelo xamanismo e que distribuem persona, psyche e
agência entre os entes do cosmos seriam, assim, não-metafísicas. As redes
produzidas como modelos da antropologia que igualmente buscam a simetria e
eqüipolência entre termos tradicionalmente polares (sujeito/objeto :: pessoa/coisa) a
fim de compreender fenômenos recentes – como aquelas formuladas a partir do
domínio tecnológico da automação que esmaece as fronteiras entre o técnico e o
social, entre as “coisas” e os “sujeitos” (Latour, 1988, 1999; Ingold, 2000) – seriam
pós-metafísicas.
Foi preciso percorrer um longo trajeto que instituiu a hegemonia da
purificação dos termos “humano” e “não humano” através do conceito – embora,
como comprova Latour (1994: 16), tais práticas purificantes tenham sido
acompanhadas de perto pela criação de entes híbridos de natureza e cultura – até
chegarmos ao ponto dos fenômenos sociais contemporâneos que apelam para a
ineficácia dos termos purificados. E o mesmo motor que conduziu ao longe a
purificação dos entes através do conceito é responsável por sua crítica e julgamento.
Pois a metafísica, através da ciência e da filosofia, é guardiã de si mesma e, como
tal, vigia, avalia e sentencia os próprios passos.
Vemos agora outro tema central na tese e que decorre imediatamente do
anterior: artefatos são sujeitos sociais. Procurei abordar este ponto tomando por
saída a produção de artefatos-pessoa na atividade ritual de preparação do turé
(Capítulo V). O que tentei marcar é que bancos, mastros, flautas-turé (Karamatá
para os Galibi-Marworno) e alguns maracás (notadamente aqueles utilizados pelos
pajés) não são produzidos como representação figurativa, mas são sujeitos sociais,
pessoas inteiras com as quais as pessoas visíveis estabelecem relações sociais.
Uma fala de Levên sobre os objetos rituais de seu pai deve ilustrar o que digo:
Epílogo
277
Quando ele morreu ficou todo mundo chorando; “Meu pai morreu”, os
filhos tudo chorando. Depois lembraram das coisas dele: “Vamos ver as
coisas de papai”. “Já foi embora, já foi: banco, pakará, maracá, tudo que
estava aí”.
Quem levou?
Elas mesmas foram embora, as coisas mesmas que foram. Sabem que
o dono delas já morreu: “Vamos embora”. O cemitério aqui tem quatro
buracos de cobra grande, assim por trás. A pessoa é que não vê. As
coisas desceram, pegaram o campo e foram, se arrastando. Nós
ficamos “cadê, cadê, cadê o banco de papai, paraká com tudo?”.
“Foram embora”. Andaram na beira do campo, até perto do cemitério, já
pra chegar no buraco. Quando enxergaram as coisas elas estavam
perto mesmo de chegar no buraco. Demorou pouquinho e pegaram
elas. Os dois outros filhos de meu pai as pegaram, chorando com o
pakará, o banco. Conversa com elas (as coisas). O banco tinha ido com
o pakará nas costas e os maracás dentro, se arrastando. Conversa com
elas, chorando: “Nos deixaram sozinhos, papai já morreu”. Aí ficaram
conversando com elas, juntaram tudo e voltaram.
Levên. Kumarumã, julho de 2005.
Os bancos rituais, utilizados seja pelo pajé, privativamente, ou de uso coletivo
dentro do lakhu, são pessoas. Não se trata de uma representação morfológica, mas
de uma morfologia com psyche. Como afirmei no capítulo V, a relação aqui entre
forma e figura é, de meu ponto de vista, exatamente análoga àquela que há entre
significado e significante nas fórmulas incantatórias dos potás. Ou seja, assim como
as palavras são entes com psyche e não mera representação simbólica, os bancos
não são apenas representações plásticas de conceitos. Assim, a relação dirigida aos
bancos, e também aos mastros rituais, deve seguir um protocolo sério que, em
sendo descumprido, acarretará em punições na forma de lamane, caso o contexto
de relação seja o turé.
Epílogo
278
A psyche aqui é o vigor que domina, assim como, para Heidegger, physis (=
psyche) é o vigor reinante. Psyche é também a potência precípua e fonte original da
ação, dela decorrendo a capacidade de agência dos entes. Portanto, o poder é “ter
vigor”, isto é, dominar ou preponderar-se às demais psyches, exercendo autoridade
ou influência sobre elas. Por isso que “em seu raio ilimitado de ação todos os entes
se equivalem” (Capítulo V, p. 230), seja a palavra no potá ou a Cobra Grande, pois
todos agem. As diferenças entre os entes expressam hierarquias e não substâncias.
Cura–agressão X feitiçaria
No Capítulo II procurei explorar as diversas qualidades de relações que
perpassam as permutas produzidas no campo do xamanismo no baixo Oiapoque,
indo da agressão à troca de conhecimentos. Este domínio amplo agrega as
populações indígenas da região, os “índios do Camopi” (Waiãpi e Emerillon do alto
Oiapoque), Saramaká e créoles da Guiana Francesa, além de populações nãoindígenas da região do Cassiporé e da cidade de Oiapoque. Autores apresentados
neste mesmo capítulo dão conta da antiguidade de tais redes de relações, com
destaque para a intensa atividade comercial dos séculos XIX e início do XX que
conduziu ao baixo Oiapoque comerciantes europeus de várias nacionalidades,
chineses, árabes e negros provenientes da Guiana Francesa e do Suriname, fluxo
que continuava a significativa presença estrangeira na região.
Além das permutas de agressão e de conhecimento supra citadas, há de se
destacar os serviços prestados por pajés karipuna e galibi-marworno à vizinhança
não-indígena, tanto da Guiana Francesa quanto do rio Cassiporé. Tais serviços
foram citados por Arnaud (1970) que observou a atuação de pajés do rio Uaçá nas
vilas ao longo do rio Cassiporé, expediente vantajoso para eles, haja vista
receberem em troca pagamentos em dinheiro e em bens materiais (Arnaud, 1970:
11). Por outro lado, ainda hoje pajés Saramaká são procurados por índios brasileiros
da região que crêem na sua excepcional competência terapêutica e poder de
agressão. Esta ampla presença de segmentos ligados ao xamanismo e de origem
Epílogo
279
variada (indígena, saramaká, créole, brasileiro) compõe um campo regional de
disputas dirigidas à prestação de serviços especializados (cura, divinações etc.) e de
intercâmbios de práticas rituais. Nesse último ponto, destacam-se referências à
umbanda, espiritismo e mesa branca no xamanismo regional, notadamente dos
Karipuna (Tassinari, 1998: 235), incorporações que agregam novos valores às
práticas xamânicas na região.
Abordei no capítulo II dois discursos distintos presentes no xamanismo
regional; um consoante com o continuum cura-agressão e o outro situado na
distinção entre esses dois termos que passam a compor domínios mutuamente
autônomos donde deriva a noção de feitiçaria e de feiticeiro. Pretendendo
compreender a coexistência de visões distintas e, de certo modo, antagônicas,
procurei mapear alguns campos onde elas se exprimem. A visão sustentada no
continuum cura-agressão é percebida com maior clareza no rito de extração do
agente patológico que descrevi no capítulo III. Neste rito a obtenção da cura plena
tem como prerrogativa a devolução da agressão, enviando-se de volta ao remetente
o agente patológico extraído do corpo do doente. O ato de curar não ocorre sem o
ato de agredir, posto que uma agressão implica em outra, imediatamente. O
xamanismo no baixo Oiapoque apresentaria os elementos que fazem dele um
sistema integrado de trocas (positivas e negativas; cura e agressão) conforme foi
demonstrado para a região das Guianas (Gallois, 1988, 1996; Whitehead, 2002;
Albert, 1985) e Amazônia em geral.
Inversamente, nas sessões de consulta chamadas xitotó o acento recai sobre
a cura e a não-agressão, atribuindo-se a prática do assalto a especialistas. A fim de
se isentar de qualquer incriminação sobre o recurso à agressão, o pajé karipuna
anuncia publicamente, no início de cada xitotó, que somente “trabalha com Deus”
visando produzir curas (Tassinari, 1998: 246, 1999: 465; Dias, 2000: 176), num
nítido discurso que opõe a agressão ao ato de curar. Contudo, e segundo foi visto no
Capítulo II, quando se exprimem em patois, os índios do baixo Oiapoque utilizam a
palavra de origem caribe piaii para designar tanto pajé, quanto feiticeiro, soprador,
potá e a agressão xamânica. De maneira semelhante, vi algumas vezes Levên
afirmar publicamente, antes de iniciar uma sessão de cura e cantos, que trabalhava
Epílogo
280
para fazer o bem, se consorciando apenas a Karuãna bem intencionados. Se os
anúncios públicos da opção pela cura e pela beneficência são apenas uma maneira
de se antecipar a possíveis imputações e a distinção cura/agressão está somente no
discurso defensivo, é difícil saber. Pois, paralelamente ao rito de extração e
devolução do agente patológico, quando a retaliação é claramente cumprida como
parte da terapêutica, há as incorporações, apropriações e experiências com outras
visões sobre o xamanismo, conforme expus resumidamente no parágrafo
antecedente e de maneira mais detida no Capítulo II.
A formação de um campo da feitiçaria no baixo Oiapoque pode ser resultado
desses diálogos históricos que continuam muito vivos no presente, posto que o
domínio autônomo da agressão, separado da cura, não parece ser uma noção
própria ao xamanismo indígena. O que se entende por feitiçaria, a prática xamânica
voltada exclusivamente para a produção de maleficências comumente realizadas
como doenças, é uma noção alóctone ao universo indígena, posto que as teorias
etiológicas na Amazônia e em demais regiões etnográficas, não imaginam o
processo de cura apartado do processo de agressão e produção de nova doença. O
desenvolvimento de tal campo no baixo Oiapoque – aglutinando matrizes diversas,
sobretudo européias e negras – se deu, entretanto, em paralelo à manutenção de
ritos operantes mediante o continuum cura-agressão.
Ocorre, então, a vigência de níveis e momentos distintos da teoria etiológica
regional, correspondendo a uma homilia pro-feitiçaria (digo, que afirma a autonomia
dos campos da cura e da agressão) e um ritual contra, afirmando a interdependência
desses domínios. O rito de extração do agente patológico junta cura e agressão,
demonstrando a indissociabilidade desses termos; o discurso em português separa,
ao falar em feitiçaria como um campo autônomo de agressão e; o discurso em patois
junta novamente ao adotar a palavra de origem caribe piaii para designar coisas
como pajé, agressão e potá.
***
Epílogo
281
Finalizando e retomando pontos do início, é mister que todos os
caminhos aqui abordados conduzem ao problema da constituição de
categorizações válidas para realidades diferentes. Pois “se os mundos
ameríndios fogem continuamente de definições e caracterizações inequívocas
(e não apenas no tocante à sua organização política), é certamente porque
sua filosofia bipartite supõe o constante jogo entre possibilidades antitéticas”
(Perrone-Moisés, 2006: 49).
283
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBERT, Bruce. 1985. Temps du sang, temps des cendres. Représentation de la
maladie, système rituel et espace politique chez les Yanomami du sud-est
(Amazonie brésilienne). Tese de Doutorado. Paris: Laboratoire d’Ethnologie et
de Sociologie Comparátive - Université de Paris X.
ALBERT, Bruce. 1993. “L’or cannibale et la chute du ciel: une critique chamanique
de l’économie politique de la nature”. L’Homme, XXXIII(2-4), 126-128, pp. 349378.
ALBERT, Bruce. 2002. “Introdução”. In: Bruce Albert & Alcida Ramos (orgs.)
Pacificando o branco. Cosmologias do contato no Norte-Amazônico. São Paulo:
Editora UNESP/Imprensa Oficial do Estado
ANDRADE, Lúcia M. M. de. 1992. O corpo e o cosmos. Relações de gênero e o
sobrenatural entre os Asuriní do Tocantins. Dissertação de Mestrado em
Antropologia Social. São Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
ARISTÓTELES. Metafísica. Edição trilíngue por Valentín García Yebra. Madrid:
Editorial Gredos, 1982 (2ª edição).
ARNAUD, Expedito. 1968a. “O parentesco entre os índios Galibi do Oiapoque”.
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, nova série, Antropologia, n. 33, pp.
1-11.
ARNAUD, Expedito. 1968b. “Referência sobre o sistema de parentesco dos índios
Palikur”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, nova série, Antropologia, n.
36, pp. 1-21.
ARNAUD, Expedito. 1970. “O xamanismo entre os índios da região do Uaçá”.
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, nova série, Antropologia, n. 44, 122.
ARNAUD, Expedito. 1984. “Os índios Palikur do rio Urucauá: tradição tribal e
protestantismo”. Publicação do Museu Paraense Emílio Goeldi, nova série, n.
38.
Referências Bibliográficas
284
ARNAUD, Expedito. 1989a[1966]. “Os índios Galibi do rio Oiapoque: tradição e
mudança”. In: O índio e a expansão nacional. Belém: CEJUP.
ARNAUD, Expedito. 1989b[1969]. “Os índios da região do Uaçá (Oiapoque) e a
proteção oficial brasileira”. In: O índio e a expansão nacional. Belém: CEJUP.
ARNAUD, Expedito. 1996. “O sobrenatural e a influência cristã entre os índios do rio
Uaçá (Oiapoque, Amapá): Palikur, Galibi e Karipuna”. In: E. J. Matteson
Langdon (org). Xamanismo no Brasil: novas perspectivas. Florianópolis: Editora
da UFSC.
ASSIS, Eneida Corrêa de. 1981. Escola indígena: uma “frente ideológica”?
Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Brasília: PPGAS-UNB.
AUSTIN, John Langshaw. 1962. How to do things with words. Oxford: Clarendon
Press.
BARCELOS NETO, Aristóteles. 2004. Apaapatai: rituais de máscaras no Alto Xingu.
Tese de Doutorado em Antropologia Social. São Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
BARTH, Fredrik. 1987. Cosmologies in the making: a generative approach to cultural
variation in inner New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press.
BARTH, Fredrik. 1995. “Other knowledge and others ways of knowing”. Journal of
Anthropological Research, vol. 51, pp. 65-68.
BARTH, Fredrik. 2002. “An anthropology of knowledge”. Current Anthropology, 43(1),
pp. 1-18.
BÉAUFRET, Jean. 1955. Le poème de Parménide. Paris: Presses Universitaires de
France.
BIRD-DAVID, Nurit. 2006. “Animistic epistemology: why do some hunter-gatherers
not depict animals?”. Ethnos, vol. 71(1), pp. 33-50.
BOCCARA, Guillaume. 2001. “Mundos Nuevos en las Fronteras del Nuevo Mundo:
Relectura de los Procesos Coloniales de Etnogénesis, Etnificacíon y Mestizaje
en Tiempos de Globalizacíon”. In: Mundo Nuevo/Nuevos Mundos.
(www.ehess.fr/cerma/Revue/indexCR.htm). Acessado em 22/10/2001.
Referências Bibliográficas
285
BOURDIEU, Pierre. 1998[1989]. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
BUCHILLET, Dominique. 2004. “Sorcery beliefs, transmission of shamanic
knowledge, and therapeutic practice among the Dessana of the Upper Rio
Negro region, Brazil”. In: Neil L. Whitehead & Robin Wright (eds.) In darkness
and secrecy. The anthropology of assault sorcery and witchcraft in Amazonia.
Durham: Duke University Press.
BUTT, Audrey. 1966. “The shaman’s legal role”. Revista do Museu Paulista, Nova
Série, XVI, pp. 151-186.
CAPIBERIBE, Artionka M. G. 2001. Os Palikur e o cristianismo. Dissertação de
Mestrado em Antropologia Social. São Paulo: IFCH/UNICAMP.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1993. “O movimento dos conceitos na
antropologia”. Revista de Antropologia, v. 36, pp. 13-31.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela & VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 1986.
“Vingança e temporalidade: os Tupinambá”. Anuário Antropológico (1985), pp.
57-78.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 1998. “Pontos de vista sobre a floresta
amazônica: xamanismo e tradução”. Mana, 4(1), pp. 7-22.
CARNEIRO LEÃO. Emmanuel. 1993. “Introdução”. In: Os pensadores originários:
Anaximandro, Parmênides, Heráclito. Petrópolis: Vozes
CARVALHO, Fernada. 1996. Koixomuneti e outros curadores: xamanismo e práticas
de cura entre os Terena. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São
Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
CARVALHO, Maria R. G. de. 2002. Os Kanamari da Amazônia Ocidental. História,
mitologia, ritual e xamanismo. Salvador: Fundação Casa de Jorge
Amado/FAPESB.
CARVALHO, Maria R. G. de. 2003. Índios Kiriri do sertão baiano na
contemporaneidade: etnicização do discurso xamânico? Projeto de Pesquisa
apresentado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica CNPq/UFBA, Seleção 2003. Salvador: dig.
Referências Bibliográficas
286
CAVALCANTE, Márcia Chebab de Sá. 1992. “A razão da imanência”. In: Samuel
Chaim Katz & Francisco Antônio Doria (orgs). Razão/Desrazão. Petrópolis:
Vozes.
CESARINO, Pedro de Niemeyer. 2003. Palavras torcidas: metáfora e personificação
nos cantos xamanísticos ameríndios. Dissertação de Mestrado em Antropologia
Social. Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional -UFRJ.
CHAUMEIL, Jean-Pierre. 1983. Voir, savoir, pouvoir: le chamanisme chez les Yagua
du Nord-Est péruvien. Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.
CHAUMEIL, Jean-Pierre. 1985. “Échange d’énergie: guerre, identité et reproducion
sociale chez les Yagua de l’Amazonie Péruvienne”. Journal de la Societe des
Americanistes, LXXI, pp. 143-157.
CHAUMEIL, Jean-Pierre. 1992. “Varieties of Amazonian shamanism”. Diogenes, n.
158, pp. 101-113.
CLASTRES, Pierre. 1972. Chronique des indiens Guayaki. Paris: Librairie Plon.
CLASTRES, Pierre. 1982. Arqueologia da violência. Ensaio de antropologia política.
São Paulo: Brasiliense.
CORNFORD, Francis Mcdonald. 1952. Principium Sapientiæ. The origins of Greek
philosophical thought. Cambridge: Cambridge University Press.
COSTA, Newton C. A. da & ABE, Jair Minoro. 2000. “Paraconsistência em
informática e inteligência artificial”. Estudos Avançados, 14(39), pp. 161-174.
COSTA, Newton C. A. da. 1997. Logiques classiques et non classique: essai sur les
fondements de la logique. Paris: Masson.
COUDREAU, Henri. 1887. La France Équinoxiale. Voyage a travers les Guyanes et
l’Amazonie (vol. II). Paris: Challamel Ainé Éditeur.
COUDREAU, Henri. 1893. Chez nos Indiens. Quatre annés dans la Guyane
Française (1887-1891). Paris: Librairie Hachette et Cie.
Referências Bibliográficas
287
CURD, P. K. 1992. “Deception and belief in Parmenides’s Doxa”. Apeiron, 25, pp.
109-133.
CURD, P. K. 1999. The legacy of Parmenides. Princeton: Princeton University Press.
D’AVITY, Pierre. 1643. Description generale de l’Amerique. Troisiesme partie du
monde. Paris: Laurent Cottereau.
DESCOLA, Philippe & LORY, Jean-Luc. 1982. “Les guerriers de l’invisible. Sociologie
comparative de l’agression chamanique en Papouasie Nouvelle-Guinée
(Baruya) et Haute-Amazonie (Achuar) “. In: L’Ethnographie (Voyages
chamaniques deux). LXXVIII, n. 87-88, pp. 85-111.
DESCOLA, Philippe. 1998. “Estrutura ou sentimento: a relação com o animal na
Amazônia“. Mana, 4(1), pp. 23-45.
DETIENNE, Marcel & VERNANT, Jean-Pierre. 1974. Les ruses de l’intelligence: la
Métis des grecs. Paris: Flammarion.
DETIENNE, Marcel. 1981. L’invention de la mythologie. Paris: Gallimard.
DIAS, Laércio Fidelis. 2000. Uma etnografia dos procedimentos e dos cuidados com
a saúde das famílias Karipuna. Dissertação de Mestrado em Antropologia
Social. São Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
DIAS, Laércio Fidelis. 2005. O bem beber e a embriaguez reprovável segundo os
Povos Indígenas do Uaçá. Tese de Doutorado em Antropologia Social. São
Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
DREYFUS, Simone. 1981. Le peuple de la rivière du milieu: esquisse pour l’étude de
l’espace social palikur, in “orients“ pour Georges Condominas. Paris: ed.
Sudestasie - Privat.
DULAM, S. 1998. “Les sens et le chamanisme en Mongolie”. In: Colette Méchin,
Isabelle Bianquis e David Le Breton (eds.) Anthropologie du sensoriel: les sens
dans tous les sens. Paris: L’Harmattan.
DURKHEIM, Émile & Mauss, Marcel. 1981[1903]. “Algumas formas primitivas de
classificação”. In: José Albertino Rodrigues (org.) Durkheim. São Paulo: Ática.
Referências Bibliográficas
288
ELIADE, Mircea. 1986[1951]. El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis.
Ciudad del México: Fondo de Cultura Económica.
FAUSTO, Carlos. 2001. Inimigos fiéis: história, guerra e xamanismo na Amazônia.
São Paulo: EDUSP.
FAUSTO, Carlos. 2004. A blend of blood and tobacco: shamans and jaguars among
the Parakanã of Eastern Amazonia. In: Neil L. Whitehead & Robin Wright (eds.)
In darkness and secrecy. The anthropology of assault sorcery and witchcraft in
Amazonia. Durham: Duke University Press.
FERNANDES, Eurico. 1950. “Medicina e maneiras de tratamento entre os índios
Palikur”. América Indígena, X(4), pp. 309-320.
FERNANDES, Eurico. 1953a. “Os Galibi”. In: Cândido Mariano da Silva Rondon
(org.) Índios do Brasil – das cabeceiras do Rio Xingu, dos Rios Araguaia e
Oiapoque (vol. II). Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Proteção aos Índios /
Ministério da Agricultura.
FERNANDES, Eurico. 1953b. “Os Caripuna”. In: Cândido Mariano da Silva Rondon
(org.) Índios do Brasil – das cabeceiras do Rio Xingu, dos Rios Araguaia e
Oiapoque (vol. II). Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Proteção aos Índios /
Ministério da Agricultura.
FINKELBERG, A. 1986. “The cosmology of Parmenides”. American Journal of
Philology, 107, pp. 303-17.
GALLOIS - CEDI, 1983. Povos Indígenas no Brasil. Vol 3 – Amapá e Norte do Pará.
São Paulo.
GALLOIS, Dominique Tilkin. 1986. Migração, guerra e comércio: os Waiãpi na
Guiana. São Paulo: Gráfica da FFLCH-USP (Série Antropologia, n. 15).
GALLOIS, Dominique Tilkin. 1988. O movimento na cosmologia Waiãpi: criação,
expansão e transformação do universo. Tese de Doutorado em Antropologia
Social. São Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
Referências Bibliográficas
289
GALLOIS, Dominique Tilkin. 1996. “Xamanismo Waiãpi: nos caminhos invisíveis, a
relação i-paie” In: E. J. Matteson Langdon (org). Xamanismo no Brasil: novas
perspectivas. Florianópolis: Editora da UFSC.
GALLOIS, Dominique Tilkin (org.). 2005. “Introdução”. In: Redes de relações nas
Guianas. São Paulo: Associação Editorial Humanitas; FAPESP.
GALVÃO, Eduardo. 1955. Santos e visagens. Um estudo da vida religiosa de Ita
(Amazonas). São Paulo: Ed. Nacional (Série Brasiliana, v. 284).
GONÇALVES, Marco Antonio. 2001. O Mundo inacabado: ação e criação em uma
cosmologia amazônica. Etnografia Pirahã. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
GOW, Peter. 1991. Of mixed blood. Kinship and history in Peruvian Amazonia.
Oxford: Clarendon Press.
GOW, Peter. 1994. “River people: shamanism and history in Western Amazonia”. In:
Nicholas Thomas & Caroline Humphrey (eds.). Shamanism, history and the
state. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
GOW, Peter. 2001. An Amazonian myth and its history. Oxford: Oxford University
Press.
GRENAND, Françoise & GRENAND, Pierre. 1987. “La côte d’Amapa, de la bouche
de l’Amazone à la baie d’Oyapock à travers la tradition orale palikur. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Antropologia, 3(1), pp. 1-77.
GRUPIONI, Denise Fajardo. 2005. “Tempo e espaço na Guiana indígena”. In:
Dominique T. Gallois (org.) Redes de relações nas Guianas. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas / FAPESP.
HAMAYON, Roberte N. 1998. “Les sens de l’‘alliance’ religieuse. ‘Mari’ d’esprit,
‘femme’ de dieu”. Anthropologie et Sociétés, 22(2), pp. 59-71.
HAMLYN, D. W. 1984. Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.
HAVT, Nadja. 2001. Representações do ambiente e territorialidade entre os Zo’e /
PA. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São Paulo:
PPGAS/FFLCH-USP.
Referências Bibliográficas
290
HEIDEGGER, Martin. 1968a[1938]. “Qu’est-ce que la métaphysique?”. In: Martin
Heidegger. Questions I (Classiques de la philosophie). Paris: Gallimard.
HEIDEGGER, Martin. 1968b[1957]. “Identité et différence”. In: Martin Heidegger.
Questions I (Classiques de la philosophie). Paris: Gallimard.
HEIDEGGER, Martin. 1979[1928]. “A determinação do ser do ente segundo Leibniz”.
In: Martin Heidegger: Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril
Cultural.
HEIDEGGER, Martin. 1987[1953]. Introdução à metafísica. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro.
HEIDEGGER, Martin. 1989[1927]. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes.
HEIDEGGER, Martin. 1991 [1968]. “La fin de la philosophie et la tâche de la pensée”.
In: Martin Heidegger. Questions IV (Classiques de la philosophie). Paris:
Gallimard.
HEIDEGGER, Martin. 2001a[1954]. “Science et méditation” In: Martin Heidegger.
Essais et conférences. Paris: Gallimard.
HEIDEGGER, Martin. 2001b[1954]. “Dépassement de la métaphysique” In: Martin
Heidegger. Essais et conférences. Paris: Gallimard.
HEIDEGGER, Martin. 2002a. “A origem do pensamento ocidental”. In: _ Heráclito.
Rio de Janeiro: Relume Dumará.
HEIDEGGER, Martin. 2002b. “Lógica. A doutrina heraclítica do logos”. In: _ Heráclito.
Rio de Janeiro: Relume Dumará.
HILL, Jonathan D. 1996. “Introduction”. In: Jonathan David Hill (org.) History, Power
and Identity. Ethnogenesis in the Americas, 1942-1992. Iowa: University of Iowa
Press.
HORNBORG, Alf. 2006. “Animism, fetishism, and objectivism as strategies for
knowing (or not knowing) the world”. Ethnos, vol. 71(1), pp. 21-32..
Referências Bibliográficas
291
HUGH-JONES, Stephen. 1994. “Shamans, prophets, priests and pastors”. In:
Nicholas Thomas & Caroline Humphrey (eds.). Shamanism, history and the
state. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
INGOLD, Tim. 2000. The perception of environment: essays in livelihood, dwelling
and skill. London: Routledge.
INGOLD, Tim. 2006. “Rethinking the animated, re-animating thought”. Ethnos, vol.
71(1), pp. 9-20.
KANT, Immanuel. 1994[1781]. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian.
KOHLER, Florent. 2006. “Discours Ethniques t construction du territoire dans i’Uaçá,
Amapá. Comunicação apresentada no colóquio Guiana Ameríndia: etnologia e
história. Realização NHII-USP, EREA/CNRS e Museu Emílio Goeldi. Belém,
31/10 a 02/11/2006.
LAGROU, Elsje. 2004. Sorcery and shamanism in Cashinahua discourse and praxis,
Purus River, Brazil. In: Neil L. Whitehead & Robin Wright (eds.) In darkness and
secrecy. The anthropology of assault sorcery and witchcraft in Amazonia.
Durham: Duke University Press.
LANGDON, Esther Jean M. 1996. “Introdução: Xamanismo – velhas e novas
perspectivas”. In: _ (org). Xamanismo no Brasil: novas perspectivas.
Florianópolis: Editora da UFSC.
LANGDON, Esther Jean M. 2004. “Commentary”. In: Neil L. Whitehead & Robin
Wright (eds.) In darkness and secrecy. The anthropology of assault sorcery and
witchcraft in Amazonia. Durham: Duke University Press.
LATOUR, Bruno. 1988. “Mixing humans and nonhumans together: the sociology of a
door-closer”. Social Problems, vol. 35, n. 3, pp. 298-310.
LATOUR, Bruno. 1994. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Ed. 34
LATOUR, Bruno, 1999. Pandora’s hope: essays on the reality of science studies.
Harvard: Harvard University Press.
Referências Bibliográficas
292
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1962. La pensée sauvage. Paris: Librairie Plon.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 2005 [1966]. De la miel a las cenizas. México: Fondo de
Cultura Económica.
LIMA, Tânia Stolze. 1996. “O dois e seu múltiplo: reflexões sobre o perspectivismo
em uma cosmologia tupi”. Mana, 2(2), pp. 21-47.
LIMA, Tânia Stolze. 2005. Um peixe olhou para mim. O povo Yudjá e a perspectiva.
São Paulo: Editora UNESP/ISA; Rio de Janeiro: NuTI.
LLOYD, Geoffrey. 2006. Cognitive variations: the talk, dig.
LURKER, Manfred. 1989. Lexikon der Götter und Dämonen. Stuttgart: Alfred Kröner
Verlag.
MAUÉS, Raymundo Heraldo. 1990. A ilha encantada. Medicina e xamanismo em
uma comunidade de pescadores. Belém: Ed. UFPA.
MAUSS, Marcel. 2003[1938]. “Uma categoria do espírito humano: a noção de
pessoa, a de ‘eu’”. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify.
MCCALLUM, Cecilia. 1996. “Morte e pessoa entre os Kaxinawá”. Mana, 2(2), pp. 4984.
MERLEAU-PONTY, Maurice. 1945. Phénoménologie de la perception. Paris:
Gallimard.
MERLEAU-PONTY, Maurice. 1997[1964]. L’œil et l’esprit. Paris: Gallimard.
MÉTRAUX, Alfred. 1944a. “Le shamanisme chez les Indiens de l’Amerique du Sud
tropicale - I”. Acta Americana, vol II, n. 3, pp. 197-219.
MÉTRAUX, Alfred. 1944b. “Le shamanisme chez les Indiens de l’Amerique du Sud
tropicale - II”. Acta Americana, vol II, n. 4, pp. 322-341.
MÉTRAUX, Alfred. 1963. “Religion and shamanism”. In: Julian H. Steward (ed.)
Handbook of South American Indians. New York: Cooper Square Publishers.
Vol 5.
Referências Bibliográficas
293
MÜLLER, Regina Polo. 1993. Os Asuriní do Xingu: história e arte. Campinas: Editora
da UNICAMP.
MUSOLINO, Álvaro Augusto Neves. 1999. A Estrela do Norte: reserva indígena do
Uaçá. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Campinas:
IFCH/UNICAMP.
MUSOLINO, Álvaro Augusto Neves. 2006. Migração, identidade e cidadania Palikur
na fronteira do Oiapoque e litoral Sudeste da Guiana Francesa. Tese de
Doutorado em Antropologia Social. Brasília: CEPPAC/UNB.
NIMUENDAJÚ, Curt. 1926. Os índios Palikur e seus vizinhos. Tradução de Thekla
Hartmann do original “Die Palikur Indianer und ihre Nachbarn”. NHII/USP,
mimeo.
NIMUENDAJÚ, Curt. 1963. “The Aruã”. In: Julian H. Steward (ed.) Handbook of
South American Indians, vol. III, Washington D.C.: Smithsonian Institution &
Bureau of American Ethnology.
OSTWALD, Martin. 1990. “Nomos and Phusis in Antiphon’s Peri Alêtheias”. In:
Cabinet of the Muses. M. Griffith & D. J. Mastronarde (eds). Berkeley: Scholars
Press, pp. 293-306.
OVERING, Joanna & PASSES, Alan. 2000. “Introduction”. In: Joanna Overing & Alan
Passes (eds.) The anthropology of love and anger: the aesthetics of conviviality
in Native South America. London: Routledge.
OVERING, Joanna. 1983-1984. “Elementary structures of reciprocity: a comparative
note on guianese, central brazilian and north-weast amazon socio-political
thought”. Antropologica, 59-62, pp. 331-348.
OVERING, Joanna. 1995. “O mito como história: um problema de tempo, realidade e
outras questões”. Mana, 1(1), pp. 107-140.
OVERING, Joanna. 1999. “Elogio do cotidiano: a confiança e a arte da vida social
em uma comunidade amazônica”. Mana, 5(1), pp. 81-108.
Referências Bibliográficas
294
PASSES, Alan. 1998. The hearer, the hunter, and the agouti head: aspects of
intercommunication and conviviality among the Parikwene (Palikur) of French
Guiana. Tese de Doutorado em Antropologia Social. University of St. Andrews.
PASSES, Alan. 2000. “The value of working and speaking together. A facet of
Pa’ikwené (Palikur) conviviality”. In: Joanna Overing & Alan Passes (eds.) The
anthropology of love and anger: the aesthetics of conviviality in Native South
America. London: Routledge.
PASSES, Alan. 2006. “Not alone in the multiverse: borrowing from others, remain
Pa’ikwené (Palikur)”. Comunicação apresentada no colóquio Guiana Ameríndia:
etnologia e história. Realização NHII-USP, EREA/CNRS e Museu Emílio
Goeldi. Belém, 31/10 a 02/11/2006.
PATY, Michel. 2005a. “Inteligibilidade racional e historicidade”. Estudos Avançados
(IEA/USP), 19(54), pp. 369-390.
PATY, Michel. 2005b. “The question of rationality in front of the diversity of
knowledge practices”. Proceedings of the XXIst International Congress of
History of Science (Mexico, 2001), Universidad Autónoma de México &
Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnologia, CD-Rom,
México, 2005, vol. 42, p. 3261-3281.
PATY, Michel. A função de racionalidade. No prelo.
PÉREZ GIL, Laura. 2004. “Transformação do xamanismo e sociabilidade entre os
Yaminawa”. Comunicação apresentada no GT “Transformações indígenas: os
regimes de subjetivação à prova da história”. 28ª Reunião da ANPOCS,
Caxambu – MG.
PERRONE-MOISÉS, Beatriz. 2006. “Notas sobre uma certa confederação
guianense”. Comunicação apresentada no colóquio Guiana Ameríndia:
etnologia e história. Realização NHII-USP, EREA/CNRS e Museu Emílio
Goeldi. Belém, 31/10 a 02/11/2006.
PLATÃO. Parmênides. Lisboa: Editorial Inquérito, s/d.
PRICE, Richard. 2005. Liberdade, Fronteiras e Deuses: Saramakas no Oiapoque (c.
1900). mimeo
Referências Bibliográficas
295
QUINE, Willard Van Orman. 1966. The ways of paradox and others essays. Random
House. New York.
REESINK, Edwin Boudewijn. 1991. “Xamanismo kanamari”. In: Dominique Buchilet
(org.) Medicinas tradicionais e medicinas ocidentais na Amazônia. Belém:
MPEG/CNPq/CEPUJ, pp. 89-109
RIVIÈRE, Peter. 1995. “AAE na Amazônia”. Revista de Antropologia, 38(1), pp. 191203.
RIVIÈRE, Peter. 2001[1984]. O indivíduo e a sociedade na Guiana. São Paulo:
Edusp.
RODGERS, David. 2002 “A soma anômala: a questão do suplemento no xamanismo
e menstruação Ikpeng”. Mana, 8(2), pp. 91-125.
RODRIGUES, Patrícia de M. 2004. “O povo do meio: uma paradoxal mistura pura”.
Revista de Estudos e Pesquisa (CGEP/FUNAI), n 1(1), pp. 11-63.
RONDON, Cândido Mariano da Silva (org.). 1953. Índios do Brasil – das cabeceiras
do Rio Xingu, dos Rios Araguaia e Oiapoque (vol. II). Rio de Janeiro: Conselho
Nacional de Proteção aos Índios / Ministério da Agricultura.
RORTY, Richard. 1991. Essays on Heidegger and others: philosophical papers,
volume II. Cambridge: Cambridge University Press.
SMILJANIC, Maria Inês. 1999. O corpo cósmico: o xamanismo entre os Yanomae do
Alto Toototobi. Tese de Doutorado em Antropologia Social. Brasília:
PPGAS/ICS-UNB.
STRATHERN, Marilyn. 1998. “The concept of society is theoretically obsolete – For
the motion (1)”. In: Tim Ingold (ed.) Key Debates in Anthropology. London/New
York: Routledge.
SZTUTMAN, Renato. 2000. Caxiri, a celebração da alteridade. Ritual e comunicação
na Amazônia indígena. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. São
Paulo: PPGAS/FFLCH-USP.
Referências Bibliográficas
296
SZTUTMAN, Renato. 2005. “Sobre a ação xamânica”. In: Dominique T. Gallois (org.)
Redes de relações nas Guianas. São Paulo: Associação Editorial Humanitas /
FAPESP.
TASSINARI, Antonella M. I. 1998. Contribuição à história e à etnografia do Baixo
Oiapoque: a composição das famílias Karipuna e a estruturação das redes de
troca. Tese de Doutorado em Antropologia Social. São Paulo: PPGAS/FFLCHUSP (Publicada sob o título “No Bom da Festa: o processo de construção
cultural das famílias Karipuna do Amapá”. São Paulo: Edusp, 2003).
TASSINARI, Antonella M. I. 1999. “Xamanismo e catolicismo entre as famílias
Karipuna do Rio Curipi”. In: Robin Wright (org.) Transformando os deuses. Os
múltiplos sentidos da conversão ente os povos indígenas no Brasil. Campinas:
Editora da UNICAMP.
TASSINARI, Antonella M. I. 2006. “História e parentesco Galibi-Marworno”.
Comunicação apresentada no colóquio Guiana Ameríndia: etnologia e história.
Realização NHII-USP, EREA/CNRS e Museu Emílio Goeldi. Belém, 31/10 a
02/11/2006.
TEIXEIRA-PINTO, Márnio. 2004. Being alone amid others: sorcery and morality
among the Arara, Carib, Brazil. In: Neil L. Whitehead & Robin Wright (eds.) In
darkness and secrecy. The anthropology of assault sorcery and witchcraft in
Amazonia. Durham: Duke University Press.
VAN VELTHEM, Lúcia Hussak. 2003. O belo é a fera. Lisboa: Museu Nacional de
Etnologia / Assírio & Alvin.
VERNANT, Jean-Pierre. 1962. Les origenes de la pensée grecque. Paris: Presses
Universitaires de France.
VERNANT, Jean-Pierre. 1965. Mythe et pensée chez les grecs. Paris: François
Maspero.
VIDAL, Lux & TASSINARI, Antonela. 2002. “De cunhados a irmãos: afinidade e
consangüinidade Galibi-Marworno”. Comunicação apresentada no GT
Desenvolvimentos recentes do Americanismo Tropical. XXIII RBA, Gramado.
Referências Bibliográficas
297
VIDAL, Lux B. (no prelo). “A Cobra Grande: textos e pretexto”. In: Dominique T.
Gallois (org). Redes de relações nas Guianas (vol II). São Paulo: Associação
Editorial Humanitas / FAPESP.
VIDAL, Lux B. 1999. “O modelo e a marca, ou o estilo dos ‘misturados’: cosmologia,
história e estética entre os povos indígenas do Uaçá”. Revista de Antropologia,
42(1/2), pp
VIDAL, Lux B. 2000. “Outros viajantes”. Revista USP, 46, pp. 42-51.
VIDAL, Lux B. 2001a. “Mito, história e cosmologia: as diferentes versões da guerra
dos Palikur contra os Galibi entre os povos indígenas da Bacia do Uaçá,
Oiapoque, Amapá”. Revista de Antropologia, 44(1), pp. 117-147.
VIDAL, Lux B. 2001b “A pesquisa sobre a avifauna na bacia do Uaçá”. In: Aracy
Lopes da Silva & Mariana Ferreira (orgs). Práticas pedagógicas na escola
indígena. São Paulo: Global Editora/MARI/FAPESP.
VIDAL, Lux B. 2003. Roteiro de Viagem da Profa. Dra. Lux B. Vidal às Áreas
Indígenas, dig.
VIDAL, Lux B. 2004. Entrevista com Jairzinho (Turé). 27/01/2004, dig.
VIDAL, Lux B. 2004b. Cadernos de Campo. Aldeia Kumarumã, dig.
VIDAL, Silvia & WHITEHEAD, Neil L. 2004. “Dark shamans and the shamanic state:
sorcery and witchcraft as political process in Guyana and Venezuelan Amazon”.
In: Neil L. Whitehead & Robin Wright (eds.) In darkness and secrecy. The
anthropology of assault sorcery and witchcraft in Amazonia. Durham: Duke
University Press.
VIEGAS, Susana de Matos. 2003. “Eating with your favourite mother: time and
sociality in a Brazilian Amerindian community”. The Journal of the Royal
anthropological Institute. (N.S.) 9, pp. 21-37.
VIERTLER, Renate Brigitte. 1981. “Implicações de alguns conceitos utilizados no
estudo da religião e da magia de tribos brasileiras”. In: Thekla Hartman & Vera
P. Coelho (orgs.) Contribuições à antropologia em homenagem ao professor
Egon Schaden. São Paulo: Coleção Museu Paulista, Série Ensaios. Vol 4.
Referências Bibliográficas
298
VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como gente. Rio de Janeiro: ANPOCS/UFRJ
Editora.
VILAÇA, Aparecida. 2000. “O que significa tornar-se outro? Xamanismo e contato
interétnico na Amazônia”. RBCS, 15(44), pp. 56-72.
VISHWA. P. Adluri. 2001. Mortal Knowledge in Parmenides and Plato. A Study in
Phusis, Journey, Thumos and Eros. Tese de Doutorado. New York: Department
of Philosophy - New School University.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 1986. Araweté: os deuses canibais. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editores / ANPOCS.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 1996. “Os pronomes cosmológicos e o
perspectivismo ameríndio”. Mana, 2(2), pp. 115-144.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 2002a. “O nativo relativo”. Mana, 8(1), pp. 113148.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 2002b. A inconstância da alma selvagem. São
Paulo: Cosac & Naify.
WHITEHEAD, Neil L. & WRIGHT, Robin (eds.). 2004. In darkness and secrecy. The
anthropology of assault sorcery and witchcraft in Amazonia. Durham: Duke
University Press.
WHITEHEAD, Neil L. 1994. “Kanaimà: Shamanism and ritual death in the Pakaraima
Mountains, Guyana”. In: Nicholas Thomas & Caroline Humphey (eds)
Shamanism, history and the state. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
WHITEHEAD, Neil L. 2002. Dark shamans: Kanaimà and the poetics of violent death.
Durham & London: Duke University Press.
Referências Bibliográficas
299
WRIGHT, Robin. 2004. “The wicked and the wise men: witches and prophets in the
history of the Northwest Amazon”. In: Neil L. Whitehead & Robin Wright (eds.)
In darkness and secrecy. The anthropology of assault sorcery and witchcraft in
Amazonia. Durham: Duke University Press.
ANEXOS
Mapas
Calendário ecológico
Quadro das aldeias
Caderno de Fotografias
Mitologia
!
$
"
#
&
#
'( ) #
%
#
(
&
#
'
#
#
"
*
+
+
%
,
# -
"
.%
!
&
!"
#
$ %#
+
.
#
'
"
/
.0
#
#
!
1
#
.
.
,
)#
$
7 #
!
!
#
# /
#
!
#
! .%
!
(
#
1 / 2
3
%
4
%
!
(
!5
6
. (
*#
# / (
#
8
&'()
.
"
+
+
#
# #
. 5
'
&
# -
9
"
*
+
+
:
#
; . <
#
.
%
,
# -
#
"
.
%
() #
!
"
3
!"
#
$ %#
.%
"
&
8
9
#
.%
,
!
+
%
! %
+
'
!
#
=8
(
>
!
(?
(
-
%
.
#
# 5
-
" #
?
7 D EF
,
.%
# -
.%
(
(7 + %
$( 3
8(
#
9( " >( 7
G( 3
%
H(
3
3
3
3
3
3
3
3
#
#
#
#
#
#
#
#
K(:
A
=( #5 :
(C #
(" /
$( L
8( @
+0
9( @
%
>( @ # 4
G( C 4
!
H( I
4
K(
=(7 .
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
(: % C
(3
$( F
8( @
9( ;
>( 7
G(
H(
K(3
$= ( "
$ (3
$ (O
*
I
I
I
I
I
D
3
+
"
M
J
M M J
M
J
%
" J
J E
"
"
"
"
"
"
"
"
"
AA>
@ AB ; .
*
#
==$&
J
J
J
J
J
J
J
J
J
> @
#
= 8 ! 5 &! (E = = G'
G " #
.%
, # H
5
==>#
5
3
9>
>
G
=>
K
K9
# -
$K
D
D
;
;
J
J
>$H
GG
; J
; J
; J
; J
; J
; J
; J
; J
9> &J H= '
8H
$
9$
88
N
$K
G$
G$
8H
D ; .
I D 9> &J K = '
I D 9> &J H>'
D , # I D 9> &J
= '
D ; .
>>
$=
>=
=8
N
N
#
%(
9
$H>
$
G
$G
,
(" #
5
&! (E = = G'( 7
@A; . (
! 5
!"
>8
G
$G
$H
$G
G
99
8K
D
=9 !
%(
'(
* # + !"
D 9> &J G= '
D 9> &J >H'
D 9> &J >= '
D 9> &J 9= '
D 9> &J 8= '
D , # D , # #
J
H I D 9>
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
#
D
D
D
D
D
D
D
D
ID
$$( 3
%
$8( @ J M
$9( :
$>( P +
G
$G( 7
H
$H( 7
0
C
#
#
.%
==>
; . (
[Anexos] – Mitos
i
M. 01
Wamuí
Havia um velho Palikur que estava doente. Ele tinha muitas feridas e febre, mas não
morria. Ele, então, disse:
- “Eu estou sofrendo muito. Tenho muitas feridas, febre muita e não morro. Eu vou
me matar; vou tomar banho no rio e a cobra vai me puxar”.
O neto perguntou:
-“Aonde você vai, vovô?”
-“Eu vou tomar banho”.
Ele foi para a beira do rio e ficou fazendo barulho para atrair a cobra. A mulher do
Cobra Grande disse para o marido dela:
-“Olha um papagaio fazendo barulho”.
Eles estavam comendo.
-“Vai lá e pega ele pra mim”.
O marido disse:
-“Eu vou”.
Ele é uma pessoa; quando pegou o paletó dele, vestiu e virou cobra. Então ele foi.
Quando chegou lá viu um papagaio, todo ferido. Disse:
-“Não vou atirar nele, vou voltar”.
Voltou e a mulher perguntou:
-“Cadê o papagaio?”.
-“Eu não atirei porque ele está cheio de feridas e muito velho, não presta pra comer”.
-“Eu disse pra você pagá-lo pra mim, vai atirar nele”.
-“Então, eu vou lá de novo”.
Ele atirou só no braço, pegou e levou para mulher dele. Aquele braço ferido é asa, é
asa para Cobra Grande. Atirou e levou pra mulher dele:
-“Você viu agora? Eu não disse que não presta pra comer?”.
Colocou o papagaio no girau e depois a mulher falou:
-“Vamos curá-lo, vamos pegar folhas pra fazer remédio pra ele”.
Tinha uma bacia igual a ouro, era de ouro a bacia dele. Colocou o velho lá e fez
remédio pra ele tomar banho. Deu banho nele e sarou tudo, todas as feridas
sararam, até o baço dele ficou bom. A mulher perguntou:
-“Que vamos fazer com ele agora?”.
-“Vamos deixá-lo aqui para ele nos ajudar, ajudar a mariscar e tudo mais”.
-“Será que ele não vai contar para a família dele?”.
-“Não, não vai não”.
A mulher estava receosa, tinha cuidado. A casa da Cobra Grande era cheia de ouro,
tudo de ouro. Um dia o velho estava na areia, numa areia bonita, e escutou
papagaios que iam tomar banho. A mulher falou para o marido:
[Anexos] – Mitos
ii
-“Vai lá pegá-los para mim”.
-“Não, agora nós vamos colocar o paletó no rapaz”.
Depois do remédio, depois do banho, o velho virou um rapaz novo. A Cobra o
chamou:
-“Vai lá pegar papagaio na beira do rio”.
Colocou o paletó nele e virou cobra. Eram pessoas mesmo, tudo pessoa, mas
quando colocam o paletó viram cobra, com uma língua comprida. O rapaz foi lá e viu
seus parentes no rio, a família dele. Não queria matar seus parentes, aí atirou fora.
Ele voltou e a mulher, a mãe dele agora, perguntou:
-“Cadê os papagaios?”.
-“Eu não acertei nenhum”.
-“Porque você não acertou?”.
Ela então virou para o marido:
-“Você tirou o braço dele para ajeitar?”.
-“Não tirei não”.
-“Então, eu vou ajeitá-lo”.
Pegou o braço, arrancou e sacudiu os cupins. Caiu tudinho, depois colocou de volta.
Em seguida arrancou o outro, sacudiu os cupins e colocou de novo e disse:
-“Agora vai ficar bom para atirar”.
Meio-dia escutou de novo os papagaios.
-“Agora você vai pegá-los”.
Ele vestiu o paletó de cobra novamente e viu dois homens e suas famílias. Pensou:
“Como eu vou atirar nesses papagaios? Se eu atirar vou acertar meus parentes”. Ele
esperou juntar dois homens que não eram parentes e atirou. Pegou os dois. Ele
colocou os dois papagaios dentro da sacola que o pai dele, o wamuí, tem. Chegou
em casa, mostrou os papagaios para sua mãe e ela ficou alegre:
-“Agora você está começando a ficar bom para pegar papagaios. Deita na rede e
descansa um pouco. Amanhã meio-dia você vai novamente pegar papagaios”.
Quando chegou meio-dia escutou de novo papagaios:
-“Você não vai agora, descansa mais. Deixa que seu pai vai pegar os papagaios”.
Wamuí pegou quatro papagaios, levou para sua mulher e ela os comeu. Wamuí não
come papagaios, come somente peixe salgado que ele os guarda em uma gaveta. A
mulher dele assa os papagaios, aquelas pessoas, e come. Wamuí pegou, então,
quatro pessoas e sua mulher as comeu. Essas quatro pessoas não foram suficientes
para encher a barriga dela. À tarde ela escutou novamente os papagaios e mandou
o filho atrás deles. O filho era aquele velho que depois dos banhos com remédio
ficou novo. Ele pegou paletó do pai e vestiu. Quando veste é Cobra Grande; vê as
pessoas; são papagaios. Ele viu os que não eram da família dele e atirou. Pegou
oito papagaios de vez e colocou tudo na sacola. Voltou depois. A mãe dele ficou
alegre:
[Anexos] – Mitos
iii
-“Oito papagaios! Agora eu vou poder encher minha barriga, eu vou comer bem!”.
Ela comeu tudo. Wamuí come só peixe e caramujo. A mulher disse para o marido:
-“Vocês não vão mais agora atrás dos papagaios. Deixem eles comerem um pouco
que já estão ficando ariscos”.
A mulher falou assim com o marido. Wamuí disse para o filho:
-“Nós vamos mariscar lá no oceano. A lua está crescente e nós vamos mariscar.
Depois voltamos na lua cheia. Vamos ficar uma semana lá no oceano, é muito
distante”.
O filho disse “está bom”. Wamuí vestiu o paletó, o filho dele vestiu também e
partiram. A mulher dele ficou com outro filho menor. Wamuí e o filho mais velho
ficaram uma semana no oceano, teve maresia muito grande. Pegaram muito peixe,
de todos os tipos. Colocaram malhadeira e pegaram muitos caramujos também.
Encheram a canoa de peixes e caramujos. Wamuí e o filho voltaram. A mulher,
quando os viu chegar, falou:
-“Agora tem muito papagaio, tem muito papagaio pra pegar”.
Wamuí pegou dez papagaios de uma só vez. Depois, quando os papagaios voltaram
para tomar banho no rio, ele pegou mais quinze. No dia seguinte o filho dele pegou
mais quinze. Uma semana depois a mulher disse para Wamuí:
-“Vamos mariscar novamente. Desta vez a gente deixa os nossos dois filhos aqui. O
mais velho cuida do menor”. Wamuí disse para o filho mais velho:
-“Eu e sua mãe iremos mariscar e você vai ficar para cuidar de seu irmãozinho
pequeno. Tome conta também de nossa casa. Tem vários caminhos aqui; você pode
passear por todos eles. Somente por um caminho você não pode passear. Eu
mesmo não passeio por ele, não se pode ir lá”.
-“Está bom, eu não irei nesse caminho”.
Wamuí tinha duas mutucas que deixou lá como guardas. Se o filho dele fizesse
alguma coisa errada, as mutucas iam lá no oceano contar para Wamuí e ele ia ficar
sabendo. Ele deixou também os paletós de Cobra Grande em casa: tinha grande,
médio, pequeno, de vários tamanhos.
-“Você vai fazer comida para seu irmãozinho, dar banho nele antes de meio-dia e
colocá-lo para dormir. Meio-dia vocês vão dormir”.
Aí saíram para mariscar, iam passar duas semanas no oceano. Os irmãos foram
passear, vestiram seus paletós e saíram para passear no rio. Viram muitos
papagaios lá, mas não pegaram nenhum. Tomaram banho e voltaram pra casa. O
irmão mais velho colocou o pequeno para dormir ao meio-dia e também dormiu.
Quando acordou o irmão ainda estava dormindo:
-“Meu irmãozinho está ainda dormindo. Amanhã, a esta hora, eu vou dar uma olhada
naquele caminho por onde meu pai disse que eu não fosse. Amanheceu o dia. O
irmão mais velho deu banho no pequeno, deu comida e colocou para dormir ao
meio-dia. Embalou até ele dormir, depois colocou na rede. Aí ele foi por aquele
[Anexos] – Mitos
iv
caminho. Quando chegou lá viu só uma lama onde ele deixaria as pegadas caso
passasse por ela. Ele não podia pisar, senão deixaria o rastro e o pai iria saber que
ele foi por aquele caminho. Ele, então, pegou croatá e colocou por sobre a lama para
pisar. Foi pisando e não ficou rastro. Aí saiu Neste Mundo, onde a família dele
morava, lá no Tipoca. Ele foi rápido ver a família dele. Foi como pessoa, não vestiu
paletó de Cobra Grande. Contou onde Wamuí vivia, mostrou o caminho dele. Disse
que ele e a mulher tinham ido mariscar no oceano e ficariam duas semanas fora:
-“É ele que está acabando com vocês. Ele tem outro filho pequeno, que está
dormindo agora. Vocês vão fazer um curral bem no caminho dele. Depois do curral
pronto, vocês pegam um papagaio e colocam dentro. Wamuí e a mulher vão escutar
e virão atrás do papagaio. Vocês vão trabalhar perto de meio dia, que é quando o
meu irmãozinho está dormindo. Sempre assim. Antes disso, nove, dez horas, não
pode trabalhar. Wamuí e a mulher dele estão mariscando, não tem perigo. Eu não
virei mais aqui novamente falar com vocês, é para vocês fazerem isso. Ele retornou,
então, em cima do croatá, para não deixar rastro algum. Quando ele chegou o irmão
acordou e ele disse:
-“Nosso pai e nossa mãe estão ainda no oceano, mas na semana que vem eles vão
chegar”.
Depois de duas semanas Wamuí e a mulher chegaram. Wamuí perguntou para o
filho mais velho:
-“Você cuidou bem de seu irmão? Ele chorou?”.
-“Eu cuidei bem, sim. Dei banho, comida e o coloquei para dormir. Ele não chorou
vez nenhuma”.
Wamuí perguntou então:
-“Você andou por aquele caminho que eu disse que não fosse?”
-“Não, você disse para não ir e eu não fui”
Eles foram comer. Quando comiam, Wamuí, ainda desconfiado perguntou
novamente:
-“Você não foi mesmo naquele caminho?”
-“Não, você disse que não podia e eu não fui lá”
A mulher teve vontade de comer papagaios e pediu para o filho mais velho ir pegálos. Ele foi e voltou com alguns. Quando deu meio-dia, Wamuí foi deitar na rede.
Estava quase dormindo, quando escutou um papagaio gritar naquele caminho de
lama. Ele nunca havia ido lá.
-“Eu vou ver o que está acontecendo”.
Pegou o paletó e saiu. Os Palikur estavam preparados, esperando ele chegar.
Quando ele saiu pelo caminho, caiu dentro do curral. Fecharam rapidamente sua
porta e o mataram com todas as armas que possuíam: flechas, arpão, pedras, paus.
Wamuí fez grande barulho, igual a trovão. A mulher de Wamuí escutou e perguntou
ao filho porque havia trovão:
[Anexos] – Mitos
v
-“Aconteceu alguma coisa com seu pai, eu vou lá”.
Quando ela chegou no curral, Wamuí já estava morto. Ela brigou com os Palikur,
quebrou curral e quase acaba com tudo. Flecharam-na muito e bateram com pau.
Ela fez também grande barulho de trovão e morreu. O filho mais velho foi ver se eles
haviam morrido mesmo. Chegou perto do buraco do caminho e estava fechado com
as cobras mortas. Quando ele retornou, seu irmãozinho estava tentando pegar
paletó. Quase conseguiu, mas ele tomou.
-“Eu vou lá ver o que aconteceu com nossos pais”.
-“Não adianta mais, eles já morreram. Você é pequeno, não pode com os inimigos
de nossos pais. Eles que eram muito mais poderosos, os papagaios mataram”.
O filho pequeno se conformou. Eles foram dormir e no dia seguinte seu irmão falou
para ele:
-“Nós temos de nos mudar, procurar uma outra terra para morarmos longe daqui.
Senão os inimigos de nossos pais irão nos matar também”.
-“Está bom, mas vamos esperar acabar a semana”.
Passou a semana e eles mudaram. Foram para o lago Mavenin pedir um lugar para
morar. Pediram a uma velha sapa, mas ela disse que não poderia lhes dar uma
terra, pois não os conhecia.
-“Seus pais eram muito perigosos e eu não conheço vocês. Podem ser cruéis como
eles, não posso aceitar vocês aqui”.
Foram depois para outro lugar, o lago Awawi. Tem uma pessoa lá, que é um tipo de
wamuí também. Pediram a este velho uma terra para morarem:
-“Se nos deixar ficar aqui cuidaremos de deixar tudo limpo. Não vai ficar mais sujo”.
-“Não posso aceitar vocês. Tem muitos papagaios que vêm sempre mariscar aqui e
se vocês virem morar nesse lugar vão fazer muita lama para construírem sua casa e
os papagaios deixarão de vir. Você pode ir no lago Marapuruá, tem pouca gente lá e
poderá pedir uma terra para ficarem. Aqui não posso deixar, porque os papagaios
vêm mariscar no lago e se ficarem vão fazer muita lama para construírem sua casa”.
Foram para o lago Marapuruá. É longe, lá no oceano, muito longe. Chegaram lá e
pediram morada. Foram aceitos.
-“Se nós morarmos aqui, vocês não precisarão se preocupar com a limpeza do lago.
Eu e meu irmão cuidaremos disso”.
-“Está bom, disseram. Agora vocês é que vão cuidar da limpeza de todo o lago”.
O dono do Marapuruá os deixou ficar e lá eles estão até hoje.
Assim acaba a história.
Narrado por Wet e traduzido por Hélio Labonté.
Aldeia Mangue, rio Urukauá, fevereiro de 2007.
[Anexos] – Mitos
vi
M. 02
Borboletas kassugwiné
Ele (Wet) está contando história de borboleta. O pajé Guiome, o vovô dele, escutou
esta história e lhe contou.
Antigamente as borboletas que voam no mês de junho eram muitas, muitas mesmo.
Tinha de toda cor: amarela, vermelha, azul, laranja. Ele contava que essas
borboletas são gente, pessoas iguais a nós. No mês de junho elas voam, muitas
borboletas mesmo. Vão até o rio Amazonas, que chama Umawuni na língua palikur.
Quer dizer rio muito grande, com muita água. Elas vão passar festa lá, vão dançar.
Cada mês de junho elas vão, muitas borboletas. O velho Guiome contava que havia
dois homens, antigamente isso. Eles estavam conversando e um falou para o outro:
-“Meu avô, o pajé Mavuí, falou que essas borboletas são gente, como nós. Mas
agora nós não as vemos mais como pessoas, vemos só borboletas”.
Eles estavam pescando e tinha muita borboleta na beira do rio. O outro homem
disse:
-“Ah, borboletas, se vocês fossem mesmo gente, nós íamos pegar carona para
também passarmos festa no Umawuni”.
De repente, eles viram um barco grande que encostou na beira. Um homem saiu.
Eles viram várias pessoas, era um barco muito comprido e grande, cheio de
pessoas. O homem que saiu do barco perguntou a eles:
-“O que vocês estavam conversando?”
-“Nós estávamos falando sobre as borboletas. Meu avô, que é pajé, disse que
borboleta é pessoa, gente. No mês de junho elas vão dançar lá no Umawuni.
Estávamos falando que se elas fossem mesmo pessoas íamos pedir carona para
dançarmos junto com elas”.
Eles então viram todas as borboletas se transformarem em pessoas, gente, e
falarem com eles. Os dois homens pediram carona e elas deram. Agora não viram
mais borboletas voando; era só um barco com pessoas, muitas pessoas. Tinha
mulheres brancas, morenas, de todas as cores. Como as borboletas, porque elas
eram borboletas. Os dois rapazes não viraram borboletas, pegaram só carona no
barco. Disseram a eles:
-“Lá na frente tem uma terra, mas vocês não vão olhar. Vão olhar direto para frente”.
Tinha muita gente nessa terra, muita mesma. Eram borboletas também iguais a eles,
mas diferentes um pouco. Eram kassugwiné. Um dos dois amigos que pegou carona
no barco olhou para a terra e seu olho se fechou um pouco. Ficou pequeno. Os
homens do barco viram aquilo e levaram o homem para morar com as borboletas
kassugwiné. Ele tinha ficado diferente dos outros. Deixaram-no lá e foram direto para
o Umawuni. O outro homem, que não virou kassugwiné, seguiu no barco. No retorno
iam pegar o seu amigo. Ficaram dois meses, junho e julho, dançando no Umawuni.
[Anexos] – Mitos
vii
Depois desse tempo voltaram e pegaram o homem que havia ficado no caminho. Os
kassugwiné estavam festejando também e iam retornar para sua terra no fim de
julho. As outras borboletas temiam que o homem ficasse lá sozinho depois que os
kassugwiné partissem, por isso foram buscá-lo no retorno. Pegaram-no e levaram os
dois homens para a casa deles. A história conta que quando tem alguém com olho
diferente é kassugwiné. Por isso chamam essa pessoa de kassugwiné.
Narrado por Wet e traduzido por Hélio Labonté.
Aldeia Mangue, rio Urukauá, fevereiro de 2007.
[Anexos] – Mitos
viii
M. 03
O homem que casou com mulher Onça
Ele (Wet) estava contando a história da onça. Onça, primeiro, era uma pessoa, era
gente igual a nós. Os Palikur de antigamente sabiam se comunicar com ela, falavam
sua língua que era um pouco diferente da dos Palikur de antigamente. Havia um
homem e sua esposa, ambos Palikur, que foram pegar caranguejos no oceano. O
homem deixou a mulher dentro da canoa, na beira, e foi pegar os caranguejos.
Quando ele terminou de pegar os caranguejos, retornou e não viu sua mulher.
Procurou bem e a viu lá longe, indo embora na canoa. Ele a chamou, mas ela se foi.
O homem subiu numa árvore no igarapé Twawvik e ficou conversando sozinho,
falando a língua de Maiuné, uma pessoa do Outro Mundo que mora dentro d’água.
Ele estava conversando sozinho, falando a língua de Maiuné, quando de repente
uma pessoa apareceu de dentro d’água. Perguntou ao homem:
-“O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você?”, Maiuné falou pra ele.
-“Eu vim pegar caranguejos com minha mulher e ela me deixou. Quando eu a vi ela
estava longe; gritei, gritei, mas ela não quis vir me pegar. Por isso eu estou aqui”.
-“Não fique triste, aqui você tem uma família. Mais tarde, às seis horas da noite, eles
vêm olhar uma malhadeira que deixaram bem perto daqui. Eu vou lhe mostrar, mas
não vai mexer”.
O homem ficou esperando, às seis horas ouviu pessoas chegando. Estavam
conversando, outro deitado na popa da canoa, outro na frente jogando tarrafa e
pegando peixe. O que estava na frente viu o homem sentado na árvore, num galho.
Ele perguntou:
-“O que você está fazendo aqui, meu irmão?”
-“Eu vim atrás de caranguejos e minha mulher me largou aqui. Mas não é nada”
-“Depois a gente vem lhe buscar para você ir conosco onde está nosso pai. Deixa só
a gente puxar a malhadeira e colocar os peixes na canoa que voltamos para lhe
buscar”.
-“Está bom”.
Eles pegaram a malhadeira, colocaram os peixes na canoa e retornaram para pegar
o homem que ficou na árvore. O homem entrou na canoa e foram embora. Chegou
no Wauvig, onde tem muitos Bichos, o Maiuné pediu permissão para passar e lhe
deram. Deixou o homem na beira do igarapé e seguiu até onde estava o pai deles:
-“Trouxemos nosso irmão”
-“Onde ele está? Vai pegar ele e trás aqui”
Eles foram buscar o homem. O pai perguntou-lhe o que havia acontecido e o homem
contou tudo:
-“Não fique triste, meu filho. Você vai ficar aqui conosco. No mês de maio haverá
grande festa, vem todo tipo de gente, de diversos lugares. Eu pedirei uma carona até
[Anexos] – Mitos
ix
onde mora sua mãe. Enquanto isso, você fica aqui conosco, não estamos longe de
sua casa. Quero lhe mostrar algo, venha comigo”.
O homem foi com seu pai, entrou na casa dele. Lá havia uma coisa igual a espelho
onde ele viu toda sua família: a mãe, os irmãos.
-“Você não está longe de sua família. Vai ficar conosco por enquanto e no próximo
mês eu mando você de volta para sua casa”.
-“Está bom”.
Na beira do igarapé tinha todo tipo de instrumento: tambor, turé, todo tipo de
instrumento. No mês seguinte os Bichos foram chegando para a festa, todo tipo de
bicho: onça, borboleta e outros. Vieram onças de todos os tamanhos: média,
pequena, grande. Ao chegarem, tiraram seus paletós e apareceu gente de todo tipo
e tamanho; tinha pequena, média, grande, velho, moço. O homem acabou ficando
dois anos nesse lugar, pois seu pai havia pedido uma mulher para ele casar quando
ela ainda estava na barriga de sua mãe. Era assim que os Palikur também faziam
antigamente; pediam a mulher para casar antes dela nascer. Nascia e já estava
pedida, quando ficasse moça casava. Um dia o pai finalmente mandou o homem de
volta para sua casa. Ele foi com a esposa. Quando chegou, encontrou lá sua mãe:
-“Meu filho, eu estava com saudades de você, pensei que você havia morrido”.
-“Não morri, minha mãe”.
Ele havia vindo do oceano pelo campo.
-“Nós estávamos no campo matando cobras, lá tem muitas cobras. Nós estávamos
cortando as cobras com machado”.
O machado não era machado mesmo, mas as unhas deles. Eles chegaram no
Tipoca e havia uma canoa para atravessarem para outra ilha, a da andiroba. De lá
foram para a ilha do inajazeiro e chegaram até o Kownã. Lá moram o sogro do
homem e cinco cunhados, todos são onças. Depois de quatro anos a mulher que o
havia abandonado reapareceu, ficou muito alegre, mas ele disse:
-“Eu não lhe quero mais, eu tenho outra mulher agora”.
O pai do homem havia virado pajé e fez uma grande festa com muito caxiri. O
homem foi com seus cinco cunhados. Vestiram os paletós e todos viraram onça.
Chegando lá tiraram os paletós e viraram pessoas novamente. Um dos cunhados
continuou com o paletó, era onça ainda. Ele ficou gritando no mato e umas pessoas
foram atrás da onça com cachorros para matá-la. Mataram-na, tiraram sua pele e a
estenderam num pau. Quando a mulher-onça do homem foi para a roça viu a pele
de seu irmão estendida no pau. Ficou muito brava e com bastante raiva. Falou com
o marido:
-“Porque você deixou as pessoas matarem meu irmão?”.
-“Eu não sabia que elas tinham ido atrás dele. Não é minha culpa”.
A mulher ficou com muita raiva, pegou a filha e foi embora. O homem ficou com raiva
por ter sido abandonado novamente. Pensou que tudo o que havia acontecido era
[Anexos] – Mitos
x
culpa da primeira mulher dele que o abandonou quando pegava caranguejos.
Colocou paletó de onça e foi atrás dela para se vingar. Ela estava na roça. Ele pulou
para cima e a atingiu bem no peito, mas não a matou. Ele voltou para casa e tirou o
paletó. Ninguém soube que havia sido ele, pensaram ser uma onça. A mulher depois
retornou para sua família e ficou lá.
Assim a história acaba.
Narrado por Wet e traduzido por Hélio Labonté.
Aldeia Mangue, rio Urukauá, fevereiro de 2007.
[Anexos] – Mitos
xi
M. 04
Mahokotiêh – O homem que casou com Kusuvwí (Lapousiene)
Ele (Wet) está contando história de Hawkaty. A história conta que havia um rapaz
que sempre brigava com as pessoas quando tomava muito caxiri. A mulher dele
sempre falava para ele não se embriagar e brigar com as pessoas, mas ele nunca
obedecia. Estavam numa festa e ele falou para ela:
-“Eu vou tomar caxiri, mulher”.
-“Não pode, porque você sempre bebe muito caxiri e briga com as pessoas. Eu já lhe
falei”.
Ele não obedeceu a sua esposa e bebeu. Bebeu muito e quando ficou embriagado
brigou com as pessoas. Ele sempre fazia isso; ficava porre e brigava com todo
mundo. Ele brigou novamente na festa e sua mulher, com muita raiva, pediu que o
amarrassem:
-“Já faz muito tempo que ele bebe caxiri e briga, não me ouve. Então, amarra ele”.
Amarraram-no; as mãos, pés, pernas. Na coxa, amarrou tudinho. Era tempo de
carapanã, muito carapanã. Deixaram-no debaixo da casa, sofrendo com carapanã.
Os carapanãs sugaram todinho o sangue dele. Ele ficou bem pálido. Quando ficou
bom, sua mulher lhe desamarrou. No dia seguinte ela perguntou:
-“Você gostou de ficar amarrado? Eu lhe falei para não beber, mas não obedece.
Gostou agora do que os carapanãs lhes fizeram?”.
Ele riu, deu uma risada e disse que estava tudo bem. Depois falou assim:
-“Mulher, eu vou caçar”.
Foi para a mata, pegou o arco dele e foi. Matou um guariba e um mutum. Assou os
dois na mata mesmo, foi no lago, pegou traíra e assou também. Matou um veado,
mas não assou. Disse:
-“Eu vou levar traíra para minha mulher para ver se ela gosta”.
Chegou na casa deles:
-“Mulher, você gosta de traíra?”.
-“Eu gosto, sim”.
A sogra dele perguntou:
-“Porque você não trouxe mais traíra?”
-“Eu vim só saber se vocês gostam de traíra”.
-“Nós gostamos, sim”, disse a mulher dele.
Aí ele descarregou a caça e comeram. No outro dia:
-“Vamos no lago comigo pegar traíra”.
Ele falou para mulher dele. A sogra dele disse:
-“Eu vou também com vocês”.
[Anexos] – Mitos
xii
-“Não, você não pode, está velha e não vai agüentar andar na mata. Deixa que nós
dois vamos”, ele falou para sogra. Então o homem foi com a esposa. Pegaram
guariba. Ele disse:
-“Depois nós vamos ao lago pegar traíra. Eu vou tirar cipó para fazer jamachi. Faz
guariba assado para você comer enquanto me espera”.
A mulher assou guariba e comeu enquanto ele tirava cipó. Depois ele chegou,
comeu e foi trançar o jamachi. Quando estava quase pronto falou para mulher dele:
-“Vem cá, eu quero que você entre no jamachi para eu ver o comprimento”. Ela foi,
ficou bem no pescoço, quase bom. Ele trançou mais um pouco e a chamou
novamente para experimentar o comprimento. Tinha ficado um pouco acima da
cabeça dela:
-“Agora está bom”.
Quando ela ia sair ele falou:
-“Agora você vai pagar tudinho o que fez comigo”.
Amarrou ela toda, ela ficou gritando, gritando, e a jogou no fogo. Ela gritou, gritou e
morreu assada. Ele aí tratou ela, tirou o fígado, espinha, bucho, limpou tudo. Partiu
ela toda em pedaços e misturou com pedaços de guariba assado. Quando ele
estava quase chegando, a cunhada o viu:
-“Vocês trouxeram caça? Nós estamos com fome esperando vocês chegarem. Cadê
minha irmã?”.
-“Sua irmã ficou um pouco atrás. Ela foi fazer xixi e eu aproveitei e vim na frente
porque estou muito cansado. Ela está logo atrás, já está quase chegando”.
Ele deu a comida para a cunhada e a sogra. Deu fígado e os pedaços de carne
assada e ficou só olhando elas comerem. Ele foi para casa dele e acertou uma
flecha no teto. Depois acertou outra flecha atrás da primeira, e outra atrás dessa e
mais outra. Acertou quatro flechas encaixadas, uma atrás da outra. Aí depois,
quando elas terminaram de comer, perguntaram:
-“Não tem mais fígado?”.
-“Tem sim, está ali no jamachi”.
A cunhada viu a cabeça da mulher dentro do jamachi:
-“Você matou a nossa irmã”.
Ele correu, pulou na flecha e subiu em cima da casa. Os cunhados foram atrás para
pegá-lo; ele, do teto da casa, flechou o céu. Os cunhados pegaram paus para fazer
escada, mas o homem pegou a filha e flechou mais em direção ao céu para fugir.
Ele disse:
-“Vocês foram muito maldosos comigo. Vocês me amarram, agora nunca mais vão
me ver novamente. Vocês vão ficar aqui no mundo e vão morrer para sempre. Toda
a família de vocês vai morrer; os netos vão morrer, os bisnetos de vocês vão morrer
também. As pessoas de outras gerações vão me encontrar de noite no céu. Eu
agora sou da chuva, eu estou na popa do barco da chuva, pilotando-o”.
[Anexos] – Mitos
xiii
Ele então foi embora para o céu. Chegou para chuva de Sete Estrelas (Plêiades), a
mãe da chuva, e pediu para ficar. Aceitaram e ele ficou. Casou com filha de Sete
Estrelas, Kusuvwí, e sua filha também casou com gente deles. A história conta que
quando ele estava subindo pelas flechas em direção ao céu, os cunhados
conseguiram agarrar uma perna a arrancaram-na. Por isso o nome dele ficou
Mahokotiêh, só tem uma perna. Ele aparece até agora no céu.
Assim a história acaba.
Narrado por Wet e traduzido por Hélio Labonté.
Aldeia Mangue, rio Urukauá, fevereiro de 2007.
[Anexos] – Mitos
xiv
M. 05
Origem do arab
O pajé Karumayrá9 um dia avisou para sua comunidade que era para espalhar a
notícia pelo Urukauá de que haveria grande verão. Seriam seis anos sem chuvas:
-“Quando eu sair, estender uma corda e colocar minhas coroas (cuhones) para
secar, ficará seis anos sem chover. O tempo que as coroas ficarem secando não
choverá. Por seis anos haverá seca, a maré vai chegar onde nunca vimos antes. A
água salgada invadirá tudo. Vocês vão sair de madrugada, a uma hora da manhã,
com potes e vasilhames para pegarem água doce na ponta do Curpi, no igarapé
Sewavighet. Somente este igarapé dará água doce. O rio Urukauá vai ficar salgado”.
Quando ele colocou as coroas fora para secar não choveu mais. Chegou o tempo de
chover, mas não choveu. Apenas sol quente. Secou a água toda e a água salgada
invadiu tudo. Se furasse um poço nas costas de uma montanha, a água era salgada.
Após cinco anos de seca já tinha muita gente morrendo de sede, velho, criança,
tudo. No Curipi apenas o riacho Sarapó, em cima da montanha Taminã, tinha água
doce. Um dia uma velha falou para o pajé:
-“Senhor pajé, eu lhe peço um favor. Não sei se vais me ouvir”.
-“Pode dizer”.
-“Eu tenho meus netos, bisnetos, tataranetos e quero pedir para o senhor fazer
chover, porque muita gente está sofrendo de sede, morrendo demais”.
-“Está bom, eu vou tirar minhas coroas da corda e cantar hoje à tarde”.
O pajé tirou as coroas da corda, guardou e cantou. No dia seguinte ele falou para
umas pessoas:
-“Subam numa árvore bem alta e vejam se avistam algumas nuvens”. Não tinha
nuvens no céu; era limpo, limpo, limpo, sem nuvens. Só tinha vento. Subiram na
árvore mais alta, o pajé embaixo perguntou:
-“Avistaram alguma nuvem?”.
-“Sim, nós avistamos nuvem deste tamanhinho assim, mas bem longe”.
-“É a chuva. Se não chegar hoje, amanhã virá. Desçam”.
Aí desceram. No fim da tarde o pajé mandou novamente as pessoas subirem na
árvore:
-“Pajé, aumentou. Já aparece uma grande nuvem, bem preta”.
-“Então, ela vai chegar à noite”.
Quando deram nove horas da noite choveu. Antes da chuva cair, o pajé falou:
-“Vocês vão fazer caxiri, dez potes de caxiri. Vamos fazer uma festa”.
Eles fizeram caxiri e festa. Para a festa o pajé indicou que cada pessoa fizesse essa
borduna, o arab. Todo mundo tinha de usar o arab para fazer dança. Quando o pajé
cantasse as pessoas iam fazer sinal, chamando a chuva. Quando a festa terminou,
ele mandou as pessoas subirem em cima da árvore para ver o que avistavam. A
9 Karumayrá teria sido o responsável pela expulsão dos índios Mayé que viviam em um afluente do
rio Urukauá e eram hostis aos Palikur. Comandando um exército de espíritos auxiliares, ele apavorou
tanto os inimigos que estes se foram para sempre do Urukauá (Nimuendajú, 1926: 58-59).
[Anexos] – Mitos
xv
festa era para chamar chuva e depois ela caiu. Por isso este pajé mandou fazer arab
e até hoje é usado para as mulheres dançarem com ele.
Narrado por Manoel Labonté.
Kumenê, fevereiro de 2007.
[Anexos] – Mitos
xvi
M. 06
Guerra Galibi X Palikur
Antigamente, quando teve guerra dos Galibi com Palikur, no Kumarumã não havia
gente. Tinha gente só daqui, no Uaçá só tinha Palikur. Os Galibi estavam na
montanha Cajari, desde o princípio. Palikur e Galibi faziam festa antigamente, de
turé e maracá. Já sabiam onde ia ter festa e apareciam nelas. Numa dessas festas,
os Galibi cantaram e ficaram invisíveis. Cantaram depois para chamar as mulheres
Palikur. Ninguém os via, só as mulheres escutavam o canto. Eles vinham do Cajari e
levavam as mulheres que atraíam para lá, no igarapé do Urubu. Pagavam as
mulheres e levavam para lá caminhando no buriti, até chegarem no Cajari. Numa
dessas idas um Galibi falou para a mulher Palikur:
-“Vamos descansar um pouco aqui no cerrado”.
-“Aqui está muito sujo”, disse a mulher.
-“Lá não tem casa, vamos descansar aqui um pouco”.
De repente apareceu uma cidade, com muitas casas. Eles seguiram viagem. O
homem ia dizendo à mulher:
-“Essa aqui é casa de meu irmão, esta é a casa de minha irmã e aquela é a casa de
meu tio. A casa de minha mãe está lá na frente”.
Quando chegaram, a sogra dela armou rede para ela deitar. O marido foi tomar
bebida, ficou porre. Quando bebia se transformava em outra pessoa, a mulher dele
nem o reconheceu. Ela estava dormindo e quando acordou viu outra pessoa do lado
dela. Se levantou. A sogra perguntou:
-“Porque você levantou?’.
-“Este aqui não é o meu marido”.
-“É o seu marido sim”.
Ela retornou e o homem já estava como ela o conhecia. Depois de um tempo ela
engravidou. Morava com a família numa ilha, só eles. Ninguém sabia quem era o pai
da criança, pois não havia um homem que pudesse tê-la engravidado. Passaram a
observá-la e um dia apareceu o Galibi10 na roça. Serviram ele com bebida, ficou
porre, muito porre.
-“Hoje vamos acabar com ele”, disse o irmão da moça.
Amarraram-no com corda.
-“Quando ele ficar bem, acabamos com ele”.
Deixaram-no lá. Ele acordou e se viu amarrado, mas foi só levantar para quebrar
toda a corda. Caiu na água e sumiu. Quando retornaram, ele já tinha fugido.
-“Outro dia vamos acabar com você”.
Passaram-se três dias e ele apareceu novamente para a moça. O cunhado estava
esperando:
10 No mito narrado a Nimuendajú, quando esteve no rio Urukauá, o parceiro da mulher Palikur que a
engravida é um “demônio da montanha” (Yumawalí) que fica invisível ao colocar sua coroa de penas
na cabeça (Nimuendajú, 1926: 57-58). Os Galibi seriam, assim, produto da cópula de um Yumawalí
com uma mulher, união da qual também se originam os pajés poderosos.
[Anexos] – Mitos
xvii
-“Eu vou acabar com você”.
O Galibi falou:
-“Não vai me flechar que você vai acertar sua irmã”.
-“Eu estou mirando você, não ela”.
-“Eu estou lhe avisando que você vai acertar sua irmã”, falou novamente aquele
Galibi.
O rapaz soltou a flecha e acertou a irmã. Ela morreu e aí iniciou a guerra. O rapaz
enterrou a irmã e de sua barriga saíram lagartas, iguais a bichinhos de mosca. Ele
matou tudo. No dia seguinte havia mais e ele matou novamente. Três dias depois
ele voltou e tinha três crianças, uma mulher e dois homens. O tio ia matá-los.
-“Não vai nos matar não, você já nos matou bastante. Amanhã você vem aqui
novamente conosco”.
No dia seguinte ele retornou, havia muitas casas, tudo de Galibi. Foi assim que
começaram os Galibi. O sobrinho falou para ele:
-“Agora você tem de preparar as flechas, fazer um monte de flechas para fazermos
uma guerra. Você vai convidar seus amigos também”.
Eles guerrearam, guerrearam muito. Assim os Galibi foram até a Guiana, no Maná.
É muito antigo isso.
Narrado por Wet e traduzido por Hélio Labonté.
Aldeia Mangue, rio Urukauá, fevereiro de 2007.
[Anexos] – Mitos
xviii
M. 07
Yakaikani
A cobra Tipoca se amigou com uma mulher, mas ela é um sapo cururu; mas também
é uma cobra. Tinha um monte de gente morando na montanha Tipoca, lá na ponta
chamada Karumayrá, que é o nome da mulher do Tipoca, que é um sapo. Ela não
estava comendo peixe, nada mais além de caracol branco, do comprido. Nesse
tempo tinha muito papagaio e arara comendo açaí, bem no meio da lagoa, e saiu um
rapazinho, Yakaikani, de dez ou onze anos com a flecha dele para pegar papagaios.
Ele acertou na asa e o papagaio gritou e ele foi embora carregando o papagaio.
Graças a Deus foi a mulher quem o pegou e quando ele viu já estava no Outro
Mundo, na mão de uma senhora grande e branca. Ela perguntou:
-“Porque você flechou este bicho, você não viu que são meus animais?”.
Eram as galinhas dela.
-“Não era para flechar, essa aí é a galinha de meu filho. Vou levar você para
acompanhar meu filho, para brincar com ele”.
Aí pegou ele, o marido não estava, e levou para casa para dar um banho. Era uma
casa bem grande, numa rua muito bonita. Deu banho com tudo que é tipo de folha,
em uma bacia de barro. Havia na casa vários potes grandes, todos cheios de caxiri.
Passaram-se dois dias e a mulher disse ao menino:
-“Seu avô vai chegar hoje, ao meio dia. Eu vou lhe esconder debaixo desse pote e
você vai ficar bem quieto, sem fazer barulho”.
Quando deu meio dia ele fez um buraquinho no pote e viu um barco bem grande
vindo de fora, do mar. Um barco bem grande, um navio. A mulher foi encontrar o
barco numa ponte. O barco parou e saiu um homem branco bem grande, bem
grande, o dono do barco, que é o Tipoca. De pé ainda no barco ele disse:
-“Está muito cheiroso o meu lugar, onde está este cheiro?”, ele estava com fome.
A mulher disse:
-“Não, não tem nada, não tem nada aí”.
Ele chegou em casa, tirou a camisa, sentou-se no banco e sua esposa colocou a
comida para ele. Sua refeição eram três pessoas, é só pessoa que ele come, só
gente, que é macaco dele. Essas pessoas estavam morando no Tipoca, na ponta
Karumayrá, e eram puxadas por ele para serem comidas. Aí ele comeu, comeu tudo,
bebeu três potes grandes de caxiri, que é a água dele, derramando todinho. Fez um
barulho de trovão, duas, três vezes e pronto, a barriga dele estava cheia. Ia dar meio
dia e ele foi descansar um pouco. A mulher pensou:
-“Antes dele dormir eu tenho que falar com ele”. Chegou e disse:
-“Olha, vou lhe contar uma coisa: eu peguei um macaquinho para ele brincar com
nosso filho, porque nosso filho não tem irmão, não tem irmã para brincar com ele. Eu
então peguei esse macaquinho e lavei ele todo”. O marido falou:
-“Ah, porque você não me disse isso quando eu cheguei, eu tinha comido ele.
Manda buscá-lo”.
-“Você não vai fazer nada com ele?”.
[Anexos] – Mitos
xix
-“Não, pode mandar buscar”.
Ela abraçou bem o marido. Abriu a porta e o rapazinho saiu. Ela o abraçou,
passando os braços por todo canto e falou como ele ia brincar com o filho dela.
-“Eu vou dormir e a partir de três horas vou lhe mostrar todo o nosso galinheiro.
Depois, às cinco horas, eu fecho o galinheiro e de manhã é para você soltar tudo de
novo”.
Era tudo quanto é tipo de animal; onça preta, janaú – um bicho que come gente –,
onça pintada, onça vermelha, gavião do mar, que também come gente, gitirano,
todos esses para fechar no galinheiro. Aí foi mostrar tudo ao rapaz e disse:
-“Esse caminho aqui não é para você ir lá, porque se você for por esse caminho,
você não volta, tem bicho lá que vai lhe comer. Esse outro caminho é para você ir
caçar, quando eu mandar você ir buscar um ou dois macacos é por esse caminho
que você vai. Mas este caminho não presta para você ir”.
-“Está bom”, disse o rapaz.
Um dia a mulher chegou e falou:
-“Tome a espingarda e pode ir pegar dois macacos”.
Ele foi e quando chegou lá tinha só sua família; a mãe, o irmão, o tio, o primo, todos
estavam tomando banho. Ele então voltou e pensou:
-“Eu não vou pegar eles não. Será que são estes os macacos deles?”.
Ele voltou e disse para o homem:
-“Eu não vi nada”.
- “Todo dia tem macaco aí, eles não falham não. Eu vou com você mais tarde”.
Aí o Tipoca pegou a camisa dele, vestiu e disse:
-“Vamos comigo”.
De uma boa distância eles viram todo mundo na água.
-“Estão aí os macacos, não são macacos esses aí? Você vem aqui e diz que não
tem, tem muito macaco aí?”.
Ele pegou uma irmã dele e o tio.
-“Pronto, está bom. Carrega um”.
O rapaz disse:
-“Não posso carregar o macaco, está muito pesado”.
-“Então trás a espingarda que eu levo os macacos”. O rapaz pensou:
-“Eram eles que estavam acabando com minha família, eram eles. Eu vou voltar e
contar aos meus parentes”.
Depois, num outro dia, ele pegou o caminho que disseram para ele não pegar.
-“Eu já estou morto, eu vou ver onde esse caminho vai dar”, pensou.
Esperou o Tipoca dormir e aí saiu. Pegou o caminho e quando viu estava saindo
Nesse Mundo, mas não podia mais ficar; todo esse tempo passado no Outro Mundo,
ele não podia mais ficar aqui. Quando a família o viu, a mãe, o pai, correram para
abraçá-lo e ele disse:
-“Não, não encostem em mim”. Ele contou tudo a eles.
-“Olha, esses Bichos, é com eles que eu estou, foi a mulher quem me puxou e o
marido dela é quem estava acabando com nós aqui. Vocês vão pegar uma arara e
vão fazer ela gritar na boca do buraco. Ele vem ver o que é e vocês matam. Não
[Anexos] – Mitos
xx
demora, vem o outro e vocês matam também. Eu vou sair com o filho deles de
barco, vamos pescar lá fora. Vocês preparam tudo o que é tipo de arma”.
Foi assim que eles mataram essas duas cobras que estão aí no Tipoca. Eles
pegaram a arara, ela gritou e o Tipoca saiu de dentro do buraco. Aí os índios
estavam todos armados esperando, com machado, com pimenta, com tudo pronto
para jogar em cima. Aí mataram o primeiro. Não demora a mulher sai, outra cobra
grande, e mataram também. Yakaikani e Tipoquinha tinham saído para pescar no
oceano.
-“Alguma coisa está acontecendo em casa”, disse o filho deles. “Vamos embora,
vamos embora”, falou para Yakaikani e funcionou o barco.
Quando chegou perto de casa, Tipoquinha pulou do barco, mas os pais já estavam
mortos e não deu tempo de ver para onde tinha corrido Yakaikani. Ele fugiu para um
lago encantado, Marapuruá, aonde tem também um rio. Tipoquinha correu por todo
canto atrás dele. Até hoje tem o buraco por onde as cobras saíam, até hoje, e os
ossos das cobras estão lá no Tipoca. Está tudo lá.
Narrado por Henrique.
Kumarumã, fevereiro de 2005.
[Anexos] – Mitos
xxi
M. 08
A mulher do moqueado de guariba
Antigamente guariba era gente, gente mesmo. Quando morria gente antes enterrava
no pote, como faziam lá na ilha Cemitério.
A mulher de um galibi morreu e a enterraram no pote. O marido ficou viúvo com
muitos filhos pequenos, homens e mulheres. Morava numa ilha só com sua família,
não havia mais ninguém, e lá caçavam e plantavam mandioca. O pai gostava de
comer caça moqueada quando estava na mata; pegava a presa, assava a carne,
comia e deixava na mata o que sobrasse para comer no dia seguinte. Ele fez
moqueado de guariba uma vez, comeu um pedaço e deixou o resto na mata.
Esqueceu este moqueado, ficou lá. Um dia seus filhos estavam indo para roça.
Quando deram fé viram uma senhora que vinha no caminho; ela era branca, bonita,
grande e de cabelos louros. Eles a chamaram de mamãe, ela perguntou:
-“Meus filhos, o que vocês estão fazendo aqui? E seu pai?”.
-“Papai foi caçar, nós vamos pra roça e depois vamos esperar por ele em casa”.
-“Amanhã, quando vocês forem pra roça, eu vou junto. Eu vejo que vocês trabalham
demais e eu vou lhes ajudar. Agora vou embora”.
Ela estava conversando com os filhos e de repente sumiu. Entrou no moqueado de
guariba que o pai havia esquecido na mata. No dia seguinte, o homem foi caçar
cedo, não lhe contaram sobre a mulher branca. Os filhos foram para roça continuar o
trabalho com a mandioca quando, de repente, a mulher apareceu novamente no
caminho. Nem desconfiaram que ela havia saído de dentro do moqueado:
-“Vocês vão pra roça?”.
-“Vamos sim”.
-“Então, vou junto”.
Trabalharam na roça, arrancaram muita mandioca, muita mesmo. Quando deu meio
dia de trabalho já tinham arrancado o suficiente, era muita mandioca. A mulher
carregou a mandioca até a casa e depois sumiu, voltou para dentro da carne
moqueada na mata. No dia seguinte reapareceu para ajudar as crianças a ralar a
mandioca. Com pouco tempo ralaram tudo, foram fazer farinha. Passou uma hora e
estava já tudo torrado. Quando o pai chegou ficou espantado com a rapidez e
rendimento do trabalho dos filhos. No dia seguinte ele falou:
-“Eu vou mariscar, só volto amanhã”, foi embora.
A mulher reapareceu e falou que ia ajudar a fazer limpeza na casa. Capinaram tudo,
lavaram roupa, limparam tudo. Às cinco horas o pai chegou da pescaria. Estava tudo
limpinho, organizado, roupa lavada. Ficou novamente surpreso com o trabalho dos
filhos:
-“Como meus filhos estão fazendo todo esse trabalho? Eu vou reparar”, ele pensou.
“Amanhã eu vou caçar, chego à tarde, não sei que horas”, falou para os filhos.
De manhã cedo pegou a espingarda e foi para mata. Andou um pouco só e se
escondeu para ver o que os filhos faziam. Eles saíram e encontraram a mulher
branca no caminho da roça, foram todos pra lá. O homem ficou escondido,
[Anexos] – Mitos
xxii
esperando. Pouco depois vinha a mulher com cinco jamachis de mandioca, cheios
de mandioca. Depois ela voltou pra roça e trouxe mais cinco jamachis. Os filhos
vinham atrás dela. O sol ainda não estava muito quente e a mandioca já tinha sido
toda colhida. O homem foi seguir a mulher, mas ela sumiu no caminho. Ele voltou
para casa à tarde, fingiu que não sabia de nada:
-“Vocês já chegaram da roça? Tem muita mandioca aqui, vocês vão ralar amanhã?”.
-“Vamos ralar amanhã”.
-“Como eu vou falar com aquela mulher? Tenho de arrumar um meio de pegar
aquela mulher”, o homem pensou. “Eu descobri um lugar onde tem muito tracajá.
Amanhã eu vou pegar tracajá para comermos, vocês estão trabalhando demais e
precisam comer bem”, ele disse assim para os filhos.
No dia seguinte saiu cedo, mas ficou escondido, não foi mesmo. Ficou esperando a
mulher aparecer. Ele a viu vindo no caminho e pensou:
-“Será que não é uma caça que virou uma mulher, virou gente? Eu vou ficar aqui,
vou esperar ela sair para ver aonde ela vai”.
A mulher chegou na casa, ralou toda a mandioca em cinco minutos. Depois foram
torrar a farinha, às três horas estava tudo pronto. Depois ela foi arrumar tudo, lavar
tudo.
-“Ah, não são os meus filhos que trabalham, é esta mulher quem faz tudo”.
A mulher se despediu das crianças e foi em direção ao moqueado. O homem foi
atrás dela. Quando ela chegou bem perto do moqueado se abaixou, entrou debaixo
do moqueado e sumiu.
-“Ah, é este moqueado que está fazendo isso. É esta guariba que eu matei. Agora
eu já sei como vou pegá-la”. Voltou pra casa. “Meus filhos, hoje eu não tive sorte de
pegar nada, não trouxe nenhuma caça pra vocês”.
-“Está bom, papai, tem muito beiju e farinha que torramos hoje”, os filhos falaram
assim.
-“Amanhã eu quero que vocês fiquem em casa para lavarem roupa e fazer limpeza.
Eu vou sair pra caçar novamente”.
Seis horas de manhã ele foi. Encontrou mutum, jacamim, matou muitos pássaros. Aí
pensou:
-“Eu vou voltar, vou chegar em casa meio dia. Será que a mulher está lá?”.
Chegou perto de casa e se escondeu. A mulher branca estava lá, lavando roupa,
fazendo limpeza e conversando com as crianças.
-“Ah, eu vou pegar essa mulher. É no moqueado que ela está entrando, eu vou
cortar este moqueado”. Ele foi lá, pegou o terçado bem afiado e cortou todo o
moqueado de guariba. Cortou tudo e jogou fora. A mulher sentiu o que ele estava
fazendo e gritou de lá da casa:
-“Não corte, não corte o moqueado que você vai me matar”.
A mulher chorou muito, mas não morreu. O homem ficou com pena. Ela era bonita e
ele queria casar com ela.
-“Não chore, nós vamos casar. Você é muito trabalhadora, ajuda meus filhos, eu vi
tudo”, o homem falou assim pra ela, tudo em galibi.
[Anexos] – Mitos
xxiii
Aí eles se amigaram na mesma hora. Viviam bem juntos. Um dia ele estava caçando
e encontrou uma turma de guariba, mas era gente. Eles perguntaram ao homem, em
galibi:
-“Você não encontrou um parente nosso por aí, uma mulher branca? Nós queremos
convidá-la para dança de turé que vamos fazer”.
O homem sabia que o guariba adivinhou que ele era agora o marido da mulher, pois
guariba sabe tudo.
-“É, eu estou morando com esta mulher”, o homem disse assim.
Aí o grupo de guariba foi embora, pulando. O homem pensou:
-“Daqui uns tempos eles aparecem novamente e minha mulher vai querer ir embora
com os parentes dela”. Voltou pra casa, não queria mais caçar. Chegou em casa
triste, calado:
-“O que aconteceu com você? Cadê a caça”, a mulher lhe perguntou.
-“Não consegui pegar nada”. Aí chamou ela: “Sua mãe, seu pai, seu tio, seus irmão
mandaram um convite para você. Disseram que sábado vai ter festa, vai ter uma
dança de turé muito grande. Eu vou providenciar para você ir”. A mulher ficou muito
alegre. O homem ficou muito triste, a noite inteira pensando que ela ia embora. No
dia da festa ele disse:
-“Eu vou com você, mulher. Eu sei que se você for sozinha seus parentes não vão
deixá-la voltar”.
-“Eu volto, eu volto. Eu vou lá só beber caxiri, dançar turé e conversar com meus
parentes. Quero ver minha mãe, meu pai, tudo. Nossos costumes são diferentes do
seu e você pode estranhar, pode querer rir da dança. Melhor é você ficar, não se
preocupe que eu volto”.
O homem disse novamente que ia, que não ia rir da dança, apenas queria
acompanhá-la. Aí foram embora, chegou na mata e pararam em frente a uma árvore
muito grande, um buassê ruge:
-“É aqui”, falou assim a mulher.
-“Como nós vamos subir”, perguntou o homem.
-“Fecha os olhos”. Pouco depois a mulher falou para ele abrir os olhos. Quando ele
abriu já estavam lá em cima. Muito bonito lá, muita gente cantando. O turé estava
começando. Primeiro levaram uma cuia de caxiri para eles beberem. Foram bem
recebidos, armaram redes para eles, jantaram. Quando ia anoitecendo começou a
chegar guariba para a festa, chegou muito guariba. Começaram a dançar, beber
caxiri, cantar. Se agradaram muito dele. Depois de um tempo a mulher falou para o
marido:
-“Agora você vai dormir, vai dormir e eu fico aqui dançando com meus parentes. Mas
não é para você olhar. Se você ver alguma coisa diferente não é para rir”.
Quando deu meia-noite eles dançaram do jeito deles. Já estavam todos porres.
Dançavam, mijavam nas mãos, bebiam o mijo. O outro mijava, passava na cabeça,
nas costas, se jogavam no chão, tudo. O homem estava na rede só olhando. Aí ele
não agüentou e soltou uma gargalhada bem alta. Todos saíram correndo, sumiram
todos, inclusive a mulher. Quando amanheceu, o homem estava sozinho numa rede,
no alto da árvore. Ele pensou assim:
-“E agora? Como eu vou descer?”.
[Anexos] – Mitos
xxiv
Ficou dias lá em cima, sem comida, sem água, sem nada. Quando viu, lá vinha um
japim grande, cantando, aí ele falou para o japim:
-“Ah, meu amigo, eu quero uma ajuda sua para descer”.
-“Não tem problema”, falou assim o japim. “Eu vou fazer um fidjê11 para você. Vou
cagar debaixo da árvore e o fidjê vai crescer. De manhã você já vai poder descer
pelo cipó”.
-“Eu não vou cair?”.
-“Não, não tem perigo de cair”.
O japim foi lá e cagou. O homem ficou preocupado de cair do cipó e morrer, era
muito alta a árvore. Quando amanheceu o cipó havia crescido, estava quase lá em
cima; deu mais um pouco de tempo e chegou. O homem agarrou aquele cipó e
desceu, foi pra casa. Chegou em casa sem a mulher, contou para os filhos o que
havia acontecido, que os guaribas estavam dançando de modo diferente, ele riu alto
e a mulher fugiu com os parentes dela. Se não fosse o japim ele não tinha
conseguido descer da árvore.
Narrado por Manoel Firmino.
Ilha Posse, rio Uaçá, outubro de 2005.
11
Tipo de cipó.
[Anexos] – Mitos
xxv
M. 09
Piaçoca & japim
Piaçoca e japim eram comadres. Os dois pássaros são gente. Um dia piaçoca
pensou assim:
-“Eu vou passear na casa de japim, ela é minha comadre”. No domingo ela foi.
Quando chegou lá:
-“Comadre, eu vim dar um passeio aqui, fazer visita. Vou passar o dia todo”.
Japim disse:
-“Ah, comadre, eu fico muito satisfeita”. Aí conversaram, o almoço ficou pronto e
foram almoçar. Almoçaram, descansaram um pouco. Depois Japim disse:
-“Agora vamos lavar roupa”.
Começaram a lavar roupa. Lavaram tudo, depois ficaram conversando. Piaçoca
falou:
-“Eu já vou embora”.
-“Não, comadre, ainda é cedo, depois você vai. Vamos conversar mais”.
No final da tarde piaçoca disse novamente que ia embora:
-“Não, comadre, ainda é cedo. Fica pra jantar comigo, depois você vai”.
Japim queria que piaçoca dormisse lá. Estavam em cima de uma árvore bem
grande. Jantaram, conversaram mais e começou a escurecer. Não dava mais para
piaçoca voltar pra casa dela. Japim falou:
-“Comadre, já está escurecendo, não dá pra você voltar hoje. Eu vou lhe dar uma
rede pra você passar a noite aqui. Amanhã você vai”.
Aí escureceu, piaçoca acendeu lamparina, ficou claro. Japim disse assim:
-“Comadre, eu não estou acostumada a dormir com lamparina”.
-“Eu vou apagar, não tem problema”.
Aí ficou escuro de novo, piaçoca não dormiu, ficou acordada. Japim estava
dormindo, roncando. Meia-noite piaçoca ouviu barulhos; trovão, vento, chuva.
Piaçoca ficou ouvindo, os barulhos aumentavam e ela chamou japim. Japim dormia
muito, não respondeu à comadre. Até que acordou e viu piaçoca acordada:
-“O que está acontecendo?”.
Tinha muitos barulhos e um vento muito grande. Começo a balançar a casa
comprida de japim, balançava muito. Quando deu um solavanco forte, piaçoca
quase morreu de medo, não podia nem falar. Sacudia tudo, piaçoca ficava de
cabeça pra baixo, com as pernas pra cima, a asa entortada. Quando chegou perto
de amanhecer, piaçoca já estava quase morta de medo, tremendo. Japim chegou
pra ela:
-“Comadre, o que está acontecendo com você?”.
-“Eu estou morrendo, estou quase morta de medo. Não estou acostumada a isso.
Quando vai amanhecer?”.
-“É assim mesmo, comadre, minha casa é assim mesmo. Balança muito com o
vento, mas não cai”.
[Anexos] – Mitos
xxvi
Piaçoca ficou com muito medo, amanheceu chorando. Japim ria dela. Amanheceu e
piaçoca quis ir embora. Japim a acompanhou até sua casa.
-“Noutro dia, comadre, eu vou lhe convidar para passar um dia em minha casa”,
disse piaçoca para japim. Piaçoca contou para o marido o medo e o sofrimento que
ela tinha enfrentado. No dia seguinte o marido dela foi pra baixo:
-“Vou mariscar, ficarei uns dias fora”.
Passou uns dias, o marido de piaçoca não havia retornado ainda. Ela foi à casa de
japim:
-“Comadre, eu passei aqui para lhe pegar, pra você passar o dia lá em casa. Meu
marido saiu pra mariscar e ainda não voltou, eu estou me sentindo só. Eu não sei se
você vai gostar da comida que eu como. Minha comida é peixe e camarão”.
Piaçoca havia comido vermes e moscas na casa de japim, que é camarão também
para sua comadre. Japim disse:
-“Não tem problema, eu como sua comida. Eu também gosto de camarão”.
Aí foram pra casa de piaçoca. Ela morava no campo, onde venta muito.
-“Aqui é bonito, dá muito vento. Não tem mata, não tem nada, só campo”, falou
japim. Piaçoca chamou para comerem:
-“Vou colocar minha comida para você. Você aceita camarão e peixinho?”.
Aquele camarão era diferente do que japim comia e ela não aceitou. Pediu
desculpas a piaçoca:
-“Minha comida é outra, eu não quero”.
-“Eu aceitei sua comida, comadre, você não quer aceitar a minha. Você me fez
também dormir em sua casa, agora você vai dormir na minha também”.
-“Eu tenho de voltar, não posso ficar”.
-“Não, você tem de almoçar, jantar e dormir em minha casa”.
Ficaram discutindo até que escureceu. Japim ficou na casa de piaçoca.
-“Meu marido chega só amanhã, eu quero alguém pra dormir comigo aqui esta
noite”.
-“Está bom, eu durmo aqui”.
Foram dormir. Quando foi mais tarde fez grande ventania, chuva, trovoada. Caiu
muita chuva mesmo e o barranco começou a tremer. A casa de piaçoca balançava
toda com o vento. Japim ficou com muito medo e sofreu; quando o vento a
derrubava, caia na água, se virasse para o lado, caia na água. Não tinha lugar seco
onde pisar, a chuva molhou tudo, pois não havia teto na casa de piaçoca. Ela ficou
com muito frio, não podia nem se mexer de frio. Seis horas da manhã piaçoca
acordou. Chamou japim, mas ela não podia nem responder, de tanto frio que estava.
-“Comadre japim, o que aconteceu?”.
Depois vieram o sol e o calor.
-“Ai, meu Deus, eu estou morrendo”, falou japim.
Ela não conseguia nem andar. Piaçoca a ajudou e falou assim:
-“Quando eu fui em sua casa, aceitei tudo o que você me deu para comer, não
reclamei. Agora você também tem de aceitar”.
Ficaram se secando ao sol. Quando japim se recuperou, disse assim:
-“Muito obrigado, comadre”. Pulou e foi embora.
Essa é uma história engraçada.
[Anexos] – Mitos
xxvii
Narrado por Manoel Firmino.
Ilha Posse, rio Uaçá, outubro de 2005.
[Anexos] – Mitos
xxviii
M. 10
A morte do pajé Uruçú
Uruçú começou a lutar com a morte para ver se as pessoas não morriam mais, se
não ficavam mais doentes. Uruçú pensou: “Se eu matar a morte não vou mais
morrer também”. Começaram a brigar. A morte falou: “Ele não pode me vencer, eu
tenho de matar ele”. Passaram uns dias, a morte chegou aqui e falou pra Uruçú: “Eu
quero tomar uma água”. Ele pegou um jarro grande e abriu um pouco: “Ah, minha
filha, esta água aqui está quente, não é boa. Tem uma água ali bem fria e gostosa,
que vem da cabeceira de umas cachoeiras. Está lá naquele jarro, pode pegar”. A
morte foi embora pegar a água. O jarro era Bicho, era mãe do jarro. Uruçú tinha
falado com ele: “Olha, jarro, quando a morte estiver aqui debaixo, você tomba de
repente”. A morte foi entrar debaixo do jarro e o jarro tombou. Ela ficou presa, bem
presa. Ficou duas semanas, sem beber, sem comer, nem nada. De vez em quando
Uruçú vinha e a chamava; primeiro ela respondia forte, depois de duas semanas ela
ia respondendo fraco. Passaram-se meses e ela não respondia mais: “Será que ela
morreu?”, Uruçú pensou assim. Ele falou com o jarro e o jarro se levantou de
repente. Ele viu a morte caída de costas, com o peito pra cima: “Eu disse que ia lhe
matar”. A morte estava só escutando, não tinha morrido mesmo. Uruçú chamou a
mulher dele: “Vem ver, mulher, a morte está morta”. Aí tomaram caxiri. Ele sacudiu a
morte: “Levanta morte, eu não disse que lhe pegava?”. Tinha um martelo grande
perto que Uruçú havia colocado em cima do jarro para não levantar. Ele virou para
falar com a mulher, a morte levantou e pegou o martelo. Depois ela chamou Uruçú e
quando ele se virou ela o acertou. Caiu. Ela deu duas marteladas mais nele. Aí
matou Uruçú.
Narrado por Manoel Firmino.
Aldeia Kumarumã, outubro de 2005.
Diagrama 1 – Genealogias Xamânicas no Baixo Oiapoque
3
∩
∩
7
3
(
! 9
, *+
$
%
%
-
:
.
%
-
%
()
( * 2
,
(
3
*
, 6
3
,0
3
+
4
5+
0
$
/
, 9
%
3
$
*
(
'
)
%
$
$
&
%
(
%
!
4
0
#
*
*
%
1
! "
'
*
(
&
*
*
(
*
4 %
- %
3
(
*
3
'
8
!
*
Baixar