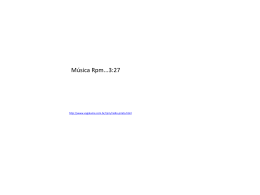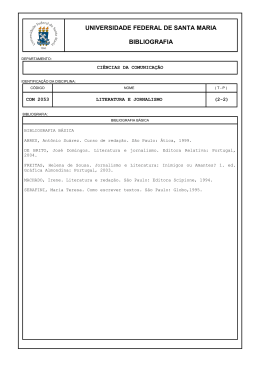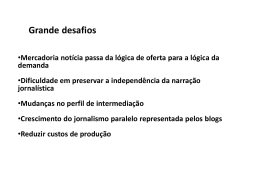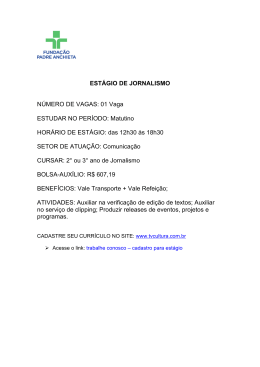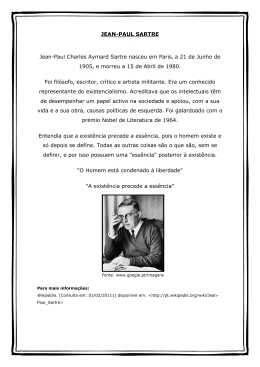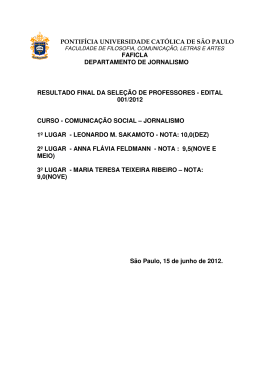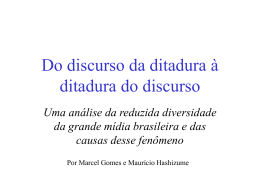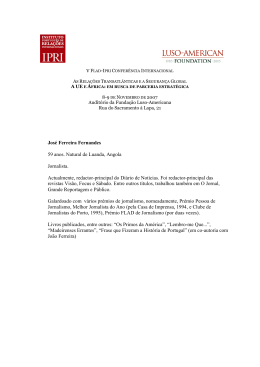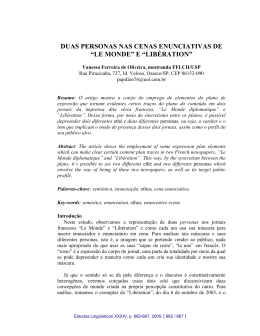O dilema de “ser” Sartre e “ter” um Rothschild Três décadas depois de Jean-Paul Sartre ter fundado, em conjunto com Bernard Lallement, o jornal Libération e de ter escrito na primeira edição que o diário não estaria sujeito a interesses económicos, como acontecia na imprensa francesa, pois “não busca nenhum lucro e não está sujeito a nenhum tipo de pressão”, os desígnios do filósofo foram recentemente traídos. O sonho de Sartre começou por se esvanecer no ano passado, quando o controle do Libé, idealizado por revolucionários maoistas e homens da revolta estudantil de Maio de 68, passou para as mãos de um dos herdeiros da família-símbolo do capitalismo liberal: os Rothschild. Com um investimento de 20 milhões de euros, Édouard de Rothschild libertou o terceiro diário mais lido de França de uma grave crise financeira e tornou-se no accionista maioritário com 37% do capital do jornal. Porém, é na última semana que o desejo de Sartre desaparece com o despedimento por pressão de Rothschild de Serge July, responsável pela direcção editorial do Libération, o homem da casa e da causa, desde a sua fundação há 33 anos atrás. À luz da nova configuração dos meios de comunicação social e da lógica de mercado que a suporta, este “adeus” ao espírito dos anos 70 que repudiava o dinheiro, no fundo a mercantilização da cultura, era previsível. Se no primeiro momento da destruição do projecto sartriano, o estrutural digamos, decorre da tendência de grandes empresários se sentarem nos lugares das administrações de meios ou de grupo de meios – nos rivais Le Figaro e Le Monde já tal havia sucedido com a entrada em cena dos empresários da indústria bélica, Dassault e Lagardère; o segundo deriva de um confronto de poderes em que a história, os valores e as ideias entre estes últimos e aqueles que “ordenam” a vida social das pessoas acentua ainda mais essa clivagem. Tal como foi retractado pelo jornal italiano de centro-esquerda Repubblica, o episódio da saída de Serge July simboliza o “fim de uma época”, a “última folha que cai” e o “insucesso no terreno político da geração de Maio de 68”. Mas, também significa mais do que isso, ao reflectir a complexidade que hoje envolve a comunicação social à escala mundial, nomeadamente a relação entre a propriedade e a sala de redacção; entre quem se preocupa com a rentabilidade e os accionistas e aqueles que criam acontecimentos para os cidadãos. Desta ligação emana a exteriorização de um dilema, que objectivamente ilustra este caso do Libération, da comparação entre o que os media outrora foram e o que actualmente são a partir da estrutura económica que os suporta. Ora, é o confronto existencial entre a função e o papel representados pelo jornalismo no passado e as condicionantes sociais, políticas e económicas contemporâneas que determinam a agenda, o destaque ou a primeira página que, de algum modo, conduzem a clivagens no interior do sector, a tensões dentro da própria casa que acabam, outras vezes não, em rupturas como no caso de July. Ignacio Ramonet, director do Le Monde Diplomatique, é bastante crítico em relação a esta ligação patrão/jornalista, pois defende que o poder económico, enquanto primeiro poder na era da globalização, perverteu a acção do jornalismo ao privilegiar os resultados em desfavor do “ideal cívico” e, por isso, “os media deixaram de ser viáveis”. São assim “um problema da democracia”, porque deixaram de ser o que eram no passado. No meu entender, parece-me óbvio que a questão desse modo colocada não favorecerá a solução que Ramonet propõe para o problema: “serem os cidadãos a defenderem um melhor funcionamento dos media”, se desde logo se parte com a premissa determinista dos media como um mal da democracia, em que a sua crise de credibilidade é explicada de forma simplista como resultado da globalização, esse fenómeno que “torna as empresas mais importantes do que os Estados”, como ele diz. Tal como Ramonet, também considero que os leitores, os espectadores e os ouvintes serão sempre indispensáveis para “controlar”, no bom sentido, os meios de comunicação social, contudo estimular ou favorecer esse dever cívico de atenção e de sentido crítico exige da parte daqueles que diariamente desempenham funções no sector, sejam eles administradores, directores ou jornalistas, esclarecimentos mais substantivos, mais “inteiros”, do mundo que os rodeia, não enveredando pelo facilitismo de dividir o mundo entre o bem e o mal, entre quem está do lado da pureza das ideias e quem está com a “imoralidade” do dinheiro. Para quem vive do jornalismo da redacção, o desafio não se coloca nessa divisão sob pena de se julgar que a competitividade se abraça com “contra-vapores” ou em “voluntarismos” para inverter o sentido do mundo, da globalização e da constituição de grupos mediáticos, “inimigos” do bom jornalismo. Neste contexto, resistir poderá passar por responder às necessidades que o mercado impõe, com o pressuposto da credibilidade, isenção e verdade através de uma maior celeridade na entrega da informação, condição base para o seu sucesso no actual quadro de uma sociedade contemporânea adepta da velocidade e da imediatez. Diários de referência europeus como EL Pais, The Guardian ou Le Monde estão a fazê-lo, através dos seus sites na internet, porque não há alternativa e não há tempo para o lamento e o carpir do que se almejava que a imprensa fosse. Como dizia Jean-Marie Colombani, director do Le Monde numa recente conferência que deu em Portugal, “os jornais têm que exisitir na Net e preservar essa existência”, como um dos caminhos para “relegitimar o jornalismo”. Resistir não será, certamente, julgar a vida da comunicação - a própria vida social – como um campo que se divide entre a pureza da ideologia e o calculismo do capitalismo. Os media, tal como o quotidiano de cada um, demonstram que cada vez mais se actua e se convive numa dependência (in)suportavelmente aceite, entre a necessidade da legitimação das ideias e o suporte de uma estrutura económica. Entre “ser” Sartre e “ter” um Rothschild ao lado, assim se continuará a contar a vida das pessoas e das notícias...
Download