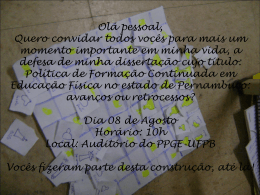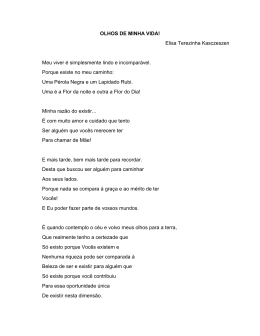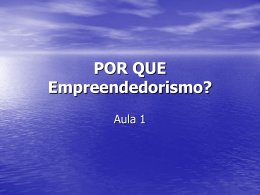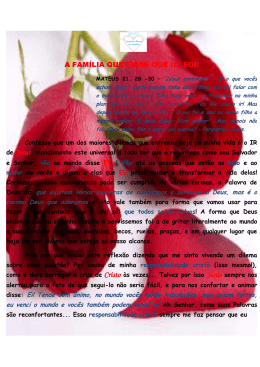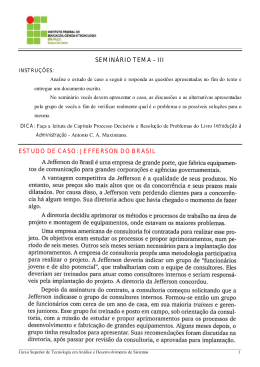Prefácio à edição de 1961 por Jean-Paul Sartre Não há muito tempo, a terra contava dois bilhões de habitantes, ou seja quinhentos milhões de homens e um bilhão e quinhentos milhões de indígenas. Os primeiros dispunham do Verbo, os outros o pediam emprestado. Entre estes e aqueles, reizinhos vendidos, senhores feudais, uma falsa burguesia inteiramente fabricada serviam de intermediários. Nas colônias, a verdade se mostrava nua; as “metrópoles” a preferiam vestida; era preciso que o indígena as amasse. Como mães, de certa forma. A elite européia pôs-se a confeccionar um indigenato de elite; selecionavam-se adolescentes, marcavam-se em suas frontes, com ferro em brasa, os princípios da cultura ocidental, introduziam-lhes na boca mordaças sonoras, grandes palavras pastosas que colavam nos dentes; depois de uma breve permanência na metrópole, mandavam-nos de volta, falsificados. Essas mentiras vivas não tinham mais nada a dizer aos seus irmãos; eles ecoavam. De Paris, de Londres, de Amsterdam, lançávamos palavras: “Partenon! Fraternidade!”, e, em algum lugar da África, lábios se abriam: “...tenon!...nidade!” Era a idade do ouro. Essa idade acabou: as bocas se abriram sozinhas; as vozes amarelas e negras ainda falavam do nosso humanismo, mas era para acusar a nossa inumanidade. Escutávamos sem desagrado essas cordiais manifestações de amargura. Primeiro, foi um deslumbramento orgulhoso: Então? Eles falam por si mesmos? Vejam o que fizemos deles! Não duvidávamos de que eles aceitassem o nosso ideal, já que eles nos acusavam de não lhe ser fiéis; assim, a Europa acreditou na sua missão: helenizara os asiáticos, criara uma espécie nova, os negros greco-latinos. Acrescentávamos, muito entre nós, práticas. Afinal, deixemos que eles gritem, isso os alivia. Cão que ladra não morde. Veio outra geração, que deslocou a questão. Seus escritores, seus poetas, com uma incrível paciência, tentaram explicar-nos que nossos valores não colavam com a verdade da vida deles, que eles não podiam rejeitá-los nem assimilá-los completamente. Em geral, isso queria dizer: vocês fazem de nós monstros, o seu humanismo nos afirma como universais e as suas práticas racistas nos particularizam. Nós os escutávamos, muito à vontade. Os administradores coloniais não são pagos para ler Hegel, assim eles o lêem muito pouco, mas não precisam desse filósofo para saber que as consciências infelizes se afundam nas suas contradições. Eficiência zero. Logo, perpetuemos a infelicidade deles, nada sairá dali. Dizem os conhecedores que, se houvesse a sombra de uma reivindicação nos seus gemidos, esta seria a integração. Nem pensar em concedê-la, é claro: arruinaríamos o sistema que repousa, como todos sabem, sobre a superexploração. Mas bastaria segurar na frente dos olhos deles essa cenoura: eles galopariam. Quanto a revoltar-se, estamos despreocupados: que indígena consciente iria massacrar os belos filhos da Europa apenas 24 para tornar-se europeu como eles? Em resumo, encorajávamos essas melancolias e, uma vez, achamos por bem conceder o Prêmio Goncourt a um negro. Foi antes de 39. 1961. Escutem: “Não percamos tempo em litanias estéreis ou em mimetismos nauseabundos. Deixemos esta Europa que não pára de falar do homem ao mesmo tempo em que o massacra por toda parte em que o encontra, em todas as esquinas de suas próprias ruas, em todos os cantos do mundo. Há séculos... que em nome de uma suposta ‘aventura espiritual’, ela sufoca a quase totalidade da humanidade.” Esse tom é novo. Quem ousa falar assim? Um africano, homem do Terceiro Mundo, ex-colonizado. E acrescenta: “A Europa adquiriu uma tal velocidade louca, desordenada... que ela corre para abismos dos quais é melhor afastar-se.” Em outras palavras: ela está perdida. Uma verdade que não é boa de se dizer, mas – não é, meus caros co-continentais? – uma verdade de que estamos todos, lá no fundo, convencidos. Mas é preciso fazer uma reserva. Quando um francês, por exemplo, diz a outros franceses: “Estamos perdidos!” – o que, que eu saiba, acontece mais ou menos todos os dias depois de 1930 – é um discurso passional, ardente de raiva e de amor, o orador se inclui, com todos os seus compatriotas. E depois, geralmente, acrescenta: “A menos que...” Vemos como são as coisas: não sobra mais nenhum erro a fazer; se as suas recomendações não forem seguidas ao pé da letra, então e só então o país se desintegrará. Em resumo, é uma ameaça seguida de um conselho e essas declarações chocam ainda menos porque jorram da intersubjetividade nacional. Quando Fanon, ao contrá25 rio, diz que a Europa corre para o precipício, longe de dar um grito de alarme, propõe um diagnóstico. Esse médico não quer nem condená-la sem apelação – milagres acontecem – nem dar-lhe os meios de curar-se: constata que ela agoniza. De fora, baseando-se nos sintomas que observou. Quanto a tratá-la, isso não: ele tem outras preocupações na cabeça; que ela exploda ou sobreviva, pouco lhe importa. Por essa razão, seu livro é escandaloso. E se vocês murmuram, irônicos e constrangidos: “O que é que ele quer?”, a verdadeira natureza do escândalo lhes escapa, pois Fanon não “quer” nada com vocês; sua obra – tão incendiária para outros – é gelada para vocês; nela, fala-se de vocês muitas vezes, mas nunca com vocês. Chega de Goucourt negros e de Nobel amarelos: acabou o tempo dos colonos laureados. Um ex-indígena “de língua francesa” dobra essa língua a exigências novas, usa-a e dirige-se apenas aos colonizados: “Indígenas de todos os países subdesenvolvidos, uni-vos!” Que decadência: para os pais, éramos os únicos interlocutores; os filhos nem nos consideram mais como interlocutores legítimos. Somos os objetos do discurso. Claro, Fanon menciona de passagem os nossos crimes famosos, Sétif, Hanoi, Madagascar, mas não perde tempo em condená-los; ele os utiliza. Se ele desmonta as táticas do colonialismo, o jogo complexo das relações que unem e opõem os colonos aos “metropolitanos”, é para os seus irmãos; seu objetivo é ensinar-lhes a nos desmascarar. Em suma, o Terceiro Mundo se descobre e se fala por essa voz. Sabemos que ele não é homogêneo e que nele ainda se encontram povos submetidos, outros que adquiriram uma falsa independência, outros que lutam para conquistar a sobera26 nia, outros enfim que ganharam a liberdade plena, mas vivem sob a ameaça constante de uma agressão imperialista. Essas diferenças nasceram da história colonial, isto é, da opressão. Aqui, a Metrópole contentou-se em pagar alguns feudais. Ali, dividindo para reinar, fabricou inteiramente uma burguesia de colonizados. Lá, teve dois proveitos: a colônia é ao mesmo tempo de exploração e de povoamento. Assim, a Europa multiplicou as divisões, as oposições, forjou classes e às vezes racismos, tentou por todos os expedientes provocar e ampliar a estratificação das sociedades colonizadas. Fanon não dissimula nada: para lutar contra nós, a antiga colônia deve lutar contra si mesma. Ou antes, as duas lutas são a mesma. No fogo do combate, todas as barreiras interiores devem fundir-se, a impotente burguesia de negocistas e compradores, o proletariado urbano, sempre privilegiado, o lumpenproletariado das favelas, todos devem alinhar-se com as posições das massas rurais, verdadeiro reservatório do exército nacional e revolucionário; nessas regiões cujo desenvolvimento o colonialismo deliberadamente estancou, o campesinato, quando se revolta, logo aparece como a classe radical: ela conhece a opressão nua, sofre muito mais do que os trabalhadores das cidades e, para impedi-la de morrer de fome, é preciso nada menos do que uma explosão de todas as estruturas. Se triunfar, a Revolução Nacional será socialista; se seu impulso for detido, se a burguesia colonizada tomar o poder, o novo Estado, a despeito de uma soberania formal, continuará nas mãos dos imperialistas. É o que ilustra bem o exemplo de Katanga. Assim, a unidade 27 do Terceiro Mundo não está feita: é um empreendimento em curso, que passa pela união, em cada país, depois e antes da independência, de todos os colonizados sob o comando da classe camponesa. É isso que Fanon explica aos seus irmãos da África, da Ásia, da América Latina: realizaremos todos juntos e por toda a parte o socialismo revolucionário ou seremos derrotados um a um por nossos antigos tiranos. Ele não dissimula nada: nem as fraquezas, nem as discórdias, nem as mistificações. Aqui, o movimento toma um mau ponto de partida; ali, depois de sucessos fulminantes, perde velocidade; lá, deteve-se: se quisermos que ele continue, é preciso que os camponeses joguem sua burguesia no mar. O leitor é severamente advertido contra as alienações mais perigosas: o líder, o culto da personalidade, a cultura ocidental e, igualmente, a volta do longínquo passado da cultura africana. A verdadeira cultura é a Revolução; isso quer dizer que ela se forja a quente. Fanon fala em voz alta; nós, os europeus, podemos ouvi-lo: a prova é que vocês têm este livro nas mãos; não teme ele que as potências coloniais tirem proveito da sua sinceridade? Não. Ele não teme nada. Nossos procedimentos estão vencidos; podem retardar às vezes a emancipação, mas não a deterão. E não imaginemos que podemos ajustar nossos métodos. O neocolonialismo, esse sonho preguiçoso das Metrópoles, é uma fábula. As “terceiras forças” não existem ou são as burguesias falsificadas que o colonialismo já pôs no poder. Nosso maquiavelismo tem pouca influência sobre esse mundo muito desperto, que já desmascarou, uma depois da 28 outra, as nossas mentiras. O colono só tem um recurso: a força, quando ela ainda lhe resta; o indígena só tem uma escolha: a servidão ou a soberania. A Fanon, pouco importa que vocês leiam ou não a sua obra, é aos seus irmãos que ele denuncia as nossas velhas astúcias, certo de que elas se esgotaram. É aos seus irmãos que ele diz: a Europa botou as patas sobre os nossos continentes; é preciso feri-las até que ela as retire; o momento nos favorece. Nada acontece em Bizerta, em Elisabethville, na aldeia argelina, que a terra inteira não fique sabendo; os blocos tomam partidos contrários, fazem-se respeitar mutuamente, imobilizam-se. Aproveitemos essa paralisia, entremos na história e que a nossa irrupção a torne universal pela primeira vez. Vamos combater; na falta de outras armas, bastará a paciência do punhal. Europeus, abram este livro, entrem nele. Depois de alguns passos na noite, verão estrangeiros reunidos em volta de uma fogueira, aproximem-se, escutem. Eles discutem o destino que reservam às agências européias, aos mercenários que as defendem. Eles os verão talvez, mas continuarão a falar entre si, sem mesmo baixar a voz. Essa indiferença fere no coração: os pais, criaturas da sombra, criaturas de vocês, eram almas mortas, vocês lhes davam a luz, eles só se dirigiam a vocês, e vocês não se davam ao trabalho de responder a esses zumbis. Os filhos os ignoram: um fogo os ilumina e aquece, e não é o fogo de vocês. Vocês, a uma distância respeitosa, se sentirão furtivos, noturnos, imobilizados. Cada um tem sua vez; nessas trevas de onde vai surgir uma nova aurora, os zumbis são vocês. 29 Nesse caso, dirão, vamos jogar este livro pela janela. Por que o ler, se não foi escrito para nós? Por dois motivos, dos quais o primeiro é que Fanon explica para seus irmãos o que são vocês e desmonta para eles o mecanismo das nossas alienações: aproveitem para descobrir-se a si mesmos em sua verdade de objetos. Nossas vítimas nos conhecem pelas chagas e pelos ferros: é isso que torna irrefutável o seu testemunho. Basta que elas nos mostrem o que fizemos delas para que conheçamos o que fizemos de nós. Isso é útil? Sim, pois a Europa está em grande perigo de explodir. Mas, dirão vocês ainda, vivemos na Metrópole e reprovamos os excessos. É verdade: vocês não são colonos, mas não são melhores que eles. Eles são os seus pioneiros, vocês os enviaram, além-mar, eles os enriqueceram; vocês os preveniram: se eles derramassem sangue demais, vocês os desaprovariam – só para constar. Da mesma forma, um Estado, qualquer que seja, mantém no estrangeiro uma horda de agitadores, de provocadores e espiões, que não reconhece quando são pegos. Vocês, tão liberais, tão humanos, que levam o amor da cultura até o preciosismo, fingem esquecer que têm colonias e nelas massacra-se em seu nome. Fanon revela aos seus camaradas – a alguns deles, principalmente, que estão um tanto ocidentalizados demais – a solidariedade dos “metropolitanos” e seus agentes coloniais. Tenham a coragem de ler este livro. Primeiro, pela razão de que ele lhes dará vergonha, e a vergonha, como disse Marx, é um sentimento revolucionário. Vejam: eu também não posso desprender-me da ilusão sub- 30 jetiva. Eu também lhes digo: “Tudo está perdido, a menos que...” Europeu, eu roubo o livro de um inimigo e faço dele um meio de curar a Europa. Aproveitem. Esta é a segunda razão: se vocês afastarem as tagarelices fascistas de Sorel, verão que Fanon é o primeiro, depois de Engels, a dirigir o foco para a parteira da história. E não creiam que um sangue vivo demais ou que infelicidades de infância lhe tenham dado pela violência não sei que gosto singular: ele se faz intérprete da situação, nada mais. Mas isso basta para que ele constitua, etapa por etapa, a dialética que a hipocrisia liberal esconde e que nos produziu, tanto quanto a ele. No século passado, a burguesia considerava os operários como invejosos, alterados por apetites grosseiros, mas tomava o cuidado de incluir esses brutos na nossa espécie: se não fossem homens e livres, como poderiam eles vender livremente a sua força de trabalho? Na França, na Inglaterra, o humanismo se pretendia universal. Com o trabalho forçado, é o contrário: não há contrato; além disso, é preciso intimidar; logo a opressão se mostra. Nossos soldados, além-mar, rejeitando o universalismo metropolitano, aplicam ao gênero humano o numerus clausus: já que ninguém pode, legalmente, despojar o seu semelhante, escravizá-lo ou matá-lo, eles estabelecem o princípio de que o colonizado não é o semelhante do homem. Nossa força-tarefa recebeu a missão de transformar em realidade essa certeza abstrata; deu-se a ordem de rebaixar os habitantes do território anexado ao nível do macaco superior, para justificar o 31 colono de tratá-los como bestas de carga. A violência colonial não se atribui apenas o objetivo de controlar esses homens dominados, ela procura desumanizá-los. Nada será poupado para liquidar suas tradições, para substituir suas línguas pelas nossas, para destruir sua cultura sem dar-lhes a nossa; nós os transformaremos em brutos pela fadiga. Desnutridos, doentes, se resistirem ainda, o medo terminará o trabalho: apontam-se fuzis para o camponês; vêm civis que se instalam na sua terra e o obrigam com o chicote a cultivá-la para eles. Se ele resiste, os soldados atiram, é um homem morto; se ele cede, degrada-se, não é mais um homem; a vergonha e o temor vão fissurar o seu caráter, desintegrar a sua pessoa. O caso é tratado com energia, por peritos: não é de hoje que datam os “serviços psicológicos”. Nem a lavagem de cérebro. Entretanto, apesar de tantos esforços, o objetivo não é atingido em parte alguma. Nem no Congo, onde se cortavam as mãos dos negros, nem em Angola, onde recentemente furavam-se os lábios dos descontentes, para fechá-los com cadeados. E não penso que seja impossível transformar um homem em animal: digo que não se consegue sem enfraquecê-lo consideravelmente; as pancadas nunca bastam, é preciso insistir na desnutrição. Este é o problema da servidão: quando se domestica um membro da nossa espécie, diminui-se o seu rendimento e, por pouco que se lhe dê, um homem-besta de carga acaba sempre custando mais do que rende. Por essa razão, os colonos são obrigados a interromper a doma no meio do processo: o resultado, nem homem nem besta, é o indígena. Espancado, subalimentado, doente, amedrontado, mas 32 até certo ponto apenas. Amarelo, preto ou branco, ele tem sempre os mesmos traços de caráter: é preguiçoso, fingido e ladrão, vive de nada e só reconhece a força. Pobre colono: eis a sua contradição posta a nu. Ele deveria, como faz o gênio – ao que se diz – matar aqueles que despoja. Ora, isso não é possível. Também não é preciso que ele os explore? Por não levar o massacre até o genocídio, e a servidão até o embrutecimento, ele perde o controle, a operação se inverte, uma implacável lógica a levará até a descolonização. Não imediatamente. Primeiro, o europeu reina: já perdeu mas não percebe. Ainda não sabe que os indígenas são falsos indígenas. Ele lhes faz mal, segundo diz, para destruir ou reduzir o mal que eles têm em si; ao fim de três gerações, seus perniciosos instintos não renascerão mais. Que instintos? Aqueles que levam os escravos a massacrar o senhor? Como não reconhece a sua própria crueldade voltada contra si? Na selvageria desses camponeses oprimidos, como o europeu não vê a sua selvageria de colono, que eles absorveram por todos os poros e da qual eles não se curam? A razão é simples: esse personagem imperioso, perturbado pela sua onipotência e pelo medo de perdê-la, não se lembra mais muito bem de que foi um homem. Toma-se por um chicote ou por um fuzil; acaba acreditando que a domesticação das “raças inferiores” se obtém pelo condicionamento dos seus reflexos. Não leva em conta a memória humana, as lembranças inapagáveis; e, principalmente, há uma coisa que talvez ele nunca soube: só nos tornamos aquilo que somos pela negação íntima e radical 33 daquilo que fizeram de nós. Três gerações? Desde a segunda, mal abriam os olhos, os filhos viram espancar os pais. Em termos de psiquiatria, ficaram “traumatizados”. Pelo resto da vida. Mas essas agressões, incessantemente renovadas, longe de levá-los a submeter-se, os jogam numa contradição insuportável, da qual o europeu, cedo ou tarde, pagará o preço. Depois disso, sejam eles domados por sua vez, que a vergonha, a dor e a fome lhes sejam ensinadas: apenas será suscitada em seus corpos uma raiva vulcânica, cuja potência é igual à da pressão que se exerce sobre eles. Vocês diziam que eles só reconhecem a força? É claro: primeiro, será apenas a do colono e, logo, apenas a deles. Isso quer dizer: a mesma força, recaindo sobre nós, como o nosso reflexo vem do fundo do espelho ao nosso encontro. Não se enganem; por esse louco amargor, por essa bile e esse fel, pelo desejo permanente de nos matar, pela contratura permanente de músculos poderosos que têm medo de se mover, eles são homens. Pelo colono, que os quer homens-bestas de carga, e contra ele. Ainda cego, abstrato, o ódio é o seu único tesouro: o Senhor o provoca porque tenta embrutecê-los, ele não consegue quebrá-lo porque seus interesses o detêm a meio caminho; assim, os falsos indígenas ainda são humanos, pela potência e pela impotência do opressor, que se transformam, no seu íntimo, numa recusa obstinada da condição animal. O resto, já compreendemos; eles são preguiçosos, é claro: sabotagem. Fingidos, ladrões: ora, os furtos assinalam o começo de uma resistência ainda desorganizada. Isso não basta: alguns se afirmam, jogando-se de mãos nuas 34 contra os fuzis; são os heróis deles; e outros se fazem homens assassinando europeus. São abatidos: bandidos e mártires, seu suplício exalta as massas aterrorizadas. Aterrorizadas, sim: nesse novo momento, a agressão colonial se interioriza em Terror nos colonizados. Com isso, não quero dizer apenas o temor que eles sentem diante dos nossos inesgotáveis meios de repressão, mas também aquele que lhes inspira o seu próprio furor. Estão encurralados entre nossas armas, que os visam, e essas apavorantes pulsões, esses desejos de assassínio que sobem do fundo dos corações e que nem sempre eles reconhecem, pois isso não é, primeiro, a violência deles. É a nossa, invertida, que aumenta e os dilacera; e o primeiro movimento desses oprimidos é enterrar profundamente essa inconfessável cólera que a sua moral e a nossa reprovam e que é, entretanto, apenas o último reduto da sua humanidade. Leiam Fanon: saberão que, no tempo da sua impotência, a loucura assassina é o inconsciente coletivo dos colonizados. Essa fúria contida, por não estourar, anda em círculos e devasta os próprios oprimidos. Para se libertarem dela, acabam massacrando-se entre si. As tribos combatem umas contra as outras por não poderem enfrentar o inimigo verdadeiro – e vocês podem contar com a política colonial para alimentar essas rivalidades; o irmão, levantando o punhal contra o seu irmão, acredita destruir, de uma vez por todas, a imagem detestada do seu aviltamento comum. Mas essas vítimas expiatórias não saciam sua sede de sangue; eles só se impedirão de marchar contra as metralhadoras fazendo-se nossos 35 cúmplices. Essa desumanização que eles rejeitam, eles vão, por sua própria vontade, acelerar-lhe os progressos. Sob os olhos divertidos do colono, eles se precaverão contra si próprios com barreiras sobrenaturais, ora reanimando velhos mitos terríveis, ora submetendo-se a ritos meticulosos. Assim, o obcecado foge da sua exigência profunda infligindo-se manias que o solicitam a cada instante. Dançam; na dança movem os músculos dolorosamente contraídos e a dança mimetiza, em segredo, muitas vezes sem que eles saibam, o Não que eles não podem dizer, os assassinatos que não podem cometer. Em certas regiões, usam um último recurso: a possessão. O que era outrora fato religioso em sua simplicidade, uma certa comunicação do fiel com o sagrado, é transformado em arma contra o desespero e a humilhação: os demônios, os orixás, os santos da Santeria descem sobre eles, governam a sua violência e a desperdiçam em transes até o esgotamento. Ao mesmo tempo, esses altos personagens os protegem: isso quer dizer que os colonizados se defendem da alienação colonial, reforçando a alienação religiosa. Com o único resultado, afinal de contas, que acumulam as duas alienações e cada uma reforça a outra. Assim, em certas psicoses, cansados de ser insultados todos os dias, os alucinados decidem, um belo dia, ouvir uma voz de anjo que os cumprimenta; nem por isso as ironias cessam, mas doravante se alternam com as felicitações. É uma defesa e é o fim de sua aventura: a pessoa está dissociada, o doente caminha para a demência. Acrescente-se, para alguns infelizes rigorosamente selecionados, esta outra possessão de que já fa- 36 lei: a cultura ocidental. No lugar deles, dirão vocês, eu ainda preferiria os meus demônios à Acrópole. Muito bem, vocês compreenderam. Entretanto, não completamente, pois vocês não estão no lugar deles. Ainda não. Senão, vocês saberiam que eles não podem escolher. Eles acumulam. Dois mundos, duas possessões: dança-se a noite inteira; quando amanhece, corre-se para a igreja para ouvir missa; a cada dia, a fissura aumenta. Nosso inimigo trai os seus irmãos e se faz nosso cúmplice; seus irmãos fazem o mesmo. O indigenato é uma neurose introduzida e alimentada pelo colono nos colonizados com o consentimento destes. Pedir e rejeitar, ao mesmo tempo, a condição humana: essa contradição é explosiva. Assim, ela explode, vocês sabem tanto quanto eu. E vivemos no tempo da deflagração. Se o aumento dos nascimentos agrava a miséria, se os recém-chegados têm a temer viver um pouco mais do que morrer, a torrente da violência varre todas as barreiras. Na Argélia, em Angola, massacram-se abertamente os europeus. É a hora do bumerangue, o terceiro tempo da violência: ela volta para nós, ela nos golpeia, e, como das outras vezes, não compreendemos que ela é a nossa. Os “liberais” ficam perplexos, reconhecem que não fomos suficientemente gentis com os indígenas, que teria sido mais justo e mais prudente conceder-lhes certos direitos, na medida do possível; o que mais queriam seria admiti-los, às fornadas e sem padrinho, nesse clube tão fechado, a nossa espécie. E eis que esse transbordamento bárbaro e louco não os poupa, como não poupa os maus colonos. A esquer- 37 da metropolitana está constrangida. Ela conhece a verdadeira condição dos indígenas, a opressão impiedosa de que são objeto, não condena a sua revolta, sabendo que fizemos tudo para provocá-la. Mas assim mesmo, pensa ela, há limites: esses guerrilheiros deveriam fazer questão de se mostrarem cavalheirescos; seria o melhor meio de provar que são homens. Às vezes, ela os repreende: “Vocês exageram, não vamos apoiá-los mais.” Eles pouco se importam: pelo que vale o apoio que ela lhes dá, ela pode enfiá-lo naquele lugar. Desde que sua guerra começou, eles perceberam esta verdade rigorosa: todos nós nos equivalemos, todos nós nos aproveitamos deles, eles não têm nada a provar, não darão tratamento especial a ninguém. Um só dever, um só objetivo: expulsar o colonialismo por todos os meios. E os mais conscientes de nós estariam, a rigor, prontos a admiti-lo, mas não podem impedir-se de ver nessa prova de força o meio absolutamente inumano que sub-homens adotaram para conseguir que lhes fosse outorgada uma carta de humanidade: que esta seja concedida o mais depressa possível e que eles tratem então, por meios pacíficos, de merecê-la. Nossas belas almas são racistas. Elas farão bem em ler Fanon. Ele mostra perfeitamente que essa violência indomável não é uma absurda tempestade nem a ressurreição de instintos selvagens, nem mesmo um efeito do ressentimento. É o próprio homem que se recompõe. Esta verdade, nós a soubemos, acredito, e nós a esquecemos: as marcas da violência nenhuma doçura apagará, só a violência pode destrui-las. E o colonizado se cura da neurose colonial expulsando 38 o colono pelas armas. Quando sua raiva estoura, ele reencontra a sua transparência perdida, ele se conhece na mesma medida em que se faz; de longe, consideramos sua guerra como triunfo da barbárie; mas se ela procede por si mesma à emancipação progressiva do combatente, ela liquida nele e fora dele, progressivamente, as trevas coloniais. Logo que ela começa, não tem piedade. É preciso ficar terrificado ou tornar-se terrível. Isso quer dizer: abandonar-se às dissociações de uma vida falsificada ou conquistar a unidade natal. Quando os camponeses tocam os fuzis, os velhos mitos empalidecem, as interdições são uma a uma derrubadas. A arma de um combatente é a sua humanidade. Pois, no primeiro tempo da revolta, é preciso matar. Abater um europeu é matar dois coelhos com uma só cajadada, suprimir ao mesmo tempo um opressor e um oprimido: restam um homem morto e um homem livre; o sobrevivente, pela primeira vez, sente um solo nacional sob a planta dos pés. Nesse instante, a Nação não se afasta dele, ela se encontra aonde ele vai, onde ele está – nunca mais longe, ela se confunde com a sua liberdade. Mas, depois da primeira surpresa, o exército colonial reage: é preciso unir-se ou deixar-se massacrar. As discórdias tribais se atenuam, tendem a desaparecer. Primeiro, porque põem em perigo a Revolução, e mais profundamente porque não tinham outra função senão derivar a violência para falsos inimigos. Quando elas permanecem – como no Congo – é porque são alimentadas pelos agentes do colonialismo. A Nação se põe em marcha; para cada irmão, ela está em toda a parte onde outros irmãos combatem. Seu amor fraternal é 39 o avesso do ódio que eles têm por vocês: irmãos pelo fato de que cada um deles matou e pode, de uma hora para outra, matar outra vez. Fanon mostra aos seus leitores os limites da “espontaneidade”, a necessidade e os perigos da “organização”. Mas, qualquer que seja a imensidão da tarefa, a cada desenvolvimento do empreendimento a consciência revolucionária se aprofunda. Os últimos complexos se desfazem: que venham falar-nos do “complexo de dependência” do soldado da Aliança Libertadora Nacional... Livre de seus antolhos, o camponês toma conhecimento das suas necessidades: eles o matavam mas ele tentava ignorá-los; ele os descobre como exigências infinitas. Nessa violência popular – para agüentar cinco anos, oito anos, como fizeram os argelinos – as necessidades militares, sociais e políticas não podem distinguir-se. A guerra – só pelo fato de levantar a questão do comando e das responsabilidades – já institui novas estruturas, que serão as primeiras instituições da paz. Eis pois o homem instaurado até em tradições novas, filhas futuras de um horrível presente, ei-lo legitimado por um direito que vai nascer, que nasce cada dia no combate, com o último colono morto, expulso ou assimilado; a espécie minoritária desaparece, dando lugar à fraternidade socialista. E isso ainda não basta. Esse combatente queima as etapas; vocês podem imaginar que ele não arrisca a pele para se ver no nível do velho homem “metropolitano”. Vejam a sua paciência: talvez ele sonhe algumas vezes com um novo Dien-Bien-Phu; mas acreditem que ele não conta realmente com isso. É um miserável lutando, na sua miséria, contra ricos poderosamente 40 armados. Esperando as vitórias decisivas e, muitas vezes, sem nada esperar, ele atormenta os seus adversários até a náusea. Isso não ocorrerá sem horrorosas perdas; o exército colonial se torna feroz: buscas, perseguições, reagrupamentos, expedições punitivas; massacram-se as mulheres e as crianças. Ele sabe disso. Esse homem novo começa sua vida de homem pelo fim; considera-se um morto em potência. Será morto: não é apenas que ele aceite esse risco; ele tem certeza. Esse morto em potência perdeu a mulher, os filhos; viu tantas agonias que quer vencer, mais do que sobreviver; outros aproveitarão a vitória, não ele. Está cansado demais. Mas essa fadiga do coração está na origem de uma incrível coragem. Encontramos nossa humanidade aquém da morte e do desespero, ele a encontra além dos suplícios e da morte. Fomos os semeadores dos ventos; a tempestade, é ele. Filho da violência, ele retira dela, a cada instante, a sua humanidade: nós éramos homens à custa dele, ele se faz homem à nossa. Um outro homem. De melhor qualidade. Aqui, Fanon se detém. Mostrou o caminho. Porta-voz dos combatentes, exigiu a união, a unidade do continente africano contra todas as discórdias e todos os particularismos. Seu objetivo foi atingido. Se ele quisesse descrever integralmente o fato histórico da descolonização, teria de falar de nós, o que certamente não é seu propósito. Mas, quando fechamos o livro, ele prossegue em nós, apesar do seu autor: pois experimentamos a força dos povos em revolução e nós lhes respondemos pela força. Há pois um novo momento da violência e é a nós, desta vez, que é preciso voltar, pois ela nos está transformando, na medida 41 em que o falso indígena se transforma através dela. Cada um conduza as suas reflexões como quiser. Desde que, entretanto, reflita: na Europa de hoje, atordoada pelos golpes que lhe dão, na França, na Bélgica, na Inglaterra, a menor distração do pensamento é uma cumplicidade criminosa com o colonialismo. Este livro não tinha nenhuma necessidade de prefácio. Menos ainda porque não se dirige a nós. Mas escrevi um, para levar a dialética até o fim: também nós, gente da Europa, somos descolonizados. Isso quer dizer que extirpa-se, por uma operação sangrenta, o colono que está em cada um de nós. Olhemos para nós, se tivermos coragem, e vejamos o que é feito de nós. É preciso enfrentar primeiro este espetáculo inesperado, o striptease do nosso humanismo. Ei-lo completamente nu, não é nada bonito. Era só uma ideologia mentirosa, a refinada justificação da pilhagem; suas ternuras e seu preciosismo caucionavam as nossas agressões. Fazem boa figura, os não-violentos: nem vítimas nem carrascos! Vejamos! Se vocês não são vítimas, quando o governo que vocês plebiscitaram, quando o exército em que seus irmãos mais novos serviram, sem hesitação nem remorso, cometeram um “genocídio”, vocês são, indubitavelmente, carrascos. E se vocês escolhem ser vítimas, arriscar um dia ou dois de prisão, escolhem simplesmente abandonar o jogo. Mas não o abandonarão: é preciso ficar nele até o fim. Compreendam isto, afinal: se a violência começou esta noite, se a exploração e a opressão nunca existiram sobre a terra, talvez a não-violência ostensiva possa pacificar a disputa. Mas se o regime inteiro e até os seus não-violentos pensamentos são 42 condicionados por uma opressão milenar, a sua passividade só serve para situá-los do lado dos opressores. Vocês bem sabem que somos exploradores. Vocês bem sabem que tomamos o ouro e os metais, e depois o petróleo dos “novos continentes” e os trouxemos para as velhas metrópoles. Não sem excelentes resultados: palácios, catedrais, capitais industriais; e quando a crise nos ameaçava, os mercados coloniais estavam ali para amortecê-la ou desviá-la. A Europa, saturada de riquezas, concedeu de jure a humanidade a todos os seus habitantes: um homem, entre nós, significa um cúmplice, pois nós todos nos aproveitamos da exploração colonial. Este continente gordo e pálido acaba por cair naquilo que Fanon chama justamente de “narcisismo”. Cocteau se irritava com Paris, “essa cidade que fala o tempo todo de si mesma”. E a Europa, faz diferente? E esse monstro supereuropeu, a América do Norte? Que tagarelice: liberdade, igualdade, fraternidade, amor, honra, pátria, e o que mais? Isso não nos impedia de ter ao mesmo tempo um discurso racista, negro sujo, judeu sujo, turco sujo. Bons espíritos, liberais e ternos – em resumo, neocolonialistas – se mostravam chocados com essa inconseqüência. Erro ou má fé. Nada mais conseqüente, entre nós, do que um humanismo racista, pois o europeu só pôde fazer-se homem fabricando escravos e monstros. Enquanto houve um indigenato, essa impostura não foi desmascarada; encontrava-se no gênero humano uma abstrata postulação de universalidade, que servia para cobrir práticas mais realistas: havia, do outro lado dos mares, uma raça de sub-homens que, graças a nós, talvez em mil anos, 43 se elevaria ao nosso estado. Em resumo, confundia-se o gênero com a elite. Hoje, o indígena revela a sua verdade; com isso, nosso clube tão fechado revela a sua fraqueza: era nem mais nem menos do que uma minoria. Pior ainda: já que os outros se fazem homens contra nós, resulta que somos os inimigos do gênero humano; a elite revela a sua verdadeira natureza: uma gangue. Nossos caros valores perdem suas asas; olhando-os de perto, não se acha um que não esteja manchado de sangue. Se precisam de um exemplo, lembrem-se destas grandes palavras: como é generosa a França! Generosos, nós? E Sétif? E os oito anos de guerra feroz, que custaram a vida a mais de um milhão de argelinos? E o choque elétrico? Mas compreendam bem que não nos acusam de ter traído não sei que missão, pela boa razão de que não tínhamos nenhuma. É a própria generosidade que é questionada; essa bela palavra sonora só tem um sentido: status outorgado. Para os homens do outro lado do mar, novos e libertos, ninguém tem o poder nem o privilégio de dar algo a alguém. Cada um tem todos os direitos. Sobre todos; e nossa espécie, quando um dia ela se constituir, não se definirá como a soma dos habitantes do globo, mas como a unidade infinita de suas reciprocidades. Detenho-me; vocês acabarão o trabalho sem dificuldade; basta olhar de frente, pela primeira e última vez, as nossas aristocráticas virtudes: elas explodem; como sobreviveriam à aristocracia de sub-homens que as geraram? Há alguns anos, um comentarista burguês – e colonialista – para defender o Ocidente, só encontrou isto: “Não somos anjos. Mas nós, pelo menos, temos remorsos.” Que confissão! Ou- 44 trora, nosso continente tinha outros flutuadores: o Partenon, Chartres, os Direitos Humanos, a suástica. Sabemos agora o que eles valem, e há quem pretenda nos salvar do naufrágio só com o sentimento muito cristão da nossa culpabilidade. É o fim, como vocês estão vendo. O barco da Europa faz água por toda parte. O que aconteceu? Isto, simplesmente: éramos sujeitos da história e agora somos objetos. A relação de forças se inverteu, a descolonização está em curso; tudo o que nossos mercenários podem tentar é retardar o fim. Mas ainda é preciso que as velhas “metrópoles” “dêem duro”, que se empenhem com todas as forças numa batalha antecipadamente perdida. Essa velha brutalidade colonial, que fez a glória duvidosa dos Bugeaud, nós a reencontramos, no fim da aventura, decuplada e insuficiente. Envia-se o contingente para a Argélia, ele se mantém ali durante sete anos sem resultado. A violência mudou de sentido; vitoriosos, nós a exercíamos sem que ela parecesse alterar-nos. Ela decompunha os outros e nós, os homens, nosso humanismo ficava intacto; unidos pelo lucro, os metropolitanos batizavam com os nomes de fraternidade, amor, a comunidade dos seus crimes; hoje, a mesma violência, bloqueada por toda parte, volta para nós através dos nossos soldados, interioriza-se e nos possui. A involução começa: o colonizado se recompõe e nós, ultras e liberais, colonos e “metropolitanos”, nós nos decompomos. A raiva e o medo estão nus; eles se mostram claramente nos “pogroms” de árabes em Argel. Onde estão os selvagens, agora? Onde está a barbárie? Não falta nada, nem mesmo os tambores; as buzinas ritmam “Argélia francesa”, enquanto os europeus queimam vivos os mu- 45 çulmanos. Não há muito tempo, Fanon lembra, psiquiatras reunidos em congresso se preocupavam com a criminalidade indígena: essa gente se mata entre si, diziam eles, isso não é normal; o córtex do argelino deve ser subdesenvolvido. Na África Central, outros estabeleceram que “o africano utiliza muito pouco os seus lobos frontais”. Hoje, esses sábios fariam bem em continuar a sua pesquisa na Europa e particularmente entre os franceses. Pois também nós, há alguns anos, devemos estar sofrendo de preguiça frontal: os patriotas assassinam um pouco os seus compatriotas; em caso de ausência, eles explodem o porteiro ou a casa. É apenas um começo, a guerra civil está prevista para o outono ou para a primavera próxima. Entretanto, nossos lobos parecem em perfeito estado. Não seria porque, não podendo esmagar o indígena, a violência volta-se contra si mesma, acumula-se no fundo de nós e procura uma saída? A união do povo argelino produz a desunião do povo francês. Em todo o território da ex-metrópole, as tribos dançam e se preparam para a guerra. O terror deixou a África para instalar-se aqui, pois há loucos furiosos que querem fazer-nos pagar com o nosso sangue a vergonha de termos sido derrotados pelo indígena e há os outros, todos os outros, igualmente culpados – depois de Bizerta, depois dos linchamentos de setembro, quem foi para a rua para dizer: Chega!? – porém mais calmos: os liberais, os durões da esquerda mole. Neles também, a febre aumenta. E o ressentimento. Mas que medo! Para si mesmos, eles mascaram a raiva com mitos, com ritos complicados; para retardar o acerto de contas final e a hora da verdade, eles puseram à nossa frente um Grande Feiticeiro cujo ofício é manter-nos a qualquer preço na obscuridade. Nada adian- 46 ta; proclamada por uns, rejeitada por outros, a violência anda em círculos: um dia, explode em Metz, no dia seguinte em Bordeaux; ela passou por aqui, passará por ali, é uma brincadeira. Por nossa vez, passo a passo, seguimos o caminho que leva ao indigenato. Mas, para tornarmo-nos completamente indígenas, seria preciso que o nosso solo fosse ocupado pelos ex-colonizados e nós morrêssemos de fome. Isso não ocorrerá. Não; é o colonialismo decaído que nos possui, é ele que logo nos cavalgará, decadente e soberbo; ei-lo, o nosso demônio, o nosso orixá. E vocês se convencerão, ao ler o último capítulo de Fanon, de que é melhor ser um indígena no pior momento da miséria do que um aristocrata colono. Não é bom que um funcionário da polícia seja obrigado a torturar dez horas por dia. Nesse ritmo, seus nervos não vão agüentar, a menos que se proíbam os carrascos, para o seu próprio bem, de fazer hora extra. Quando se quer proteger, com o rigor da lei, o moral da Nação e do Exército, não é bom que este desmoralize sistematicamente aquela. Nem que um país de tradição republicana confie, às centenas de milhares, os seus jovens a oficiais golpistas. Não é bom, meus compatriotas, vocês que conhecem todos os crimes cometidos em nosso nome, não é bom mesmo que vocês não digam uma palavra sobre isso a ninguém, nem mesmo às suas almas, por medo de que elas os julguem. No início, vocês ignoravam, quero crer, depois vocês duvidaram, agora vocês sabem, mas continuam a se calar. Oito anos de silêncio; isso é aviltante. E para nada serviu: hoje, o sol ofuscante da tortura está no zênite, ilumina todo o país; sob essa luz, não há mais um riso que ressoe bem, não há mais um rosto que se pinte para mascarar a cólera ou o medo, não há mais 47 um ato que não traia o nosso asco e as nossas cumplicidades. Hoje, basta que dois franceses se encontrem para que haja um cadáver entre eles. Digo um? Outrora, França era um nome de país; vamos ter cuidado para que, em 1961, não seja um nome de neurose. Ficaremos curados? Sim. A violência, como a lança de Aquiles, pode cicatrizar os ferimentos que faz. Hoje, estamos acorrentados, humilhados, doentes de medo: por baixo. Felizmente, isso ainda não basta para a aristocracia colonialista: ela só pode cumprir sua missão retardadora na Argélia quando tiver acabado de colonizar os franceses. Cada dia, recuamos diante da desordem, mas estejam certos de que nós não a evitaremos: os matadores precisam disso; eles vão se jogar sobre nós e atacar onde puderem. Assim acabará o tempo dos feiticeiros e dos feitiços. Vocês terão de lutar ou apodrecer nos campos de prisioneiros. É o último momento da dialética: vocês condenam essa guerra, mas ainda não ousam declarar-se solidários dos combatentes argelinos. Não tenham medo, contem com os colonos e com os mercenários: eles os ajudarão a dar esse passo. Talvez então, contra a parede, vocês soltarão enfim essa violência nova que velhas façanhas requentadas suscitam em vocês. Mas isso, como se diz, é outra história. A história do homem. O tempo se aproxima, tenho certeza, em que nós nos juntaremos àqueles que a fazem. Jean-Paul Sartre setembro de 1961 48
Download