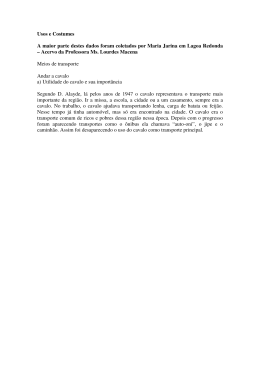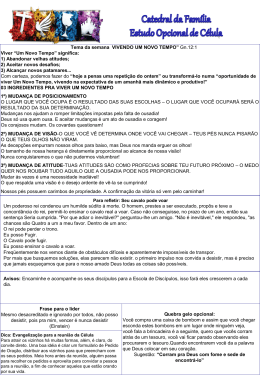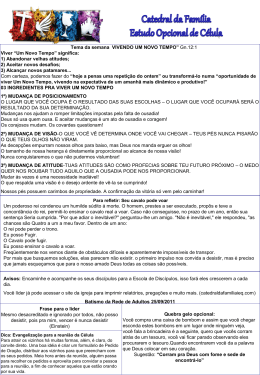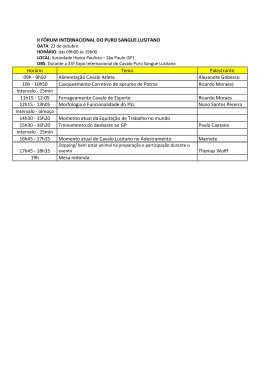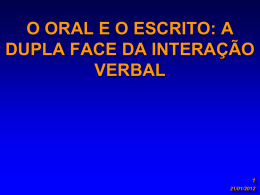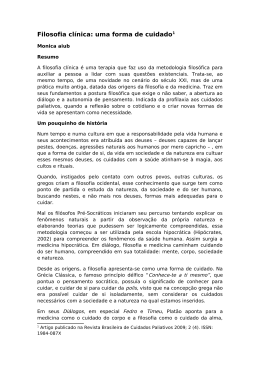O cavalo e a água – Um vice-conceito ou uma esteticidade seletiva Monica Aiub São Vicente e-mail: [email protected] Por que fazer pelos outros o que não desejam para si? Isso não é liberdade, muito menos autonomia. Seria um bem? Mas... como formar um cidadão para que se tenha condições de escolher o que quer para si? Em que momento da vida é possível ter essa condição? Até que ponto o papel do professor é “obrigar”, “forçar” o aluno a estudar? Até onde podemos exigir de profissionais que assumam uma consciência de seus papéis sociais? Dizia o querido amigo e professor Itagyba: Eu posso levar o cavalo até a fonte, mas não posso obrigá-lo a beber a água. Até que ponto “obrigar o cavalo a beber a água” não é tirar-lhe a liberdade? Mas seria essa liberdade legítima ou apenas fruto de não se ter percebido uma necessidade de beber a água? Será que, se deixado ao lado da fonte, o cavalo beberia a água quando estivesse com sede, ou morreria seco com a fonte a seu lado, sem saber o que fazer com ela? Vivo diversos papéis existenciais que se contradizem nesse ponto. Como professora, qual a medida? Levo o cavalo até a fonte, mostro para que serve a água, como é bom bebê-la (bom para mim) quando se tem sede e... obrigo-o a experimentar? Às vezes em medida tão própria para mim, mas imprópria para ele a ponto de causar um afogamento. E se esse afogamento fizer-lhe significar a água como um mal e levá-lo a morrer de sede? Mas preocupa-me que morra de sede ao lado da fonte por falta de hábito, por desconhecimento. Haveria um equilíbrio entre ambas posições? Qual a medida? Como presidente da Associação Paulista de Filosofia Clínica vivo a mesma situação. Há atitudes que deveriam vir, na minha representação, de cada um dos associados, mas, volta e meia vejo-me “obrigada” a levar um copo d’água para um, a atirar um pouco de água no outro, a mergulhar alguns na fonte e segurar um pouco (não o suficiente para que se afoguem, apenas para um despertar). Estaria eu errada? Penso, sinceramente, que sim, pois ao fazer isso, intervenho na vida do outro de modo direto e não tenho esse direito. Mas por que faço então? Porque, na minha representação, temos um objetivo comum e esses “banhos”, às vezes, são necessários. O problema é errar a medida e ao invés do banho gerar um afogamento... Novamente... Qual a medida? Como mãe... a mesmíssima dúvida. Há momentos de total intervenção. Mas para cumprir esse papel são necessários. Erro, muitas vezes, devido à dificuldade que tenho em intervir nas escolhas alheias. Como amiga, intervenho na medida do permitido. Prefiro não interferir a interferir na hora errada, ou excessivamente. Posso achar que o outro está errado, mas não tenho o direito de invadir seu modo de ser, de impor-lhe o meu. E como filósofa clínica? Meus direitos diminuem, ou melhor, acabam. Mas voltando ao cavalo, e se ele estiver morrendo de sede e não quiser beber a água, devo deixa-lo morrer? Na clínica, a escolha é sempre do partilhante. Nem por isso devo eximir-me da obrigação de levá-lo a pensar e avaliar as possibilidades, as prováveis conseqüências de suas ações, suas necessidades, os caminhos possíveis a serem trilhados... afinal, é para isso que o partilhante nos procura, para que possamos auxiliá-lo a resolver uma questão que não consegue resolver sozinho, ou para descobrir o que ocorre com ele para que sua vida esteja nessa situação, ou ainda, para ajudá-lo a encontrar caminhos. Porém, a escolha pelo caminho, a decisão tomada, a solução encontrada são escolhas que competem a ele. Mesmo que eu não concorde com o caminho escolhido, não me cabe julgar, nem decidir pelo outro. Costumo contar em aula o caso de uma partilhante que me procurou devido a uma insatisfação com o trabalho. Durante a clínica fizemos vários planejamentos de possibilidades de mudança de profissão, avaliamos uma a uma, eram muitos os fatores envolvidos – depois de toda a análise, ela decidiu-se por manter-se na profissão, porque, depois de ter analisado as demais possibilidades, descobriu ser esse o caminho que queria para sua vida. Interiormente, fiquei contrariada, afrontou meus Princípios de Verdade, mas a vida era dela e não minha. Encontrei-lhe há poucos dias e agradeceu-me, relatando a felicidade com que vem desenvolvendo seu trabalho. Outro caso semelhante foi o de uma moça que me procurou por problemas no casamento. Na minha representação, o melhor a ser feito era livrar-se do “estorvo” que era o marido (eu teria feito isso há muito tempo). Para ela, a opção foi manter o casamento, modificar alguns tópicos de sua Estrutura de Pensamento, e mesmo com algum sofrimento, continuar na mesma situação. Durante o trabalho encontramos diferentes Dados de Semiose para que ela pudesse dizer ao marido o que sentia e queria. A situação melhorou um pouco, e ela continuou com seu príncipe, na minha representação: um sapo boi. Mas volto à pergunta: qual a medida? Penso ser um equilíbrio. Não o equilíbrio ditado pela mídia, nem pela ciência, muito menos pelo senso comum. O equilíbrio interno do ser, aquela medida que precisamos aprender para andar de bicicleta sem cair para um lado ou para o outro, aquele movimento constante, no nosso ritmo, dando-nos a segurança necessária para um pedalar tranqüilo, sem que precisemos nos esforçar, a cada pedalada, para nos mantermos em movimento e não em queda. Qual a medida em clínica? A medida do partilhante, estabelecida, demonstrada, informada na Interseção. Se não sei a medida é porque não é hora de intervir.
Baixar