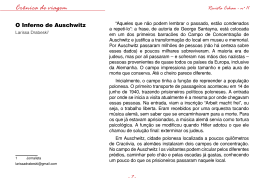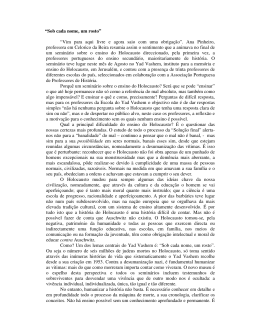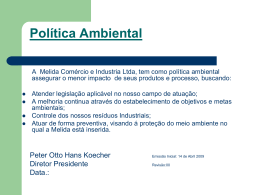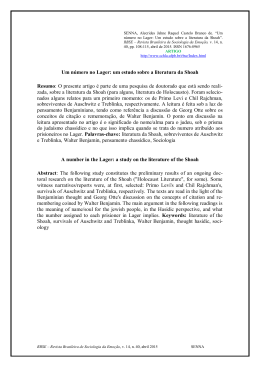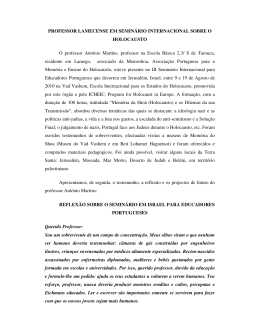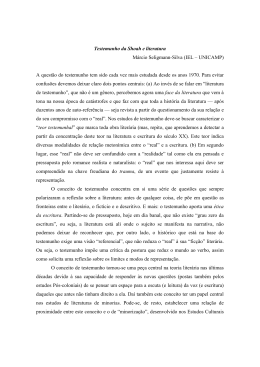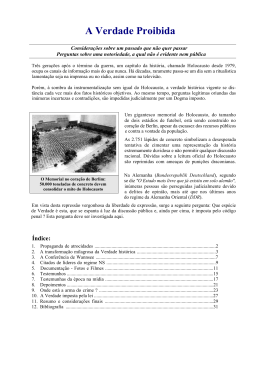Número 9 - 2ª série | CRÓNICA * Ano 2 - Fevereiro / Março 2014 17 ESCRITURALIDADES “Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada” 1 Considerações em torno do Holocausto (Shoah) e da condição humana 1 José Carlos Venâncio Expressão de Denis Avey (2013) [email protected] N os últimos tempos, vários têm sido os títulos surgidos no mercado livreiro português sobre a 2ª Guerra Mundial, mormente sobre a Shoah (Holocausto em hebraico). A maioria deles são traduções de outras línguas, com clara preponderância da língua inglesa, o que indicia que o hipotético interesse, por parte dos leitores, por tais temáticas é também do mercado livreiro europeu. Várias são as explicações que, a propósito, poderão ser aventadas. Os tempos difíceis por que a Europa passa devido, por um lado, à crise do Euro (vivida com maior acuidade nos países do Sul) e, por outro, ao impasse, enquanto projecto político, em que a União Europeia parece estar mergulhada, são possíveis explicações. Quando me refiro ao impasse do projecto político em questão, tenho em conta , por um lado, o protagonismo (eventualmente não desejado) que a Alemanha, face à crise, assumiu, desmerecendo as instituições e mecanismos democráticos da União e, por outro, os fantasmas e os medos que tal protagonismo suscita nos cidadãos europeus. No que se refere a Portugal, tecem-se, a soldo desse medo, as mais díspares insinuações sobre a hegemonia alemã e sobre a incompreensão e as exigências dos seus governantes (mormente da chancelarina Merkel) em relação às dívidas públicas dos países integrantes da moeda única com economias mais frágeis. Evidentemente que a Alemanha unificada, por razões que estarão mais plasmadas na obra de Max Weber do que na de Karl Marx, foi, de meados do século XIX (com a Guerra Franco-Prussiana) até ao fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, um factor de desequilíbrio político na Europa e no mundo. Esteve, por disputa de hegemonias e mercados, no centro das duas guerras mundiais. Não me parece, contudo, ser actualmente o caso. A conjuntura mundial é outra e a Alemanha, mormente o seu sector financeiro, que tão diabolizado tem sido, acaba por estar, também ele, refém das dinâmicas mundiais, da vigência de um paradigma neo-liberal que, se por um lado, é criticável, não nos esqueçamos, por outro lado, que, por ironia do destino ou não, tem sido ao abrigo do mesmo que a velha dicotomia entre países ricos, do Norte, e países pobres, do Sul, se tem (ligeiramente) esbatido com a emergência de economias até há pouco tempo estigmatizadas como economias subdesenvolvidas. Estas considerações vêm a propósito da leitura de algumas obras referentes ao holocausto, mormente do livro A última testemunha de Auschwitz , de Denis Avey, com o apoio do jornalista da BBC Rob Broomby. Tra- ta-se de um livro de teor autobiográfico, escrito muitos anos após a vivência dos acontecimentos nele relatados. Tudo se inicia com o alistamento voluntário do autor, pela aventura que esse acto, o da participação na 2ª Guerra Mundial, poderia representar. É enviado para o Norte de África, mais propriamente para o Egipto, onde reforça o contingente militar britânico na luta que, então, travava contra as tropas de Mussolini em Cirinaica (parte oriental da actual Líbia). Num primeiro momento, a disputa parecia tender favoravelmente para os britânicos, o que se altera com a chegada do contingente alemão, o famoso Afrika Korps, comandado pelo não menos famoso marechal Erwin Rommel, a Raposa do Deserto. Acaba como prisioneiro dos alemães em condições humanas de modo algum comparáveis às que irá experienciar em Auschwitz, o que vem corroborar a imagem de Rommel, que, sendo de uma grande eficácia militar, é também de alguém que não perdeu a sua humanidade. Aliás, associado, no fim da guerra, ao atentado contra Hitler liderado pelo Conde de Stauffenberg, terá sido levado a suicidar-se pelos nazis com o compromisso de nada acontecer à sua família. Do Norte de África, Denis Avey é enviado para a Itália num cargueiro que é torpedeado por um submarino aliado e que se afunda. Consegue salvar-se, indo dar à costa grega. Em terra, no caminho para norte, em direcção à Inglaterra, é preso e “levado para um campo apinhado de prisioneiros aliados” (p.118), donde é levado para a Itália, para um campo de prisioneiros do qual consegue fugir. Não vai longe. É apanhado e enviado, de comboio, para Oswiecim, o nome polaco para Auschwitz. Fica alojado no campo destinado a prisioneiros de guerra, com condições não tão más como as dos campos de Auschwitz 1 e de Auschwitz-Birkenau, destinados aos judeus, aos “listinhas”, como são designados no livro. Trabalham, contudo, todos juntos na construção de uma fábrica da empresa IG Farben, então um dos expoentes máximos da indústria química alemã que, depois da guerra, é, devido à associação com o regime nazi, desmantelada e dividida em três empresas: a da Hoechst, a da Bayer e a da BASF, empresa esta que, por sua vez, estivera na origem da IG Farben. Os relatos que faz das atrocidades cometidas aos judeus, não trazendo nada de novo em relação aos inúmeros relatos que, desde o fim da guerra, foram produzidos, não deixam de ser confrangedores. Conhece, no local de trabalho, um judeu holandês, Hans, cuja irmã conseguira fugir para a Grã-Bretanha e que vivia em Birmingham. Troca duas vezes com Hans a roupa e o campo de concentração por uma noite e pede, numa das cartas que, através da Cruz Vermelha, troca com a mãe, que esta procure entrar em contacto com a irmã de Hans para lhe dar notícias dele. O que, na verdade, acaba por acontecer. Finda a guerra e depois de muito tempo, após ter-se curado do stress de guerra (doença então ainda não identificada), procura, com a ajuda do jornalista que o apoiou na escrita do livro, a irmã de Hans e consegue saber que este sobrevivera à guerra e que emigrara para os Estados Unidos, mas que infelizmente, nessa altura, já havia falecido. Este e outros relatos, em que se descreve a crueza e a maldade que os homens supostamente racionais e cultos são levados a cometer, levam-nos a pensar e a repensar a condição humana, a suposta superioridade da civilização ocidental e o papel que a educação, a chamada alta cultura, durante muito tempo tida como apanágio desta civilização, desempenhou, e desempenha, na moldagem do ser humano. Os que protagonizaram o Holocausto não eram, na verdade, incultos. Era gente saída de boas universidades que, por incorporação das ideias racistas e racialistas, por défice de ética, subverteram o que de bom essas universidades supostamente lhes haviam ensinado. Mais intrigante ainda é pensar que grandes nomes das Ciências Sociais e Humanas da Alemanha apoiaram, pelo menos a dado momento, o regime hitleriano. Como diz, e bem, Esther Mucznik (2012), a “sofisticação, o requinte e a eficácia da máquina de morte nazi (…) nunca seriam possíveis numa sociedade atrasada sem os meios científicos e tecnológicos capazes de atingir tal ‘perfeição’ do mal” (p. 216). Esta constatação é, no mínimo, intrigante. Como é possível que homens cultos (e também não cultos, claro!) tivessem sido capazes de tamanha crueldade, exercitando-a ao ponto de negarem a sua própria humanidade? É uma pergunta que este e muitos outros livros, as inúmeras explicações teóricas produzidas a propósito, devidas algumas a pensadores da têmpera de Hannah Arendt, continuam a não dar a devida resposta. É uma pergunta que fica no ar, para utilizar palavras de um verso do poema de Luandino Vieira, “Canção para Luanda”, escrito, também ele, num campo de concentração. Referências bibliográficas: AVEY, Denis, 2013 [2011], A última testemunha de Auschwitz, Lisboa: Clube do Autor MUCZNIK, Esther, 2012, Portugueses no Holocausto, Lisboa: A Esfera dos Livros
Baixar