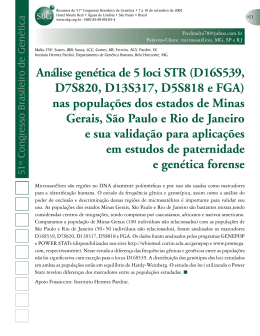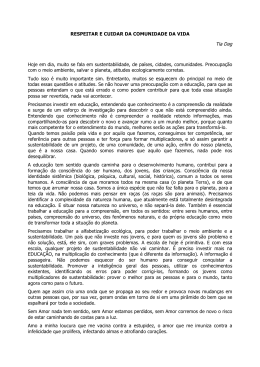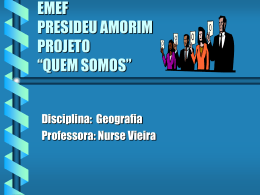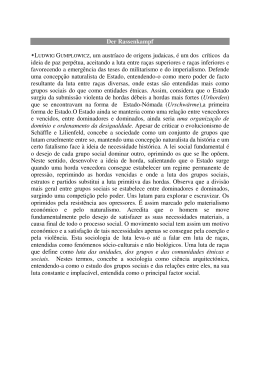SÉRGIO D. J. PENA TELMA S. BIRCHAL A inexistência biológica versus a existência social de raças humanas: pode a ciência instruir o etos social? SÉRGIO D. J. PENA é professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. TELMA S. BIRCHAL é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. N INTRODUÇÃO o passado, a crença de que “raças” humanas possuíam diferenças bio- lógicas substanciais e bem demarcadas contribuiu para justificar discriminação, exploração e atrocidades. Recentemente, porém, os avanços da genética molecular e o seqüenciamento do genoma humano permitiram um exame detalhado da correlação entre a variação genômica humana, a ancestralidade biogeográfica e a aparência física das pessoas, e mostraram que os rótulos previamente usados para distinguir “raças” não têm significado biológico. Pode parecer fácil distinguir fenotipicamente um europeu de um africano ou de um asiático, mas tal facilidade desaparece completamente quando procuramos evidências dessas diferenças “raciais” no genoma das pessoas. Apesar disso, o conceito de “raças” persiste, qua construção social e cultural, como forma de privilegiar culturas, línguas, crenças e diferenciar grupos com interesses econômicos diferentes (Azeredo, 1991). Neste artigo abordaremos aspectos do conflito entre as visões biológica e social de “raça”, inicialmente mostrando as evidências científicas que suportam a tese de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem (AAA, 1998). Em seguida, examinaremos a situação peculiar dos brasileiros, nos quais a ampla mistura de genes entre três diferentes grupos continentais fundadores – ameríndios, europeus e africanos – produziu uma fraca correlação de cor (um correlato de “raça”) com ancestralidade. Conseqüentemente, no Brasil, a cor, socialmente percebida, tem pouca ou nenhuma relevância biológica. Passaremos, a seguir, à discussão do relacionamento entre ciência e ética e à defesa da seguinte tese: embora a 12 REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 ciência não seja o campo de origem dos mandamentos morais, ela tem um papel importante na instrução da esfera social, pois, ao mostrar “o que não é”, ela liberta, ou seja, tem o poder de afastar erros e preconceitos. A seguir, pensaremos o problema da incorporação, pelo etos da sociedade, dos ensinamentos da genética. Sobre esse ponto, argumentaremos a favor da idéia de que o fato científico da inexistência das “raças” deve ser absorvido pela sociedade e incorporado a suas convicções e atitudes morais, no sentido de reforçar a oposição às afirmações de diferentes formas de hierarquia entre povos ou grupos humanos. Terminamos sugerindo que uma postura coerente e desejável seria a valorização da singularidade de cada indivíduo em substituição à sua identificação como membro de grupos “raciais” ou “de cor”. A INEXISTÊNCIA BIOLÓGICA DE RAÇAS HUMANAS: FATOS CIENTÍFICOS Origem recente do homem moderno O homem moderno, Homo sapiens sapiens, é uma espécie muito jovem na Terra. Duas linhas de evidência genética sugerem sua origem única e recente, na África, há menos de 150.000 anos. A primeira é a observação de que a diversidade genética humana é maior na África do que em qualquer outro continente. A interpretação deste achado é que as populações mais antigas teriam tido mais tempo para acumular variabilidade genética. As análises filogenéticas fornecem a segunda linha de evidência. A partir do trabalho seminal de Cann et al. (1987), praticamente todos os estudos baseados em DNA mitocondrial produziram uma árvore na qual a primeira bifurcação separa populações africanas de todas as outras populações. As árvores filogenéticas construídas a partir de marcadores autossômicos, marcadores do cromossomo X e marcadores do cromossomo Y, apresentam topologias muito semelhantes à do DNA mitocondrial (Batzer et al., 1994; Bowcock et al., 1994; Armour et al., 1996; Underhill et al., 2000; Kaessmann et al., 1999). Acredita-se que, ao redor de 100.000 anos atrás, alguns grupos humanos emigraram da África para outros continentes, dizimando e substituindo em seu trajeto os homens de Neandertal (Homo sapiens neandertalensis) e outras populações arcaicas de Homo sapiens. Neste cenário, todos os seres humanos atualmente presentes na Terra compartilham um ancestral africano relativamente recente, e as diferenças morfológicas que observamos nos humanos, hoje, são desenvolvimentos novos, tendo ocorrido apenas nos últimos 50.000-40.000 anos. Em 2003, White et al. descreveram crânios fossilizados de hominídeos encontrados em Herto, na Etiópia, que foram datados radioisotopicamente entre 160.000 e 154.000 anos atrás. Esses hominídeos de Herto, denominados Homo sapiens idaltu (idaltu quer dizer “antigo” na língua afar da Etiópia), são morfologicamente intermediários entre fósseis africanos arcaicos e fósseis com morfologia moderna. Por isso, acredita-se que eles representem o ancestral imediato do Homo sapiens sapiens. A sua anatomia e antiguidade fornecem uma poderosa evidência de que o surgimento do homem moderno é recente e ocorreu na África. Variabilidade genômica humana Subjacente à enorme e facilmente visualizável individualidade morfológica humana, há uma individualidade bioquímica, molecular e genômica (Pena et al., 1995a). Até a recente explosão metodológica da genética molecular, a análise da variabilidade genética humana era limitada ao estudo de poucos polimorfismos protéicos, hoje REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 13 coletivamente chamados de “marcadores clássicos”. Entretanto, apenas 3% do genoma humano é expresso em produtos gênicos, e só após o desenvolvimento da capacidade técnica de estudar as variações (“polimorfismos”) genéticas diretamente pelo DNA foi possível acessar as variações genéticas nos outros 97% não-expressos do genoma. Foi encontrada uma grande diversidade: dois genomas haplóides humanos diferem em uma base a cada mil nucleotídeos. Isso significa que, entre dois indivíduos quaisquer da população, há pelo menos seis milhões de diferenças na seqüência genômica. Sabemos hoje que, com exceção dos gêmeos monozigóticos, todos os seres humanos possuem um genoma diferente e único. Em 1972, Richard Lewontin decidiu fazer a partição da variabilidade humana para testar, cientificamente, a noção, até então amplamente aceita, da existência de raças humanas. Ele compilou da literatura científica as freqüências alélicas de 17 polimorfismos genéticos clássicos (incluindo grupos sangüíneos, proteínas séricas e isoenzimas) referentes a diferentes populações. A partir desses dados, Lewontin agrupou as diferentes populações em oito “raças”: africana, ameríndia, aborígine australiana, mongolóide, indiana, sul-asiática, oceânica e caucasiana. O resultado foi bastante surpreendente: 85,4% da diversidade alélica observada nos polimorfismos estudados ocorria entre indivíduos de uma mesma população, 8,3% entre diferentes populações de uma mesma “raça” e apenas 6,3% entre as chamadas “raças”. Para colocar tais dados em perspectiva, usemos um exemplo fantasioso: um cataclismo nuclear destruiu toda a população da Terra, deixando ilesa apenas a população de uma cidade de Minas Gerais. Nesse caso, 85% da diversidade humana total seria preservada! Os resultados de Lewontin foram amplamente confirmados por Barbujani et al. (1997), que estudaram 109 locos autossômicos neutros em populações de todo o mundo e concluíram que cerca de 85% da variabilidade genética humana estava concentrada dentro das populações. 14 Provavelmente, o maior estudo de variabilidade humana já realizado até o momento foi o de Rosenberg et al. (2002), que fizeram a tipagem de 377 microssatélites autossômicos em 1.056 indivíduos de 52 populações definidas pela origem geográfica. Na amostra eles tinham um total de 4.199 alelos diferentes, 47% dos quais estavam presentes em todas as populações – apenas 7% dos alelos estavam presentes em somente uma população, que, na quase totalidade das vezes, era a africana. Esses resultados são completamente compatíveis com a origem recente do homem moderno na África. Além disso, os pesquisadores calcularam que 93-95% da variabilidade genética estava contida dentro das populações. Caracteres morfológicos Assim como no caso de marcadores genéticos moleculares, é também possível fazer a partição da variabilidade humana usando características morfológicas métricas. Por exemplo, Relethford (1994) mostrou que apenas 11-14% da diversidade craniométrica humana ocorre entre diferentes regiões geográficas e que 86-89% ocorrem entre indivíduos de uma mesma região. Quando esse mesmo autor fez a partição da variabilidade global da cor da pele, porém, ele observou um quadro diferente: 88% da variação ocorria entre regiões geográficas e apenas 12% dentro das regiões geográficas (Relethford, 2002)! A explicação é que a cor da pele é uma característica genética especial, porque é muito sujeita à seleção natural. Dois fatores seletivos contribuem para adaptar a cor da pele aos níveis de radiação ultravioleta (UV): a destruição do ácido fólico, quando a radiação ultravioleta é excessiva, e a deficiência da vitamina D3 (raquitismo), quando a radiação é insuficiente para a síntese na pele (Jablonski & Chaplin, 2000; 2002). Inúmeros estudos mostram que há uma significativa correspondência geográfica entre os níveis de UV e o grau de pigmentação da pele das várias populações humanas. REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 A cor da pele é determinada pela quantidade do pigmento melanina na derme, que é controlada por apenas quatro a seis genes, dos quais o mais importante parece ser o gene do receptor do hormônio melanotrópico (Sturm et al., 1998; Rees, 2003). Esse pequeno número de genes é insignificante no universo dos cerca de 25.000 genes que existem no genoma humano. Da mesma maneira que a cor da pele, algumas outras características físicas externas, como o formato da face, a grossura dos lábios e a cor e a textura do cabelo, são traços literalmente “superficiais”. Embora não conheçamos os fatores geográficos locais responsáveis pela seleção dessas características, é razoável inferir que, assim como a pigmentação da pele, tais caracteres morfológicos também espelhem adaptações ao clima e outras variáveis ambientais de diferentes partes da Terra. Assim como a cor da pele, as características morfológicas humanas dependem da expressão de um número pequeno de genes e refletem a variação em apenas alguns milhares entre os bilhões de nucleotídeos no genoma humano. Em resumo, as diferenças icônicas de “raças” correlacionam-se bem com o continente de origem (já que são selecionadas), mas não refletem variações genômicas generalizadas entre os grupos. Conclusão: inexistência de raças do ponto de vista biológico Como vimos acima, três linhas separadas de pesquisa molecular fornecem evidências científicas sobre a inexistência de raças humanas. A primeira é a observação de que a espécie humana é muito jovem e seus padrões migratórios demasiadamente amplos para permitir uma diferenciação e conseqüentemente separação em diferentes grupos biológicos que pudessem ser chamados de “raças”. A segunda é o fato de que as chamadas “raças” compartilham a vasta maioria das suas variantes genéticas. A terceira é a constatação de que apenas 510% da variação genômica humana ocorre entre as “raças” putativas. As evidências levam à conclusão de que raças humanas não existem do ponto de vista genético ou biológico. COR E ANCESTRALIDADE DO BRASILEIRO No Brasil, apesar do mito da “democracia racial”, há um preconceito social que parece estar particularmente conectado com a aparência física da pessoa (Nogueira, 1955) e que privilegia as características associadas ao continente europeu. A “cor” no Brasil corresponde ao termo em inglês race e é baseada em uma avaliação fenotípica complexa, que leva em conta a pigmentação da pele e dos olhos, o tipo de cabelo e a forma do nariz e dos lábios (Telles, 2003). Aparentemente, a razão pela qual o termo Cor (com C maiúsculo para chamar a atenção para a sua natureza multifatorial) é usado no Brasil ao invés de “raça” é que ele enfatiza a natureza contínua dos fenótipos (Telles, 2003). Com base nos critérios de autoclassificação do censo do IBGE de 2000, a população brasileira era composta por 53,4% de brancos, 6,1% de pretos e 38,9% de pardos. O que representam estes números em termos de ancestralidade genética? Esta é a pergunta a que temos tentado responder, usando as ferramentas da genética molecular. Apresentaremos aqui uma breve sinopse dos nossos resultados, que já foram apresentados em detalhes em outras publicações (Pena et al., 2000; Alves-Silva et al., 2000; Carvalho-Silva et al., 2001; Pena, 2002; Parra et al., 2003; Pena & Bortolini, 2004; Pena, 2005). Inicialmente, utilizamos marcadores genômicos de linhagem para mapear, na população autodeclarada branca do Brasil, as distribuições geográficas das ancestralidades ameríndia, européia e africana (Pena et al., 2000). Para isso, amostras de DNA da população do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil foram estudadas com dois marcadores moleculares uniparentais: o REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 15 cromossomo Y, que estabelece linhagens paternas (patrilinhagens), e o DNA mitocondrial, que traça linhagens maternas (matrilinhagens). Nosso estudo revelou que a esmagadora maioria das linhagens paternas da população branca do país é de origem européia (Pena et al., 2000; Carvalho-Silva et al., 2001), mas, surpreendentemente, as linhagens maternas no Brasil, como um todo, mostraram uma distribuição bem equilibrada entre as três origens geográficas: 33% das linhagens eram ameríndias, 28% africanas e 39% européias (Pena et al., 2000; Alves-Silva et al., 2000). Como esperado, a freqüência relativa de cada um desses três grupos filogeográficos variou consideravelmente entre as quatro regiões brasileiras analisadas. A maioria das linhagens mitocondriais no Norte é de origem ameríndia (54%), enquanto a ancestralidade africana é mais comum no Nordeste (44%) e a européia no Sul (66%). O Sudeste apresentou um equilíbrio nas freqüências encontradas. De acordo com as freqüências regionais de haplogrupos genéticos africanos e ameríndios encontrados nos brasileiros brancos e pelas proporções populacionais das várias regiões, podemos calcular (com base no censo de 2000) que, entre os 90.647.461 autoclassificados brancos do país, há aproximadamente 30 milhões de descendentes de africanos (afrodescendentes) e um número equivalente de descendentes de ameríndios, pelo menos pelo lado materno (Pena & Bortolini, 2004). Em seguida, exploramos as correlações moleculares entre cor e ancestralidade em brasileiros, usando marcadores informativos de ancestralidade (MIAs), também chamados de “marcadores população-específicos”. Nossos estudos demonstraram que, na população brasileira analisada, o alto índice de mistura gênica torna as características de aparência física, como cor da pele, olhos, cabelos, formato dos lábios e do nariz, em pobres indicadores da origem geográfica dos ancestrais de um determinado indivíduo. Em conclusão, os nossos estudos demonstraram claramente que, no Brasil, a 16 cor avaliada fenotipicamente com base na pigmentação da pele e dos olhos, na textura do cabelo e no formato dos lábios e do nariz, tem uma correlação muito fraca com o grau de ancestralidade africana estimada por marcadores genômicos específicos (Parra et al., 2003). Individualmente, qualquer tentativa de previsão torna-se muito difícil, já que pela inspeção da aparência física de um brasileiro não podemos chegar a nenhuma conclusão confiável sobre o seu grau de ancestralidade africana. Em outras palavras, no Brasil, a cor, como socialmente percebida, tem pouca ou nenhuma relevância biológica. A CONTRIBUIÇÃO DA CIÊNCIA PARA A ÉTICA Passemos, então, a considerar uma outra questão: que tipo de ressonância se pode esperar de semelhantes descobertas científicas na esfera dos costumes e das convicções das pessoas? Aqui se coloca, portanto, o problema da relação entre ciência e ética. Para pensar os termos dessa relação, tomemos como ponto de partida uma compreensão de ciência que, mesmo sendo discutível, nos permite traçar uma linha de demarcação entre o conhecimento científico e outros tipos de discurso: as ciências pretendem ser um conhecimento do que é, elas se ocupam com a pesquisa e apresentação da realidade. Embora ninguém mais acredite, como os antigos positivistas, que a ciência comece com os fatos e seja simplesmente uma apresentação deles, é verdade, porém, que os fatos constituem a referência empírica das teorias científicas. Assim, podemos afirmar que as ciências se voltam para a positividade das coisas. Também numa primeira aproximação, o campo da ética ou da moral pode ser definido de duas maneiras: a primeira, como o domínio dos costumes, dos hábitos (o vocábulo grego éthos e o latino morus referem-se ambos aos costumes humanos, daí falarmos da ética dos romanos ou da moral vitoriana). A segunda – que mais nos REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 interessa – como um trabalho de reflexão sobre os mesmos hábitos ou costumes. Neste último sentido, temos a ética como disciplina filosófica ou filosofia moral, que pergunta sobre as origens e o fundamento – a “consistência”, poderíamos dizer – dos costumes e, sobretudo, das normas que os regem. A ética articula fatos, normas e valores, pois a consistência de uma norma ou prescrição é avaliada, por um lado, em relação aos fatos conhecidos e, por outro, em relação aos valores últimos que regem uma determinada sociedade. Em termos gerais, podemos compreender a ética como o domínio que institui o que deve ser, e que articula três dimensões: os fatos, as normas e os valores. Definidos os dois domínios, como, então, pensar a relação entre ética e ciência? Apresentamos aqui duas teses que pretendemos justificar com o que vem a seguir: 1) A compreensão da diferença de natureza entre ética e ciência é fundamental para que se estabeleça um diálogo fecundo entre elas e para a prestação de serviços mútuos – não se deve confundir o domínio das convicções éticas (o que deve ser) com o das proposições científicas (o que é); 2) Embora o conhecimento científico não fundamente os valores, ele é capaz de afastar erros e preconceitos, desempenhando assim um papel libertador no exercício das escolhas morais. Voltemos um pouco na história para compreender a diferença entre os domínios da ciência e da ética. Desde os gregos já se distinguia a esfera da phýsis – a natureza com suas leis mais ou menos estáveis – daquela do éthos – os costumes humanos e sua variabilidade. No entanto, a própria compreensão que os antigos tinham da natureza – como uma realidade habitada por uma finalidade, como uma ordem cósmica na qual o homem encontra o seu lugar – possibilitava que, de alguma maneira, natureza e costumes pudessem espelhar-se reciprocamente. A natureza se torna o solo do qual se nutre a reflexão ética, isso porque exigências éticas se encontram, de alguma forma, realizadas de antemão na imagem de um cosmo harmônico, tal como repre- sentado na “filosofia natural”. Portanto, o imperativo ético dos antigos será resumido na frase “seguir a natureza”. A partir do nascimento da ciência moderna, no século XVII, os dois campos se demarcam com clareza e se distinguem. Com o advento do mecanicismo, a imagem da natureza se transforma ao tornar-se objeto de uma ciência matemática que, pouco a pouco, substitui a harmonia divina do cosmo por um conjunto de leis tanto mais objetivas e seguras quanto menos relacionadas aos anseios e esperanças do homem. É sobre esse novo universo que escreve Pascal: “o silêncio eterno destes espaços infinitos me apavora”. A natureza não é mais o campo gerador das normas. É de Galileu uma frase que sintetiza o espírito de seu tempo, distinguindo os objetivos da religião, por um lado, dos da ciência, por outro: “a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai ao céu e não como vai o céu”. A última tarefa é delegada à ciência que, como descrição objetiva das leis da natureza, nada tem a ver com a salvação, com a busca da felicidade ou com o domínio do dever ser. Para isso estão aí a religião e a filosofia moral. Ainda, na frase de Galileu está implícita a demanda da ciência de constituir-se como uma esfera autônoma de investigação, não mais submetida ao saber filosófico ou religioso. A separação de campos, no entanto, nem sempre foi tranqüila, e gerou uma relação tanto ou quanto conflituosa, com tentativas de invasões recíprocas e renovada confusão dos domínios. Além disso, desde os tempos de Galileu o cenário mudou, o que faz com que a distinção entre ética e ciência tenha que ser repensada. Assistimos atualmente a uma grande expansão das fronteiras da ciência para domínios antes reservados à religião ou à filosofia moral. As relações sociais, as emoções, a linguagem e a própria consciência são hoje campos de investigação científica. No início foram as ciências humanas, como a sociologia e a antropologia, que trataram de maneira objetiva, e segundo métodos próprios, assuntos que até então estavam fora do domínio das ciências. Mais recentemente, a biologia REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 17 revela a base radicalmente corporal das chamadas “funções superiores” do homem; elas não são, portanto, inacessíveis a um saber objetivo. Tomemos o exemplo do neurocientista Jean-Pierre Changeux que, a partir da perspectiva darwinista, afirma a possibilidade de localizar, no cérebro, os sítios das regras morais – sociabilidade, piedade e inibidores da violência (Changeux & Ricoeur, 1998). Tudo isso está em curso em nossos dias, num grande empreendimento de “objetivação” e naturalização do ser humano, que pode ser descrito e compreendido – e até manipulado – como qualquer outro objeto do mundo. Uma questão que advém da novidade é: podemos fazer do conhecimento dos fatos, que nos vêm das ciências, a base para as normas do agir? Ou, de forma mais radical: podem as ciências fundar a ética? Alguns responderão afirmativamente, como Antônio Damásio (1998): “O conhecimento científico pode constituir um pilar que ajude os seres humanos a resistir e a vingar. Escrevi este livro convicto de que o conhecimento em geral e o conhecimento neurobiológico em particular têm uma função importante a desempenhar no destino humano; convicto de que, se realmente o quisermos, o profundo conhecimento do cérebro e da mente ajudará a alcançar a felicidade […]. É tentador e encorajador acreditar […] que a neurobiologia não só pode nos ajudar na compreensão e na compaixão da condição humana, mas que, ao fazê-lo, pode nos ajudar a compreender os conflitos sociais e contribuir para sua diminuição”. Se fizermos uma leitura pouco piedosa desse tipo de posição, diremos que ela acaba por afirmar que as ciências poderiam resolver o problema ético, pois gerariam as normas para a vida humana – agora seguras, porque baseadas num conhecimento menos discutível que o das teorias filosóficas. Ou seja, a ética seria traçada no prolongamento das ciências: e conhecer o que é se identificaria a conhecer o que deve ser. Contra a posição acima, assim radical- 18 mente colocada, lembremos a mais prudente afirmação de Galileu de que a ciência não nos ensina a ganhar os céus e a do filósofo David Hume que, no século XVIII, insiste em distinguir fatos e valores, situando os primeiros no reino do real e do existente, e os segundos no reino dos desejos e dos sentimentos. Mais recentemente, um insuspeito nome da sociobiologia, Edward Wilson, afirma em entrevista: “A constatação de que, em interação com o ambiente, nossos genes têm um papel fundamental na natureza humana não significa que certo comportamento seja bom ou ruim. Você não pode atribuir valor a um traço genético simplesmente pelo fato de que ele é genético. Seria o mesmo que argumentar que um comportamento é mais ético que outro só porque ele está mais próximo da natureza. Seguindo esta premissa, alguém poderia justificar atrocidades dizendo que a violência está em nossos genes…”. Sobre os perigos de se fundar uma ética a partir de uma verdade científica, alerta-nos o filósofo contemporâneo Comte-Sponville (2000): “Um regime que se apoiasse numa ciência verdadeira – imaginemos, por exemplo, uma tirania dos médicos – nem por isto seria menos totalitário a partir do momento em que pretendesse governar em nome de suas verdades, porque a verdade nunca governa, nem diz o que deve ser feito, nem proibido. A verdade não obedece […] e é por isso que ela é livre. Mas tampouco comanda, e é por isto que nós o somos. É verdade que morreremos: isso não condena a vida, nem justifica o assassinato”. Vejamos, então, o que ocorre no tocante à noção de “raça”. Ela se alimenta da experiência secular do confronto com o “outro”, cuja diferença se manifesta de forma sensível, evidente, digamos, “à flor da pele”. O encontro com o outro, com o manifestamente diferente – que deve ser compreendido, interpretado –, gerou historicamente muitas espécies de etnocentrismo REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 e projetos de dominação. No entanto, não necessariamente: bem antes das descobertas da genética, um europeu do século XVI, Michel de Montaigne, escreve o mais belo elogio dos canibais do Brasil (Montaigne, 2000). Em seus Ensaios, a diferença manifesta entre os povos do Velho e do Novo Mundo não se traduz como inferioridade dos últimos, nem como ausência, nos canibais, de um caráter de humanidade (Birchal, 2004). Os fatos da experiência estão, portanto, abertos a múltiplas interpretações, o que caracteriza o domínio dos valores. Num outro nível de discurso, a genética hoje afirma que o aparente e imediatamente manifesto – a diferença de cor e de traços – não é o essencial nem o verdadeiro, exigindo uma reinterpretação da experiência, da mesma forma que, no século XVI, a astronomia fez com o aparente movimento do sol. O que nos leva à segunda tese acima exposta: retomando a frase de ComteSponville, diremos que, se a verdade não governa, ou seja, se a ciência não é o campo de origem dos mandamentos morais, ela liberta, pois tem o poder de afastar erros e preconceitos. Popperianamente falando, ela diz “o que não é”, embora não diga o que deve ser. No caso em questão, a biologia diz “o que não é”, afastando o equívoco da noção biológica de raça e proibindo o recurso a uma fundamentação científica do racismo, bem ao gosto de alguns. Na medida em que a ética, como vimos, lida com fatos, normas e valores, a ciência, entrando nas questões de fato e fornecendo novos elementos para a avaliação das normas e costumes, pode aproximar-se da moral neste plano. Ela não pode, no entanto, ser confundida com a origem ou a fonte dos mandamentos morais: o valor e a dignidade atribuídos aos seres humanos, enquanto tais, independem das descobertas científicas, encontrando sua origem na cultura e na história. Caso contrário, na hipótese imaginária de as descobertas científicas apontarem para uma grande diferença genética no interior da espécie humana, uma posição racista estaria justificada. Dito de outra maneira, embora por si só a ciência não seja capaz de gerar uma ética, ela traz elementos que contribuem para a reflexão ética e que ampliam o campo no qual podemos exercer nossa liberdade. A VISÃO INDIVIDUAL DO HOMEM Vimos acima que, do ponto de vista biológico, estritamente científico, raças humanas não existem. Vimos também que, independente de sua cor, a vasta maioria dos brasileiros tem simultaneamente um grau significativo de ancestralidade africana, européia e ameríndia. O genoma de cada brasileiro é um mosaico altamente variável e individual, formado por contribuições das três raízes ancestrais (Suarez-Kurtz & Pena, 2005). Assim, não faz sentido falar em afrodescendentes ou eurodescendentes, porque a maior parte dos brasileiros tem uma proporção significativa de ascendência africana, européia e ameríndia. Além disso, por causa da pobre correlação entre cor e ancestralidade, não faz sentido falar de “populações” de brasileiros brancos ou de brasileiros negros. De forma que a única maneira de lidar cientificamente com a variabilidade genética dos brasileiros é individualmente, como seres humanos únicos e singulares em seus genomas mosaicos e em suas histórias de vida. Do ponto de vista médico, essa conscientização nos levou a propor que o conceito de “raça” deveria ser banido da medicina brasileira (Pena, 2005). Ética e socialmente, isso era o que Martin Luther King tinha em mente quando disse, em seu famoso discurso “I have a dream”, de 28 de agosto de 1963: “I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character”. Temos aqui um exemplo claro de uma descoberta científica iluminando a esfera ética. Devemos ter em mente que o conceito de “raça” é carregado de ideologia e sempre traz algo não explicitado: a relação de poder e dominação (Munanga, 2004). Assim, a idéia social de “raça” é tóxica e contamina a sociedade (Gilroy, 2000). As REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 19 * Usamos a palavra racialista para designar quem crê na existência de raças, em distinção ao racista, que faz julgamentos de valor e estabelece hierarquias entre as “raças”. “raças” existem porque estão nas cabeças das pessoas, e não estão nas cabeças das pessoas porque existem (Kaufman, 1999). Além disso, reenfatizamos que, em especial no Brasil, a cor não tem um significado biológico relevante e está, literalmente, “à flor da pele”. A consciência disso vem então ao encontro do desejo utópico de uma sociedade não-racialista*, “cega a cores”, em que a singularidade do indivíduo seja valorizada e celebrada. Em um artigo prévio, discutimos a relevância das considerações da inexistência de raças humanas e da pobre correlação entre cor e ancestralidade genômica, para decidir quem se deveria beneficiar da política de cotas no Brasil, e concluímos que a genética deveria ter um papel informativo e não prescritivo (Pena & Bortolini, 2004). Naquela ocasião não discutimos o mérito das ações afirmativas nem da política de cotas. Thomas Sowell (2004) mostrou em seu livro Affirmative Action Around the World que a experiência mundial com cotas tem tido como efeito aumentar o nível de racialização da sociedade. Hoje, acreditamos que a ciência contribui efetivamente para uma posição prescritiva atuante em prol de uma sociedade não-racialista. Que isso é possível foi brilhantemente demonstrado por Paul Gilroy no seu excelente livro Against Race. É então nesse sentido que devemos concentrar nossos esforços. Ao implementar bem-intencionados programas de ação afirmativa para alavancar necessárias mudanças sociais, o governo precisa cuidar para não fomentar tensões e divisões artificiais e arbitrárias no povo do Brasil, país onde, essencialmente, somos todos igualmente diferentes. BIBLIOGRAFIA AAA. “American Anthropological Association Statement on ‘Race’”. http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm (1998). ALVES-SILVA, J.; SILVA SANTOS, M. da; GUIMARÃES, P. E.; FERREIRA, A. C.; BANDELT, H. J.; PENA, S. D.; PRADO, V. F. “The Ancestry of Brazilian mtDNA Lineages”, in Am J Hum Genet 67, 2000, pp. 444-61. ARMOUR, J. A.; ANTTINEN, T.; MAY, C. A.; VEGA, E. E.; SAJANTILA, A.; KIDD, J. R.; KIDD, K. K.; BERTRANPETIT, J.; PAABO, S.; JEFFREYS, A. J. “Minisatellite Diversity Supports a Recent African Origin for Modern Humans”, in Nat Genet, 13, 1996, pp. 154-60. AZEREDO, S. Citada por M. Ribeiro 2000. “Diversidade Racial, Étnica e Processos de Participação Política na América Latina”. http://www. presidencia.gov.br/seppir/ct/art_2.pdf. (1991). BARBUJANI, G.; MAGAGNI, A.; MINCH, E.; CAVALLI-SFORZA, L. L. “An Apportionment of Human DNA Diversity”, in Proc Natl Acad Sci USA 94, 1997, pp. 4.516-19. BATZER, M. A.; STONEKING, M.; ALEGRIA-HARTMAN, M.; BAZAN, H.; KASS, D. H.; SHAIKH, T. H.; NOVICK, G. E.; IOANNOU, P. A.; SCHEER, W. D.; HERRERA, R. J.; DEININGER, P. “African Origin of Human-specific Polymorphic Alu Insertions”, in Proc Natl Acad Sci USA 91, 1994, pp. 12.288-92. BIRCHAL, T. “A Ética de Montaigne em ‘Dos Canibais’”, in A. C. Santos. Variações Filosóficas entre a Ética e a Política. Universidade Federal de Sergipe, 2004, pp. 13-30. BOWCOCK, A. M.; RUIZ-LINARES, A.; TOMFOHRDE, J.; MINCH, E.; KIDD, J. R.; CAVALLI-SFORZA, L. L. “High Resolution of Human Evolutionary Trees with Polymorphic Microsatellites”, in Nature, 368, 1994, pp. 455-7. CANN, R.; STONEKING, M.; WILSON, A. C. “Mitochondrial DNA and Human Evolution”, in Nature, 325, 1987, pp. 31-6. CARVALHO-SILVA, D. R.; SANTOS, F. R.; ROCHA, J.; PENA, S. D. “The Phylogeography of Brazilian Y-chromosome Lineages”, in Am J Hum Genet, 68, 2001, pp. 281-6. CHANGEUX, J. P.; RICOEUR, P. La Nature et la Règle. Paris, Odile Jacob, 1998. 20 REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 COMTE-SPONVILLE, A. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. São Paulo, Martins Fontes, 2000. DAMÁSIO, A. O Erro de Descartes. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. GILROY, P. Against Race – Imagining Political Culture Beyond the Color Line. Cambridge, Harvard University Press, 2000. JABLONSKI, N. G.; CHAPLIN, G. “The Evolution of Human Skin Coloration”, in J Hum Evol., 39, 2000, pp. 57-106. JABLONSKI, N. G.; CHAPLIN, G. “Skin Deep”, in Sci Am., 287(4), Oct./2002, pp. 74-81. KAESSMANN, H.; HEISSIG, F.; VON HAESELER, A.; PAABO, S. “DNA Sequence Variation in a Non-coding Region of Low Recombination on the Human X Chromosome”, in Nat Genet., 22, 1999, pp. 78-81. KAUFMAN, J. S. “How Inconsistencies in Racial Classification Demystify the Race Construct in Public Health Statistics’, in Epidemiology, 10, 1999, pp. 101-3. LEWONTIN, R. C. “The Apportionment of Human Diversity”, in Evol Biol., 6, 1972, pp. 381-98. MONTAIGNE, M. Ensaios. São Paulo, Martins Fontes, 2000, Livro I, cap. 31. MUNANGA, K. “Uma Abordagem Conceitual das Noções de Raça, Racismo, Identidade e Etnia”, in Cadernos Penesb, 5. Org. A. A. P. Brandão. Niterói, Editora da Universidade Federal Fluminense, 2004, pp. 15-34. NOGUEIRA, O. “Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem”, in Anais do XXXI Congresso Internacional dos Americanistas, vol. 1. São Paulo, Anhembi, 1955. PARRA, F. C.; AMADO, R. C.; LAMBERTUCCI, J. R.; ROCHA, J.; ANTUNES, C. M.; PENA, S. D. “Color and Genomic Ancestry in Brazilians”, in Proc Natl Acad Sci USA, 100, 2003, pp. 177-82. PENA, S. D. J. Homo Brasilis: Aspectos Genéticos, Lingüísticos, Históricos e Socioantropológicos da Formação do Povo Brasileiro. Ribeirão Preto, Funpec, 2002. ________. “Razões para Banir o Conceito de Raça da Medicina Brasileira”, in História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 12, 2005, pp. 321-46. PENA, S. D. J.; BORTOLINI, M. C. “Pode a Genética Definir Quem Deve se Beneficiar das Cotas Universitárias e Demais Ações Afirmativas?”, in Estudos Avançados, 18, 2004, pp. 31-50. PENA, S. D. J.; CARVALHO-SILVA, D. R.; ALVES-SILVA, J.; PRADO, V. F.; SANTOS, F. R. “Retrato Molecular do Brasil”, in Ciência Hoje, 27 (159), 2000, pp. 16-25. PENA, S. D. J.; PRADO, V. F.; EPPLEN, J. T. 1995. “DNA Diagnosis of Human Genetic Individuality”, in J Mol Med., 73, 2000, pp. 555-64. PRITCHARD, J. K.; STEPHENS, M.; DONNELLY, P. “Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data”, in Genetics, 155, 2000, pp. 945-59. REES, J. L. “Genetics of Hair and Skin Color”, in Annu Rev Genet., 37, 2003, pp. 67-90. RELETHFORD, J. H. “Craniometric Variation Among Modern Human Populations”, in Am J Phys Anthropol., 95, 1994, pp. 53-62. ________. “Apportionment of Global Human Genetic Diversity Based on Craniometrics and Skin Color”, in Am J Phys Anthropol., 118, 2002, pp. 393-8. ROSENBERG, N. A.; PRITCHARD, J. K.; WEBER, J. L.; CANN, H. M.; KIDD, K. K.; ZHIVOTOVSKY, L. A.; FELDMAN. M. W. “Genetic Structure of Human Populations”, in Science, 298, 2002, pp. 2.381-5. SOWELL, T. Affirmative Action Around the World – an Empirical Study. New Haven Yale University Press, 2004. STURM, R. A.; BOX, N. F.; RAMSAY, M. “Human Pigmentation Genetics: the Difference is Only Skin Deep”, in Bioessays, 20, 1998, pp. 712-21. SUAREZ-KURTZ, G.; PENA, S. D. J. “Pharmacogenomics in the Americas: Impact of Genetic Admixture”, in Current Drug Targets, 2005 (no prelo). TELLES, E. Racismo à Brasileira – uma Nova Perspectiva Sociológica. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2003. TEMPLETON, A. R. “Human Races: a Genetic and Evolutionary Perspective”, in Am Anthropol, 100, 1999, pp. 632-50. REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 10-21, dezembro/fevereiro 2005-2006 21
Download