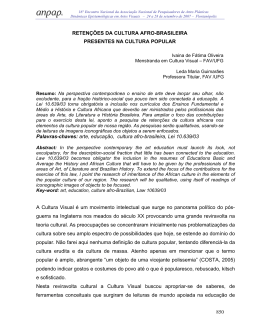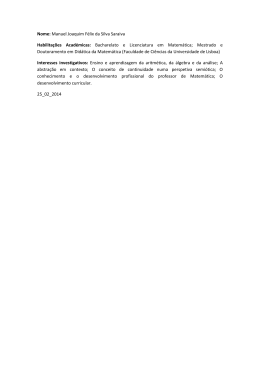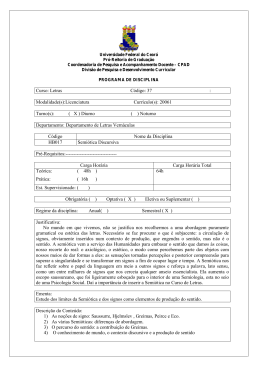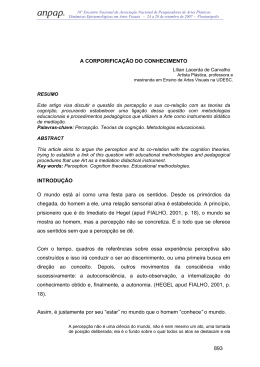16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis Em meio à out-doors, arte pública e arquiteturas: significando a urbe contemporânea. Alice de Oliveira Viana, mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina – PPGAV/CEART/UDESC Resumo Este trabalho inicialmente expõe o método de leitura de imagens da Semiótica Visual, elaborada por Algirdas Julien Greimás. Entendendo a cidade como um sistema de comunicação visual, propõe esta metodologia para pensar e ressignificar a urbe contemporânea, na medida em que seja acessível tanto aos alunos de escolas públicas, visando desde já a uma alfabetização visual, quanto àqueles profissionais que desenham e qualificam o espaço em que vivemos, como arquitetos, artistas e designers. Palavras-chave: semiótica visual, cidades, significação, arte pública. Abstract This work initially displays the method of reading images of the Visual Semiotics, elaborated by Algirdas Julien Greimás. Understanding the city as a system of visual communication, it considers this methodology to think and to signify contemporary city, in the way that it should be accessible in such a way to the pupils of public schools, aiming at a visual learning, and also to those professionals who draw and characterize the space where we live, as architects, artists and designers. Keywords: visual semiotics, cities, meaning, public art. 53 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis Se observarmos a rua através da janela, os seus ruídos são atenuados, os seus movimentos são fantasmáticos e a própria rua, por causa do vidro transparente mas duro e rígido, parece um ser isolado palpitando num `pra lá de`(KANDINSKY, 1989, p.27) Kandinsky, em sua obra Ponto Linha Plano (1989), compara a apreciação da obra de arte com a situação de observar a rua através do vidro de uma janela. Sendo este obstáculo duro e rígido, não podemos, nestas condições, observar integralmente a rua. Assim seria com a obra de arte que, de acordo com ele, “encontra-se num ‘pra lá de’ e quando a excitação cessa, desaparece da superfície sem deixar rastro” (1989, p.27), também aí, segundo ele, existe um vidro duro e rígido que impede o acesso à obra. Essa dificuldade de compreender uma obra de arte acontece igualmente ao observarmos muitas imagens que atravessam nosso dia-a-dia. São livros, internet, revistas, cinema, out-doors, anúncios publicitários e outros que, muitas vezes somados à velocidade de sua veiculação e à velocidade da cultura da hiperinformação em que vivemos, provocam uma tendência a não mais olhálas atentamente, e, consequentemente, não mais refletir sobre o que está sendo exposto. Desta situação tiram vantagem aqueles que se valem de apelos e da manipulação dos sentidos, conforme afirma Ana Cláudia de Oliveira: Numa batalha perpetual, as imagens lutam primeiro para entar na órbita do ver e depois para ser olhadas atentivamente. Ver e olhar são então os dois pólos visados por todos os estrategistas de nossa visão, que galgam alcançá-los pela sinestesia (2001, p.05) Somos, então, alvos fáceis de manipulação em virtude de uma total ignorância quanto ao conteúdo destas imagens. Mas no que se refere à compreensão destas imagens nem tudo está perdido. Podemos sim, nos aproximarmos da significação de uma campanha publicitária, assim como daquela tão “complexa” obra de arte abstrata. Kandinsky acreditava que, apesar da aparente presença deste vidro duro e rígido, “ainda aí temos a possibilidade de penetrar na obra, de nos tornarmos 54 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis activos e de viver a sua pulsação através de todos os nossos sentidos” (1989, p.27). Ele propunha a análise dos elementos básicos de uma imagem (o autor refere-se à pintura, música, arquitetura e escultura, mas aqui estendo este conceito para qualquer imagem) para podermos, então, penetrar na obra e acessar sua “vida interior”. Penetrar na obra, eliminando as fronteiras de um “vidro duro e rígido” é o que nos possibilita a Semiótica i . Esta, como um campo de conhecimento, interroga e analisa objetos existentes no mundo, tudo aquilo que significa, ou seja, signos. Se partirmos do pressuposto de que tudo aquilo que existe no mundo emite algum significado, sentido, mensagem, entre outros, a Semiótica procura investigar como essa significação é feita, que efeitos de sentido determinado objeto nos traz ao simples existir. Dentre inúmeras definições, a Semiótica pode ser entendida, na acepção de Sandra Ramalho citando Lúcia Santaella, como “ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido” (RAMALHO E OLIVEIRA, 2006, p.38). De acordo com Sandra Ramalho existem, porém, controvérsias quanto à Semiótica constituir-se ou não em uma ciência, pois uma ciência necessita de um “objeto de estudo definido, de um método de investigação próprio e de uma base teórica comum” (RAMALHO E OLIVEIRA, 2006, p.39). Ora, como foi dito, a Semiótica estuda qualquer fenômeno de produção de sentido, ou seja, seu objeto de estudo é muitíssimo vasto; um método de investigação próprio e uma base teórica comum igualmente não existem visto à grande diversidade de linhas de pesquisa da Semiótica, cada qual possuindo seus próprios métodos e conteúdos. A mesma autora (2006, p.41) especifica três principais correntes de estudo da Semiótica: a de origem soviética, a Semiótica Russa ou Semiótica da Europa Oriental, hoje conhecida como Semiótica da Cultura, derivada dos estudos do Círculo Lingüístico de Praga, inicialmente acerca da linguagem verbal; a de origem norte-americana, conhecida como Semiótica Americana ou Peirceana, devido a Charles Sandres Peirce, seu fundador, que criou seu método a partir dos estudos da Lógica e da Matemática; e a última, chamada Saussureana, originada na Europa Ocidental a partir de estudos do suíço 55 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis Ferdinand de Saussure sobre a linguagem verbal, também conhecida como Semiótica da Europa Ocidental, ou Francesa, pois grande parte dos estudos foi realizada na França. Esta é também designada de Semiótica Visual, pela a direção no estudo da visualidade, ou Semiótica Discursiva, teorizada por Algirdas Julien Greimás, que teve seus estudos aprofundados por seus seguidores, criando a Semiótica de matriz greimasiana. A Semiótica de linha discursiva ou visual trabalha com o pressuposto de que qualquer discurso, ou seja, qualquer enunciação ou manifestação são considerados como um texto, algo que produz efeitos de sentido e que possui um processo de significação. Assim, um quadro, uma igreja, um filme, uma caricatura, um móvel, uma foto, um sapato, um vidro de perfume, dentre muitos, são considerados textos e significam. Analogamente à linguagem verbal, pode-se dizer que o texto de que falamos possui também “sintaxe” e “semântica” uma vez que a semiose, o próprio ato de significar, depende da posição dos elementos que constituem o texto visual e dos efeitos de sentidos que estes produzem em relação uns aos outros. A partir desta noção de texto ou discurso, a imagem é considerada em suas duas dimensões: o plano de expressão, aquilo que é visível na imagem, e seu plano de conteúdo, podendo ser entendido como os efeitos de sentido que o objeto produz, tudo aquilo a que ele nos remete, tudo aquilo a que ele alude. Essas dimensões são indissociáveis e devemos entendê-las uma em relação à outra. É a partir da decomposição do plano de expressão que se inicia a operação de analista própria do métier do semioticista. Após um processo de desconstrução da entidade analisada com o reconhecimento dos elementos que a compõem, numa palavra, seus formantes, esses são reagrupados e analisados em suas variadas e infinitas relações e que tipo de relações seriam estas, se seriam de simetria, assimetria, contraste, ritmo, ênfase, entre outros aspectos. Os formantes são elementos sem os quais a imagem não existiria. De acordo com Ana Cláudia de Oliveira (OLIVEIRA, 2004, p.119), são constitutivos do objeto e podem ser cromáticos, relativos à cor, eidéticos, associados à forma, e topológicos, relacionados à posição em que o elemento se encontra dentro do todo. A mesma autora, posteriormente, acrescentou mais uma 56 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis categoria às três anteriores, aquela dos formantes matéricos, que constitui a materialidade, os materiais, técnicas e procedimentos que compreendem o objeto. Assim, é relacionando os elementos entre si e em meio ao todo, num processo de desmontagem e remontagem do objeto, é que buscamos compreender como se dá sua significação. Em outras palavras, analisando a estruturação dos elementos entre si e no todo é que buscamos compreender como se dá a manifestação desta narrativa, deste enunciado. Ao semioticista cabe procurar compreender o que o autor “disse” com a obra, não o que ele quis dizer ou fazer. A imagem, sendo assim, é autônoma, uma vez que o processo de compreensão de sua significação, à princípio, independe, por exemplo, de quem é o pintor, de onde ele nasceu, do seu estilo, enfim, de tudo que é exterior à obra em si. Desta forma, ao semioticista que analisa uma pintura somente o que ele vê no espaço da tela é passível de descrição e análise pelos efeitos de sentido que essa estrutura produz. A semiótica fornece métodos de descrição da pintura, na mesma medida em que ela nos fornece meios para melhor apreciá-la – o que já é aproximar-se esteticamente dela (OLIVEIRA, 2004, p.115) Sendo assim, não há hierarquias entre o criador da obra e seu fruidor ou receptor, para o semioticista eles estão no mesmo nível, são entendidos como enunciador e enunciatário, pois ambos significam a obra, são duas pontas do processo de significação, ou seja, ambos são sujeitos da comunicação, e estabelecem, entre si, um contrato de veridicção onde se acordam um dizer verdadeiro e um crer verdadeiro para que esta comunicação possa haver. Outra forma contratual que se verifica é aquela que aceita a dimensão semi-simbólica onde se inscreve a obra, ou o objeto. O nosso pertencer a uma cultura faz surgir o componente simbólico existente em qualquer análise, ou seja, componente de relação com o mundo natural. Porém, a riqueza da análise semiótica reside no fato de ela buscar constantemente relações outras que não aquelas óbvias, à semelhança do 57 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis mundo natural, e relações que buscam o envolvimento de todos os nossos sentidos, possibilitando a interação estética com a obra. A Semiótica configura-se assim, numa importante ferramenta na decodificação desse aparentemente complexo universo imagético que nos rodeia, principalmente o da arte contemporânea, de acesso “mais dificultado”. Sandra Ramalho, em sua obra Imagem também se lê: a necessária presença diante da arte contemporânea ii , defende que haja uma educação visual nas escolas de ensino médio e fundamental na medida em que os alunos e professores tenham acesso ao método da Semiótica discursiva no estudo e na compreensão das obras de arte. A semiótica fornece um método que inicialmente dispensa conhecimentos exteriores para penetrar na obra, como os poucos conhecimentos de sociologia da arte, história da arte ou psicologia da arte constante nos currículos dos professores de arte. Ramalho propõe que se utilizem imagens ligadas ao cotidiano do estudante, como imagens publicitárias, embalagens de comidas, capas de cds, entre outras, haja vista a dificuldade dos alunos de escolas públicas terem acesso à obra original, especialmente aqueles dos estabelecimentos de ensino distantes dos grandes centros, e, principalmente porque, conforme ela, imagens são “presenças”, presenças de si mesmos e sua análise concreta só se daria a partir de efetiva presença, ou seja, da presença de seu original. O aluno, encarado como enunciatário da obra, ou seja, igualmente produtor de significação da imagem e consequentemente seu próprio produtor de conhecimento, estaria assim, apto para buscar efeitos de sentidos em qualquer texto visual presente em seu universo, ou mesmo estranho a este. Em vista disto, quero sugerir uma outra proposta, ou atividade para o professor de arte que se utilize da semiótica de linha visual nas escolas: valerse das imagens da cidade para o ensino, imagens que, igualmente encontramse muito presentes no dia-a-dia do aluno de uma escola pública. Por que não uma atividade de visita ao centro da cidade com esse propósito de análise de imagens? Fazer com que os alunos percebam e vivenciem de forma mais consciente o ambiente que os cerca, e assim, podendo ter olhares mais críticos com a vida pública, buscando exercer desde já seu papel de cidadão? Procurando um contato mais íntimo com imagens que cotidianamente os rodeiam, mas que, devido ao ritmo da vida nas cidades, muitas vezes são por 58 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis todos ignoradas. Para isto é muito válido o pensamento de Argan que considera a cidade como um “sistema de comunicação visual”, sendo um poderoso “instrumento científico e didático para a formação de uma cultura figurativa ou daquilo que Arnheim chama de ‘pensamento visual’” (ARGAN, 1998, p.81). Ainda Sandra Ramalho, em Imagem também se lê: a necessária presença diante da arte contemporânea, obra já citada, defende a presença diante das imagens contemporâneas, acredita na necessidade das pessoas estarem presentes de fato, com todos os seus sentidos para uma eficaz apreciação. Ora, não é a cidade e seus diversos textos visuais, com seus barulhos, imagens, cheiros, sensações táteis dentre outros, lugar quase que por excelência de uma necessidade e exigência de presença? Trata-se, portanto, de um terreno fértil para a aprendizagem semiótica. É na arquitetura da cidade que encontramos o passado e o presente de uma civilização. Por ela traduzimos gostos, estilos, valores e histórias de épocas diversas. Nela encontramos a memória de uma coletividade, assim como através dela é possível prever, em parte, seu futuro próximo. A arquitetura é como a língua que falamos, ela serve como referencial importante no deslocamento na cidade e elemento de identidade social da população. Quando esta não consegue perceber, reconhecer, compreender sua significação, a imagem da cidade mostra-se confusa, carente de valor e significação, sendo facilmente apagada da memória social. É de fato importante para o habitante da cidade compreender a significação de todos aqueles elementos que compõem sua imagem, sejam as arquiteturas, o mobiliário urbano, seus jardins ou obras de arte. A análise de um prédio eclético, por exemplo, com a diversidade de elementos que o compõem, as volutas, máscaras, gradis, detalhes ornamentais e outras formas estéticas, pode ser de grande importância para este exercício de significação e valoração do ambiente que nos cerca. Os morfemas presentes em um edifício déco levam-nos a significações riquíssimas que nos ajudam a compreender o porquê de preservar, questão tão importante hoje em dia. Da mesma forma seria uma análise das obras de arte presentes em nossos espaços públicos. 59 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis Recentemente, muitas metrópoles, além de salvaguardar seu patrimônio histórico, procuram inserir obras de arte em espaços públicos buscando amenizar os efeitos do caos urbano e da crescente despersonalização das cidades e de suas arquiteturas. A cidade está cada vez mais presente nos debates atuais. A metrópole da era da globalização é pensada como um todo homogêneo econômica, tecnológica, social e culturalmente, tornando os espaços monotonamente iguais, porém socialmente divergentes. A ênfase no consumo somada à cultura da hiperinformação e da banalização em que vivemos transforma as arquiteturas muitas vezes em espaços degradados suportes de outdoors e de anúncios publicitários. Profissionais, governos e ongs discutem formas de tornar nossas metrópoles menos intoleráveis para seus habitantes. Argan (1998, p.74), refletindo sobre a cidade real e a cidade ideal, acredita que qualidade e quantidade são dois termos incompatíveis hoje em dia, o que estaria na base do pensamento urbano da contemporaneidade, principalmente após a segunda guerra mundial. Foi após a segunda guerra que se intensificaram os debates sobre a questão urbana. O urbanismo funcionalista e a arquitetura moderna da primeira metade do século XX, baseados num rígido zoneamento da cidade por funções (a saber, área comercial, área residencial, por exemplo), no privilégio do automóvel a partir da construção de grandes avenidas de tráfego e das grandes distâncias entre os prédios, além do estabelecimento de um único padrão de moradia - blocos de apartamentos altos com alta densidade para liberar o espaço do solo -, tornaram a cidade um grande vazio urbano, retiraram o cidadão das ruas e extinguiram do espaço público a obra de arte, a qual, desde o século XIX ocupava nele local privilegiado de exposição. A ordem era a funcionalidade e não havia espaço para qualquer esteticismo. De acordo com César Floriano dos Santos, a partir da segunda guerra mundial promoveram-se de forma massiva os programas de reconstrução urbana baseados nos macro-planos e na instalação de espaços públicos vazios de significado. Acentuam-se as críticas aos arquitetos e aos urbanistas, 60 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis aparecendo diversas manifestações de protesto e propostas de superação do modelo funcionalista (SANTOS, 2000, p.12) (tradução da autora). Foi neste contexto em que, a partir de então e durante as décadas seguintes, diversos artistas passaram a intervir na cidade inserindo obras de arte em espaços públicos. Dentre os motivos que culminaram no surgimento desta então chamada arte pública, além da intenção desta ser uma contraposição à cultura das galerias e dos museus como instituições legitimadoras da arte, está o fato de os artistas encontrarem no seu trabalho um meio de tentar salvar as metrópoles da crescente aridez e despersonalização. A cidade contemporânea, globalizada, como foi dito, apresenta-se como um todo homogêneo. Seus espaços, quando não vazios e degradados, apresentam-se muitas vezes como pastiches cenográficos destituídos de significação. Vemos prédios que imitam castelos medievais, shopping-centers cuja forma tenta reproduzir as ondas do mar, sem contar nos gigantescos outdoors que hoje em dia muitas vezes são mais percebidos do que a própria arquitetura. A lógica da globalização incentiva a disseminação de espaços importados de outros países, simples cópias carimbadas e reproduzidas, na maioria das vezes não adaptadas a nossas condições locais, de clima, cultura e economia. César Floriano afirma que o espaço mercadoria, cheio de carga simbólica, de rupturas e de construção de um novo modo de viver, rejeitou o lugar antropológico e gerou lugares funcionalizados, lugares simulacro que se confundem com vários lugares das conglomerações especializadas, produzindo a obsolescência do espaço urbano e despojando-lo de sua razão de ser, transformando os lugares públicos em espaços ocos de uma macro-estrutura básica, efêmera, e indiferente para poder ser cheios de significados(2000, p.19) (tradução da autora) 61 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis E este modelo de cidade encontra muitas vezes na arte pública e no preservacionismo estratégias de escape a sua crescente falta de sentido. Apesar das muitas dificuldades que implicam em intervir nela, como encargos públicos, burocracias e interesses diversos, muitas cidades têm incentivado a inserção de obras contemporâneas em praças, jardins, e até em espaços privados ao alcance da população, principalmente nas grandes metrópoles, onde a arrecadação de impostos é maior e o caos urbano também. Muito embora esse interesse esteja crescendo, muitas vezes, o que se vê são obras carentes de significação, com características comerciais, de mercadoria, que em nada contribuem com o local onde estão situadas. O conceito de arte pública hoje é muito diverso, vai desde objetos tridimensionais, como as esculturas, passando por intervenções nas arquiteturas das cidades, como o grafite, até inserções efêmeras, como a performance e o happening, que procuram uma interação imediata com o público. Mas o que todos têm em comum é o fato de que estão inseridas em locais públicos ou ao menos de acesso público. Procuram um diálogo com o espectador e com o local onde estejam situadas. O fato é que, como foi dito, apesar dessa diversidade, muitas obras não qualificam o espaço público, servindo como simples peças decorativas, ou cópias mal elaboradas, muitas vezes conferindo certo status ao local. A obra de arte e a arte em si, especialmente a contemporânea, não deixaram de ser algo de difícil acesso ao público leigo e, também, somado a isso, serem encaradas como algo requintado, que confere status social. A população, na maioria das vezes, não compreende a significação da obra, julgando-a somente por ser “bonita” ou não. Em Florianópolis, muitos condomínios inserem obras de arte em seus jardins para se beneficiar de uma lei municipal que reduz o imposto predial urbano (IPTU). Mas será que elas realmente atingem a população? E será que elas contribuem para qualificar o local e aqueles que as apreciam? São questões a serem discutidas. Um exemplo foi a instalação, há alguns anos, de uma obra em frente à Praça XV de novembro, que faria alusão ao Miramar iii , antigo bar e ponto de encontro da cidade, extinto com o aterro da baía sul. Uma espécie de nova leitura de um prédio que foi um referencial de importância para Florianópolis. Sua validade como obra foi questionada, muitos 62 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis eram contra sua instalação, alegando que ela era simples “pastiche barato” e que com nada contribuía à população. Algumas outras obras em Florianópolis estão presentes em espaços públicos ou em áreas de jardins privadas e poderiam de fato ser melhor estudadas para enriquecer o cotidiano do cidadão. Em vista disto e de situações como esta, creio que o conhecimento e a aplicação do método semiótico discursivo também seriam de grande importância àqueles profissionais que desenham e qualificam nossas cidades, como arquitetos, artistas e designers. A Semiótica pode ser um poderoso instrumento no sentido de poder servir às duas pontas desse “sistema de comunicação visual” (ARGAN, 1998, p.81) que seriam as cidades, pois auxiliaria aqueles que desenham o ambiente que nos cerca, assim como aqueles que o apreciam, ou seja, a coletividade. Isto porque, “a ampliação da consciência visual possibilita a construção de um repertório de imagens significativas para o sujeito, capacitando-o a imaginar, criar, compreender, ressignificar, criticar, escolher entre uma infinidade de ações possíveis” (BUORO, 2002, p.46), buscando um ambiente urbano mais significativo e agradável de habitar. Uma obra, de arte ou arquitetônica, que possua a capacidade de gerar inúmeros e ricos efeitos de sentido nas pessoas, possibilitando-as maior aproximação estética, pode ser um objeto de valiosa contribuição no cotidiano do cidadão, tornando o seu rotineiro caminhar uma atividade mais construtiva e conscientizadora. Um caminhar por uma cidade onde cada um possa construir suas significações e onde sua leitura possa ser agradável e estimulante. Não só aqui em Florianópolis, mas em outros locais também, quem sabe, um dia, possamos ter inúmeras cidades-museu de qualidade, e aquele professor da escola pública possa esquecer por instantes a sala de aula e levar os alunos para uma enriquecedora caminhada? 63 16° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais – 24 a 28 de setembro de 2007 – Florianópolis Notas i Do grego semeion, que quer dizer, signo. Texto inédito fornecido pela autora iii O bar Miramar, inaugurado em 1928, foi construído com um trapiche para o atracadouro de embarcações vindas do continente, e acabou virando ponto de encontro da cidade. Foi demolido em 1974, quando estavam em andamento as obras do aterro da baía sul. Para mais informações, ver: VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis: Memória Urbana. Florianópolis: Editora da UFSC e Fundação Franklin Cascaes, 1993. ii Referências Bibliográficas ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998. BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. São Paulo: Educ/fapesp/cortez, 2002. KANDINSKY, Wassily. Ponto linha Plano. Rio de Janeiro: Edições 70, 1989. OLIVEIRA, Ana Claudia Mei Alves de. As semioses pictóricas. In: Semiótica plástica. São Paulo: Hacker, 2004. ________________________________. Lisibilidade da imagem. Revista da Fundarte, ano 1, n.01, vol 01, janeiro de 2001. RAMALHO E OLIVEIRA, Sandra. Imagem também se lê. São Paulo: Rosari, 2006. ____________________________. Imagem também se lê: a necessária presença diante da arte contemporânea. Texto inédito, fornecido pela autora. SANTOS, César Floriano dos. Campo de produção paisagística de Roberto Burle Marx – o jardim como arte pública. Madrid: tese (doutorado em arquitetura), Universidad Politecnica de Madrid, 2000. Currículo resumido Alice de Oliveira Viana, arquiteta formada pela UFSC e mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina – PPGAV/CEART/UDESC. 64
Download
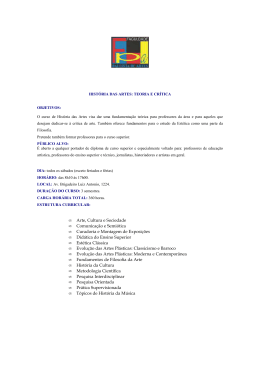
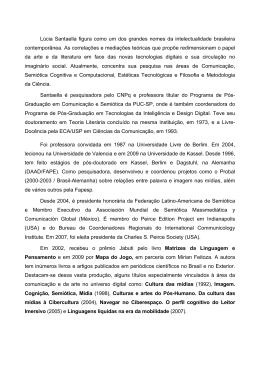
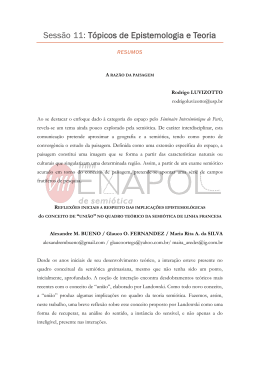
![Presentazione [Edizione-PT]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000653693_1-67a0579b55eebaa7e60d8146e4deb33d-260x520.png)