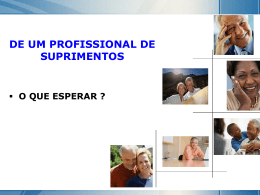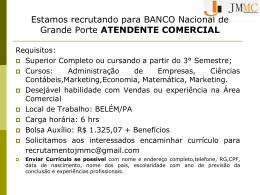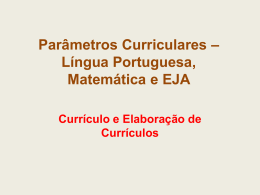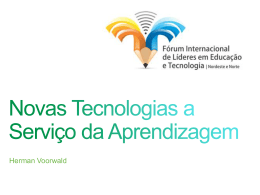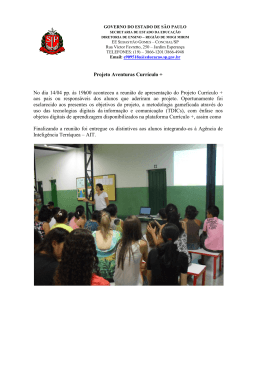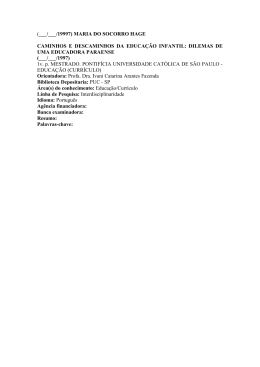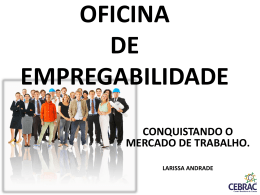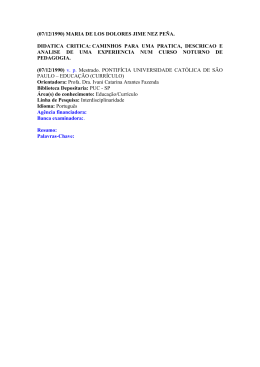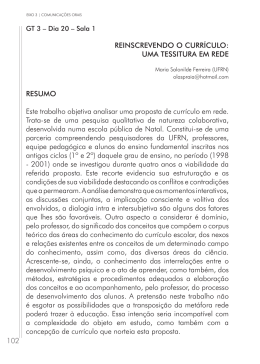Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 I ENCONTRO REGIONAL SOBRE CURRÍCULO ESCOLAR DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE DO PORTAL DO SERTÃO E DO TERRITÓRIO DO SISAL “Indagações Curriculares: concepções e experiências” ANAIS 30 e 31 de julho de 2012 Local: Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) www.regionalcurriculo.uneb.br Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 FICHA CATALOGRÁFICA SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNEB Bibliotecária – Maria Claudete Marques Barbosa Estrêla CRB – 5/806 Encontro Regional Sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal Sertão e do Território do Sisal (1 : 2012: Feira de Santana, Ba) Anais... / I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal Sertão e do Território do Sisal, Feira de Santana, de 30 a 31 de julho de 2012, organizado por Jean da Silva Santos; Simone Dias de Cerqueira Oliveira; Ana Paula de Oliveira Moraes; Elizabete Bastos da Silva . Márcia Torres Neri Soares – Salvador : EDUNEB, 2012. 402p. :il. ISSN 2357-7096 1. Currículos - Congressos. 2. Currículos - Avaliação - Congressos. 3. Educação Currículos -Bahia - Congressos. I. Santos, Jean da Silva. II. Oliveira, Simone Dias de Cerqueira. III. Moraes, Ana Paula de Oliveira. IV. Silva, Elizabete Bastos da. V. Soares, Márcia Torres Neri. CDD 375 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB LOURISVALDO VALENTIM DA SILVA REITOR ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA VICE-REITORA JOSÉ BITES DE CARVALHO PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA PROEX – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO JOSÉ CLÁUDIO ROCHA PPG – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO MARCELO DUARTE DANTAS DE ÁVILA PGDP – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LUIZ PAULO ALMEIDA NEIVA PROPLAN – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO JOSÉ DURVAL UZEDA FILHO PROAD – PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO PAULO JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA PRAES – PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC XI CAMPUS XI – SERRINHA ELIVÂNIA REIS DE ANDRADE ALVES DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO JEAN DA SILVA SANTOS COORDENADOR DO COLEGIADO DE GEOGRAFIA LUIZ CARLOS JANDIROBA COORDENADOR DO COLEGIADO DE PEDAGOGIA JOCELY SANTOS CALDAS ALMEIDA COORDENADORA DO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DE AZEVEDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LÉLIA VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO ROSANA MARY PÉRSICO VIEIRA CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES SOTO MARIA DA CONCEIÇÃO VILLAS BOAS SIMONE DIAS DE OLIVEIRA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL (GCEF) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 I ENCONTRO REGIONAL SOBRE CURRÍCULO ESCOLAR DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE DO PORTAL DO SERTÃO E DO TERRITÓRIO DO SISAL COMISSÃO ORGANIZADORA Ana Paula de Oliveira Moraes Soto Cledson José Ponce de Morais Conceição Vilas Boas Elizabete Bastos da Silva Jacqueline Pereira Lemos Lima Jean da Silva Santos Katty Lirane Haywanon Santos Maia Laura Ribeiro Lineia Fernandes Luciene do Espírito Santo Marcia Torres Neri Soares Maria da Conceição Villas Boas Monica Elane de Souza matos Neves Patricia Mara dos Santos Machado Rosângelis Rodrigues Fernandes Lima Rosana Pérsico Simone Dias Cerqueira de Oliveira Suzana Alves COMISSÃO CIENTÍFICA Profa. Msc. Ana Paula de Oliveira Moraes Soto (UNEB/ SME-FSA/UNIASSELVI) Profa. Msc. Áurea da Silva Pereira (UNEB) Profa. Dra. Carla Luzia Carneiro Borges (UEFS) Prof. Msc. Cledson José Ponce Morais (UEFS/SME-FSA) Profa. Esp. Elizabete Bastos da Silva (SME-FSA/SEE-BA/UNEB) Profa. Msc. Janeide Bispo dos Santos (UNEB/SME-FSA/FAN) Prof. Msc. Jean da Silva Santos (Uneb/SME-FSA/UNIASSELVI) Prof. Msc. Marcelo Leon Caffe de Oliveira (UEFS) Profa. Msc. Márcia Torres Neri Soares (UNEB/SME-FSA/UFRN) Profa. Msc. Marize Damiana Moura Batista e Batista (UNEB/SME-Irará) Profa. Esp. Rosângelis Rodrigues Fernandes Lima (FADBA/SME-FSA/UEFS) Profa. Msc. Selma Barros Daltro de Castro (UNEB/SME-FSA/UFBA) Prof. Dr. Silvio Roberto dos Santos Oliveira (UNEB) Profa. Msc. Simone Dias Cerqueira de Oliveira (SME-FSA/UFS) Profa. Msc. Simone Santos de Oliveira (UNEB/FTC) EDITORAÇÃO Jean da Silva Santos ORGANIZADORES DOS ANAIS Ana Paula de Oliveira Moraes Soto Elizabete Bastos da Silva Jean da Silva Santos Márcia Torres Neri Soares Simone Dias Cerqueira de Oliveira Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O CONTEÚDO DOS TEXTOS PUBLICADOS NESTE VOLUME É DE INTEIRA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES, INCLUSIVE A REVISÃO DA NORMA CULTA E DE LÍNGUA PORTUGUESA. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 APRESENTAÇÃO O I Encontro Regional Sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal intitulado Indagações curriculares: concepções e experiências objetivou discutir currículos e a produção de propostas curriculares na esfera municipal de Ensino Básico, teve como apoio acadêmico para a sua realização as seguintes instituições promotoras: a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB), a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Departamento de Educação, Campus XI, o Grupo de Pesquisa, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Território, Cultura e Movimentos Sociais (TECEMOS), vinculado à UNEB - Campus XI/Serrinha, o Grupo de Elaboração da Proposta Curricular para o Ensino Fundamental de Feira de Santana (GCEF), da Secretaria Municipal de Educação (SME) deste município, e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O evento priorizou a divulgação de experiências curriculares oficiais e não-oficiais dos Territórios de Identidade Portal do Sertão e do Sisal situados no Estado da Bahia, tomando-as como oportunidade para fomentar discussões e reflexões acerca de concepções e experiências curriculares desenvolvidas nesses territórios por professores da Educação Básica e Superior, estudantes de graduação e demais interessados na temática. Acredita-se que o evento supracitado sintetizou a rica possibilidade de indagar o currículo e suas apreensões no cotidiano escolar, como espaço profícuo de significados que se (re)faz nas práticas de diferentes professores. Nas concepções e experiências docentes objetivou-se a problematização de suas práticas (des)veladas na trama de relações sociais, econômicas, educacionais, políticas e culturais em que se encontram imersas. Teve-se indubitavelmente, a oportunidade de falar das práticas que se materializam no chão da escola sem escamotear suas (in)completudes. Que se descortinem então outros horizontes e que em tudo se alicerce novos entendimentos para que escolas e respectivos municípios sejam autênticos autores de suas próprias histórias e propostas curriculares! Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 PROGRAMAÇÃO GERAL -------------------- 30 de julho de 2012 (segunda-feira) -------------------Credenciamento das 8h às 12h das 14h às 17h Manhã 8:30h - Abertura 9h - Mesa Temática 01 – Currículo e Formação de Professores Currículo e Formação de Professores Profa. Dra. Maria Roseli Gomes Brito de Sá (Faced/Ufba) Currículo e Formação de professores: duas faces do mesmo processo de valorização dos saberes locais Profa. Dra. Heldina Pereira Pinto Fagundes (Uneb) Mediação: Profa. Msc. Simone Dias Cerqueira de Oliveira Local: Anfiteatro do Módulo II 12h - Intervalo para almoço Tarde 14h - Espaços de Diálogos e Práticas - EDP Apresentação das comunicações orais Locais: Auditórios I e II Módulo 1 e Auditório III Módulo 4 -------------------- 31 de julho de 2012 (terça-feira) -------------------Manhã 8:00h - Mesa Temática 02 – Currículo e Educação do Campo Currículo e Educação do Campo Prof. Dr. Marco Antonio Leandro Barzano (Uefs) Currículo e educação do campo: quão fronteiriço pode ser este debate? Profª Dra. Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante (Uefs) Mediação: Prof. Msc. Jean da Silva Santos Local: Anfiteatro do Módulo II 12h - Intervalo para almoço Tarde 14h - Espaços de Diálogos e Práticas - EDP Apresentação das comunicações orais Locais: Auditórios I e II Módulo 1 e Auditório III Módulo 4 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES EM MESA REDONDA Currículo e Formação de Professores Profa. Dra. Maria Roseli Gomes Brito de Sá (Faced/Ufba) A proposta da fala sobre o tema Currículo e Formação de Professores é de tensionar concepções e práticas de Currículo e Formação. Parte da concepção de Currículo como um fenômeno-processo social cuja função precípua é subsidiar os percursos formativos e atribui à Formação a condição de nascer de um processo interno de constituição e não necessariamente de uma finalidade técnica. A relação entre currículo e formação é tratada a partir do questionamento sobre o locus dos sujeitos no currículo, sendo a formação e a docência entendidas como experiências curriculares. Que experiências nos constituem é uma questão crucial para posicionar os percursos curriculares, consideradas as trajetórias de vida, evidenciando a relevância do conhecimento de si e das narrativas desse próprio percurso como conhecimento curricular significativo. _______________________________________ Currículo e Formação de professores: duas faces do mesmo processo de valorização dos saberes locais Profa. Dra. Heldina Pereira Pinto Fagundes (Uneb) No currículo escolar, as relações entre os saberes global e local não deve ser de passividade, na qual o local receberia um conteúdo homogeneizador (imposto de forma desterritorializada, desenraizada). É possível ser global sem sair do local, como afirma Santos (2000), ou seja, é possível construir alternativas culturais, sob a perspectiva da diferença, sem ter que se posicionar como mero receptor de conteúdos superficiais, justapostos e esvaziados de sentido, veiculados pela chamada globalização da cultura. Partindo de uma perspectiva de currículo como fórum de diálogo entre as diferenças, o qual tem como pressuposto assegurar a afirmação das vozes de sujeitos marginalizados social e culturalmente, discutimos algumas possibilidades para que os saberes locais sejam autorizados no Projeto Político Pedagógico da escola. Nesse sentido, apresentamos dados de uma pesquisa que buscou investigar o modo como se interpenetram os saberes global e local na construção de práticas curriculares, valorizando as diferenças etnicorraciais. Por meio de uma pesquisa participante, juntamo-nos aos professores de uma escola de uma comunidade negra rural para elaborar seu projeto pedagógico, a partir da construção de categorias sustentadas na perspectiva do saber local. As atividades foram organizadas em grupos de formação, conforme a perspectiva de Rui Canário (1997), que discute a formação em situações de trabalho. Acrescentando ainda outras estratégias que melhor atenderem à demanda do grupo, organizamos oficinas e seminários, que se constituíram em espaços nos quais foram criadas as condições para a construção do projeto político pedagógico voltado para as necessidades dos educandos daquela localidade. No processo, destacamos a participação efetiva, engajada e solidária na construção do currículo e na formação continuada de professores, tendo como fundante o compartilhamento de um trabalho coletivo. Para realizar a aproximação entre os saberes local e global buscamos apoio no conceito de hibridismo de Hall (1997). O recorte do saber local e da cultura escolar é dado na história da população a que a escola serve e ao seu processo de territorialização. Refere-se, também, à sabedoria da natureza presente na cosmologia das práticas religiosas, que o saber científico e a hegemonia católica negaram ao negro no Brasil. Tomamos a luta de uma comunidade de negros lavradores, “sertanejos e beiradeiros”, com suas estratégias de sobrevivência, sons, formas de expressão, danças, modo de interagir com o meio ambiente, relação com a morte, cosmovisão religiosa e tudo o mais que os cercam, como motivação, referência, ponto de partida e ponto de chegada do processo de conhecimento, como uma epistemologia. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Currículo e Educação do Campo Prof. Dr. Marco Antonio Leandro Barzano (Uefs) A centralidade da discussão que pretendo abordar é o da conexão de currículo e culturas e, para isto, focalizo o currículo que atravessa a educação no campo. Mais especificamente, pretendo debater o tema corpo, gênero e sexualidade que está presente ou ausente no currículo das disciplinas de Ciências e Biologia de duas escolas família agrícola no estado da Bahia. Alguns fatores nos inspiraram nesta investigação que ora trazemos para pensar, quais sejam: o fato de, as escolas possuírem um público majoritário de estudantes do sexo masculino; de se caracterizarem como escolas-internato, em que os alunos ficam alojados por quinze dias e há uma participação efetiva dos pais na organização curricular. A partir de uma metodologia pautada em fontes orais e escritas, consideramos que a discussão do tema corpo, gênero e sexualidade escapa do currículo oficial das escolas investigadas e de suas práticas cotidianas. Mais que isto: problematizamos o interesse que o currículo do campo quer produzir e a quem ele realmente está endereçado. _____________________________________ Currículo e educação do campo: quão fronteiriço pode ser este debate? Profa. Dra. Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante (Uefs) O tema da Educação do Campo ganha dimensões de análises diversas no debate educacional. Podemos discutir o tema a partir da análise da Política Pública enquanto trajetória histórica e conquista legitimada, podemos analisar os processos de implementação da política, da formação docente demandada pela nova política e, da prática pedagógica anunciada para além da política. Interessa-nos perceber como a educação do campo ganha visibilidade enquanto proposta historicamente construída no cenário educacional e o seu significado no cotidiano das escolas e dos rurais em que aporta. Pensar as palavras chaves currículo e educação do campo é, portanto, um exercício de interface importante, percebendo ambos como dinâmicas vivas de um cenário que busca dar significados aos processos educacionais, sociais, culturais e ambientais que permeiam o debate educacional. Quão fronteiriço pode ser este debate? Quão arrojado ele pode tornarse? O que importa é compreender as múltiplas possibilidades de análise, de pesquisa e de ação pedagógica a partir de um delineador comum: o campo é um lugar de produção de culturas e sociabilidades, e o currículo pode aportar tais nuances a partir de intencionalidades políticas, sociais e culturais próprias, não distanciadas da relação sociedade como um todo e dos desafios que ela nos apresenta. A educação do campo demanda a construção autônoma de currículos, ao tempo que a sua responsável conexão com o mundo que nos cerca. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 TEMA PRINCIPAL E EIXOS TEMÁTICOS INDAGAÇÕES CURRICULARES: CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS Eixo 1 – Currículo: Concepções e Formação do Educador Eixo 2 – Currículo e Experiências Educacionais Eixo 3 – Políticas de Currículo Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 PROGRAMAÇÃO ESPAÇOS DE DIÁLOGOS E PRÁTICAS – COMUNICAÇÕES ORAIS 30 de julho de 2012 Horário: 14:00h às 15:10h EIXO TRABALHOS Multiculturalismo: uma proposta de ruptura das relações de poder na escola - Adriana da Silva Peixinho (Uniasselvi) / Thiago Pires Santana (Uniasselvi) Eixo 1 Local: Auditório I – Módulo 1 Coordenadora: Elizabete Bastos da Silva Eixo 2 Local: Auditório II – Módulo 1 Coordenadora: Katty Lirane Haywanon Santos Maia Educação do Campo e movimentos sociais: singularidade - Ana Margarete Gomes da Silva (Uneb) desafios de uma Refletindo sobre concepções de educação e de um currículo contextualizado para convivência com o semiárido - Ana Paula Mendes Duarte (MOC) / Vera Maria Oliveira Carneiro (MOC) Educação das relações etnicorraciais: algumas tessituras entre currículo, identidade e formação d@ professor@ - Iramayre Cassia Ribeiro Reis (Uneb) Inclusão e flexibilizações curriculares: a contribuição da sala de recursos - Flavia Andrade Brito (Centro de Educação Básica da Uefs) O coordenador pedagógico e a formação de professores: construindo a escola inclusiva - Maria Auxiliadora Freitas Pimenta de Araujo (SME/FSA) O atendimento educacional especializado na inclusão de alunos com deficiência intelectual: desafios e possibilidades - Rosemeire da Silva Oliveira (SME/FSA) Salas de recursos multifuncionais e redes de apoio: parcerias necessárias a favor da inclusão escolar - Sayonara Freitas de Carvalho Moreira (Escola Municipal José Tavares) Educação contextualizada e espaços de interlocuções curriculares: um olhar sobre a formação da juventude camponesa desenvolvida pelo MOC - Ana Paula Araujo Lopes (Uneb) Eixo 3 Local: Auditório III – Módulo 4 Coordenadora: Selma Barros Daltro de Castro A elaboração da proposta curricular sob o olhar docente: tempos e espaços de valorização e reconstrução dos saberes - Katty Lirane Haywanon Santos Maia (SME/FSA) Experiências iniciais na proposição de políticas curriculares: perspectivas para o trabalho com a Língua Espanhola - Patricia Mara dos Santos Machado (SME/FSA) Respeito às diferenças identitárias no currículo escolar do ensino fundamental de Feira de Santana-BA - Patricia Mara dos Santos Machado (SME/FSA) / Katty Lirane Haywanon Santos Maia (SME/FSA) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 30 de julho de 2012 Horário: 15:10h às 16:20h EIXO Eixo 1 Local: Auditório I – Módulo 1 Coordenadora: Elizabete Bastos da Silva TRABALHOS Reflexões acerca das concepções de currículo contidas na proposta currricular de educação infantil elaborada pela Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana Arinadja Lopes Lima Correia O tear da formação docente: como se constitui o professor da educação de jovens e adultos - Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) Formação de professores e prática docente do professor da educação básica: o olhar dos alunos do curso de Pedagogia do Departamento de Educação Campus XI- Serrinha – BA - Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) / Dailza Araújo Lopes (Uneb) / Iracema Santos Batista (Uneb) / Mariene Santos Matos (Uneb) Desafio na formação: construir um currículo na perspectiva interdisciplinar - Zélia Ameida de Oliveira (Escola Municipal Noide Cerqueira) A importância da cartografia no ensino da geografia: possibilidades para aprendizagem discente - Christiane Couto Miranda de Lima (SME/FSA) Eixo 2 Local: Auditório II – Módulo 1 Coordenadora: Katty Lirane Haywanon Santos Maia Educação Ambiental, currículo e experiências exitosas - Hosana Fabiola Lima Amorim de Almeida (Escola Municipal Antonio Eloi da Costa) As implicações do processo de implantação do currículo para o ensino fundamental de nove anos no ambiente escolar - Makson Ivaldo Castelo Silva (FADBA) / Gabriela Oliveira Garcia da Silva (FADBA) / Selena Castelão Rivas (FADBA) A leitura e a escrita no cotidiano escolar: contribuições para a formação dos educandos - Neidinalva de Almeida Santos (Uniasselvi) / Irenicie Cerqueira de Jesus (Uniasselvi) Gestão educacional: desafios e possibilidades de inserção democrática nas relações sociais - Claudine de Lima Nunes Cordeiro Eixo 3 Uma experiência de estudo do desenho curricular numa turma do ensino superior - Claudine de Lima Nunes Cordeiro Local: Auditório III – Módulo 4 Elaboração da Proposta Curricular de Feira de Santana: um relato de experiência - Maria da Conceição Cedro Vilas Boas de Oliveira (SME/FSA) Coordenadora: Selma Barros Daltro de Castro O processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Feira de Santana: reflexões sobre possíveis impactos no currículo escolar da educação básica - Rosana Fernandes Falcão (SME/FSA) / Giovanna Marget Menezes Cardoso (SME/FSA) / Selma Mendes Souza Mascarenhas (SME/FSA) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 30 de julho de 2012 Horário: 16:20h às 17:30h EIXO Eixo 1 Local: Auditório I – Módulo 1 Coordenadora: Elizabete Bastos da Silva TRABALHOS As TIC na prática educativa e a formação de professores da educação básica: o software educativo como ferramenta de mediação da aprendizagem - Rosana Fernandes Falcão (SME/FSA) / Maria da Conceição Cedro Vilas Boas de Oliveira (SME/FSA) Educação e Tecnologia: a formação docente e a utilização dos dispositivos tecnológicos digitais na escola Ester Ferreira de Miranda Silva (Uneb) / Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) A função do atendimento educacional especializado dentro do currículo escolar: desafios para a educação inclusiva - Margarete Dias de Sousa (Escola Municipal Dr. Colbert Martins da Silva) A importância da família no processo de aprendizagem do aluno e sua contribuição para o currículo escolar Thenize Santos Rasslan (Unopar) / Marcio Harrison dos Santos Ferreira (Uefs) Abrir as portas para o novo: a experiência de coordenar o Programa Mais Educação no município de Santo Estevão-BA - Edésio Conceição Nascimento (SME/Santo Estevão-BA) Eixo 2 Local: Auditório II – Módulo 1 Coordenadora: Katty Lirane Haywanon Santos Maia Eixo 3 Local: Auditório III – Módulo 4 Coordenadora: Selma Barros Daltro de Castro A organização dos conteúdos escolares na Educação Física Escolar na rede municipal de ensino de Feira de Santana - Bahia: a proposta dos módulos didáticos no Ensino Fundamental II - Edson do Espírito Santo Filho (Uefs/ SME-FSA) Mitos e tabus sexuais comuns na adolescência: uma pesquisa-ação sobre sexualidade com alunos da rede pública de Feira deSantana-BA Marcio Harrison dos Santos Ferreira (Uefs) / Thenize Santos Rasslan (Unopar) A pedagogia histórico-crítica e o desenvolvimento conceitual sobre o esporte na formação do professor de educação física: experimentando uma didática para a sala de aula - Welington Araujo Silva (Uefs) Os desafios da inclusão da disciplina Libras Ead no currículo de pedagogia: um estudo no Campus XI- UNEB –Serrinha - Antonio Cesar Ramos da Silva (Uneb) / Jucileide Oliveira Santana (Uneb) / Jusceli Maria Oliveira de Cardoso (Uneb) Proposta Curricular: uma experiência construída ao som de muitas vozes - Flavia Andrade Brito (Centro de Educação Básica da Uefs) / Joelma dos Santos Ramos Rocha (Escola Municipal Antonio Brandão de Souza) / Sayonara Freitas de Carvalho Moreira (Escola Municipal José Tavares) Educação integral e Currículo - Suzana Alves de Santana Ramos (SME/FSA) / Eidy Caroline França de Oliveira (SME/FSA) Proposta curricular de matemática no município de Feira de Santana: uma escrita inicial - Jacqueline Pereira Lemos (SME/FSA) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 31 de julho de 2012 Horário: 14:00h às 15:10h EIXO TRABALHOS A importância do sociointeracionismo para educadores em sala de aula - Flávia Cristina Martins de Oliveira (Ufba) Eixo 1 Local: Auditório I – Módulo 1 Coordenadora: Rosângelis Rodrigues Fernandes Lima Feira de feirantes, feirenses e da feirinha: diversidade, cultura e miscigenação em Feira de Santana-BA - Raphaela Dany Freitas Silveira Gonçalves (Uefs/SME/FSA) O ensino da música na Educação Infantil: desafios após promulgação da Lei Nº 11.769/08 - Simeia Almeida Souza (Escola Despertar/Creche Primeiros Passos) / Lilian Miranda Bastos Pacheco (Uefs) A formação de professores de história em Alagoinhas: o caso da Universidade do Estado da Bahia - Eliane Brito Silva (Uneb) Interlocuções identitárias da cultura do feirante no contexto escolar - Cecilia de Fátima Boaventura de Macedo (Colégio Estadual Luiz Viana Filho) Eixo 2 Local: Auditório II – Módulo 1 Coordenadora: Simone Dias Cerqueira de Oliveira Eixo 3 Local: Auditório III – Módulo 4 Coordenadora: Ana Paula de Oliveira Moraes Soto O cotidiano das aulas de Ciências no 2º ano do Ensino Fundamental de nove anos: a (re)invenção do currículo Cristiane Sousa Santos (Pré-Escola Municipal Judite Alencar Marinho) O “Dia do folclore”: problematização para investigação no espaço escolar - Cora Corinta Macedo de Lima (Uneb) Ensino e cultura: um desafio para o professor de língua inglesa - Palloma Rios da Silva / Reinaldo Ferreira Venas Filho Conselho escolar e os desafios na consecução de políticas públicas: a experiência do município de Feira de Santana Rejane Brito Barbosa (SME/FSA) O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e práticas curriculares: descortinando ações da gestão democrática Rejane Brito Barbosa (SME/FSA) O currículo e a escola: instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações etnicorraciais positivas no Brasil - Maria Cristina de Jesus Sampaio (PPGE/Uefs) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 31 de julho de 2012 Horário: 15:00h às 16:20h EIXO Eixo 1 Local: Auditório I – Módulo 1 Coordenadora: Rosângelis Rodrigues Fernandes Lima TRABALHOS O teatro na escola e suas contribuições para a formação da autonomia do educando: um olhar sobre o Centro Educacional 30 de Junho (Serrinha- BA) - Marizete Barbosa de Lima (Escola Municipal José Xavier de Lima – Serrinha) A utilização da fotografia no ambiente escolar: possibilidades para práticas pedagógicas - Milayne Lanayra Rodrigues Fernandes Valente Lima (Uefs) / Daniele Andrade Lima (Uefs) E agora José? Docência e (re)construção curricular em uma escola pública na periferia de Feira de Santana – BA Augusto Cesar de Araujo (Uefs/ Direc 02) Capacitação em Educação Física Escolar Inclusiva - Sirley Lima Barreto Moreira da Silva (Uneb) / Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva (Uneb) Aprendizagem de crianças que sofreram abuso sexual: o que dizem e o que fazem os profissionais de educação - Edian de Oliveira Moreira de Queiroz (Uneb) / Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) / Liliane Santos Sandes (SME/FSA/ Escola Rubem Alves) Eixo 2 Local: Auditório II – Módulo 1 Coordenadora: Simone Dias Cerqueira de Oliveira Falando sobre inclusão dos surdos, qual o lugar da criança surda no currículo da escola regular? Antonio Cesar Ramos da Silva (Uneb) / Jusceli Maria de Oliveira Carvalho Cardoso (Uneb) / Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva (Uneb) LEIA: Ler, Explicar, Interpretar e Aprender - Andrea Batista dos Santos Lopes (Uneb) / Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva (Uneb) / Kleicy Leite Fontes (Capene) Braille: noções básicas do sistema de leitura e escrita tátil - Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva (Uneb) / Marta Martins Meireles (Uneb) / Jusceli Maria Oliveira de Carvalho Cardoso (Uneb) A pesquisa-ação na temática da violência escolar em escolas municipais de Feira de Santana - Nadjane Gonçalves de Oliveira (SME/FSA) Eixo 2/3 Local: Auditório III – Módulo 4 Coordenadora: Ana Paula de Oliveira Moraes Soto Educação infantil no âmbito da educação do campo: em prol de uma educação contextualizada Elizabete Abreu de Araujo (Ufba) A construção de currículo numa ação compartilhada: Escola Municipal Ester da Silva Santana Erica de Souza Fadigas Neris (Escola Municipal Ester da Silva Santana) / Ivana Cardim Pinheiro Música na escola básica: e a formação docente? Patricia Oliveira Campos Câmara (Uefs) / Simone Braga Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 SUMÁRIO (organização por eixo, autoria, em ordem alfabética) EIXO 1 – CURRÍCULO: CONCEPÇÕES E FORMAÇÃO DO EDUCADOR Multiculturalismo: uma proposta de ruptura das relações de poder na escola Adriana da Silva Peixinho (Uniasselvi) Thiago Pires Santana (Uniasselvi) Refletindo sobre concepções de educação e de um currículo contextualizado para convivência com o semiárido Ana Paula Mendes Duarte (MOC) Vera Maria Oliveira Carneiro (MOC) A formação de professores de história em Alagoinhas: o caso da Universidade do Estado da Bahia Eliane Brito Silva (Uneb) Educação e Tecnologia: a formação docente e a utilização dos dispositivos tecnológicos digitais na escola Ester Ferreira de Miranda Silva (Uneb) Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) A importância do sociointeracionismo para educadores em sala de aula Flávia Cristina Martins de Oliveira (Ufba) O tear da formação docente: como se constitui o professor da educação de jovens e adultos Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) Formação de professores e prática docente do professor da educação básica: o olhar dos alunos do curso de Pedagogia do Departamento de Educação Campus XI- Serrinha – BA Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) Dailza Araújo Lopes (Uneb) Iracema Santos Batista (Uneb) Mariene Santos Matos (Uneb) A função do atendimento educacional especializado dentro do currículo escolar: desafios para a educação inclusiva Margarete Dias de Sousa (Escola Municipal Dr. Colbert Martins da Silva) O ensino da música na Educação Infantil: desafios após promulgação da Lei Nº 11.769/08 Simeia Almeida Souza (Escola Despertar/Creche Primeiros Passos) Lilian Miranda Bastos Pacheco (Uefs) A importância da família no processo de aprendizagem do aluno e sua contribuição para o currículo escolar Thenize Santos Rasslan (Unopar) Marcio Harrison dos Santos Ferreira (Uefs) Desafio na formação: construir um currículo na perspectiva interdisciplinar Zélia Ameida de Oliveira (Escola Municipal Noide Cerqueira) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 EIXO 2 – CURRÍCULO E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS Falando sobre inclusão dos surdos, qual o lugar da criança surda no currículo da escola regular? Antonio Cesar Ramos da Silva (Uneb) Jusceli Maria de Oliveira Carvalho Cardoso (Uneb) Márcia Raimunda de Jesus M. da Silva (Uneb) Interlocuções identitárias da cultura do feirante no contexto escolar Cecilia de Fátima Boaventura de Macedo (Colégio Estadual Luiz Viana Filho) A importância da cartografia no ensino da geografia: possibilidades para aprendizagem discente Christiane Couto Miranda de Lima (SME/FSA) Uma experiência de estudo do desenho curricular numa turma do ensino superior Claudine de Lima Nunes Cordeiro (Escola Rubem Alves) O “Dia do folclore”: problematização para investigação no espaço escolar Cora Corinta Macedo de Lima (Uneb) Abrir as portas para o novo: a experiência de coordenar o Programa Mais Educação no município de Santo Estevão-BA Edésio Conceição Nascimento (SME/Santo Estevão-BA) Aprendizagem de crianças que sofreram abuso sexual: o que dizem e o que fazem os profissionais de educação Edian de Oliveira Moreira de Queiroz (Uneb) Giovanna Marget Menezes Cardoso (Uneb) Liliane Santos Sandes (SME/FSA/ Escola Rubem Alves) A construção de currículo numa ação compartilhada Erica de Souza Fadigas Neris (Escola Municipal Ester da Silva Santana) Ivana Cardim Pinheiro Inclusão e flexibilizações curriculares: a contribuição da sala de recursos Flavia Andrade Brito (Centro de Educação Básica da Uefs) Braille: noções básicas do sistema de leitura e escrita tátil Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva (Uneb) Marta Martins Meireles (Uneb) Jusceli Maria Oliveira de Carvalho Cardoso (Uneb) Mitos e tabus sexuais comuns na adolescência: uma pesquisa-ação sobre sexualidade com alunos da rede pública de Feira deSantana-BA Marcio Harrison dos Santos Ferreira (Uefs) Thenize Santos Rasslan Universidade do Norte do Paraná (Unopar) O coordenador pedagógico e a formação de professores: construindo a escola inclusiva Maria Auxiliadora Freitas Pimenta de Araujo (SME/FSA) O teatro na escola e suas contribuições para a formação da autonomia do educando: um olhar sobre o Centro Educacional 30 de Junho (Serrinha- BA) Marizete Barbosa de Lima (Escola Municipal José Xavier de Lima – Serrinha) As implicações do processo de implantação do currículo para o ensino fundamental de nove anos no ambiente escolar Makson Ivaldo Castelo Silva (Fadba) Gabriela Oliveira Garcia da Silva (Fadba) Selena Castelão Rivas (Fadba) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A utilização da fotografia no ambiente escolar: possibilidades para práticas pedagógicas Milayne Lanayra Rodrigues Fernandes Valente Lima (Uefs) Daniele Andrade Lima (Uefs) A pesquisa-ação na temática da violência escolar em escolas municipais de Feira de Santana Nadjane Gonçalves de Oliveira (SME/FSA) Ensino e cultura: um desafio para o professor de língua inglesa Palloma Rios da Silva Reinaldo Ferreira Venas Filho O atendimento educacional especializado na inclusão de alunos com deficiência intelectual: desafios e possibilidades Rosemeire da Silva Oliveira (SME/FSA) Salas de recursos multifuncionais e redes de apoio: parcerias necessárias a favor da inclusão escolar Sayonara Freitas de Carvalho Moreira (Escola Municipal José Tavares) Capacitação em Educação Física Escolar Inclusiva Sirley Lima Barreto Moreira da Silva (Uneb) Márcia Raimunda de Jesus Moreira da Silva (Uneb) A pedagogia histórico-crítica e o desenvolvimento conceitual sobre o esporte na formação do professor de educação física: experimentando uma didática para a sala de aula Welington Araujo Silva (Uefs) EIXO 3 – POLÍTICAS DE CURRÍCULO Proposta Curricular: uma experiência construída ao som de muitas vozes Flavia Andrade Brito (Centro de Educação Básica da Uefs) Joelma dos Santos Ramos Rocha (Escola Municipal Antonio Brandão de Souza) Sayonara Freitas de Carvalho Moreira (Escola Municipal José Tavares) Proposta curricular de matemática no município de Feira de Santana: uma escrita inicial Jacqueline Pereira Lemos (SME/FSA) A elaboração da proposta curricular sob o olhar docente: tempos e espaços de valorização e reconstrução dos saberes Katty Lirane Haywanon Santos Maia (SME/FSA) O currículo e a escola: instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações etnicorraciais positivas no Brasil Maria Cristina de Jesus Sampaio (PPGE/Uefs) Experiências iniciais na proposição de políticas curriculares: perspectivas para o trabalho com a Língua Espanhola Patricia Mara dos Santos Machado (SME/FSA) Respeito às diferenças identitárias no currículo escolar do ensino fundamental de Feira de SantanaBA Patricia Mara dos Santos Machado (SME/FSA) Katty Lirane Haywanon Santos Maia (SME/FSA) Conselho escolar e os desafios na consecução de políticas públicas: a experiência do município de Feira de Santana Rejane Brito Barbosa (SME/FSA) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e práticas curriculares: descortinando ações da gestão democrática Rejane Brito Barbosa (SME/FSA) O processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Feira de Santana: reflexões sobre possíveis impactos no currículo escolar da educação básica Rosana Fernandes Falcão (SME/FSA) Giovanna Marget Menezes Cardoso (SME/FSA) Selma Mendes Souza Mascarenhas (SME/FSA) Educação integral e Currículo Suzana Alves de Santana Ramos (SME/FSA) Eidy Caroline França de Oliveira (SME/FSA) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 TRABALHOS COMPLETOS COMUNICAÇÕES ORAIS Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 EIXO 1 – CURRÍCULO: CONCEPÇÕES E FORMAÇÃO DO EDUCADOR Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Multiculturalismo: Uma proposta de ruptura das relações de poder na escola Thiago Pires Santana 1 Adriana da Silva Peixinho 2 RESUMO: O presente artigo aborda algumas idéias sobre o currículo, ideologia, cultura e poder, estabelecendo diálogo com alguns autores que tem uma visão crítica sobre o currículo e questionam as relações de poder na escola, com o propósito de fazer com que os que foram sempre silenciados tenham também voz e expressão. O texto defende um posicionamento multicultural como proposta viável para dar condição de subversão aos grupos mais oprimidos da sociedade, respeitando suas diferenças e valorizando suas culturas e bases ideológicas. Palavras-chave: Poder; cultura; currículo. ABSTRACT: The present article have some ideas about curriculum, ideology, culture and power, waking dialogue about power in the school to do the peoples that everytime silent to be expression ideas. This text protect a multicultural point of view as proposal to give condition of subversion to oppressed group of society, respecting yours differents and increasing yours ideologics bases and cultural ideas. Key Words: Power; Ideology; Culture; Curriculum. CONSIDERAÇÕES INICIAIS Atualmente não podemos desconsiderar na nossa vida cotidiana as lutas e brigas envoltas do poder, as relações humanas se tornam mais conflituosas e menos despretensiosas. As ideologias e as culturas que são transmitidas como únicas por um grupo dominante são carregadas de “verdades transitórias” que servem e se transformam para servir os seus criadores. Nesse direcionamento é que entendemos que as relações de poder são cultivadas desde o momento que as pessoas tomam noção da realidade que os cerca. Na escola percebemos a existência de uma base ideológica e cultural sendo transmitida através do currículo, munida de idéias e valores culturalmente definidos e valorizados pelos que têm o poder. Não se pode acreditar que a escola seja uma arena apolítica da sociedade, pois, as forças dominantes não tendem a considerar as diferenças existentes, à medida que o diferente não é respeitado e sim, tratado como errado ou simplesmente subjugado perante as outras concepções até então mais valorizadas. 1 2 Professor do Centro Universitário Leonardo da Vinci. E-mail: [email protected] Professora do Centro Universitário Leonardo da Vinci. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Ciente da complexidade que envolve a cultura escolar e todas as suas atribuições, pretende-se refletir com esse texto a possibilidade de desenvolver na escola práticas pedagógicas que incentivem o respeito às diferenças e que conscientizem alunos e comunidade escolar sobre a importância da construção de sua identidade. CURRÍCULO, IDEOLOGIA E PODER Podemos definir currículo na sua forma mais “inocente” como sendo um conjunto de conhecimentos que devem nortear as ações docentes, estabelecendo assim um diálogo com um conjunto mínimo de informações que são consideradas como importantes. Esta definição desconsidera a abordagem política e ideológica por trás do currículo, pois não responde a perguntas: quais conhecimentos são considerados importantes? Qual objetivo de se trabalhar determinados conhecimentos? Quais concepções se estabelecem na construção do conhecimento? Quais são as identidades formadas neste processo? Tomando outra perspectiva sobre o currículo, num viés crítico, passamos a considerar os questionamentos citados acima e passamos a ouvir o eco de uma(as) Ideologia(as), de uma(as) Cultura(as), de um grupo detentor do poder. Nesse sentido o currículo deixa de ser uma área meramente técnica, voltada a procedimentos, técnicas e métodos, ou seja, “o currículo é considerado um artefato social e cultural” (MOREIRA e SILVA, 1994, p.7). Moreira e Silva numa abordagem contemporânea e crítica do currículo afirma que: O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo esta implicado em relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares (1994, p.8). É relevante destacar que por trás do belo discurso de orientação significativa do conhecimento existe uma visão particular de mundo, de concepções ideológicas, de cultura, que para continuarem mais valorizadas do que outras precisam dar continuidade ao poder e assegurar sua manutenção. Segundo as idéias defendidas por Althusser (1918) a educação é uma dos principais mecanismos através do qual a classe dominante transmite suas idéias sobre o Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 mundo. Ele enumera algumas formas sociais contemporâneas de controle ideológico quando diz que existe [...] nas formações sociais capitalistas contemporâneas um numero relativamente elevado de aparelhos ideológicos do estado: o aparelho escolar, o aparelho religioso, o aparelho familiar, o aparelho político, o aparelho sindical, o aparelho de informação, o aparelho cultural etc [...] (1918, p. 75). A ideologia, nessa vertente, relaciona-se às divisões que organizam a sociedade, as divisões de classes, e às relações de poder que mantém essas divisões e cultuam os seus interesses. “O que caracteriza a ideologia não é a falsidade ou verdade das idéias que veicula, mas o fato de que essas idéias são interessadas, [...] aos interesses dos grupos situados em uma posição de vantagem na organização social” (MOREIRA e SILVA, 1994, p.23). Logo a problemática que envolve o currículo e sua base ideológica não está somente na questão da veracidade das idéias transmitidas, mas também na questão que procura identificar o grupo a quem beneficia esse olhar de mundo. Percebe-se que o sistema educacional num todo tem servido de agente mantenedor dos estamentos sociais de um grupo dominante, onde o veiculo propulsor de idéias e visões de mundo encontram-se intrinsecamente arraigado na escola. A escola, assim, é considerada como uma arena política, envolvida em um jogo ideológico, social e também econômico. As concepções ideológicas são transmitidas de maneira muitas vezes imperceptíveis, pois se expressam na linguagem, nos discursos proferidos, nas propostas de resolução de problemas, nas considerações do que deve e pode ser considerado como relevante, dos conhecimentos que estabelecem como prioritários, nas abordagens dos livros didáticos, entre outros. O que fica evidente no currículo é a existência de uma orientação intencionadamente política, carregada de pressupostos ideológicos que atuam “para produzir identidades individuais e sociais no interior das instituições educacionais” (MOREIRA e SILVA, 1994, p.26), a fim de manterem o poder da classe ou grupo dominante. “Se existe uma noção central à teorização educacional e curricular crítica é a de poder” (MOREIRA e SILVA, 1994, p.28). As relações de poder estão seguramente envolvidas nas relações educacionais e se manifestam em relações sociais que submetem alguns grupos ao arbítrio de outros. O currículo é considerado o maior veículo de propagação do poder, uma vez que, é nele onde encontramos o conjunto de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 conhecimentos que é considerado como importante e ainda está de forma implícita mensagens que nos são passadas através do que chamamos de currículo oculto. O currículo de maneira incontestável expressa os interesses dos grupos e classes colocados em vantagens e ele [...] ao expressar essas relações de poder, ao se apresentar, no seu aspecto ‘oficial’, como representação dos interesses do poder, constituem identidades individuais e sociais que ajudam a reforçar as relações de poder existentes, fazendo com que os grupos subjugados continuem subjugados (MOREIRA e SILVA, 1994, p.29). Estas observações acerca do currículo vêm nos mostrar o quanto é necessário uma reflexão acerca de uma abordagem crítica do currículo porque “[...] o poder não se manifesta de forma tão cristalina e identificável [...]” (MOREIRA e SILVA, 1994, p.29). CURRÍCULO, CULTURA E PODER Diante do que foi discutido sobre currículo, ideologia e poder, iremos na mesma linha de raciocínio abordar a relação existente entre currículo, cultura e poder. Percebemos que “a escola de hoje não pode ignorar todo o potencial em termos de culturas, saberes, interesses e necessidades que a enorme diversidade dos seus alunos lhe coloca” (Sousa, 2004, p.13). Assim, nota-se que a educação, em particular, o currículo é uma forma institucional de transmissão de uma cultura a sociedade. Na tradição crítica, o currículo e a cultura são vistos como indissociáveis, ambos, envolvidos numa política cultural impregnada de valores e visões de mundo. Deste modo não se pode considerar a cultura como um conjunto unitário e homogêneo de valores e conhecimentos, “[...] não existe uma única cultura de sociedade universalmente aceite e posta em prática e, por isso, digna de ser transmitida” (SOUSA, p. 15). O currículo é na verdade um terreno de criação simbólica e construção de identidades culturais. Reforça-nos as palavras de Moreira e Silva (1994), quanto à relação entre o currículo e a construção de identidades culturais: A educação e o currículo não atuam, nessa visão, apenas como correias transmissoras de uma cultura produzida em outro local, por outros agentes, mas são partes integrantes e ativas de um processo de produção e criação de sentidos, significações, de sujeitos (p. 27-28). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Entendendo que o currículo pode ser movimentado por intenções oficiais de uma cultura oficial, a que detém o poder, e esta não pode ser merecedora de transmitir seus valores de maneira única, homogenia e universal. Nessa visão a cultura é uma área de diferentes e conflitantes concepções de vida, “o terreno por excelência onde se dá a luta pela manutenção ou pela separação das classes sociais” (MOREIRA e SILVA, 1994, p.27). Essa discussão: Trata-se de um apelo para que se reconheça que, nas escolas, os significados são produzidos pela construção de formas de poder, experiências e identidades que precisam ser analisadas em seu sentido político-cultural mais amplo (GIROUX e SIMON, 1994, p. 97). A citação de Giroux e Simon nos faz entender que é preciso considerar o caráter plural da sociedade e que a escola e o currículo devem respeitar essa pluralidade subjacente ao ser humano e que também não se pode desconsiderar as mensagens que são trazidas pela cultura dominante através do currículo. O caráter plural da sociedade nos remete ao multiculturalismo e a uma análise sobre a cultura da diferença. Multiculturalismo segundo Moreira (2002) tem sido empregado para indicar o caráter plural das sociedades ocidentais contemporâneas à qual se pode responder de várias formas, mas não se pode ignorar. O multiculturalismo inclui a formulação de definições conflitantes de mundo social, decorrentes de conflitos econômicos, políticos e sociais. Uma abordagem multicultural deve ser tomada para que se consiga chegar a uma proposta educacional mais significativa e contextualizada para os alunos, tomando como base a sua realidade e sua vivência, pois numa abordagem multicultural considera-se os educandos carregados de cultura e conhecimento. Tal abordagem considera que “as reflexões sobre o multiculturalismo podem enriquecer-se pelas aproximações e tensões entre os insights da teoria curricular crítica e as contribuições da teorização social e cultural contemporânea que discute a diferença” (MOREIRA, 2002 p.4). O viés multicultural que vem sendo destacado no texto é a de um multiculturalismo crítico, que não exclui em seus horizontes a proposta de desestabilizar as relações de poder envolvidas nas situações em que existem diferenças. Não se têm interesse no multiculturalismo benigno que cultua a tolerância o respeito e a convivência com as Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 diferenças. Deve-se adotar uma postura em que “todo conhecimento-emancipação tenha uma vocação multicultural” (MOREIRA, 2002 p. 3). CONSIDERAÇÕES FINAIS O que foi abordado neste trabalho tem a intenção de relacionar currículo, ideologia, cultura e poder numa esfera crítica analisando as relações de poder existentes na organização formal do conhecimento, currículo. Consideramos ter deixado bem claro que não existe mais espaço para uma abordagem inocente e despretensiosa do currículo, uma vez que existe uma ideologia e uma cultura dominante que tem e pretende conservar e renovar sempre suas relações de poder. O multiculturalismo crítico aqui é apresentado como proposta de reconhecer e ressignificar as posturas pedagógicas que se tem sobre as variadas culturas das minorias, para que estas tenham possibilidade de desestabilizar as relações de poder que estão enraizadas no currículo e na escola. Consideramos que para isto, é preciso uma postura multicultural dos docentes em relação ao currículo para que se consiga diminuir os préconceitos e valorizar as diferenças. Destarte, observa-se que o novo modelo de educação para um currículo multicultural deve ser amparado por atividades bem definidas e planejadas, com novos perfis profissionais que favoreçam a um aprendizado significativo alicerçado por práticas pedagógicas que privilegiem as diferentes culturas. REFERÊNCIAS ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos do estado (AIE / Louis Althusser; tradução de Walter José Evangelista e Maria Laura /viveiros de Castro: introdução crítica de José Augusto Guilhon Albuquerque). 10º ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. GIROUX, H. A., e SIMON, R. Cultura popular e pedagogia crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular. In A. F. MOREIRA, e T. T. SILVA (Orgs.). Currículo, Cultura e sociedade. (p. 93-124). São Paulo: Cortez, 1994. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 MOREIRA, A. F., e SILVA, T. T. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução. In A. F. MOREIRA, e T. T. SILVA (Orgs.). Currículo, Cultura e sociedade. (p. 07-37). São Paulo: Cortez, 1994. MOREIRA, A. F. Currículo, diferença cultural e diálogo. Educação e Sociedade, vol.23 nº 79. Campinas, ago. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010173302002000300003&script=sci_arttext&tlng= pt>. Acesso em: 01/07/09. SOUSA, J.M. Educação: Textos de Intervenção. Portugal: O Liberal, 2004. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Refletindo sobre concepções de educação e de um currículo contextualizado para convivência com o semiárido Ana Paula Mendes Duarte 3 Vera Maria Oliveira Carneiro 4 RESUMO O presente artigo tem como objetivo contribuir no debate de construção de currículo contextualizado nos municípios do Semiárido. E, sabendo que na humanidade os processos de produção de conhecimentos aconteceram a partir de perguntas e questionamentos e a busca por respostas, iniciamos nossa discussão com questionamentos acerca de que modelo de desenvolvimento sustentável os municípios desejam e assim, pensar no modelo de currículo escolar que atenda a este desenvolvimento. Na construção de um currículo, também não podemos deixar de questionar, principalmente quando se trata da elaboração de um currículo para a Educação do Campo, que tem de ser contextualizado, respeitando o contexto histórico e político-social dos sujeitos os quais o currículo contempla. Nossa experiência de construção de um material de currículo nos municípios do Semiárido baiano segue a linha da contextualização e do desenvolvimento sustentável que vise o fortalecimento do município, que trabalhe os elementos e aspectos políticos, sociais e culturais locais, como também o incentivo e a valorização do sujeito do campo, na perspectiva de convivência com o semiárido. Tendo a escola como um espaço de transformação política e social, é necessário que o currículo escolar contemple e valorize as especificidades do campo, garantidas e basiladas pela conquista das Diretrizes Operacionais da Educação do Campo (Resolução CNE, 01, de 03 de abril 2002), onde os conteúdos que a escola irá trabalhar devem ser pensados e planejados de maneira que contribuam para o desenvolvimento sustentável e para a quebra dos paradigmas aos quais os sujeitos do campo foram submetidos e estereotipados durante séculos, recebendo um currículo descontextualizado, sem trabalhar com elementos de sua própria realidade e se coloque como um desafio a ser desenvolvido pelos municípios. Nesse artigo, buscamos refletir possíveis respostas a esses questionamentos, bem como contribuir no processo de construção de uma proposta curricular na perspectiva da educação contextualizada. Isso exige assegurar princípios que foram sendo firmados ao longo dos anos com os movimentos sociais do campo. Palavras chaves: Currículo. Contextualização.Semiárido. 3 Assessora do Programa de Educação do Campo no MOC (Movimento de Organização Comunitária). Graduanda em Licenciatura em Letras Vernáculas na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). E-mail [email protected] 4 Coordenadora do Programa de Educação do Campo no MOC (Movimento de Organização Comunitária). Licenciada em História pela UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). Pós-graduada em Desenvolvimento Rural Sustentável, com enfoque em Educação do Campo. Mestranda em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional. E-mails: [email protected] e [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 I INTRODUÇÃO As várias concepções sobre currículo foram se construindo dialeticamente no decorrer da história. A proposta de um currículo contextualizado na perspectiva da convivência com o Semiárido está inserida na concepção de currículo como algo dinâmico, como vida e identidade dos povos do campo do semiárido. Como o Semiárido aparece no currículo da educação municipal? Que elementos da vida das pessoas e do município são trabalhados na sala de aula? Os professores e professoras trabalham estes elementos no currículo escolar? É sabido que existem diversas pesquisas e estudos sobre currículos. Nesse texto, buscamos contribuir no debate acerca do currículo municipal que contribua para o desenvolvimento sustentável. Na humanidade, os processos de produção de conhecimentos aconteceram a partir de questionamentos, de pesquisas e de busca por respostas. Assim, ao se pensar um currículo municipal contextualizado é importante fazermos alguns questionamentos e a partir deles ir inserindo os elementos do contexto: Qual o contexto histórico, político, social, ambiental e cultural para construção do currículo municipal? O currículo não deve ser deslocado, fragmentado da vida do município, das comunidades e da escola. Precisa estar inserido no contexto e fazer parte da vida das pessoas, levando-se em consideração a história do município, o ambiente e a cultura. Considerar o contexto histórico e social da região, do município e do Território, deve ser elemento pedagógico do currículo. O ambiente e a cultura buscando a valorização e a melhor convivência com o Semiárido. Que projeto de desenvolvimento queremos para o município? Ao construir um currículo, o município e o Território precisam ter claro o projeto de desenvolvimento que se quer e como o currículo pode contribuir para isso. É um desenvolvimento que está centrado no crescimento econômico apenas, sem levar em consideração as especificidades locais, o ambiente, a cultura, a participação das pessoas e a sustentabilidade? Ou um desenvolvimento sustentável que leve em consideração Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 diversos aspectos: social, político, econômico, ambiental e cultural? Um desenvolvimento sustentável também leva em consideração aspectos como equidade de gênero, valorização das identidades, a diversidade, os potenciais locais, direito de participação da população nas decisões políticas e no planejamento. A proposta de currículo contextualizado busca contribuir na construção do desenvolvimento sustentável e de um novo projeto de sociedade. Como e em que o currículo da educação escolar pode contribuir para construção desse desenvolvimento sustentável no município? Ao se definir que o que se busca é a construção de um desenvolvimento sustentável, os conteúdos que a escola irá trabalhar devem ser pensados e planejados de maneira que contribuam para isso. Inserir no conteúdo escolar elementos como: o ambiente da comunidade/município, conteúdos que ajudem a conhecer e conviver com o Semiárido, conteúdos relacionados à agricultura familiar, à participação política de educandos/as, das famílias e das pessoas da comunidade. Ou seja, o currículo escolar pode trabalhar como exemplo: conhecer melhor os problemas da comunidade, envolver as famílias na busca de resoluções, ampliar uma consciência ambiental, adotar práticas de convivência com o Semiárido, debater relações sociais e os processos de decisões políticas. Esses elementos perpassando por dentro das diversas áreas de conhecimentos. Inserir essa perspectiva na proposta curricular. Nesse texto, buscamos refletir sobre algumas possíveis respostas a esses questionamentos, bem como contribuir no processo de construção de uma proposta curricular na perspectiva da educação do campo contextualizada. Essa perspectiva exige assegurar alguns princípios que foram sendo firmados ao longo dos anos com os movimentos sociais do campo e do Semiárido. Não pretendemos e não queremos trazer respostas prontas e muito menos “receitas” de construção de currículo, apenas contribuir no debate e nas reflexões para construção do mesmo. A construção do currículo acontece no fazer, no cotidiano. Porém, precisa estar institucionalizado e orientado para acontecer na prática. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 II PRINCÍPIOS, CONCEITOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONTEXTUALIZADA E SUA RELAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2.1. Princípios da educação do campo O atual debate do que é rural e do que é urbano é muito pertinente. Partimos da concepção de que a maioria dos municípios do Semiárido é rural, ou seja, tem menos de 80 mil habitantes, o modo de vida tem uma hegemonia com a vida do campo, com a agricultura, a cultura e outros elementos. Outra questão é que partimos da concepção que se baseia nos princípios da educação do campo e contextualizada, embasada nas diversas construções dos movimentos sociais do campo, e de lutas por políticas públicas de educação de qualidade, a exemplo das Diretrizes Operacionais da Educação do Campo (Resolução CNE, 01, de 03 de abril 2002). Conforme o Artigo 6º, do Decreto da Educação do Campo, No. 7.352 de 04 de novembro de 2010, Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários destinados à educação do campo deverão atender às especificidades e apresentar conteúdos relacionados aos conhecimentos das populações do campo, considerando os saberes próprios das comunidades, em diálogo com os saberes acadêmicos e a construção de propostas de educação no campo contextualizadas. Dessa forma, o Decreto assegura a produção de conhecimento e toda estruturação da educação do campo relacionados à vida no campo. Além desses elementos, existem alguns outros princípios que a educação do campo defende, como por exemplo: Garantir a participação e expressão dos povos do campo nos processos educativos, respeitando suas diversidades; Estar comprometida com a emancipação e fortalecimento da cultura e dos valores das comunidades rurais e que contribuam para um desenvolvimento sustentável; Evidenciar que as populações do campo são sujeitos de direitos e suas histórias e precisam ter suas especificidades respeitadas. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Para isso, a escola do campo, ou a escola da sede do município que atende a população do campo, precisa ter uma infraestrutura de qualidade, conter materiais didáticos e pedagógicos, com metodologias e práticas pedagógicas que garantam esses princípios. A escola do campo pode assim ser entendida como, [...] aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo. Tendo como um dos princípios básicos da Educação do e no Campo o compromisso do acesso e permanência dos e das estudantes numa rede escolar com qualidade física e pedagógica, temos que avançar na realização de várias atividades como a formação de professores, elaboração de material didático condizente para aquela realidade, estruturas físicas adaptadas e de qualidade, etc., mas ainda é preciso ir além desses aspectos, é preciso a participação ativa dos sujeitos do campo, envolvendo-os, estabelecendo vínculos com sua localidade e raízes. A defesa de uma educação como processo formativo humano e sociocultural, de construção coletiva e multifacetada, não apenas de transmissão de conteúdos, mas uma educação libertadora, que, aliada aos conhecimentos universais produzidos pela humanidade, venha melhorar a vida da população. A educação do campo entendida como um movimento, em permanente construção. E que assegure o que lhe compete, como salienta Caldart (2002, p.19): Por isso esse nosso movimento por uma educação do campo se afirma como um basta aos ‘pacotes’ e à tentativa de fazer das pessoas que vivem no campo instrumentos de implementação de modelos que as ignoram ou escravizam. Pensar um currículo deve-se partir do contexto, das necessidades e demandas da população local, deve-se compreender que o desenvolvimento do município depende do investimento para o desenvolvimento do campo, numa relação de complementaridade campo-cidade. Analisando o local que vivemos na Região Semiárida, uma região que convive com aridez, devido ao processo histórico de exploração ambiental que prejudicaram o solo e o clima, e que convive com a escassez de chuvas e poucas alternativas de captação e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 armazenamento da água, é evidente a necessidade de uma proposta de educação diferenciada que atenda as especificidades locais. Segundo dados da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), atualmente no Semiárido, vivem mais de 22 milhões de habitantes, são 1.133 municípios com características próprias, com um bioma específico que é a caatinga. Segundo Batista (2011, p. 11), O semiárido, quase sempre é tratado como inviável e seu povo como incapaz. Essa hipotética incapacidade e inviabilidade é apresentada como resultado da seca, da semiaridez e da natureza. Como se a própria natureza houvesse decidido a inviabilidade do semiárido e a incapacidade do seu povo. Historicamente, as políticas implementadas na região semiárida, foram voltadas para “combate à seca”, como se as causas dos problemas da região fossem naturais e não políticas. A partir dessa concepção, o povo do semiárido era considerado como “incapaz”, subdesenvolvido, ignorante, e dessa maneira, o Estado sempre implementou políticas assistencialistas, de cima para baixo, sem levar em consideração o contexto e as demandas da população local, sem a participação dos sujeitos. Por outro lado, hoje o Semiárido começa a ser olhado como uma região de possibilidades e viabilidades, com um processo de mobilização social para investimentos de políticas de convivência, a exemplo da ASA, que reúne centenas de organizações da sociedade civil no processo de proposição de políticas de convivência, bem como a RESAB – Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, que articula diversas organizações que desenvolvem ações de educação do contextualizada e diversos fóruns de debates. Apesar de existir toda uma articulação de organizações em defesa de uma educação contextualizada, significativa, quando observamos os currículos nos municípios do Semiárido, estes estão descontextualizados e muitas vezes tradicionais. Toda essa dimensão também está relacionada à concepção da construção de um desenvolvimento sustentável que é um dos princípios da educação do campo e, portanto, também para um currículo contextualizado. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 2.2. Conceituando a educação do campo e currículo contextualizado Todo esse debate articulado nacionalmente e na Região Semiárida foi trazendo modificações conceituais e práticas nas organizações que desenvolviam ações de escolarização com a população do campo. Até a década de 1990, denominavam de Educação Rural. No entanto, a clareza de que o referencial, os fundamentos e a prática pedagógica têm outra perspectiva, foi modificando inclusive a terminologia, que passou a ser denominada de Educação do Campo, não apenas no lugar – no campo, mas, além disso, ser do sujeito do campo. Essa mudança ocorreu em 1998 durante a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, em consequência de discussões e pesquisas na área educacional, que afastam a Educação Rural do sujeito do campo, no qual se chegou à conclusão de que os princípios da Educação Rural eram em sua base o reflexo dos interesses de uma elite agrária. Segundo as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, na Resolução CNE/CEB Nº. 01 de 03 de abril 2002, do ponto de vista teórico e legal, a educação do campo é, [...] Toda ação desenvolvida junto às populações do campo e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os seus conhecimentos, habilidades, sentimentos, valores, modo de ser, de ver e de produzir e formas de compartilhar a vida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9.394/96, no seu Art. 26, traz a possibilidade da contextualização do currículo, quando diz que, Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Construir um currículo contextualizado na perspectiva da convivência com o Semiárido deve-se, portanto, pensar nas características regionais, levando-se em consideração uma base comum no que diz respeito aos conteúdos universais produzidos e sistematizados, mas inserir e ampliar para as diversidades, identidades da sociedade, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 sua cultura, seu ambiente, economia e as relações sociais das pessoas de uma determinada região. As Diretrizes Operacionais para Educação Campo, construídas em 2002, foi uma conquista histórica dos movimentos sociais e sindicais do campo. Sabemos como o processo da efetivação das políticas ainda é lento, em especial nos municípios. Além das Diretrizes, a LDB assegura também a garantia de uma educação contextualizada, levando-se em consideração as especificidades e adaptações. No artigo 28 da LDB, traz a dimensão para uma educação do campo que, Permite a adaptação à educação básica às peculiaridades da zona rural e de cada região, tendo especificamente: conteúdos curriculares e metodologia apropriada às necessidades reais e interesses e condições climáticas; adequação à natureza do trabalho. (LDB, Art. 28). Os povos do Semiárido, em especial as crianças, adolescentes e jovens tem o direito a uma vida com dignidade, e isto perpassa por cultura, esporte, lazer, comunicação, saúde e educação de qualidade. Essa ideia também está atrelada à educação do campo, que por si só, já é uma proposta de educação contextualizada, que tem uma visão de totalidade, Pensar a educação desde ou junto com uma concepção de campo, assumir uma visão de totalidade dos processos sociais; no campo dos Movimentos Sociais, significa um alargamento das questões da agenda de lutas; no campo da política pública significa pensar a relação entre uma política agrária e uma política de educação, por exemplo; ou entre política agrícola, política de saúde, política de educação. (CALDART, 2004, p.15). Essa totalidade, exige um olhar mais crítico e amplo para construção de um currículo que ajude a desenvolver um processo de mobilização social, que tenha uma metodologia específica. E que os processos de escolarização não sejam apenas transmissores ou repassadores de conteúdos, mas que a educação instigue a pesquisa, a ampliação da visão de mundo, que construa conhecimentos para mudar a vida das pessoas. Ou seja, pensar um currículo com conteúdos que ajudem as pessoas a modificar sua realidade para melhor, com garantia de políticas públicas a buscar seus direitos, a viverem efetivamente sua cidadania a projetar-se coletivamente, elevando a autoestima e o fortalecimento da identidade do lugar onde vivem. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Investir na construção e implementação de um currículo e uma educação de qualidade, voltada para o campo e a cidade, é também investir contra a pobreza e as desigualdades sociais, com envolvimento dos sujeitos sociais do campo e da cidade, articulação com outras políticas sociais, com maior investimento na educação, com os conteúdos curriculares relacionados à vida das pessoas e do município, e principalmente, entender a educação enquanto um investimento nos processos de desenvolvimento sustentável. 2.3. Educação e a sua relação com desenvolvimento sustentável Outra dimensão é o debate de educação que está centrado na concepção de campo e de modelo de desenvolvimento rural. A defesa da educação do campo está relacionada à construção de um desenvolvimento que seja sustentável, que garanta a convivência, o direito de permanecer em seu local, com qualidade de vida, com acesso a conhecimentos, novas tecnologias e o respeito e valorização da identidade e diversidades das pessoas do campo. Sabemos que historicamente os baixos índices de pobreza estão também relacionados aos baixos índices de educação, e, portanto, baixos investimentos em políticas de desenvolvimento social no e do campo. Atualmente, a educação do campo não é uma luta apenas dos movimentos sociais e sindicais (CONTAG5, MST6, MMTR7, sindicatos de trabalhadores rurais, associações, cooperativas, ONGs8, etc.). Embora, com muitas limitações, vem ganhando corpo nas discussões das políticas de educação em âmbito municipal, estadual e nacional, nas secretarias municipais e estaduais de educação, no Ministério da Educação, nas universidades e institutos federais. Mas, há um grande caminho a ser percorrido. A construção da educação do campo, com um currículo contextualizado, enquanto uma demanda local, o debate ainda não está incorporado nas políticas públicas nos municípios e Territórios. Isto se deve a diversos fatores, especialmente a concepção hegemônica de desenvolvimento como “crescimento econômico”, como o agronegócio, 5 Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 7 Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. 8 Organizações Não Governamentais. 6 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 onde o lucro, a oposição e subordinação do rural pelo urbano, o campo pensado apenas como sinônimo de agricultura e de pecuária, e uma estratégia voltada para grandes obras, que não observavam a preservação ambiental, a vida e a cultura das pessoas, sem formular estratégias para saúde, educação, cultura, esportes, comunicação, lazer, etc. Ou seja, políticas que ainda não oferecem condições que garantam uma sustentabilidade. Não se pensava nas multiatividades que podem ser desenvolvidas no campo, ou o campo como parte de um sistema global, como afirma Morin: O global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a ele de modo inter-retroativo ou organizacional. Desta maneira, uma sociedade é mais que um contexto: é o todo organizador de que fazemos parte. Ou ainda: (...) É preciso efetivamente recompor o todo para conhecer as partes. (MORIN, 2003, p. 37). O campo não como um espaço para o agronegócio e o latifúndio, mas o campo enquanto um espaço de vida e de produção, o campo como espaço da agricultura familiar e de uma multiplicidade de atividades necessárias à vida campesina: educação de qualidade, cultura, comunicação, engenharia adaptada, ciências e tecnologia, esporte, lazer, saúde, dentre outras. . Aprofundar essa dimensão da educação do campo também se torna necessária nos processos de construção de um currículo. Como a educação contextualizada e a educação do campo, nasceram também dentro da educação popular, e como afirmava Freire (1996, p. 28), “que toda novidade nasce no corpo de uma ex-novidade, que começou a envelhecer” 9. Dessa forma, um ‘envelhecer’ no sentido de não acabar, mas se transformar. E, como toda novidade, não surge por acaso, mas da dinâmica, dos movimentos que existem na sociedade, assim é com a educação do campo, como postula Gohn (2001, p. 63): E as novidades não surgem por decreto, pois há uma interligação entre as coisas que vão ficando velhas e as coisas que vão nascendo. Freire destaca que ‘uma das preocupações daqueles que pretendem transformar a sociedade é exatamente lutar pela novidade’. 9 Ver GOHN, Maria da G. Educação Não Formal e Cultura Política, impactos sobre o associativo do terceiro setor. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2001. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Assim, no novo que surge enquanto educação do campo é uma parte da transformação ampliada da educação popular e voltada para um setor específico da sociedade: o campo com toda sua diversidade política, ambiental, econômica, social e cultural. III ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Inserir no currículo a dimensão do contexto do Semiárido e de uma educação do campo contextualizada que contribua para o desenvolvimento sustentável do semiárido é uma questão de garantia de direito e não uma barganha. É respeitar as especificidades da região e valorizar os conhecimentos dos sujeitos sociais do campo e da cidade. Ter claro que a contextualização trabalha com a complementaridade do campo-cidade e não como uma visão de oposição. Planejar os conteúdos, de forma que as diversas áreas de conhecimentos, e até mesmo, disciplinas específicas que tratem de questões da convivência e do desenvolvimento sustentável no semiárido. O Semiárido como ambiente de possibilidades, de produção de conhecimento. Para isso, há necessidade de investimentos em processos de formação continuada de diversos profissionais da educação, e da construção de um currículo que contemple toda a diversidade. A tarefa de construir um currículo contextualizado deve ser responsabilidade de todos/as atores sociais do campo, para que sejam construtores/as do mesmo, já que conhecem suas necessidades e demandas, entraves e avanços da educação e do desenvolvimento do município. Garantir espaços de participação da sociedade civil organizada nesse processo de discussão e construção é parte da contextualização e de vontade política de mudanças estruturais efetivas na educação do município, enquanto instrumento de desenvolvimento sustentável. Referências ASA: Pesquisa internet http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes, acessado em 26/12/2011. MEC – Ministério da Educação http://www.lfti.com.br/EMEC/inicial.php, acessado em 19/11/2011. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 BAPTISTA, Naidison Q. Conhecendo e refletindo sobre o Semiárido e Agroecologia. In: Construindo Saberes para Educação Contextualizada. João Pessoa-PB, MOCGráfica JB, 2011. BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano- compaixão pela terra/Leonardo Boff. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. CNE. Resolução CNE/CEB 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. DORNAS, Roberto. Diretrizes e Bases da Educação Nacional: comentários e anotações. Belo Horizonte: Modelo Editorial 1997. Educação no contexto do semiárido brasileiro/[organizadores:Angela Kuster, Beatriz Helena Oliveira de Mello Mattos]. – Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2004.214 p. GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política. 2ª ed., São Paulo: Cortez, 2001b KOLLING, Edgar Jorge, CERIOLI. P.R, CALDART (organizadores). Educação do Campo: Identidade e Políticas Públicas, Brasília – DF, Articulação Nacional por uma Educação do Campo, 2002, Coleção por uma Educação do Campo, No. 4. MOLINA, Mônica e outros (orgs.) in CALDART. Roseli. Contribuições para a construção de um projeto de Educação do Campo, Brasília- DF, Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, nº 5. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília, DF: UNESCO, 2003. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A formação de professores de História em Alagoinhas: O caso da Universidade do Estado da Bahia Eliane Brito Silva10 RESUMO: O presente estudo tem como objeto a formação inicial do professor de História para a Educação Básica. Adoto como foco de referência o Curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas. Parto do contexto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, cujo desdobramento foi às reformulações curriculares dos cursos de Licenciatura. Interessa saber como a Universidade, tem se preocupado com a formação do professor de História, considerando formação como preparação profissional para o exercício do magistério no ensino da disciplina. Resultado de pesquisa de campo, desenvolvida em um estudo mais amplo, buscamos perceber como é constituída a profissionalização do professor de História, e identificar quais fatores e condições interferem no seu desenvolvimento. Nosso estudo assume a característica de uma pesquisa qualitativa sobre um estudo de caso. Acompanhamos uma turma de 17 alunos do curso de licenciatura em História, do Campus II (UNEB) matriculados no componente curricular Estágio Supervisionado. O curso analisado possui quatro estágios a partir da segunda metade do curso. Essas observações ocorreram entre os anos de 2007 e 2009. Também, realizei observação direta das aulas dos componentes curriculares de Teoria e Metodologia da História no primeiro semestre, e Pesquisa Histórica I no quinto semestre, no ano de 2010. Realizou-se uma análise documental dos marcos legais e normativos referentes à formação de professores, e a revisão de literatura sobre o tema: D´ÁVILA, 2007, 2008; D´ÁVILA & SONNEVILLE, 2008; GATTI, 2003; GATTI & SÁ BARRETO, 2009; MELLO, 2009; SCHEIBE & AGUIAR, 1999; SAVIANI, 2009. A pesquisa indica descompasso entre o conjunto legal normativo e o projeto pedagógico curricular, a permanência do distanciamento entre as instituições universitárias e a escola nas suas variadas formas de organização, a desarticulação entre saberes “de conteúdo” e saberes pedagógicos, a predominância da distinção e/ou separação entre formação teórica e formação prática, a hierarquização entre a atividade de ensino e atividade de pesquisa. Como resultado, forja-se na universidade um profissional da educação destituído de uma identidade institucional pedagógica . Palavras-chave: Formação de professores; Pesquisa e ensino; Currículo. INTRODUÇÃO No curso de História, tenho convivido com situações controversas e paradoxais. Num desses momentos, enquanto refletia sobre a prática de ensino da História, a partir do livro “Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido” (SILVA & FONSECA, 2007), um aluno questionou o sentido da leitura de obras sobre ensino de História, afirmando que não era consenso entre os professores formadores a importância desse “conteúdo” para a formação. Ora, não faz sentido à reflexão sobre o ensino de História em um curso de licenciatura, que forma professores para atuar no ensino da disciplina, na educação básica? É certo que sim. Mas, não é incomum licenciandos em História sem identificação com a função pedagógica, com a profissão de professor de História para a educação básica. 10 Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: [email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Além disso, nas aulas, vimos observando que as atividades que tratam da teoria e da pesquisa, com frequência, recebem maior atenção, por parte dos docentes, e em consequência, também dos estudantes, do que aquelas que tratam da formação do professor, e do ensino da disciplina. Na universidade procurei logo me envolver com a pesquisa, pois sabia a importância da mesma para um futuro mestrado ou doutorado. A pesquisa oportunizou-me a conhecer o arquivo Público do estado da Bahia e a Biblioteca Pública, onde pude fuçar algumas fontes primárias [...] Essa experiência com a pesquisa possibilitou-me a criar um hábito diário de leitura, exigida pela complexidade do trabalho (Estudante do 8º semestre do curso de licenciatura em História, numa universidade pública). “Não quero ser professora de ensino fundamental, nem do médio, vou fazer meu mestrado pra ensinar aqui [ensino superior]”. A fala do estudante do 5º semestre do curso de licenciatura em História sobre a profissão e exercício do magistério na educação básica é bem ilustrativo desse processo de desqualificação e desprofissionalização no espaço formativo, na universidade. Nada disso é novo para Gatti (2003), que ao refletir sobre a formação de professores, expressa que “entre professores e alunos do ensino superior, há uma tendência grande a menosprezar as questões do ensino e a formação para o exercício do magistério” (p. 475). Outra característica é a depreciação do aspecto pedagógico. Importa destacar que o desprestígio que acomete o conhecimento didático pedagógico nas universidades brota do próprio meio profissional – dos professores universitários (D´ÁVILA, 2007; SAVIANI, 2009). [...] São traços dessa cultura [universitária], a prevalência dos discursos teóricos, a hipervalorização da pesquisa em detrimento do ensino, desvalorização das práticas profissionais e da licenciatura, individualismo exarcebado. Infelizmente, são traços que nutrem também o imaginário do estudante de licenciatura que passa “naturalmente” a rejeitar a docência ou a menosprezar a formação. (LIBÂNEO apud D´ÁVILA, 2007, p. 221). Situação análoga se presenciará no processo de acompanhamento das atividades de salas de aula, em que atuam nossos estagiários já como regentes de classe11. No processo de orientação dos estagiários nota-se que há desconhecimento de 11 Trata de observações realizadas nas turmas de estágio supervisionado sob a responsabilidade dos professores da área durante quatro semestres letivos (2006.2 a 2008.2) entre os anos de 2007 e 2009. Nesse período, a UNEB aprovou um Calendário Acadêmico Especial para 2006.1, 2006.2, 2007.1 e 2007.2 (Cf. Resolução Nº 403/2006), em virtude do descompasso do calendário acadêmico da UNEB em relação ao ano civil, consequência das paralisações (greves) ocorridas nas atividades acadêmicas nos anos de 2000 a 2007. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 conteúdos, a matéria de ensino. Nas aulas de Prática de Ensino convive-se com a dificuldade dos alunos de selecionarem conteúdos na organização de um curso ou mesmo ministrarem certos conteúdos nunca antes estudados. Nossos alunos demonstram não saber o que ensinar, e no primeiro exercício da profissão, no estágio, copiam o esquema disposto no livro didático, com a também justificativa de que a escola e o seu professor regente recomendaram a seleção. Como mencionado, o problema, como descreve D´Ávila (2007), é que os cursos com frequência concentram-se exclusivamente nos conteúdos específicos das áreas em detrimento de um trabalho sobre os conteúdos, que serão desenvolvidos no ensino fundamental e médio da educação básica. Com efeito, uma visão simplificadora da prática. Mais que o descompasso entre formação específica e formação pedagógica, o que se vê é a dissociação entre conteúdo e forma (SAVIANI, 2009). Prevalece a concepção de prática como campo de aplicação dos conhecimentos teóricos, e a compreensão de teoria e prática como unidades isoladas e independentes, aos moldes da formação tecnicista e pragmática. Objetivamos, nos limites deste espaço textual, analisar o modelo de formação de professores de História, adotado pela Universidade do Estado da Bahia, Campus II, Alagoinhas, apresentado no Projeto Pedagógico, considerando as orientações curriculares e as problemáticas dos cursos de licenciaturas, resultado da pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc), do Departamento de Educação, da Universidade do Estado da Bahia (Campus I)12. Sendo assim, discutiremos aqui a formação do professor para educação básica, focalizando a estrutura curricular do curso de licenciatura em História. O Departamento de Educação (DEDC), Campus II, Alagoinhas da Universidade do Estado da Bahia O Campus II da UNEB, antiga Faculdade de Educação de Formação de Professores de Alagoinhas – FFPA, constituído hoje pelo Departamento de Educação (DEDC) e Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET). A FFPA começou a funcionar em 1972 com o curso de Licenciatura em Letras; posteriormente, o curso de 12 Ocorrido entre os anos de 2009 e 2011. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Estudos Sociais, em 1977, e Ciências, em 1979, todos, licenciaturas curtas. No ano de 1986, os cursos foram transformados em licenciaturas de plena duração. Com a criação dos dois Departamentos do Campus II, a distribuição dos cursos se faz pelo seguinte critério: separação entre os cursos de licenciatura dos de bacharelado. Os cursos de Licenciatura (Letras, Ciências e História) ficaram lotados no DEDC, e o bacharelado (Análise de Sistemas), no DCET. Posteriormente, os cursos de ciências (Biologia e Matemática) foram transferidos para o DCET. Desse modo, o DEDC, atualmente, oferece os cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas, Língua Inglesa e Literaturas, Língua Francesa e Literaturas, História e Educação Física. A Licenciatura Plena em História A formação inicial dos professores de História – do Departamento de Educação (DEDC), Campus II, Alagoinhas - ocorre em curso de licenciatura, de graduação plena. A licenciatura plena em História, do Campus II de Alagoinhas, funciona desde 1986. Em 2004, para atender ao disposto nas resoluções Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CP 01 e 02/2002), que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais, a duração e a carga horária para a graduação plena, em nível superior, foi constituída uma comissão para reformulação do curso, com o objetivo de elaborar outro currículo do curso de História, da UNEB. A comissão foi composta por professores dos campi de Alagoinhas (Campus II), Jacobina (Campus IV), Santo Antonio de Jesus (Campus V) e Caetité (Campus VI) que já ofereciam o curso de licenciatura. O novo currículo começa a vigorar em 200413. O curso de licenciatura em História tem carga horária de 3.215 horas. A estrutura curricular contempla os diferentes âmbitos do conhecimento profissional, “assegurando a formação inicial do historiador”. A organização dos eixos do conhecimento […] visa contemplar as dimensões que articulam disciplinaridade, interdisciplinaridade e transversalidade, formação comum e formação específica, conhecimentos da área de História e conhecimentos que fundamentam a ação 13 A concepção, organização e elaboração do Projeto de Reformulação Curricular Licenciatura em História é da Comissão de Reformulação do Currículo do Curso de História – UNEB/PROGRAD/ASTEP. No corpo do texto podemos ler “Projeto Pedagógico”. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 educativa, teoria e prática, bem como o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional (p.25). Esses critérios de organização do conhecimento expressos na matriz curricular do curso podem ser lidos no Art. 11, incisos I a VI, da Resolução CNE/CP 01/2002. Reforçando o já explicitado, a resolução trata da formação de professores para a educação básica. Os eixos do conhecimento dispostos no projeto [...] contemplam a formação específica, articulando conhecimentos da área de História que norteiam a formação do Historiador para exercer e desenvolver sua autonomia intelectual; e a formação docente, buscando superar a oposição do conteudismo e pedagogismo, contemplando espaços, tempos e atividade que facilitem aos discentes fazerem a transposição didática dos objetos de conhecimentos específicos em objetos de ensino. (UNEB, Projeto de Reformulação Curricular Licenciatura em História, 2004, p. 25-26. Grifos nossos). No que concerne ao projeto curricular do curso no perfil profissiográfico, não há menção quanto à profissão professor. O curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – visa formar profissionais aptos a exercer o ensino de História em todos os níveis, a atuar na pesquisa e produção do conhecimento histórico; trabalhar na preservação do patrimônio histórico cultural, na preservação e produção de fontes históricas, na organização de bancos de dados e arquivos; no desenvolvimento de projetos e assessorias nos setores artísticos, culturais e turísticos (Projeto de Reformulação Curricular Licenciatura em História, 2004, p. 24. Grifos nossos). Reconheço no perfil profissiográfico e nas competências e habilidades definidas no projeto pedagógico do curso trechos compilados de dois textos – Diretrizes Curriculares dos Cursos de História (Parecer CNE/CES 492/2001) e do Projeto de Lei Nº. 368, de 2009, que regula o exercício da profissão de historiador 14, ambos elaborados pela Associação Nacional de História (ANPUH). O que se vê nesses documentos é a afirmação da profissão de historiador, o profissional da pesquisa, sem alusão à profissão professor. Nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de História estão definidos o perfil dos formandos, as competências e habilidades, a estruturação dos cursos, os conteúdos curriculares básicos e complementares, e características dos estágios e atividades complementares da área de História. 14 A primeira iniciativa de regulamentar a profissão se deu em 1968, com a denominação de Historiógrafo. A partir da década de 1980, com idas e vindas, vários projetos de lei serão abertos e arquivados: PL 2647/1983 (arquivado em 1989); PL 1883/1991 (arquivado em 1993); PL 4753/1994 (arquivado em 1995; desarquivado mesmo ano); PL 351/1995 substitutivo PL 4753/1994 (arquivados em 1998); PL 2047/1999; PL 2260/1999; PL 3492/2000 (arquivados em 2002); e PL 3759/2004 (arquivado em 2005, desarquivado em 2007). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Outrossim, as atividades pedagógicas, as atividades de prática de ensino e estágio aparecem como conteúdos e atividades complementares. Assim sendo, a formação do professor torna-se um adendo, um apêndice (GATTI, 2003; MELLO, 2000), reconhecido problema tanto nos cursos de licenciatura como nos cursos de bacharelado e licenciatura integrados. De acordo com as diretrizes, essa é uma das questões a serem enfrentadas nos cursos de formação de professores, tanto que no texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores, há uma determinação quanto aos projetos, aos cursos, aos currículos: […] a Licenciatura ganhou, como determinava a nova legislação, terminalidade e integralidade própria em relação ao bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou a antiga formação de professores que ficou 15 caracterizada como modelo “3 + 1” (p. 6). Ao longo das décadas de 1980 a 2000, esse debate foi tema de mobilizações de professores e movimentos organizados. De uma maneira geral, [...] destaca-se o preparo inadequado dos professores, cuja formação de um modo geral, manteve predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas características consideradas [...] como inerentes à atividade docente, entre as quais [...] orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente entre alunos; incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; e, desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe (p.4). Para o Ministério da Educação, o MEC (2011), o licenciado em História é historiador, um profissional que exerce a atividade de ensino e pesquisa, portanto, professor pesquisador. Esse profissional pode atuar “em instituições de ensino públicas e privadas de educação fundamental e média; órgãos públicos, privados e organizações não governamentais ligadas à ciência, educação e cultura”16. No perfil profissional diz que O Licenciado em História, ou Historiador, é o profissional que exerce o ofício de professor de História, sem abdicar, no entanto, do seu papel de pesquisador: leciona as disciplinas históricas na Educação Básica (Ensino 15 Parecer CNE/CP n. 9/2002. Disponível em: <http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas#historia>. Acesso em: 9 ago. 2011. 16 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Fundamental e Médio), nas suas diversas modalidades (Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação Especial e Educação a Distância). Realiza pesquisas e investigações na área do ensino e aprendizagem histórica, escreve e produz livros e materiais didáticos, presta serviços de consultoria e assessoria a entidades públicas e privadas nos setores 17 educacionais, científicos e culturais . Com relação à pesquisa, consideramos de fundamental importância à observância de investigação na área do ensino e aprendizagem histórica, afinal esta constitui a área de atuação do professor. Nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos se ele não compreender, com razoável profundidade e com a necessária adequação à situação escolar, os conteúdos da área de conhecimento que 18 deverão serão objetos de sua atuação didática [...] (p.20). O MEC define alguns temas a serem abordados nos cursos de licenciatura em História, quais sejam: Teoria da História; História da Cultura; Geo-História; História Antiga Oriental e Ocidental; História Medieval; História Moderna; História Contemporânea; História do Brasil; História do Brasil Colonial; História do Brasil Império; História do Brasil República; História da Cultura e da Sociedade; Metodologia de Ensino da História; História da América Colonial; Pesquisa em História; Introdução aos Estudos Geográficos; Introdução aos Estudos Históricos; Sociologia; Antropologia; Filosofia 19 da Educação; Psicologia da Aprendizagem; Didática . Os temas incluídos dividem-se entre os conhecimentos da área de História e os fundamentos da Educação. Ademais, contempla uma alternativa interdisciplinar na proposição de estudo da Geo-História, Introdução aos Estudos Geográficos, História da Cultura e da Sociedade. A instituição das diretrizes, a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura refletem essa preocupação. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2.800 horas divididas em: 400 horas, que são destinadas à prática como componente curricular; 400 horas, ao estágio 17 Idem. Cf. Parecer CNE/CP n. 9/2001. 19 Disponível em: <http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas#historia>. Acesso em: 9 ago. 2011. 18 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 curricular supervisionado; 1800 horas aos conteúdos curriculares de natureza científicocultural; e 200 horas dedicadas as atividades acadêmico-científico-culturais. Pode-se constatar ainda certo desequilíbrio curricular entre os domínios da área de História e da prática de ensino, visto que as diretrizes definem 800 horas de prática como componente curricular e estágio supervisionado, e 1800 horas de conteúdos curriculares científico-culturais (área específica). Mesmo da perspectiva das novas diretrizes, prevalece a valorização dos saberes dos conteúdos científicos da área específica, para a qual são reservados 64, 2% da carga horária do curso. Para além da dissertação a respeito da concepção de prática no Parecer CNE/CP n. 28/2001, ampliação da carga horária de 300 horas (Art. 65 da LDB/1996) para 400 horas da prática de ensino, a diretriz deixa evidente um aspecto do currículo dos cursos de formação de professores praticados pelas universidades: o do restrito espaço e tempo dedicado à prática. Do ponto de vista das diretrizes curriculares nacionais, o projeto pedagógico dos cursos de formação de professores deve centrar-se na profissão do professor, futura condição dos estudantes da licenciatura. Isso porque […] nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase está contida na formação nos conteúdos da área, onde o bacharelado surge como opção natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado. Neste sentido, nos cursos existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha importância, sendo que a atuação destes como “licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos muros da universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos da “área”, passando muito mais como atividade “vocacional” ou que permitiria grande dose de improviso e autoformulação do “jeito de dar aula” (BRASIL, 2001, p. 16). Em relação ao tempo e espaço da prática no currículo, no curso de licenciatura em História da UNEB, a carga horária está assim definida: 405 horas dedicadas à prática como componente curricular; 405 horas dedicadas ao estágio curricular supervisionado; 2.205 horas, aos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; e 200 horas destinadas às atividades acadêmico-científico-culturais. Numa comparação com a carga horária definida pelas diretrizes (Resolução CNE/CP 02/2002), ao curso de licenciatura em História da UNEB foram acrescidas 415 horas. A ampliação da carga horária destinada aos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, cerca de 68,5%, é significativa. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Na matriz curricular, esses eixos do conhecimento estão agrupados em formação específica, formação docente e atividades complementares. A formação específica inclui a carga horária dos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, formado pelos componentes curriculares das áreas de conhecimento, a saber: Brasil, Europa, África, América, Ásia, Fundamentação Teórico-Metodológica da História, Cultura Documental e Patrimonial, Pesquisa Histórica e Conhecimentos Pedagógicos. Cada área de conhecimento tem uma carga horária, que somada totaliza a carga horária dos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural. A formação docente agrega a carga horária da prática como componente curricular e do estágio curricular supervisionado. No currículo constitui as duas áreas, a de Laboratório de Ensino de História e do Estágio Supervisionado. A prática compreende uma dimensão do conhecimento da formação profissional de docentes, que institui outro modelo de formação de professores, ao determinar que “seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo” (BRASIL, 2001, p.9), portanto, se distingue do esquema “3 + 1”, que reservava a prática de ensino para o último ano do curso. As atividades complementares são constituídas por atividades de caráter científico, cultural e acadêmico, cujo objetivo é a ampliação do universo cultural do formando. São consideradas atividades curriculares complementares do curso: [...] seminários, apresentações, exposições, participação em eventos científicos, estudos de caso, visitas, ações de caráter científico, técnico, cultural e comunitário, produções coletivas, monitorias, resolução de situações-problema, projetos de ensino, ensino dirigido, aprendizado de novas tecnologias de comunicação e ensino, relatórios de pesquisas [...] (Projeto de Reformulação Curricular Licenciatura em História, 2004, p. 21). Sinteticamente, o currículo está organizado em eixos de conhecimentos, que por sua vez é formado por um conjunto de áreas, constituído um bloco de componentes curriculares. Em cada área está cadastrado um conjunto de componentes curriculares, cujos conteúdos devem focar os objetos de ensino e a aprendizagem da profissão de professor. Para tanto, as diretrizes recomendam sintonia entre a formação de professores, os princípios definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as normas prescritas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, e as orientações constantes nos Parâmetros e Referenciais Curriculares para a Educação Básica. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Constato no projeto pedagógico e na grade curricular a incorporação da carga horária mínima de 2.800 horas exigidas pela legislação educacional. Tal como determina a Resolução CNE/CP n. 02/2002, o currículo atende ao dispositivo, uma vez que a carga horária do curso é de 3.215 horas. Por força da resolução, o componente de prática está inserido ao longo do curso desde o primeiro período, e o estágio curricular supervisionado, a partir da segunda metade do curso. Entretanto, paradoxalmente, o projeto e o currículo do curso de licenciatura mostram princípios e características dos modelos fragmentados de formação de professores, quais sejam a dicotomização entre ensino e pesquisa, teoria e prática, presente nos cursos de licenciatura ou bacharelado e licenciatura integrados, e ainda a ênfase nos conteúdos da área específica, demonstrado na definição das áreas e distribuição da carga horária. Observo que cerca de 70% da carga horária do currículo destinam-se aos conhecimentos da área de História. Por fim, no projeto e currículo é valorizada a prática, por conta da incorporação da carga horária mínima de 800 horas (Resolução CNE/CP 02/2002), bem como cumprimento do Parágrafo único, do Art. 11, que estabelece que para as licenciaturas “o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total” (p. 5). Contudo, fica limitada ainda a dimensão prática – prática como componente curricular e estágio curricular supervisionado. A “teoria” e “prática” permanecem abordadas em momentos diversos, com intenções e abordagens distintas; às disciplinas/componentes curriculares da prática de ensino fica o encargo de estabelecer a relação entre conhecimentos (ciência de referência) e a didática (ensino). À GUISA DA CONCLUSÃO Quando foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica, a resolução provocou o entusiasmo pela iminente reformulação nos currículos das licenciaturas, mais ainda, pela possibilidade de elaboração de um currículo próprio da licenciatura. Na universidade, concebido como espaço de qualificação profissional do professor, assume características de curso propedêutico para estudos de pós-graduação. No período da pesquisa, auscultamos revelações dos futuros professores (alunos do quinto ao oitavo semestres), a respeito do ensino na educação básica. Quando perguntados sobre o trabalho na escola, afirmavam Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 que se tivessem possibilidade de escolha não gostariam de lecionar no ensino fundamental e médio, embora tivessem feito opção pela licenciatura, pela carreira do magistério. Mas, que abraçariam o ensino superior como profissão caso tivessem oportunidade. Percebemos ainda, que se opera no interior da sala de aula das instituições escolares a reprodução do interior do espaço universitário: preleções, aula magistral, exercícios de erudição. Os dados da pesquisa indica ainda a permanência de um currículo centrado na formação do especialista, daí a dificuldade em fazer programas e projetos, selecionar conteúdos, definir atividades no ensino de história, sua área de atuação profissional. O entendimento é que a profissão de pesquisador e professor constituem carreiras distintas. Assim, a formação do professor é desvalorizada, negligenciada. Isso resulta, evidentemente, num aligeiramento da formação docente, numa formação profissional descentrada no ser professor. REFERÊNCIAS BRASIL. CNE. Resolução CNE/CP Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. ______. CNE. Resolução CNE/CP Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. ______. Parecer CNE/CP n. 9, de 8 de maio de 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Despacho do Ministro em 17/1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em: 25 mai. 09. ______. Parecer CNE/CP n. 27, de 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Despacho do Ministro em 17/1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31. ______. Parecer CNE/CP n. 28, de outubro de 2001. Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Despacho do Ministro em 17/1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31. ______. Parecer CNE/CES n. 492/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e MuseologiaDespacho do Ministro em 4/7/2001, publicado no Diário Oficial da União de 9/7/2001, Seção 1e, p. 50. D’ÁVILA, Cristina Maria. Universidade e formação de professores: o peso da formação inicial sobre a construção da identidade profissional docente. In: NASCIMENTO, Antonio Dias; HETKOWSKI, Tânia Maria (Orgs.). Memória e formação de professores. Salvador: Edufba, 2007. D’ÁVILA, Cristina Maria. Formação docente na contemporaneidade: limites e desafios. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 29, p. 33-41, jan./jun. 2008. ______. Formar professores: velhos problemas e as demandas contemporâneas. Revista da FAEEBA, v. 12, n. 20, p. 473–477, jul./ dez. 2003. GATTI, Bernadete Angelina; SIQUEIRA, Elba de. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília, DF: Unesco, 2009. MELLO, Guiomar N. Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re)visão radical. Revista São Paulo em perspectiva, v. 14, n.01, p. 98–110, jan./mar. 2000. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br>. Acesso em: 15 set. 2009. ______. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. Rev. Bras. Educ. [online], vol.14, n.40, p. 143-155, 2009. ISSN 14132478. doi: 10.1590/S1413-24782009000100012. SCHEIBE, Leda & AGUIAR, Márcia Ângela. Formação de profissionais da educação no Brasil: O curso de pedagogia em questão. Educação & Sociedade, São Paulo, ano XX, n. 68, p. 220-239, dez. 1999. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Educação e tecnologia: A formação docente e a utilização dos dispositivos tecnológicos digitais na escola. Ester Ferreira de Miranda Silva Giovanna Marget Menezes Cardoso RESUMO: Já se tornou lugar comum afirmar que vivemos hoje um importante momento de mudanças nos modos de viver e pensar da sociedade em geral, não se pode negar que um fator determinante para que essas mudanças estejam acontecendo é o avanço da tecnologia digital e seus desdobramentos - TIC. Nesse novo contexto a escola é afetada por esses dispositivos, na medida em que o mundo fora dos muros da escola adentra a mesma, trazido por seus estudantes, que dominam esses dispositivos. Assim se faz indispensável que a escola como centro de formação também tenha acesso a esses dispositivos e os utilizem de melhor forma possível. O professor nesse contexto tem à sua disposição uma série de ferramentas que podem e devem ser utilizadas, como os computadores, televisores, o DVD, o aparelho de som, dentre outros elementos estes que se constituem em dispositivos de ensino e de aprendizagem, são inúmeras as possibilidade de uso das TIC para fins educativos tanto para o aluno como para os professores que também devem utilizá-lo para incrementar sua prática pedagógica. Analisando esse cenário, alguns questionamentos se inserem e se fazem necessários para refletirmos mais profundamente acerca do tema: Como as TIC se constituem em dispositivo de ensino e de aprendizagem? Como os professores podem utilizar esses dispositivos para melhorar sua prática pedagógica? Ainda, como se dá o processo de formação do professor para utilização dos dispositivos tecnológicos digitais no processo de ensino e aprendizagem? Desse modo, a presente pesquisa objetiva analisar compreensivamente sobre o uso das TIC como dispositivos de ensino e aprendizagem na sala de aula e o papel do professor nesse contexto. Na perspectiva de possibilitar construção de um arcabouço teórico que possibilite uma analise reflexiva buscaremos referências sobre a temática dos autores: Belloni(1998); Moran (2004); Parra (1985), Papert (2008), Preto (2006),) Cardoso(2009), Sonneville (2004) dentre outros. Assim, considerando o contexto optou-se pela pesquisa de campo, com sustentação teórica no viés exploratório de caráter qualitativo, como técnica de coleta de dados utilizaremos a entrevista e a observação, o lócus de pesquisa escolhido foi a escola pública da rede estadual. Palavras- Chaves: Educação; Tecnologia e formação de professores. Reflexões iniciais. Ao analisarmos o novo cenário social ao qual vivemos, temos a certeza que os modos de viver, pensar e de se comunicar da sociedade, vem se modificando aceleradamente. Essas mudanças nítidas e progressivas são reflexos de novos tempos, em que o avanço da tecnologia impulsiona novos modos de conviver e de se interagir. Considerando a variedade de dispositivos tecnológicos que surgem e que atraem tanto a Aluna do IX semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia. E-mail: estherzinha_113@hotmail. Pedagoga, Especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação e m Supervisão Escolar, Coordenadora de Sistema da SME, Coordenadora do PAFOR do curso de Licenciatura em PedagogiaUNEB/Campus XI- Serrinha. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 sociedade contemporânea, se faz indispensável que a escola como centro de formação também tenha acesso a esses dispositivos e os utilizem forma que possa instigar a criticidade e o desenvolvimento intelectual do estudante. No contexto da atualidade, o professor tem a sua disposição uma série de ferramentas que podem e devem ser utilizadas, como os computadores, televisores, o DVD, o aparelho de som, dentre outros elementos, elementos estes que se constituem em dispositivos de aprendizado se forem utilizados de forma critica e reflexiva. Entretanto, sabe-se que o ato de ensinar não depende apenas dos conteúdos bem organizados e estruturados, depende também de todo o processo que envolve a mediação docente e os estudantes. Para tanto, se faz necessário repensarmos o currículo escolar, visto que o mesmo tem o propósito de envolver os conteúdos formais com a realidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, o que se percebe é a não utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC nas escolas, escola essa que não privilegia as potencialidades que o seu currículo pode apresentar e normalmente o mesmo aparece a margem de sua significância e é entendido como algo abstrato, não passível a mudanças. Diante disso o que se percebe são os laboratórios de informática, recheados de máquinas que poderiam servir como potenciador do desenvolvimento intelectual do estudante, juntamente com o professor, se transformar em porões, onde seu acesso é negado por falta de profissionais que saibam utilizar esses dispositivos. Nesse viés, esta produção objetiva analisar compreensivamente como se dá o processo de formação do professor para utilização dos dispositivos tecnológicos digitais no processo de ensino e aprendizagem. A discussão dessa temática, Tecnologia e formação docente, é de suma importância visto que os dispositivos tecnológicos, como já ressaltei, estão presentes em todos os setores da sociedade modificando as formas das pessoas se relacionarem, se comunicarem e de construírem saberes. Nesse novo contexto, ao qual estamos inseridos, a escola já não é mais vista e associada como á única detentora do conhecimento, a internet com seus dispositivos constituem-se numa rede de conhecimentos. A relevância de discussão dessa temática se evidencia também por que busquei refletir o porquê do professor ainda parecer perdido diante a multiplicidade de informações que veio acoplado junto com os recursos tecnológicos digitais que adentraram na escola sem uma preparação prévia desses profissionais. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Tecnologias Da Informação e Comunicação: A nova Linguagem digital das Escolas Vivemos hoje um importante momento de mudanças nos modos de viver e pensar da sociedade em geral. Não podemos negar que um fator determinante para que essas mudanças estejam acontecendo é o avanço da tecnologia. Como afirma Cardoso (2009) “Chegamos ao século XXI. Um século em que mudanças significativas nas formas de se relacionar, construir conhecimento, elaborar pensamento e produzir, vêem se modificando vertiginosamente” (CARDOSO,2009, pag.2). Nesse sentido, passamos a repensar o papel das TIC nesse novo contexto tecnológico ao qual vivemos onde a escola não é mais a única transmissora da informação e detentora do conhecimento. Pretto e Pinto (2006) refletem sobre a tecnologia e seus desdobramentos como instrumento de emancipação, de criticidade e de autonomia ajudando na formação o cidadão: A tecnologia sempre foi instrumento de inclusão social, mas agora isso adquire novo contorno, não mais como incorporação ao mercado, mas como incorporação à cidadania e ao mercado, garantindo acesso à informação e barateando os custos dos meios de produção multimídia através das novas ferramentas que ampliam o potencial crítico do cidadão (PRETTO, PINTO, 2006,p.29). Nesse sentido, na escola os dispositivos tecnológicos digitais deverão auxiliar os profissionais da educação no processo de ensino e aprendizagem. “Todas essas tecnologias, portanto, precisam estar presentes na escola, concorrendo para que esta deixe de ser mera consumidora de informações produzidas alhures e passe a se transformar [...]” (PRETTO, 2006, p. 5). Nesse sentido, a sociedade atual vive um cenário em que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vêm ocupando lugar de destaque, as transformações sociais que as mesma impactaram deve-se também refletir na escola de forma positiva, afinal não há como negar que as mesmas auxiliam fortemente na promoção de novos hábitos cotidianos, na forma de comunicar-se, de interagir e claro, de aprender. As TIC tornaram-se, progressivamente, fundamentais para a população a partir do final do século XX, quando, os modos de produção (trabalho) já estavam modificados, consequência da revolução industrial e com as tecnologias de massa, exemplo a televisão. Nesse sentido coaduno com as ideias de Cardoso (2009) “O mundo mudou desde a Revolução Industrial, contudo a escola que foi criada justamente neste contexto não acompanhou essa mudança” ( p. 4) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Todos os dias, crianças, jovens, adultos e até mesmo os idosos têm acesso fácil a ambientes com tecnologias digitais das mais variadas, a Televisão e o rádio estão presentes na maioria dos lares, o computador está presente nas casas e nas lan houses, dentre outros recursos que são utilizados como lazer, no trabalho e para atividades escolares. Na medida em que, largamente, se ampliam as funções sociais destas tecnologias contemporâneas e sua aquisição está estreitamente relacionada à participação plena dos indivíduos na sociedade digital, aumenta, consideravelmente, para todos, a necessidade de se apropriar delas e utilizá-las com autonomia (SOUZA, 2010, p. 14). Desse modo, a necessidade de incorporar novas tecnologias no universo escolar se fizeram presentes e agora, a escola antes já responsável pelo ensino das linguagens oral e escrita, de disciplinas como matemática, geografia, dentre outras, se acrescenta a tarefa de formar pessoas que sejam também interagentes desta inédita “linguagem digital” (SOUZA, 2010, P. 14). A utilização das tecnologias no universo escolar se constitui em um grande desafio, pois as mesmas já estão presentes em diversas áreas do contexto social e muitas vezes não percebe-se uma utilização correta dessas mídias. Segundo Pretto (1996) há duas possibilidades de utilização das TIC na educação. A primeira possibilidade é a de instrumentalização, que sugere a utilização das TIC para possibilitar uma aula mais dinâmica, mais motivada e que consequentemente ajudará a prender a atenção do aluno. A segunda possibilidade é a atualização das TIC como fundamento, nessa perspectiva, diferente da instrumentalização que valoriza mais o recurso do que o processo de construção do conhecimento, as TIC como fundamento privilegiam as várias possibilidades de aprendizado que são produzidos a partir da utilização das TIC nas aulas. Nesse sentido as TIC serão utilizadas como auxiliadores do processo de ensino e aprendizado, sua utilização sem uma fundamentação adequada não implicará em um aprendizado significativo. A utilização das TIC nas aulas deve ocorrer de forma reflexiva e bem planejada, utilizar os recursos digitais apenas para aproximar-se da realidade dos estudantes não acrescenta em nada a prática docente, apenas servirá para “maquiar” uma aula, onde o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Estamos convencidos de que a escola contemporânea, e junto com ela todos os espaços de aprendizagem, em qualquer que seja o nível, não pode ficar indiferente e se furtar ao exame das possibilidades de uso dessas tecnologias no espaço pedagógico, enquanto elemento estruturante de novos processos educacionais, trazendo para o cenário da escola a formação de produtores de proposições, de culturas e conhecimentos e não de simples consumidores de informações. (PRETTO, 2006, p. 19) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Entende-se assim, que a inserção das TIC no processo de ensino e aprendizado possibilitará privilegiar novos rumos do campo educacional, a nova geração, as novas formas de pensar, de se comunicar e de interagir 20 caminharão juntas em prol do educar. Nisso, a promoção de uma aula onde todos são considerados seres aprendentes e em constante formação se fará mais presente. Educação e TIC: Há conexão ente professores e a sociedade pós- moderna? Face às mudanças no contexto sócio-histórico-cultural no qual estamos inseridos, influências são impressas no âmbito escolar para as quais impõem-se a necessidade de ressignificações nas práticas pedagógicas. Nesse cenário de mudanças e transformações faz clara a necessidade de expandir a discussão em torno do papel da escola e principalmente, do professor, visando sua formação e suas implicações para formar essa sociedade onde os meios de comunicação estão presentes constantemente. Em uma sociedade onde os dispositivos tecnológicos vem sendo criados e utilizados cada vez mais, é necessário que o professor como importante agente educador esteja apto para lidar com o desafio de utilizar todos os recursos tecnológicos existentes na escola. O professor deve ser capaz de manusear novos aparatos tecnológicos para produzir ideias interessantes, incentivar e orientar seus alunos em suas buscas, necessidades e inquietações. Devem também utilizar os dispositivos nas suas aulas para que as mesmas tornem-se mais atrativas e interessantes. O professor precisa estar apto a utilizar adequadamente as potencialidades oferecidas pelos dispositivos tecnológicos digitais que os libertariam de sua tarefa de “repetidor”, possibilitando a execução de papéis mais criativos e interessantes, condizentes com a necessidade de adequação aos “novos tempos”. A nova formação de professores na qual se concebe as tecnologias como meios, linguagens ou fundamentos das metodologias e técnicas de ensino, assegura sua integração crítica e reflexiva aos processos educacionais. Esta nova formação deve permitir aos professores a apropriação dos saberes e das técnicas, incorporando-os à escola de modo a valorizar a cultura dos 20 Interação aqui citada a luz de Ferreira e Bianchetti(2004) refere-se as possibilidades de utilização das TIC na promoção de uma educação menos hierárquica, onde todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizado são seres pensantes e ativos, ou seja, interação pressupõe, uma troca mútua de saberes. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 alunos e a criar oportunidades para que os mesmos tenham acesso a esses meios de comunicação. Nesse viés, “[...] é importante que o educador possa problematizar e criar contextos de mediação, que favoreça a troca de saber, estimulando o diálogo, possibilitando os educandos serem ativos no processo, serem construtores [...]” (CARDOSO, 2008, p. 4). Desse modo o papel do professor como mediador no processo de ensino e aprendizado é instigar o desenvolvimento intelectual do aluno usando recursos que os atraiam e despertem sua atenção e principalmente, os levam a participar do processo de construção do conhecimento. Nesse caso, os professores devem buscar utilizar os dispositivos tecnológicos digitais de forma adequada, ou seja, saber quando, como e onde utilizar esses recursos, para que o resultado seja significativo. Sua proposta deve ser coerente, bem planejada e adequada ao contexto onde a escola esteja inserida. Desse modo há urgência de uma formação continuada, ou como define muito bem Sonneville: “[...] prevendo-se uma separação entre o tempo escolar, como preparação para a vida, e o tempo de exercício profissional da vida, direcionado para a mudança” (SONNEVILLE, p. 461, 2004). Diante tais considerações entende-se que o professor deve estar sempre disposto a promover á mudança, uma mudança pessoal que refletirá, por conseguinte, no meio em que esteja inserido ou até mesmo, de forma mais amplificada seus reflexos podem ser sentidos. Assim, é preciso entender que a sociedade muda, as pessoas mudam e a instituição de ensino deve mudar com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes e alcançar os objetivos educacionais desejados. Segundo Sonneville (2004), cabe ao poder público promover ações que tenham o objetivo de qualificar os professores, já que temos constitucionalmente o direito á educação em todas as modalidades. Essas ações deveriam ser concretas e constantes, sair do plano do discurso e serem postas em prática. A omissão do poder público para com a educação pública resulta na insatisfação, por um lado, dos estudantes que não encontram na escola o prazer no aprendizado, por outro, os professores, que não se sentem instigados a fazer o melhor que se pode fazer no processo de busca do conhecimento. Diante do que foi apanhado, percebemos que a junção entre formação continuada e qualificação docente21 não poderá certamente resolver todos os problemas que envolvem a complexidade que é o educar. Mas, é claro 21 Sonneville (2004) reflete sobre a qualificação docente apontando três condições básicas para que a mesma possa acontecer, são elas: salários adequados, limite de horas aula e limite de alunos por sala. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 que as mesmas já se constituiriam em um grande avanço positivo para a escola, para os estudantes, para os professores, enfim, para a sociedade como um todo. Nesse sentido, o professor deverá se transformar no estimulador da curiosidade do aluno por incentivar o querer conhecer, o pesquisar e a tentativa de descoberta. O papel do professor como mediador é instigar o desenvolvimento intelectual do aluno usando recursos que os atraiam e despertem sua atenção. Desse modo, o aprendizado se constituirá em um momento prazeroso, criativo, instigante e mais interessante para todos que participam do processo de construção do conhecimento. Sendo assim, sabemos que a tecnologia fornece uma variedade de informações, mas o papel do professor continua e continuará sendo fundamental para auxiliar e estimular o aluno na busca pelo conhecimento. Achados da pesquisa: Um Diálogo Acerca do Tema O contato com o objeto e os sujeitos de pesquisa, num contexto de trabalho de campo, de inserção no universo cotidiano dos sujeitos, propicia ao pesquisador uma vivência ímpar de construção do conhecimento. Desse modo o movimento de lidar com os achados resultantes deste contato permite a relaboração do conhecimento, a partir da compreensão de uma dada realidade. Ainda, esses momentos culminam em uma ação de desvendar relações que sinalizam novos direcionamentos, a fim de enfrentar as questões norteadoras da investigação. Nesse viés, a análise dos achados oriundos da ação investigativa emerge e se constitui como uma das fases cruciais do processo de pesquisa. Pois carrega em si a potencialidade de auxiliar na construção de saberes que garantam desde uma forma atualizada de perceber/compreender os fenômenos estudados, até mesmo uma revolução nos conceitos até então creditados como válidos. Assim, os achados da pesquisa foram analisados reflexivamente na perspectiva de interpreta-los, buscando compreender o fenômeno, como sugere Marcone e Lakatos (2003), os dados devem ser analisados após uma seleção criteriosa e uma interpretação aguçada, pois “[...] em geral, a interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema.” (MARCONE, LAKATOS, 2003, p. 167). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Foram entrevistados quatro professores e todos afirmaram que utilizam os recursos disponíveis na escola nas suas aulas, o que é de extrema importância para a prática pedagógica. Quando questionados sobre: Dentre os recursos existentes quais são utilizados nas aulas e com que frequência? Foram similares. Os recursos utilizados pelos mesmos são: o data show, o computador, a TV pendrive, o pen drive, o celular, dentre outros. A utilização desses dispositivos no processo de aquisição do conhecimento deve ser intermediado pelo professor através de sua metodologia de ensino, pois sem uma proposta coerente, os recursos por si só não vão garantir um resultado eficaz e positivo na aprendizagem, conforme preconiza Parra (1985). Nesse sentido ainda, ao ser perguntado se o professor acredita que as TIC contribuem ou podem contribuir algum modo nas aulas, todos afirmam que nesse momento de mediação do conhecimento, a aula, as TIC contribuem de forma significativa na contribuição de uma aula mais dinâmica e interessante para os estudantes. O professor Silva afirma que: Com certeza. Há várias pesquisas que fundamentam essa ideia. Existe inclusiva uma pesquisa realizada no interior de São Paulo, não me recordo o nome da cidade agora, que mostra que a utilização dos recursos tecnológicos aumentou em 30% o desenvolvimento dos alunos. É notável a diferença quando os recursos são utilizados. O professor Silva apresenta em sua fala um entendimento profundo a cerca das TIC, mostrando que pesquisa sobre a temática, pois evidencia pesquisas que foram realizadas mostrando o benefício da utilização das mesmas. Nesse viés, ressalto a importância das TIC serem utilizadas como forma de promover a participação dos estudantes onde os mesmos passarão a ser sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizado. Nesse viés, a acredito conforme Ferreira e Bianchetti (2004) que apesar da educação ainda ser baseada na perspectiva tradicional de ensino, esse outra forma de educar, sendo ela participativa, se culminara em um aprendizado mais eficaz, pois quando os estudantes se percebem fazendo parte do processo educacional o aprendizado é efetivado de fato. Entende-se assim, que a utilização das TIC devem acontecer aliando-as a uma proposta interativa, pois as TIC por si só não vão fazer com que as aulas sejam participativas, mas a proposta pedagógica que deve desprende-se da perspectiva tradicional, baseada na hierarquia e na transferência de informações sem integrar de fato, os estudantes nesse processo. Nesse sentido, a utilização desses recursos pelos seguintes professores estão sendo de total significância, pois não estão sendo utilizados Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 pelos mesmos de forma vazia e sim fundamentada articulando e agregando as TIC no planejamento tendo coerência e sentido na sua execução. Apesar disso, através das observações ficou evidenciado que a maioria dos professores ainda não utilizam de fato as tecnologias digitais em suas práticas. Visto, que a entrevista aconteceu com uma quantidade pequena de professores se for comparar com a quantidade total deles (42) e por ser uma escola muito antiga, é provável que muitos professores ainda estejam atrelados a uma perspectiva tradicional de ensino pouco desafiadora para os profissionais e para os estudantes. Nessa perspectiva reflito sobre a perspectiva de homo zappiens, os novos alunos, analisadas a luz de Veen & Vrakking (2009) “Concordamos que ensinar se tornou algo mais desafiador, que os alunos mudaram consideravelmente em sua aprendizagem e seu comportamento social ao longo das últimas décadas (VEEN, VRAKKING, 2009, p. 14)”. Nesse sentido, é percebido que os novos estudantes buscam várias formas de aprender sem depender unicamente da escola. Diante disso os professores forneceram respostas diversas quando perguntado sobre: Qual é o lugar do estudante no processo de utilização das TIC? A professora Oliveira afirma que: “Ele ocupa um papel relevante, pois necessita uma postura crítica, reflexiva, sendo o educador apenas o mediador do conhecimento”. Sabe-se que a ideia do professor ser o “possuidor”, o dono do conhecimento não deve ser mais difundida, até por que, essa ideia não privilegia os saberes adquiridos pelos estudantes suas vivências e percepção de mundo. O processo de ensino e aprendizado deve ocorrer hoje, de forma horizontal, onde todos são partes fundamentais e indispensáveis nesse processo e a presente professora demostra que busca privilegiar esse aspecto em suas aulas. Portanto, vale-se refletir qual é o lugar do estudante no processo de ensino e aprendizagem nessa sociedade que expressa a importância dos dispositivos tecnológicos digitais, mas por vezes não possibilita a apropriação educativa desses dispositivos já que a escola exclui-se de tal responsabilidade. Urge discutirmos então a necessidade de um profissional se especializar em prol da ressignificação e atualização de sua prática é de suma importância. Nesse viés, foi perguntado aos professores entrevistados: Já participou de algum curso fornecido pela secretária de educação ou prefeitura voltado para a temática tecnologia? E por conta própria? Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O professor Silva,que já é um especialista da área, mas ressalta que nunca participou de cursos oferecidos pelo órgão público. O mesmo faz uma reflexão analisando a educação e os interesses políticos nas mesmas. Nunca. A estrutura dos governantes no Brasil não priorizam a educação. O objetivo deles é quantitativo e não qualitativo, informa-se os dados. Por exemplo, formam os professores para atuarem na área de tecnologia, contudo não sabe-se q qualidade desses cursos e o conhecimento adquirido. O referido professor afirma que constantemente busca novos cursos para aperfeiçoamento. O que é de extrema importância, pois é válido refletir que a aprendizagem acontece na medida em que estamos abertos para ela, nos reconhecendo como seres em constante evolução. Outro ponto interessante que merece análise é a questão da educação pública oferecida pelo governo no nosso país. Talvez um questionamento pode não responder esse realidade, mas evidentemente propõe uma reflexão a cerca disso, é ele: Será que é interessante estimular a utilização das TIC na educação, sendo que a mesma tem o propósito pedagógico de estimular o lado critico e reflexivo dos estudantes? A respeito dessa problemática, eu acredito que não. Dificilmente pessoas críticas e com conhecimento se submeteriam as manipulações diretas e indiretas impostas pelo sistema político, dificilmente uma pessoas com conhecimento não refletirá propostas dos políticos antes do voto, enfim, pessoas que são reflexivas podem incomodar e atrapalhar interesses da classe dominante. Fica evidente que toda formação é válida para crescimento pessoal e profissional, mas em que medida essa formação lhe ajudou ou lhe ajudaria a melhorar a sua prática pedagógica? Foi perguntado aos professores. As respostas dos mesmos foram similares, onde todos afirmaram a importância da busca continua por aperfeiçoamento em suas práticas e que os mesmos sempre serão válidos. O professor Silva faz uma análise interessante em que afirma: “ O conhecimento nunca vai ter fim. Pincipalmente na área de informática onde as mudanças acontecem rapidamente”. A respeito dessa análise não é difícil notarmos em nossa sociedade a velocidade em que os dispositivos tecnológicos digitais avançam. Um dispositivo que é lançado hoje pela indústria torna-se ultrapassado rapidamente, pois com os avanços da ciência os dispositivos tecnológicos aos quais muitas vezes nem nos apropriamos de fato tornam-se antiquados em passo acelerado. Ao analisarmos nosso cenário social, onde as TIC invadem (de fato) a escola, escola está que se apresenta como despreparada para lhe Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 dar com essas tecnologias e com esses novos estudantes tecnológicos, coube-me perguntar aos professores: Quais os desafios que você encontra hoje na utilização das TIC em sua prática pedagógica? Você se percebe como aprendiz enquanto está desenvolvendo sua prática pedagógica? A professora Oliveira respondeu: “Observo que o desenvolvimento técnico informacional está crescendo a cada dia, havendo uma necessidade emergente desse aprimoramento no setor educacional”. A professora Oliveira destaca que há uma necessidade do setor educacional se adequar as necessidades informacionais da nossa época e que o setor educacional deve se apropriar dessas tecnologias. Nossa sociedade está recheada de máquinas que transmitem informações a todo o momento, mas que muitas vezes essas informações são carregas de alienações, onde o sujeito pode deixar ser conduzido e dominado por informações que não condiz com nossa realidade. Por isso, há urgência do setor educacional se adequar a essas tecnologias digitais, pois dessa forma as mesmas podem contribuir formar sujeitos críticos que possam refletir sobre as informações transmitidas pelos meios de comunicação e incentivar o uso correto dos mesmos. Nesse viés, foi percebido que a presente escola apesar de apresentar um corpo docente onde existem professores realmente preocupados com sua prática, a mesma possue ainda um estrutura inadequada, onde nem todas as salas dispõem da TV pendrive e mais, os recursos devem ser instalados pelos próprios professores muitas vezes com a ajuda dos próprios estudantes perdendo muito tempo da aula (50 min) e desestimulandoos na utilização das TIC. Os mesmos podem até querer utilizar as TIC nas suas práticas, mas esses empecilhos frustram e desaminam os mesmos. Faz-se necessário repensar as condições estruturais que são fornecidas a esses professores, as mesmas são insuficientes e ineficazes, impedem uma prática docente que promova uma aula dinâmica e interativa com a utilização das tecnologias digitais. Nessa perspectiva, como forma de promover uma reflexão da própria prática docente, foi perguntado: Como você avalia sua prática pedagógica na utilização das TIC? A professora Souza afirma a necessidade de aprofundar-se quanto a utilização das TIC: “Eu acredito que utilizo muito pouco devido essas dificuldades. A gente acaba perdendo tempo da hora aula”.Todos os professores reafirmaram a falta de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 estrutura na escola, o que dificulta a utilização dos dispositivos tecnológicos digitais nas aulas, visto que o mesmo necessita instalação prévia, para não atrasar a aula. Nenhum professor está de um todo satisfeito com suas práticas, o que é muito interessante visto que se fosse ao contrário seria contraditório, na media em ainda é pouca a oferta de cursos que primam por uma formação de qualidade. Significa observar também, que os mesmos se apresentam ainda como aprendizes, pois afirmam que suas práticas sempre poderiam está melhor, buscando assim analisar suas imperfeições para assim melhorálas. Inconclusões... Considerando as análises e reflexões supra citadas, evidencia-se a necessidade das escolas se apropriarem da utilização das TIC no seu currículo. Visto que as mesmas podem não só dinamizar as aulas, mas estimular a busca pelo conhecimento, auxiliar na formação de sujeitos críticos e reflexivos, incrementar as aulas, interagir-se com os estudantes, enfim. Contudo, mesmo com tais qualidades que agregariam características interessantes para a prática docente, percebe-se que a utilização desses dispositivos ainda é pouco efetivada nas práticas pedagógica. Faz-se urgente investimentos para qualificar os professores na utilização desses dispositivos, uma qualificação efetiva e que não prime apenas dados quantitativos para uma representação superficial com fins numéricos e sim, que possa privilegiar a qualidade dessa formação tão importante e, ao mesmo tempo, tão ausente. Bem como urge a ressignificação da prática docente, na media em que novas propostas de ensino são inseridas nas escolas através das TIC, propostas essas que buscam redefinir a participação dos estudantes na produção do conhecimento, onde os mesmos serão sujeitos ativos nessa sociedade onde as informações são disseminadas aceleradamente e os mesmos tem acesso cotidianamente. A ressignificação proposta, refere-se a uma análise do papel do professor que vem sendo alterado significativamente. O mesmo que por muito tempo fora concebido como o possuidor do saber, hoje deverá assumir seu verdadeiro papel, o de mediador entre o saber e os estudantes, tendo agora como aliada importante as TIC. O pedestal que sustentava e hierarquizava o conhecimento, é posto em prova quando passa-se a valorizar os saberes e as capacidades intelectuais possuídas pelos estudantes que agora tem opções acessíveis de busca de informações que são Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 difundidas através das TIC. Com isso, entende-se que as TIC aliadas a uma prática docente fundamentada possibilita um aprendizado significativo na medida em que os estudantes são seres atuantes na busca pelo conhecimento interangindo-os e intigandoos para uma prática significativa. Desse modo, compreende-se que a discussão a respeito da temática de tecnologia, não pode-se esgotar aqui. Na medida em que a mesma teve como objetivo analisar a utilização das TIC nas práticas docentes e o processo de formação docente para utilização das mesmas e não de esgotar uma discussão que ainda é pouco aprofundada. Nesse sentido, esse trabalho é indicado para os profissionais da área, os professores, os pesquisadores, os estudantes, enfim, todos os profissionais que buscam um aperfeiçoamento de sua prática. Portanto, esse trabalho foi se suma importância, na medida em que oportunizou uma reflexão em torno da importância da utilização das TIC em prol da educação aproximando-se da realidade que nos cerca e refletindo principalmente o processo de formação docente para utilização das mesmas. REFERÊNCIAS BIANCHETTI, Lucídio. FERREIRA, Simone de Lucena. As tecnologias da Informação e da Comunicação e as possibilidades de interatividade para Educação. Revista da FAEEBA- Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, p. 253-263, jul./dez., 2004 CARDOSO, Giovanna Marget Menezes. Tecendo considerações sobre o software como ferramenta de aprendizagem: o que faz um software ser educativo. Partes Revista Virtual, dezembro de 2009, Disponível em: http://www.partes.com.br/educacao/tecendo.asp, acesso em 24.07.2012. LAKATOS, Eva Maria; MARCONE, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo : Atlas 2003. PARRA, Nélio, PARRA, Ivone C. da Costa. Técnicas audiovisuais de educação. São Paulo. 5.ed. Livraria Pioneira Editora. 1985. PRETTO, Nelson de Luca. PINTO, Cláudio da Costa. Tecnologias e novas educações. Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 31 jan./abr. 2006. PRETTO, Nelson de Luca. Políticas públicas educacionais no mundo contemporâneo. In: Liinc em Revista, v.2, n.1, março 2006, p. 8-21. Disponível em: http://www.ibict.br/liinc 9, acesso em 05.06.12 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 PRETTO, Nelson de Luca. ALVES, Lynn Rosalina Gama. Escola: espaço para a produção de conhecimento? In: revista Comunicação e Educação (SP), São Paulo, 16, p.29-35, 1999. SILVA, Gilvane Almeida. CARDOSO, Giovanna Marget Menezes. Uma leitura sobre paradigma educacional na contemporaneidade. Partes Revista Virtual, 2009, Disponível em: http://www.partes.com.br/educacao/paradigmaeducacional.asp, acesso em 24.07.2012. SOUZA , Joseilda Sampaio de. Cultura digital e formação de professores: possibilidades e vivências entre professores em formação. Salvador. 2010. Disponível em: http://www.moodle.ufba.br/mod/glossary/print.php?id=97854&mode=&hook=all&sortkey=& sortorder=&offset=0, acesso: 01.06.2012. SONNEVILLE, Jacques Jules. O Educador na Contemporaneidade: Formação e Profissão. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 13, n. 22, p. 253-265, jul./dez., 2004. VENN, Wim. VRAKKING Bem. Homo Zappiens : educando na era digital / tradução Vinícius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2009. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A importância do sociointeracionismo para educadores em sala de aula Flávia Cristina Martins de Oliveira22 RESUMO: Este trabalho fundamenta-se na relevância de formar educadores que conheçam a importância da Psicologia da Educação e sua articulação com o processo de ensino-aprendizagem. A problemática surgiu da observação da pesquisadora, em seu cotidiano escolar, em escolas públicas de Ensino Básico no Estado de São Paulo. Decidiu-se fazer uma investigação de trabalhos sobre o estudo da Psicologia da Educação na formação de docentes e no uso dela na prática pedagógica. Para isso, a pesquisadora desenvolveu um trabalho de cunho bibliográfico com artigos científicos sobre o tema proposto. Concluiu-se que muitos artigos sobre a Psicologia da Educação tratam do processo de ensino-aprendizagem à luz do cognitivismo e sociointeracionismo, porém sem articulação com sua aplicabilidade em sala de aula. Conhecer como o aluno aprende e como este processo se realiza é uma ferramenta necessária para que o docente desenvolva um trabalho contínuo e de sucesso com seus alunos. O trabalho objetiva, dentre as teorias existentes, fazer um recorte nos estudos da Psicologia da Educação, e analisar uma das teorias mais amplamente abordadas em livros didáticos e utilizadas pelas escolas, a sociointeracionista de Vygotsky e seus principais construtos. Dentre eles, o estudo deter-se-á somente aos relacionados à educação, dos quais os principais são a zona de desenvolvimento real e proximal, a mediação, as funções psicológicas superiores, conceitos relacionados ao pensamento e linguagem, a fala e a escrita, e a plasticidade cerebral. Levanta-se aqui a preocupação em desenvolver no educador, desde sua formação inicial e durante a formação continuada, a competência em articular o sociointeracionismo com sua prática pedagógica no contexto escolar. Ressalta-se também sua relevância para a concepção do currículo escolar, pois essa teoria pode fornecer subsídios para escolhas mais assertivas na área educacional. Palavras-chave: Sociointeracionismo; Processo ensino-aprendizagem; Formação de educadores. Interrogações sobre o processo de ensino-aprendizagem Este artigo é fruto das inquietações da pesquisadora como educadora em escolas públicas no Estado de São Paulo, onde desenvolveu a atividade docente por vários anos. Durante todo esse tempo, constatou-se a dificuldade por parte de muitos educadores em compreender o processo de ensino-aprendizagem, dificultando assim a preparação de atividades mais funcionais e articuladas com os conhecimentos prévios dos alunos. Em função dessa observação, a pesquisadora desenvolveu um trabalho de cunho bibliográfico com artigos científicos da Anped – Associação Nacional de Pesquisa em Educação, do grupo de trabalho em Psicologia em Educação, entre os anos de 2003 a 2007. Os resultados obtidos constataram que muitos estudos feitos sobre as teorias mais amplamente difundidas na área educacional, como o cognitivismo de Piaget, o sociointeracionismo de Vygotsky e os estudos wallonianos não são atrelados à prática pedagógica cotidiana. 22 Aluna do curso de Pós-Graduação de mestrado em Letras, em Língua e Cultura, da Universidade Federal da Bahia UFBA e-mail para contato: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Destaca-se aqui a importância dos estudos da Psicologia da Educação, assim como seus vários aspectos abordados, como ferramenta para que os docentes compreendam com maior clareza o processo de ensino-aprendizagem, facilitando este processo para todos os seus alunos. Este artigo discorrerá sucintamente sobre a história da Psicologia e o surgimento da Psicologia da Educação. Objetiva-se detalhar somente um recorte desta disciplina, detendo-se aos estudos vygotskyanos para a área educacional e a importância do sociointeracionismo para a formação de docentes, assim como aqueles em serviço e para a elaboração do currículo escolar. A necessidade de uma nova ciência A Psicologia é uma ciência relativamente nova, nasceu como desmembramento da Filosofia e com as crescentes descobertas da Biologia ocorridas no séc. XIX. No momento de seu surgimento, a sociedade estava sofrendo grandes mudanças socioeconômicas devido à crescente expansão do capitalismo, ou seja, se consolidava na sociedade o ideário liberal em que os problemas sociais eram pensados como problemas de cultura individual. Nesse momento revela como dominante a necessidade de conhecer o homem em sua dimensão mais individual. A Psicologia surge já como uma necessidade prática de organizar, ajustar e adaptar o ser humano neste contexto social. Pela característica singular de seu surgimento, ela trouxe consigo ideias filosóficas de várias correntes, apresentando uma pluralidade de conceitos que se desenvolveram a partir da ressignificação dessas ideias filosóficas. Ao longo da história, a Psicologia esteve em constante articulação com a educação. Nesta relação foram surgindo conhecimentos específicos interligados às duas áreas, que se concretizaram na Psicologia da Educação. Historicamente, houve esforços da Psicologia em se estabelecer como ciência, e para que houvesse emancipação da filosofia, ela tentou fundamentar suas teorias nos métodos experimentais utilizados na ciência física. Da mesma maneira, as teorias pedagógicas também procuraram se estabelecer fora das correntes filosóficas, buscando fundamentação científica. A emancipação escolar exerceu força para que a Psicologia se estabelecesse como área científica, já que era necessário introduzir mudanças neste contexto. A Psicologia da Educação surgiu da necessidade de adequar a demanda de alunos nas escolas com a crescente democratização do ensino. Foi assim que ela começou a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 analisar cientificamente os fenômenos educativos, procurando contribuir para a melhoria na educação. Segundo Guerra (2000, p.71) a Psicologia da Educação: “Constituiu-se, então, um campo de estudos sobre questões ligadas à educação, com implicações tanto para as teorias quanto para as práticas educativas”. Neste percurso, a Psicologia focou somente o indivíduo, suas necessidades básicas em detrimento das mudanças que o cercava. Nas escolas tecnicistas e escolanovistas, ela foi utilizada como instrumento para adequar alunos, aplicar testes de inteligência, de aptidão, etc., ficando sua ciência muito isolada ao estudo do indivíduo, sem as influências do meio. Em sua trajetória, a Psicologia da Educação teve seu crescimento na área educacional pela difusão da literatura norte-americana e pela vasta gama de conhecimentos no processo e desenvolvimento da aprendizagem. Infelizmente, ela foi mal interpretada como ciência e foi-lhe atribuída uma importância equivocada, como fonte para a resolução de todos os problemas escolares, o que ocasionou na psicologização dos processos educacionais. A análise do indivíduo de forma objetivista e sem considerar as mudanças sociais e culturais do mundo que o cerca, restringe a Psicologia a uma ciência reduzida em relação à realidade em que vivemos. Isso se reflete na escola, tudo que ela não consegue solucionar, delega à Psicologia, aos "psicologismos". Mesmo com várias pesquisas e descobertas neste campo, em razão desta primeira aplicabilidade da Psicologia no século passado, e infelizmente em alguns casos, até hoje, fica marcado o seu reducionismo no âmbito escolar. A Psicologia da Educação tem uma condição epistemológica muito rica, e com essa gama de conhecimentos científicos, ela tem muito a contribuir, principalmente na formação dos professores, e o reducionismo dessa ciência precisa ser revisto. A escola não pode ser vista por si só, ela está inserida em um contexto social e histórico que a caracteriza, que a molda. A Psicologia possui um grande potencial de contribuições para a educação, segundo Larocca (1999, p. 17): [...] é possível depreender que o potencial de contribuições da Psicologia da Educação está marcado por duplo aspecto. O primeiro advém de sua condição epistemológica, ou seja, do conhecimento científico que é o conhecimento psicológico. O segundo, do fato de que este conhecimento deve servir à Educação (como prática social multifacetada), colocando-a no centro das análises e definindo, portanto, o seu papel na construção de um projeto social. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Dentre os grandes estudiosos da Psicologia da modernidade podemos citar Skinner, Piaget, Wallon, Rogers e Vygotsky. Todos com grandes contribuições para a educação e formação de professores. Cada um a seu tempo, com teorias que ora se completam ora se rechaçam, porém com uma ciência que vem a complementar os estudos na formação de profissionais da educação, que atualmente tanto carecem de embasamento para se aventurarem na arte de ensinar, e contribuir para mudanças significativas nas próximas gerações. As contribuições de Vygotsky Um dos principais estudiosos da Psicologia na atualidade é Vygotsky. A teoria vygotskyana possui pressupostos teóricos profundamente relacionados com o contexto histórico de mudanças da atualidade. Ao elaborar a teoria sociointeracionista, Vygotsky teve a influência do materialismo dialético, proposto por Karl Marx e Engels. A partir dessa filosofia, Vygotsky desenvolveu seus mais importantes pressupostos, considerando o desenvolvimento humano um processo complexo. Sua abordagem acredita que a aprendizagem do homem está inter-relacionada com a apropriação das experiências históricas e culturais. Esse pensamento considera que o homem constitui-se através de suas interações sociais, ele transforma e é transformado pelo seu mundo histórico e cultural. Ele se humaniza por meio das relações e modificações que se estabelecem em seu contexto sócio-histórico-cultural, de forma dialética, em um processo contínuo. Em suma, na abordagem vygotskyana, o homem não é uma tábula rasa onde são depositados conhecimentos, ele interage com o mundo, produz o seu próprio saber, é um sujeito ativo que constrói e reconstrói sua cultura e sua história, não há verdade absoluta, dogmatismos, o mundo é feito pela participação e influência ativa do sujeito no contexto em que está inserido. Em decorrência dos fundamentos dessa teoria leva-se em consideração toda a trama em que os indivíduos estão envolvidos, que atualmente são a globalização, a revolução tecnológica, a Internet, a robotização no mercado de trabalho, a competitividade, as guerras, as mudanças políticas, entre outras. Com tudo isso ocorrendo em tão curto tempo, a escola também tem sofrido seus impactos e suas influências. As práticas pedagógicas precisam ser revistas e estudadas porque são necessárias para o bom andamento escolar. Esse contexto de mudanças Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 mundiais acaba se refletindo no trabalho docente e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem. A Psicologia da Educação pode contribuir para a compreensão de mudanças sociais. Entender o comportamento da sociedade atual é necessário ao fazer pedagógico, pois o homem aprende o que lhe traz significado, o que faz parte do seu contexto social. Neste ínterim, conhecer como o aluno aprende proporciona ao professor instrumentos de reflexão sobre sua prática pedagógica e maneiras de atingir os alunos no contexto em que estão inseridos. Questões abordadas por Vygotsky, tais como os processos psicológicos superiores, a linguagem, a mediação e a zona de desenvolvimento proximal são ferramentas teóricas que podem ser articuladas ao fazer pedagógico com outros conhecimentos epistemológicos, contribuindo no processo ensino-aprendizagem. Pode-se dizer que Vygotsky foi um pesquisador marcado pela pluralidade e interdisciplinaridade. Suas pesquisas perpassaram por diversas áreas do conhecimento. Ele realizou grandes progressos nas áreas de neurologia, psiquiatria, psicologia, entre outras. Analisou o processo de ensino-aprendizagem de crianças deficientes, trabalhou com crianças cegas e surdas. Deixou trabalhos que colaboraram posteriormente para o desenvolvimento científico nessa área. Vygotsky se dedicou por muitos anos às funções psicológicas superiores, ao estudo da linguagem e do pensamento, ao conceito de signos, da mediação simbólica, ao estudo da constituição do psiquismo humano e suas diferenças entre este e a dos animais. Analisou também os processos de aprendizagem dentro e fora do contexto escolar. Vygotsky deixou uma vasta contribuição científica para a posteridade. Um dos seus postulados mais estudados é o das funções psicológicas superiores. Sua importância, na concepção de Vygotsky, é vital para o desenvolvimento e evolução da espécie humana. É a partir delas que ocorre a humanização, ou seja, a apropriação dos conhecimentos históricos e culturais desenvolvidos pelo homem ao longo da história da humanidade. No artigo A Teoria Vygotskyana sobre a Memória: Possíveis Implicações para a Educação (Almeida; Antunes, 2005, p. 2) fica explícita essa necessidade de apropriação de conhecimentos para o ser humano: “Para humanizar-se o homem deve desenvolver suas funções psicológicas superiores e assim tornar-se cada vez mais livre, cada vez mais independente de suas necessidades naturais.” Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Neste conceito o ser humano nasce somente com as funções elementares (ações reflexas e automatizadas), e com o desenvolvimento infantil, ele passa a utilizar os instrumentos e a linguagem para estabelecer contato e modificar a realidade ao seu redor. Com o tempo, essas funções ficam mais sofisticadas, devido ao desenvolvimento do sistema nervoso e à apropriação de conhecimentos. Ao aprender, a criança internaliza estruturas que eram somente externas ao seu mundo. Este processo, chamado de internalização, é explicado no mesmo artigo: “[...] a natureza psíquica do homem vem a ser um conjunto de relações sociais deslocadas para o interior e convertidas em funções da personalidade e em formas de estrutura.” (ALMEIDA; ANTUNES, 2005, p. 3) Para ele, este processo de internalização deveria ser chamado de revolução, pois há um salto qualitativo de uma estrutura para outra. Essa mudança não ocorre de forma linear, pelo contrário, acontece em espiral, retornando em um plano superior ao que já havia sido internalizado. Ocasionando mudanças na regulação do sistema psicológico do ser humano e causando assim uma “sedimentação” do que foi aprendido, como explica Almeida; Antunes (2005, p. 5): As funções psicológicas internalizadas ficam cada vez mais interligadas, há uma mudança na relação existente entre as funções superiores, modificando a estrutura funcional da consciência e formando um novo sistema psicológico caracterizado pela intrínseca interconexão e inter-relação das funções. É esse sistema que dá ao indivíduo a percepção de totalidade do psiquismo. Outro postulado de Vygotsky diz respeito à funcionalidade do cérebro humano. O cérebro é o órgão da atividade mental. Ele não é fechado, é um órgão de imensa plasticidade, que vai se moldando a partir do desenvolvimento individual e social que o ser humano sofre ao longo da vida. Essa capacidade de construção e reconstrução do conhecimento, de apropriação histórico-social do meio em que está inserido é possibilitada por esse rico aparato biológico, através da plasticidade cerebral. Para ele, o cérebro é a base biológica para o funcionamento psicológico. Para que as funções psicológicas superiores ocorram, o ser humano precisa deste aparato rico e plástico, que se adapte às mudanças e que crie e recrie conceitos por meio das experiências passadas, além de possuir a capacidade de memória, imaginação e fantasia. Pois “[...] a base orgânica da atividade reprodutora ou memorizada é a plasticidade da substância nervosa, [...] propriedade de uma substância para adaptar-se e conservar as marcas das trocas.” (BARROCO; TULESKI, 2006, p. 2) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O cérebro é o órgão responsável pela criação e imaginação, atribuindo ao homem a capacidade da invenção e da consciência. Esta última é construída historicamente, partindo da experiência histórica e cultural para a constituição da experiência individual, isto é, um processo que parte do interpsicológico para o intrapsicológico. Um importante passo para as conquistas humanas foi a utilização de instrumentos para a realização de tarefas. São essas ferramentas que medeiam a relação do homem com o mundo. Este processo é chamado de mediação: Ao transformar um objeto da natureza em instrumento, o homem teve que se apropriar da natureza e da sua (do homem) realidade social e conhecer as propriedades dessas realidades para transformar o objeto em instrumento. (BARROCO; TULESKI, 2005, p. 6) Além da mediação feita por meio de instrumentos concretos, existem as ferramentas abstratas, que também participam deste papel de transformação, assimilação da realidade. São o que Vygotsky denominou de signos. Pode-se dizer que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores são mediados por esses instrumentos culturais, como a linguagem, os sinais, os símbolos. A partir dessa mediação é que o homem se humaniza, se apropriando da cultura e da história em que está inserido. É importante ressaltar que Vygotsky não estudou o comportamento infantil com o intuito de estudar a criança, e sim como ferramenta para compreender como ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento do cérebro e sua plasticidade. Ele afirma que o desenvolvimento pleno do ser humano ocorre na interação com o meio, e isso se dá através da aprendizagem formal dos conhecimentos. De acordo com Rego (1995, p. 71): ”[...] o aprendizado é o aspecto necessário e universal, uma espécie de garantia do desenvolvimento das características psicológicas especificamente humanas e culturalmente organizadas.” Assim, para Vygotsky existem dois níveis de desenvolvimento: o primeiro é o da aprendizagem já efetivada, que ele chama de zona de desenvolvimento real, e o outro é da capacidade a ser construída, elaborada, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Esse segundo nível se refere àquilo que a criança é capaz de fazer, porém com a mediação de outra pessoa. Para isso, a criança desempenha atividades com outros colegas ou adultos, a partir do diálogo, colaboração, imitação, pistas, etc. A distância Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 entre o que a criança é capaz de fazer autonomamente e o que ela pode realizar com a mediação de outra pessoa ou grupo é o que se chama de zona de desenvolvimento potencial ou proximal. Em suas pesquisas, Vygotsky desenvolveu postulados e teorias de grande contribuição no âmbito escolar. Principalmente no estudo da aprendizagem infantil, como salienta Rego (1995, p. 74): O conceito de zona de desenvolvimento proximal é de extrema importância para as pesquisas do desenvolvimento infantil e para o plano educacional, justamente porque permite a compreensão da dinâmica interna do desenvolvimento individual. Através da consideração da zona de desenvolvimento proximal, é possível verificar não somente os ciclos já completados, como também os que estão em via de formação, o que permite o delineamento da competência da criança e de suas futuras conquistas, assim como a elaboração de estratégias pedagógicas que a auxiliem nesse processo. Na abordagem vygotskyana, o ensino escolar desempenha um papel muito importante na formação de conceitos formais e científicos, que só a escola consegue oferecer. De acordo com Rego (1995, p. 79): [...] a escola propicia às crianças um conhecimento sistemático sobre aspectos que não estão associados ao seu campo de visão [...] Possibilita que o indivíduo tenha acesso ao conhecimento científico construído e acumulado pela humanidade. Segundo Vygotsky, o ser humano precisa se relacionar para construir seu conhecimento, e a fala humana é impulsionada por essa necessidade de comunicação. Os primeiros passos ocorrem com a criança que balbucia, chora, pensa e depois fala. Enquanto a criança cresce e tem contato com adultos, ela vai aprendendo a linguagem utilizada por seu próprio grupo social. A linguagem não é somente a fala, mas engloba os gestos, posturas, expressões, qualquer símbolo que tenha um significado. Quando a criança se apropria desses significados, sua linguagem se torna instrumento sofisticado para o pensamento humano. Ao assimilar as estruturas da língua, a criança adquire a base necessária para o pensamento (VYGOTSKY, 1984). Vygotsky também pesquisou a relação entre pensamento, linguagem, fala e escrita. A linguagem é um complexo sistema de signos usados com a função específica de comunicação. É esta necessidade humana de interagir que faz com que todos os indivíduos, através das funções psicológicas superiores, apropriem-se de um determinado sistema simbólico, arraigado da história e da cultura de um contexto específico. A Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 linguagem pode ser considerada o instrumento do pensamento, que se desenvolve desde o nascimento da criança e vai tomando formas cada vez mais complexas. Esse processo de aprendizagem de transformar a linguagem em fala é muito dinâmico e não-linear. Porém, existem três etapas distintas: a fala interior, a fala egocêntrica e a fala exterior. No artigo Relações entre Leitura, Pensamento, Fala e Escrita: Um Estudo com Alunos de 5ª série, com Problemas de Aprendizagem: Uma Abordagem Histórico-Cultural, Gonçalves (2005, p. 3), salienta essas etapas: O autor (Vygotsky) distingue a fala em dois planos: fala oral (ou exterior) e fala interior, sendo que a constituição dessa última se faz, na criança, pela fala egocêntrica. Vigotski discute a estrutura e função tanto da fala oral ou exterior, quanto da fala interior. A primeira é social, dita para outro (predomínio da fonética, diálogo), ao passo que a fala interior (predomínio da semântica, do significado, monólogo) é uma fala para nós mesmos. Para Vygotsky, a escrita difere do desenvolvimento da fala. São funções distintas, porém fortemente ligadas. A escrita necessita de uma estruturação intencional, um conjunto de símbolos e signos desenvolvidos através de uma convenção social, que demandam uma ação analítica e sistematizada pela criança. A escrita não é uma nova etapa do desenvolvimento infantil que entrelaça as funções já apropriadas; linguagem e pensamento. Por isso sua aprendizagem exige um trabalho diferenciado e sistematizado. Esse artigo vai além, afirmando a importância das concepções do professor no processo ensino-aprendizagem: Sabemos que a função dos professores junto às crianças é essencial para que o conhecimento se produza e que os procedimentos utilizados por eles evidenciam a forma como concebem esse conhecimento. Em outras palavras, os procedimentos que utilizam, as atividades que propõem, refletem sua perspectiva epistemológica e psicológica do conhecimento. Quando propõem atividades às crianças, estas estarão fundamentadas em suas crenças de como ocorre a aprendizagem e de como deve ser o ensino. (Gonçalves, 2005, p. 7) A importância de saber como o aluno aprende é imprescindível para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma eficaz. É o que exemplifica Almeida; Antunes (2005, p. 12): [...] tomemos um estudante qualquer que se prepara para um exame, lendo um livro: a percepção do mundo a sua volta se altera, a atenção centra-se no texto, nos pontos mais importantes que devem ser memorizados; o pensamento estabelece relações lógicas sobre o conteúdo estudado, além de organizar outras Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 funções. Nesse processo está envolvida também a linguagem, tanto a escrita (texto) quanto a interior, que auxilia o estudo. Reiterando a importância dos processos psicológicos superiores na aprendizagem do aluno afirma-se: É necessário que os educadores planejem suas aulas tendo em vista como os alunos aprendem, seus diversos tipos de memória e a melhor forma de apropriação de conteúdos pelos discentes, elaborando assim os melhores caminhos e técnicas para fazê-lo [...] Desta forma é relevante o planejamento da seqüência de conteúdos, o melhor encadeamento das informações para que o sujeito possa relacionar os conteúdos corretamente promovendo assim um efetivo desenvolvimento do indivíduo e uma ampliação de sua zona de desenvolvimento proximal. (ALMEIDA; ANTUNES, p. 14) Encerram-se aqui as reflexões sobre as contribuições vygotskyanas para a área educacional. Considerações finais Este breve panorama da teoria sociointeracionista tem por finalidade mostrar a importância de seus conceitos, assim como a sua aplicabilidade na formação inicial e continuada de profissionais da educação. Além disso, a elaboração do currículo escolar e o planejamento das aulas ficam comprometidos se o educador não possui tais conhecimentos. O processo de ação-reflexão-ação não se realiza por si só se não houver um embasamento teórico que possa melhorar a prática docente. Apresentar a pluralidade das teorias existentes, sempre fazendo articulações com a prática pedagógica, proporciona bases sólidas ao educador que trilha o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de. Os saberes necessários à docência no contexto das reformas para a formação de professores: o caso da Psicologia da Educação. 2005. 210 f. Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ALMEIDA, Sandro Vieira, ANTUNES, Mitsuko Makino. A Teoria Vygotskyana sobre Memória: Possíveis Implicações para a Educação. In: 28ª Reunião Anual da ANPED Associação Nacional de Pós-graduação em Educação, Caxambu, 2005. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/28/inicio.htm> acesso 22 set 2008. BARROCO, Sonia Maria Shima, TULESKI, Silvana Calvo. Vygotsky: O Homem Cultural e seus Processos Criativos. In: 29ª Reunião Anual da ANPED - Associação Nacional de Pós-graduação em Educação, Caxambu, 2006. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT20-1742--Int.pdf> acesso 22 set 2008 DAVIS, Claudia. Piaget ou Vygotsky: Uma Falsa Questão. In: Coleção Memória da Pedagogia: Vygotsky – Uma Educação Dialética. São Paulo: Duetto. 2 vol, 2005. GONÇALVES, Marlene Fagundes Carvalho. Relações entre Leitura, Pensamento, Fala e Escrita: um Estudo de Alunos de 5ª série com Problemas de Aprendizagem: Uma Abordagem Histórico-Cultural. In: 28ª Reunião Anual da ANPED - Associação Nacional de Pós-graduação em Educação, Caxambu, 2005. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/28/inicio.htm> acesso 22 set 2008. GUERRA, Clarissa Terezinha. Conhecimento Psicológico e Formação de Professores. In: AZZI, R. G., BATISTA, S., SADALLA, A. (org) Formação de Professores: Discutindo o Ensino de Psicologia. Campinas, SP: Alínea, 2000. LAROCCA, Priscila. Psicologia na Formação Docente. Campinas, SP: Alínea, 1999. MAHONEY, Abigail Alvarenga, ALMEIDA, Laurinda Ramalho de, ALMEIDA, Sandro H. V. de. Produção de Vygotsky e Wallon: Comparação das Dimensões Epistemológica, Metodológica e Desenvolvimental. In: 29ª Reunião Anual da ANPED - Associação Nacional de Pós-graduação em Educação, Caxambu, 2006. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT20-1916--Int.pdf> acesso em 22 set 2008. OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento: Um Processo Sócio-Histórico. São Paulo: Scipione, 1993. REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação. Petrópolis, RJ: 2 ed, Vozes, 1995. VYGOTSKY, Lev Semenovich, et al. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1998. VYGOTSKY, Lev Semenovich. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. ____, Lev Semenovich. Manuscrito de 1929. Educação e Sociedade. n. 71, ano XXI. Campinas, SP: CEDES. 2000. p. 21 – 44. ____, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1998. ____, Lev Semenovich. Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes. 2001. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O tear da formação docente: como se constitui o professor da educação de jovens e adultos Giovanna Marget Menezes Cardoso RESUMO: A modalidade de educação de jovens e adultos possui especificidade e características singulares do público a que se destina. A formação do educador da EJA é um tema muito debatido no contexto da atualidade, principalmente no que diz respeito às deficiências apontadas em pesquisas sobre o tema na atuação desses profissionais, que trabalham com um público discente com suas características e peculiaridades, com histórias de vida que devem ser consideradas nos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, este artigo objetiva analisar/compreensivamente o perfil do educador de jovens e adultos e sua formação. Para tanto se utilizou a abordagem qualitativa, tendo como perspectiva metodológica o estudo do meio, articulando a vivência acadêmico/cientifica, aos fenômenos sócio-educacionais, para tanto foi trabalhado estudos analíticos e pesquisas de autores que discutem sobre a temática, a saber: Freire (1997); Balem (2001); Cagliari (1998); Ferraro (1998); Gadotti (2001); Pimenta (2000); Haddad (1985), entre outros, bem como a LDB 9394/96 e Diretriz Curricular da EJA, os instrumentos de coleta de ‘dados’ foram a observação e entrevista com professores e estudantes da EJA. Os estudos teóricos e os dados coletados em campo permitiram comparar, elaborar hipóteses e organizar/sistematizar a realidade estudada/investigada. As reflexões e analises apresentadas neste artigo emergiram a partir de uma metodologia desenvolvida no espaço de sala de aula, que objetiva fazer do processo de ‘ensinagem’, um lócus de pesquisa, buscando experiênciar uma prática educativa que reconheça a pesquisa como um princípio educativo, e não apenas cientifico, como preconiza Demo (1997). Colocando a pesquisa como um paradigma da metodologia de ensino e aprendizagem. A pesquisa de campo e reflexões foi realizada com as alunas do IV semestre na disciplina Educação de jovens e Adultos na UNEB/Campos XI – Serrinha. Os resultados evidenciaram a necessidade de se investir na formação inicial e continuada de professores que atuam na modalidade de EJA, em mudanças nos currículos dos cursos de formação inicial de professores. Bem, como da urgência de mudanças na prática pedagógica do professor da EJA, para que estes possam a partir de estudos teórico/prático desenvolvam a percepção crítica do trabalho pedagógico realizado nessa modalidade de ensino. Vale destacar, que a precariedade do sistema de ensino, a defasagem curricular e uma formação docente incipiente para atuar na EJA são fatores que interferem na qualidade do ensino com prática desarticulada das reais necessidades de aprendizagem dos alunos, ocasionando a evasão. Desse modo, esta pesquisa evidencia as contribuições da experiência em pesquisa na formação inicial dos estudantes e o avanço/amadurecimento dos mesmos, promovendo a tessitura de uma formação reflexiva e contextualizada. Palavras- chave: Educação de jovens e adultos; Formação docente; Pesquisa. Montando o tear... iniciando a tessitura. Pedagoga, professora do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade do Estado da BahiaUNEB/Campus XI- Serrinha, Especialista em metodologia do Ensino e de Pesquisa em Educação e em Supervisão escolar, Coordenadora de Sistema da rede pública municipal de ensino, Coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia do Programa de Formação de Professores – PAFOR/ FNDE/CAPES/MEC/ UNEB, e- [email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Já se tornou lugar comum afirmar que estamos vivendo um contexto de intensas e paradoxais transformações sociais, no modo de se relacionar, de viver e produzir conhecimento, etc. É nesse cenário de mudanças paradigmáticas que o processo educativo acontece, e as proposições de diretrizes curriculares não estão à margem desse contexto. Os Parâmetros Curriculares Nacionais são exemplos dessas preposições curriculares. Contudo vale destacar que, nem sempre essas adequações ocorrem tranquilamente, há questionamentos a cerca da produção dos documentos, bem como acerca das proposições contidas nos mesmos, principalmente por conta da proposta de Parâmetros Curriculares Nacionais, o que soa contraditório, pois num contexto de diversidade cultural como o nosso uma preposição de currículo de caráter nacional, a partir de parâmetros previamente estabelecidos. Vale destacar que, a simples transposição das diretrizes da política curricular educacional para o contexto de cada realidade escolar provoca reflexões e analisem particulares, considerando a legislação e a realidade de cada unidade escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constitui-se em um documento oficial que estabelece metas, objetivos e princípios para a Educação Básica. Ainda, um documento que se pretende ser instrumento norteador das práticas docentes, indicando ao professor como organizar suas ações didáticas pedagógicas, na perspectiva de contribuir para a formação de sujeitos que tenham habilidades e competências de atuar no mundo contemporâneo como sujeito autônomo e participativo, reflexivo e consciente de seus direitos e deveres. Coadunando com as reflexões supracitadas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena indicam qual deve ser a base comum para a formação dos futuros professores para atuar na educação básica, e ““... reforça-se, também a concepção de professor como profissional do ensino que tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua diversidade pessoal, social e cultural (BRASIL, 2002, p. 06). Nesse viés, a formação do educador da EJA se constitui num tema muito debatido no contexto da atualidade, principalmente no que diz respeito às deficiências apontadas em pesquisas sobre o tema na atuação desses profissionais, que trabalham com um público discente com suas características e peculiaridades, com histórias de vida que devem ser consideradas nos processos de ensino e de aprendizagem. Vale ressaltar que Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 a modalidade de educação de jovens e adultos possui especificidade e características singulares do público a que se destina, fazendo-se necessário a ampliação de estudos de investigação nesta área de pesquisa. Existe uma quantidade significativa de professores em atuando nas classes EJA com deficiências na sua formação inicial e continuada, desenvolvendo currículos e práticas inadequadas. Assim, este artigo objetiva analisar/compreensivamente o perfil do educador de jovens e adultos e sua formação. Para tanto se utilizou a abordagem qualitativa, tendo como perspectiva metodológica o estudo do meio, articulando a vivência acadêmico/cientifica, aos fenômenos sócio-educacionais, para tanto foi trabalhado estudos analíticos e pesquisas de autores que discutem sobre a temática, a saber: Freire (1997), que tece considerações sobre a construção do ser docente e o papel do educador da EJA; Balem (2001), discute sobre a necessidade do educador da EJA ter uma formação que possibilite ao mesmo contextualizar os conteúdos trabalhado, ainda dá necessidade deste professor conhecer a lógica do conhecimento popular, estrutura de pensamento, coadunando com as ideias de Freire ; Cagliari (1998), ; Ferraro (1998) e Gadotti (2001), analisa a formação deste professor e discute sobre o currículo da educação de jovens e adultos; Pimenta (2000), apresenta as discussões sobre a formação do professor ; Haddad (1985), que chama atenção para a educação enquanto prática social e que por meio da mesma pode minimizar o quadro de exclusão em que vivem os sujeitos da EJA, entre outros, bem como a LDB 9394/96 e Diretriz Curricular da EJA, os instrumentos de coleta de ‘dados’ foram a observação e entrevista com professores e estudantes da EJA. A atividade centrou-se nos estudos teóricos analíticos/reflexivos em sala de aula, com as alunas do IV semestre, na disciplina Educação de Jovens e Adultos no curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia/UNEB/Campos XI – Serrinha. Nesse viés, as reflexões aqui apresentadas emergiram do uso da pesquisa como metodologia de ensino, que objetiva fazer do processo de ensinagem lócus de pesquisa. Tecendo os fios... Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 está determinado no capítulo II, seção V da Educação de Jovens e Adultos. No artigo 37 que: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Deixando claro nesta modalidade de ensino seu potencial de educação inclusiva e compensatória, conforme afirma Ferraro(1998) os sujeitos da EJA estão em situação de exclusão social. Considerando esse contexto cabe indagar: o que provoca os sujeitos da educação de jovens e adultos a voltarem à escola? Destaca-se que, os processos de ensinagem desenvolvidos pelos docentes que atuam em classes de EJA não promovem interesse aos alunos em aprendes, pois os professores, na maioria das vezes, desconhecem como motivar as aprendizagens nesses sujeitos por não saber quem são os mesmos, suas realidades e anseios, suas histórias de vidas e trajetórias. Assim, considerando as reflexões supracitadas defende-se a ideia que a educação enquanto prática social e que por intermédio dela pode-se minimizar a exclusão, através de uma proposta libertadora, conforme preconiza Haddad (1998) ao defender que a educação de jovens e adultos somente se realiza de modo eficaz em condições de mobilização social, ou seja, que impliquem em mudanças de condições de vida da população. Ainda, segundo o referido autor “[...] que o desenvolvimento econômico com real distribuição de renda é fator condicionante ao bom desempenho de programas de EJA, diferentemente do que o senso comum procurar reconhecer" (idem, ibidem. p.201). Nesse viés, vale destacar o papel importante do professor da EJA “[...] pelo seu papel estratégico pelo processo educacional é o que tem maior responsabilidade na tentativa de construir uma escola de caráter popular”. ( HADDAD,1985, p. 29). Contudo vale ressaltar que a maior parte dos professores infantiliza o processo de ensino, não possuem uma proposta de ensino na perspectiva de atender as especificidades desse público e as práticas pedagógicas e os conteúdos trabalhados são descontextualizados da realidade onde estão inseridos. Reproduzindo dessa forma o modelo tradicional, conteudista. Contudo Cagliari (1998, p. 39) aponta a urgência de se mudar essas práticas pedagógicas e preconiza que “[...]está na hora de exigir das pessoas que lidam com a educação uma competência maior”, em especial os professores da EJA.. Destarte, o currículo proposto, não consegue atender e envolver a diversidade dos estudantes da EJA, privilegiando um modelo de currículo que trabalha com discursos nas diversas áreas do conhecimento muito distante das reais necessidades de aprendizagem dos alunos. Fazendo com que o ensino torne-se vazio e desconexo do contexto cultural, econômico e social em que os estudantes estão inseridos. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Diante deste contexto, em que se percebe a precariedade, as dificuldades e os problemas que estão postos em nível de um projeto social e político, que exclui e aliena, vale referendar Freire(1990) quando salienta a busca pela “escola possível” para que esses educandos que de alguma forma foram excluídos da e na escola(BALEM, 2001, p.5) Contudo boas partes dos professores que atuam em classes de EJA, não possuem formação para atuar nestas classes, conforma ficou evidenciado na ida ao campo, dos mais dos 110 professores da EJA entrevistados pelos estudantes de Pedagogia do IV semestre, ao serem questionados sobre sua formação, apenas 22 responderam possuir o curso Superior em Pedagogia, contudo destacaram que o curso não lhe prepararam para atuar, conforme explicita uma das professoras entrevistadas, Cursei meu ensino superior, fiz o curso de Licenciatura em Pedagogia. Não acho que apenas com o que eu aprendi na universidade eu possa trabalhar em uma sala de aula de jovens e adultos, embora eu faça isso... Gostaria de fazer um curso de especialização na área, pois acredito que iria ter acesso a conteúdos mais específicos e metodologias que me ajudassem a melhorar minha prática.( Professora da rede estadual de ensino, atua na EJA a três anos) Muitos professores que atuam na educação de jovens e adultos não possuem uma formação que lhes assegurem o desenvolvimento de um currículo contextualizado com práticas pedagógicas significativas. Mesmo aqueles que cursaram um ensino superior no curso de Licenciatura em Pedagogia, não o fazem , por conta do próprio currículo do curso que é voltado para o ensino de crianças e raramente toca na metodologia de ensino para adultos, conforme explicita a professora supra citada Lembro que nas aulas que tive quando eu cursava o curso de Magistério e posteriormente o de Pedagogia, grande parte do que era ensinado pra gente lá, desde as metodologias, as teorias entre outras coisas, tudo era voltado para o ensino de crianças Ao concluir meu curso deparei-me com minha primeira experiência de trabalho com a educação numa classe de EJA, e mim senti perdida por diversas vezes naquele espaço, sem saber como trabalhar com aqueles estudantes. Embora eu tivesse tido a disciplina Educação de Jovens e Adultos , na universidade, foi muito pouco para me ajudar a compreender a metodologia adequada para se trabalhar.(Professora da rede estadual) Pode-se inferir que o curso de formação de professores não tem dado conta de preparar o profissional que atua nessa modalidade de ensino, nesse sentido Arroyo(2005), analisa que: Poderíamos encontrar outros indicadores de que estamos em um tempo propício para a reconfiguração da EJA. Um dos mais promissores é a constituição de um corpo de profissionais educadores (as) formados (as) com competências específicas para dar conta das especificidades do direito à educação na juventude e na vida adulta. As faculdades de Educação criam cursos específicos de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 formação para EJA. Por outro lado, hoje é mais fácil encontrar produção teórica e material didático específico para esses tempos educativos. [...] o saber da impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. De separar prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de aprender. Nenhum desses termos pode ser mecanicistamente separado um do outro. ( p.27) Nesse viés, pode-se inferir a possibilidade que o professor consiga superar as lacunas no seu processo formativo, buscando dar continuidade a sua formação, qualificando-se para desenvolver práticas pedagógicas voltada “ [...] para a reflexão e análise do contexto, econômico, social e cultural que o aluno está inserido. A mudança é possível a partir do momento que houver uma reflexão sobre a proposta pedagógica” (MENEZES ,ABREU,20012, p.5). Nesse sentido alguns professores entrevistados evidenciaram compreender que no processo de ensino deve-se valorizar as próprias experiências dos estudantes da EJA, suas vivencias na sociedade, nos seus trabalhos, enfim no contexto em que os sujeitos estão inseridos. Deve ser voltado, para o dia a dia das pessoas, trabalhar mais com as experiências de vida deles”. (Professor da rede estadual, com dez anos de experiência , formado em Geografia) Deve ser com aulas práticas voltadas para a realidade dos educandos envolvendo a leitura e a escrita”. (Professora da rede municipal, graduada em Pedagogia) Eu penso que o professor deve trabalhar pensando no ontem, tem que ver a necessidade do aluno, o que ele precisa aprender de imediato, preencher cheques, sacar o dinheiro no banco, tomar um transporte, ler uma placa, uma bula de remédio, uma receita de bolo.” (Professora da rede municipal , graduada em Pedagogia). Embora os professores entrevistados demonstraram possuir noção de como deve ocorrer o processo de ensino na EJA,contudo pode-se inferir que a concepção de educação de jovens e adultos dos referidos professores esta baseada em um currículo pragmático que submete a EJA apenas as demandas cotidianas ou do trabalho,, o que certamente constitui num grave equivoco. Nesse viés vale destacar que O adulto não volta para a escola para aprender o que deveria ter aprendidoquando criança. Para além do legítimo desejo de reconhecimento social, elebusca a escola para aprender conhecimentos importantes no momento atualde sua vida, conhecimentos que lhe permitam “desenvolver e constituirconhecimentos, habilidades, competências e valores que transcendam osespaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e aoreconhecimento do outro como sujeito” (Parecer CNE 11/2000). Desse modo evidencia-se que uma formação específica para atuar em classes de EJA contribui para qualificar a prática docente uma vez que o professor terá Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 embasamento teórico para construir sua práxis e decidir por quais caminhos trilhar metodologicamente na busca de decidir qual a melhor forma de ensino visando promover a aprendizagem dos estudantes, principalmente os da educação de jovens e adultos o qual exige do professor uma boa formação inicial e continuada, além de uma boa base teórica e metodológica. Nesse sentido Pimenta(2005) aponta que a despeito das transformações que estão sendo implementadas e implantadas nas políticas e nas práticas educacionais, o professor se constitui num pilar no processo de aprendizagem e no desenvolvimento da sociedade. Para tanto o mesmo deve ter uma formação solida e esta em constante processo formativo. Nesse viés, a formação inicial e a formação continuada devem ser compreendidas como um investimento institucional, social e econômico da sociedade no seu futuro, visto que este investimento repercutirá em benefícios extensivos a todos os segmentos da sociedade. O tecido que se elabora... Considerando as reflexões a analises supracitadas, os estudos desenvolvidos no componente curricular Educação de Jovens e Adultos evidenciou que o professor da modalidade EJA, deve se constituir num sujeito, autônomo e autor, num intelectual reflexivo que analisa, cria, pensa, transforma e produz conhecimento a partir de sua prática. Nesse viés sua formação deve envolver as dimensões de sua experiência existencial, seus saberes e práticas, sua participação em outras esferas da vida social e na escola, nos mais diferentes grupos que vivencia, bem como no contexto educativo. Tudo isso nos leva a pensar que é necessário dar um novo significado ao processo de profissionalização dos educadores de EJA, pois serão eles que orientarão ações e reflexões no enfrentamento dos desafios da escola e da sala de aula e efetivarão mudanças na realidade educacional, como registra a Revista de EJA (2002) (BALEM,2001,p.12) Ainda, é possível afirmar que o docente da EJA deve investir em sua formação para além da formação inicial e buscando o seu desenvolvimento no processo formativo a partir da pesquisa como perspectiva metodológica de ensino. Tais injunções provocamme a desenvolver práticas pedagógicas sustentadas no princípio da pesquisa, como possibilidade metodologia de articulação entre o dizer e o fazer, entre a universidade e o espaço de atuação, entre conteúdo e realidade. Dessa forma urge a necessidade dos curso de formação de professores, em especifico o curso de Licenciatura em Pedagogia, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 rompa com o paradigma da dicotomia entre o ensino e a aprendizagem assumindo a perspectiva de articular o ensinar e aprender pela via da pesquisa, em que o aluno se torna o protagonista de suas produções. Assim, na aventura de formar professores a proposta da experiência analisada nesta produção é desenvolver uma prática que promova no ‘aprendiz’ a assunção da “[...] autoria também do conhecimento do objeto”. Freire (1997) Referencias ARROYO, Miguel Gonzalez. Educação de jovens-adultos: um campo de direitos e de responsabilidade pública. In: Diálogos na educação de jovens e adultos / organizado por Leôncio Soares, Maria Amélia Gomes de Castro Giovanetti, Nilma Lino Gomes. Belo Horizonte: Autentica 2005. BRASIL. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, DF, Ministério da Educação e do Desporto, 2002, 146 p. BALEM, Nair Maria. A Construção do Alfabetismo de Jovens e Adultos em Frederico Westphalen, uma Análise Sócio-histórico-cultural. São Leopoldo/RS, Unisinos, 2001. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A Educação Popular na Escola Cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002. CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem bá-be-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1998 PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 6ª ed. Cortez, 2005. FERRARO, Alceu. Alfabetismo no Rio Grande do Sul: crianças e adolescentes, jovens e adultos. In: Cadernos de Educação. FAE/UFPEL, Pelotas (10): 05-38, jan./jun, 1998. 13Formação de educadores de jovens e adultos, alfabetização e cidadania: Revista de Educação de Jovens e Adultos. Nº 13. Dezembro de 2002. GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos: Teoria, prática e proposta. São Paulo, 2001. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Formação de professores e prática docente do professor da educação básica: O olhar dos alunos do curso de Pedagogia do Departamento de Educação Campus XI/ Serrinha – BA Giovanna Marget Menezes Cardoso Dailza Araújo Lopes Iracema Santos Batista Mariene Santos Matos RESUMO: Na atual conjuntura social, o profissional da educação tem muitos desafios a superar, acompanhar as mudanças sociais é reconhecer que a educação precisa acompanhar tais mudanças para o desenvolvimento social. Assim, não basta apenas que o professor saiba desenvolver conteúdos, é preciso que seja inovador em sua práxis pedagógica. Considerando as reflexões supracitadas, alguns questionamentos tornam-se pertinentes: como o profissional da educação vem atuando na escola pública em prol de uma educação de qualidade? Qual a contribuição do curso de Licenciatura em Pedagogia na formação do docente da educação básica e consequentemente na prática pedagógica desse profissional? Assim, este artigo faz uma breve reflexão sobre a formação e a prática docente do professor que atua na educação básica nas séries iniciais da escola pública na rede municipal de Serrinha-Ba. Este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender como os professores vêm atuando na rede pública e quais as contribuições que o curso de Licenciatura em Pedagogia possibilita para a oferta de uma educação de qualidade na educação básica. Esta pesquisa tem como objetivo analisar/compreensivamente a percepção/olhar dos alunos do curso de pedagogia sobre como o currículo do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia - UNEB/Campus XI - Serrinha contribui para a efetivação de uma prática pedagógica de qualidade do professor da educação básica das séries iniciais. A abordagem metodológica se fundamentou na abordagem qualitativa na perspectiva sócio-interacionista vygotskyana, com reflexões teóricas e pesquisa de campo com a escuta sensível, tendo como instrumento de coleta de dados a aplicação de questionário. Nesse viés os estudos teóricos de estudiosos da temática formação docente: Gadotti (2000); Nogueira (2008); Nóvoa (1992); Freire(1987); Tardif (2000) entre outros, documentos como a LDB 9394/96. Os ‘dados coletados’ em campo permitiram comparar, elaborar hipóteses e organizar/sistematizar a realidade estudada/investigada. Os resultados evidenciam as contribuições do curso de Licenciatura em Pedagogia para a efetivação de um ensino de qualidade na educação básica pelo desenvolvimento de práticas pedagógicas contextualizadas e dinâmicas. Bem como, dialeticamente as lacunas na formação por conta da ausência da pesquisa da interdisciplinaridade como metodologia de ensino. Assim, esta pesquisa evidenciou a necessidade de se aprofundar nos debates e reflexões sobre o papel social da universidade, em especial a UNEB Campus XI na qualidade da educação básica da escola pública. Palavras-chave: Formação inicial de professores; Prática docente, Currículo. Considerações introdutórias... Considerando a realidade social do nosso país, percebemos que por meio da educação, conquistamos, sobretudo, o nosso lugar de sujeitos críticos na sociedade. Pedagoga, professora do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade do Estado da BahiaUNEB/Campus XI- Serrinha, Especialista em metodologia do Ensino e de Pesquisa em Educação e em Supervisão escolar, Coordenadora de Sistema da rede pública municipal de ensino, Coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia do Programa de Formação de Professores – PAFOR/ FNDE/CAPES/MEC/ UNEB, e- [email protected]. Estudante do IV semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia, e-mail: [email protected] Estudante do IV semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia, e-mail: [email protected] Estudante do IV semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia, e-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Infelizmente, hoje quando falamos em educação pública o que vemos é um pessimismo tanto por parte do profissional quanto da população, isso se dá pela visível falta de estrutura das escolas da rede pública, o mal gerenciamento dos recursos financeiros destinados ás escolas, a desvalorização do profissional, entre outros, fazem com que essa sensação cresça cada vez mais. Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta- se numa dupla encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado conta da universalização da educação básica de qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não apresentam ainda a consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de profundas e rápidas transformações. (GADOTTI, 2000, p.4) Urge que os desafios postos a educação sejam superados, afinal a educação é um bem social importante para o desenvolvimento do país. Assim, temos que voltar nossos olhares para profissional da educação, que em muitos momentos ficam perdidos e perplexos, num jogo de culpas, um lado professor culpa o governo, pais e alunos, do outro o governo rebate afirmando que faz o que está ao seu alcance para oferecer a todos uma educação pública de qualidade. A pergunta que se faz é: aonde vai parar a educação pública? de que forma vem se dando a formação e atuação do professor nesses espaços? como o currículo do curso de Pedagogia está contribuindo para a formação docente? Reconhecendo a importância e a urgência de debates em torno da educação pública é que o esta produção surge como uma inquietação a respeito de como está acontecendo à formação dos futuros educadores oferecida pela universidade, bem como resultado de um trabalho do componente curricular de Políticas Educacionais, do V semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia/Campus XI - Serrinha. Nesse viés, objetivando compreender o fenômeno com mais clareza aplicamos um questionário aberto para os estudantes do curso de Pedagogia do Departamento de Educação Campus XI- Serrinha/ BA. A metodologia se deu da seguinte forma: o questionário com dez questões, distribuídos entre os estudantes do curso de Pedagogia: três estudantes do primeiro semestre, três do terceiro, três do quinto e quatro do oitavo semestre. Obtendo deste modo um mapa mais próximo da realidade que promoveria uma visão mais próxima do processo de formação de professores. Fizemos um breve histórico do curso de Pedagogia que hoje vigora no Campus XI, juntamente com os resultados do questionário da pesquisa. Vale salientar que a aplicação dos questionários objetivou nos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 proporcionar uma discussão ampliada a cerca do tema e por isso não serve para generalizar a visão dos estudantes de Pedagogia do Departamento Campus XI – Serrinha/BA. Um breve olhar sobre a educação pública: Prática docente no contexto escolar Uma questão crucial para a compreensão da educação pública brasileira é a reflexão a cerca do contexto educacional brasileiro. Se pararmos para analisar veremos que o quadro não é dos mais otimistas: crianças que chegam ao Ensino Fundamental sem saber ler nem escrever, salário baixo para os profissionais da educação, pais culpando a escola pelo fracasso dos seus filhos, escola que culpam os pais, professores que fingem que ensinam alunos que fingem que aprendem. De um lado professores culpam o governo, do outro, governo diz que faz o que está ao seu alcance para que seja sim a educação pública uma educação de qualidade. Há controvérsias, mas afinal, onde está o problema? Será que os professores estão preparados para enfrentar tantos desafios? [...] é visível que a profissão de pedagogo, como de professor, tem sido abalada por todos os lados: baixos salários, deficiência de formação, desvalorização profissional implicando baixo status social e profissional, falta de condições de trabalho, falta de profissionalismo. (LIBÂNEO, 2004, p. 25) Estes são apenas alguns dos desafios enfrentados pelos profissionais da educação e partindo desse pressuposto podemos entender porque tantos professores se encontram tão desmotivados pela profissão. Acreditamos que a ausência de reconhecimento desse profissional com essencial para a sociedade, seja um fator preponderante para a problemática da educação. Gadotti (2000, p.3), preconiza que “os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas”. Desse modo, o referido autor nos faz entender a importância do profissional da educação como um sujeito que não apenas forma seus educandos para lidar com o “conhecimento”, mas para a vida, para o viver em sociedade. No que tange ao papel do Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Estado brasileiro a cerca de implementar políticas públicas educacionais voltadas para a valorização do profissional da educação, podemos inferir que este utiliza discursos que contradizem a realidade, a exemplo da implementação dos recursos tecnológicos presentes em muitas escolas, mas que por falta de preparo e formação dos professores acabam “isolados em um canto”. Se levarmos em conta o fato de que hoje o Brasil ocupa o sexto lugar na economia mundial a situação se torna mais vergonhosa ainda. Ainda há a questão salarial, a exemplo do que vivendo na Bahia um contexto de total desrespeito aos professores da Educação Básica, oprimidos pelo governo do estado, tratados com total desrespeito. Uma educação de qualidade, que possibilite aos sujeitos a emancipação, preconizada por Freire (1998), não é prioridade do governo e por isso a escolha da profissão docente já não é atrativa. Isso porque além dos muitos desafios que o profissional enfrenta, e assim a educação vai ficando ao além. Hoje o que encontramos são muitos professores desestimulados pela profissão, muitos vão à escola só por ir, e assim vão justificando suas falhas “num faz de conta” onde eles fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. E ai nós podemos afirmar que não basta apenas querer, ser professor hoje é reconhecer que precisa-se ter amor pela educação, pela profissão como disse Alves (2010), “O ato de educar se revela no ato de fazer amor”. É fato que uma educação pública de qualidade vai muito além do que imaginamos, muitos culpam a falta de investimentos e é óbvio que em grande parte é isso mesmo que falta, não queremos aqui justificar as falhas dos profissionais da educação, mas nos perguntemos seria apenas a falta de investimento que faz com que a educação hoje esteja como está? E mais uma vez Alves (2010), nos responde “não, o problema da nossa educação não está apenas na falta de recursos. O problema está em que não sabemos mais sonhar”. É preciso muito mais que apenas querer uma educação de qualidade, temos que sonhar e lutar para que os sonhos se tornem realidade. Ser docente é enfrentar os desafios cotidianamente, é superá-los na certeza de que muitos ainda virão, é se assumir como educador que assume uma sala de aula para formar sujeitos críticos capazes de enfrentar os problemas da sociedade vigente. Enfim, a prática docente deve, sobretudo, ser alimentada pelo desejo de liberdade, liberdade essa que como afirma Freire (1987), “é uma conquista, e não uma doação exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz”. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A prática docente: desafios e possibilidades Considerando a escola como um espaço privilegiado de convivências e aprendizagem, onde a prática docente ainda é uma questão de desafios no processo de formação humana e educacional, torna-se um desafio para os educadores em tornar possível reinventar suas práticas educativas no sentido de repensar suas atitudes, suas concepções, métodos e conhecimentos sobre o processo de aprendizagens, sobre os discentes e também reinventar suas relações profissionais. Neste caso, a escola é o espaço social que objetiva possibilitar ao estudante a apropriação de conhecimentos sistematizados. Nesse viés faz-se necessário conhecer os problemas que envolvem a prática educativa dos professores na atualidade com o propósito de superá-los, a escola só se torna democrática na medida em que colabora com uma formação crítica e consciente voltada para a transformação social. O professor deve contextualizar suas práticas considerando o estudante como um sujeito que possui um capital cultural constituído a partir de diferentes vivências e realidades do meio no qual está inserido. Sendo assim, é importante que o professor busque através da sua formação permanente compreender os princípios e saberes que são necessários a prática docente, constituindo num grande desafio para a prática docente despertar os estudantes e direcioná-los para caminhos mais solidários, considerando suas relações em convívio com a sociedade, uma vez que, a sociedade exige que o sujeito compreenda o mundo em que vive e se proponha como cidadão a mudá-lo na busca de vida plena para todos. Neste sentido, as possibilidades para uma prática educativa de sucesso num processo eficaz de aprendizagem para a educação, deve contemplar a sociedade como um todo, como ressalta Freire (1996): Ensinar exige criatividade e ética, humildade, tolerância do que se fala, competência profissional, generosidade e compreender que a educação é um fato de intervenção no mundo, liberdade de autoridade, querer bem aos educandos e disponibilidade para o diálogo. Mas antes de tudo ensinar exige saber escutar. ( p. 34) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Dessa maneira o ato de ensinar requer o exercício da reflexão crítica sobre as práticas cotidianas docentes buscando novos saberes e aprendendo novas estratégias de ensino. Ser professor é mais que ensinar fórmulas e técnicas, é também educar e formar para a vida, como pontua Nóvoa (1992, p.24). “Não devemos confundir formar e formarse. Formar significa gente pensante, com senso crítico capaz de perceber e combater as injustiças, que lute por seus direitos e tenha consciência social”. Portanto, é necessário saberes a vida do educador de forma que este possa desempenhar um trabalho a partir de uma práxis educativa comprometida como saber ser docente. Neste caso, essa prática requer uma inovação constante, uma superação dos desafios, uma ação efetiva no lócus de atuação, levando assim, todo corpo escolar a trilhar um caminho de parcerias e possibilidades. Poder público e gestão escolar: uma parceria necessária No contexto atual da educação brasileira é possível notar grandes avanços em relação à criação e implementação de políticas públicas educacionais, porém, estes avanços não foram suficientes para dar a educação pública um grau de qualidade, característico dos países desenvolvidos. Tudo isso porque sabemos que somente a criação dessas políticas não garante o desenvolvimento do sistema educacional como um todo.Assim, para que haja a construção de uma escola pública de qualidade que atenda as necessidades do seu corpo escolar e da sociedade de um modo geral, é necessário a participação de todos na construção dessas políticas públicas educacionais. “A participação possibilita a população um aprofundamento do seu grau de organização e uma melhor compreensão do Estado, influindo de maneira mais efetiva no seu funcionamento”. (GADOTTI; ROMÃO, 2004, p.16). Assim, percebe-se a importância da participação da população junto ao poder público com a intenção de democratizar o acesso à informação e a gestão dos recursos públicos, assim também como podemos perceber a importância da gestão escolar no processo de democratização do ensino. A gestão escolar é garantida por Lei Federal no princípio da gestão democrática e precisa ser legitimada como mecanismo de garantia de participação do povo no que é do povo. A gestão democrática como um dispositivo de participação coletiva é instituída e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 garantida pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1888, no art. 206 “O ensino será ministrado com nos seguintes princípios: VI- gestão democrática do ensino público na forma da lei”. A lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 também traz em sua composição a instituição do princípio da gestão democrática e estabelece no seu Art. 3° “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VIII- Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino”. Bem como a participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico e participação das comunidades escolar e local nos conselhos escolares ou equivalentes. Porém, após a promulgação dessas leis o que se tem feito para democratizar o acesso ao funcionamento do bem público? Na medida em que tomamos conhecimento dos nossos deveres e, sobretudo dos nossos direitos, passamos do papel de “pessoa” para o papel de cidadão, o qual é capaz de contribuir significativamente para a efetivação de políticas públicas concretas, que vão contribuir, de fato, para a construção de uma escola pública alicerçada na qualidade e na formação do sujeito para a vida. A escola pública traz em seu contexto um grau de “esquecimento” que vem desde o período da Revolução Industrial no inicio do século XX, quando a necessidade de criação de escolas para filhos das trabalhadoras das fábricas eram mais urgente do que a qualidade do ensino que iria oferecer nelas, Em todo país essa expansão efetivou-se de modo deficitário, uma vez que ela não se apoiou em investimentos suficientes na educação escolar pública. O grande problema da educação brasileira não foi simplesmente a ausência de políticas públicas, mas também o baixo investimento do Estado neste setor. (AKKARI; NOGUEIRA, 2008. P.13) Para que essa realidade seja mudada é preciso acontecer a parceria entre o poder público (mentor) e a gestão escolar (articulador) na criação e implementação de políticas públicas educacionais, garantindo a participação de todos e não apenas de uma minoria para que assim as leis que asseguram os direitos não sejam confundidas com privilégios. O currículo do curso de formação de professores... Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Soares e Cunha (2010) analisam que a formação no sentido literário da palavra constituiu em um fenômeno complexo, por envolver uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global, que ultrapassa os conceito de educação, ensino, teoria e prática. Nesse viés, falar de formação de professor conforme preconiza Garcia citando Soares e Cunha (2010) é compreendê-la como: A área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da organização Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permitam intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. (p. 30) Assim, as reflexões do referido autor, nos leva a inferir que a formação de professores deve compreender que a indissociabilidade entre a teoria e a prática deve se o fulcro desta formação, e que estas são fundamentais, de modo que os currículos dos cursos de formação docente busquem contextualizar os conteúdos estudados, para tanto faz necessários metodologias de ensino que tenham a pesquisa como prática, para que o sujeito em formação possa perceber situações concretas que o provoquem a refletir, produzindo assim, o conhecimento contextualizado. “[...] o saber profissional se dá na confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educacionais, das universidades, etc.” (TARDIF, 2002, p. 19). Para tanto urge que os cursos de formação de professores habilitem os mesmos para lidar com os contextos desafiadores e complexos, que surgem no espaço de sala de aula, ainda conforme preconiza Gadotti (2000) [...] seja qual for à perspectiva que a educação contemporânea tomar, uma educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora, superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto, uma educação muito mais voltada para a transformação social do que para a transmissão cultural (p.8). Considerando as reflexões supracitadas, os currículos dos cursos de formação de professores devem possibilitar que estes desenvolvam práticas curriculares que promovam o desenvolvimento pleno do sujeito, que despertem nos estudantes o desejo de aprender a aprender, e que a escola passe a ser um espaço de desejo, tornando-se fonte de aprendizado e efetivação de produção de conhecimento e desenvolvimento intelectual, para tanto faz-se necessário que os professores revejam suas práticas Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 pedagógicas. Nesse sentido a pesquisa enquanto metodologia de ensino pode possibilitar o desenvolvimento dessa competência e habilidade tanto para professores, quanto para os estudantes. Porém, essa pesquisa não pode acontecer aleatoriamente ela deve está intrínseca no professor deve partir de suas inquietações, indagações e desejo de buscar um novo conhecimento o qual deve está embasado no conhecimento histórico. Em relação essa discussão Freire (1998, p.28) comenta que: O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que umas das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é capacidade de intervindo no mundo conhecer o mundo. Mas histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe ser ultrapassado por outra manhã. Nesse sentido, ao construir determinado conhecimento, o docente não pode negar de forma alguma o conhecimento já existente e sim construir junto com o discente uma nova aprendizagem partindo daquilo que já está posto, mas para isso o professor precisa dominar esse conhecimento histórico, propor situações problemas com o intuito de instigar os alunos a buscar e construir o conhecimento. Esse processo não é tão simples, devido à própria organização das instituições escolares, à formação que os professores tiveram e a cultura que introjetaram. Mas, sem dúvida, esse encaminhamento metodológico contribui, e muito, para resignificar as práticas pedagógicas e, consequentemente, para elevar o nível de satisfação da sua formação. (HENGEMÜHLE,2008, p. 120) Ainda segundo Novoa (2008) A resposta encontra-se no facto de que a formação de professores está muito afastada da profissão docente, das suas rotinas e culturas profissionais. Por isso, o autor parte da identificação de algumas características do «bom professor» para argumentar em favor de Uma formação de professores construída dentro da profissão (p.3) Nesse viés, fica evidente a relação de mestre e aprendiz vivenciada pelo professor e junto com os estudantes construir conhecimento, mesmo não sendo uma tarefa simples para a maioria dos professores, considerando à cultura internalizada de que o professor é o ‘sujeito do saber’ bem como, a própria formação deficiente que é vivenciada pelo professor, que provoca deficiências e falta de conhecimento histórico do Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 conteúdo trabalhado, pois ter uma formação na área que está atuando não é o suficiente, o professor precisa ter um conhecimento histórico profundo do conteúdo que ensina para mediar as aprendizagens de seus estudantes e promover uma aprendizagem significativa. O desafio consiste em desenvolver práticas pedagógicas em que a natureza humana seja respeitada. Isso exige do professor compreender como o ser humano aprende, como se motiva, como é possível provocar o desejo de crianças, adolescentes, jovens [...] para que o ensino e a aprendizagem sejam significativos. Precisa o professor, para tanto, conhecer as teorias que refletem sobre o ser humano. Significa por exemplo, conhecer a teoria de Piaget, Vygotski, Meirieu, Freire entre outros. (Hengemühle ,2008, p. 124) Nessa linha de pensamento, os currículos dos cursos de formação de professores, em especial currículo dos cursos de Pedagogia, deve contemplar uma formação que possibilite aos professores a vivência das transformações supracitadas, na perspectiva que estes possam beneficiar suas ações construindo metodologias inovadoras promotoras de aprendizagens de seus estudantes, [...] sem com isso ser colocado como mero expectador dos avanços estruturais de nossa sociedade, mas um instrumento de enfoque motivador desse processo. (BRANQUINHO,2012,sem paginação). O olhar sensível dos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus XI: A profissão docente e o ensino das escolas da rede pública. Para iniciar as discussões sobre a temática proposta antes é necessário conhecer um pouco a respeito do Curso de Pedagogia no Campus XI/Serrinha – BA, de acordo com o Projeto atual do Reconhecimento do referido curso. Após passar por várias mudanças curriculares, no ano de 2004, o curso de Pedagogia do DEDC – XI assumiu uma nova configuração, passando a denominar-se Licenciatura em Pedagogia: Docência e Gestão de Processos Educativos, aprovado pelo CONSU através da Resolução nº 273/2004. Ainda com o propósito de adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (Res. CNE/CP nº 1 de 15.05.2006), novas alterações foram aprovadas para o referido curso no âmbito da UNEB, que passou a denominar-se Licenciatura em Pedagogia conforme a Resolução do CONSEPE nº 1.069/2009. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Considerando o tema abordado partimos para análise dos resultados da pesquisa com os estudantes e podemos perceber a contribuição do curso de Pedagogia na formação dos mesmos, enquanto educadores e/ou futuros educadores, pois estes já trazem em sua experiência uma ideia do que vem a ser a docência, Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já tem saberes sobre o que é ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes professores em toda a sua vida escolar. Experiência que lhes possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto é não sabiam ensinar. (PIMENTA, 2009, p. 20). Assim foi constatado que para os estudantes que já atuam em sala de aula os conhecimentos adquiridos ao longo do curso estão contribuindo para a melhoria da prática docente: Sim, o embasamento teórico é muito importante para a prática, então os dois precisam andar juntos, e isto fez com eu mudasse alguns posicionamentos enquanto educadora. (Estudante do 8º semestre do curso de Pedagogia) Com certeza as aulas de Didática tem me ajudando muito na minha prática diária e as demais disciplinas me deram suporte teórico fundamental para o meu desempenho como docente. (Estudante do 3º semestre do curso de Pedagogia) Enquanto que para os estudantes que ainda não atuam em sala de aula, os conhecimentos que foram ou estão sendo adquiridos no decorrer do curso, irão contribuir para sua futura atuação em sala de aula, como podemos observar nas falas a seguir: De fato, os conhecimentos aprendidos no curso estão contribuindo. Creio que o que aprendi me ajudará no futuro. Me dará respaldo suficiente para me transformar num ótimo docente (estudante do 5º semestre do curso de Pedagogia) Sim, pois muita coisa que não vi no curso de magistério estou vendo agora, sei que há um longo caminho pela frente, mas os conhecimentos que estou aprendendo me darão suporte para a prática docente. (estudante do 1º semestre do curso de Pedagogia). Seguindo a linha de reflexão aqui proposta, ao perguntarmos o motivo da escolha do curso de Pedagogia, foi constatado que alguns escolheram por afinidade, outros por falta de opção e outros para dar suporte a sua prática, como observamos nas respostas abaixo: Já ensino á dez anos, a docência realmente é a minha paixão. Pedagogia então foi o curso que sempre quis fazer, me realizo muito com a educação, apesar de todos os problemas que cercam esta área. (estudante do 3º semestre do curso de Pedagogia) Na realidade gostaria de fazer Comunicação Social, mas devido a distância optei por Pedagogia, devido a facilidade e o amplo caminho que a mesma exerce sobre a sociedade. (estudante do 5º semestre de Pedagogia) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Porque eu já atuava na área, então cursar pedagogia iria possibilitar adquirir novos conhecimentos e melhorar minha prática enquanto docente. (estudante do 8º semestre de Pedagogia). Sabemos que a universidade tem papel fundamental na formação do sujeito enquanto pessoa e enquanto profissional. O que não podemos ignorar é que de fato um ensino de qualidade depende desse processo formativo, ao perguntarmos sobre o que os estudantes pensam a respeito dos atuais profissionais da escola pública percebemos que parte dos estudantes que responderam o questionário, tem uma visão negativa desse profissional: Alguns professores da rede pública não assume a profissão que exerce, da forma que deveriam. Colocam o dinheiro sempre em primeiro lugar esquecem que são “espelhos para seus educandos”. (estudante do 5º semestre de Pedagogia) Um pouco despreocupado com o alunado, as aulas são enroladas pela metade não há muita preocupação com o aprendizado nem com a realidade que cada um tem. (estudante do 3º semestre de Pedagogia) Em contrapartida também podemos perceber que alguns deles acreditam sim nesse profissional e que muitas vezes falta apenas o incentivo necessário, como podemos observar nas falas abaixo: Vejo-os como grandes profissionais que lutam diariamente para executar um bom trabalho, apesar das várias dificuldades encontradas em seu dia-a-dia, sabe-se que existem algumas pessoas que não fazem valer a pena a profissão que tem. (estudante do 5º semestre de Pedagogia) O professor da escola pública necessita de incentivo, pois muitos deles exercem a profissão apenas pelo salário, e muitas vezes essa falta de incentivo e de “amor” ao que faz acaba prejudicando o desempenho dos estudantes. (estudante do 1º semestre de Pedagogia). A partir da análise e da reflexão das informações coletadas a luz da realidade atual, notamos que no que diz respeito à profissão docente, torna-se urgente que o currículo do curso de Pedagogia, seja repesando a partir de um novo olhar que contemple a formação desses profissionais da educação. Apesar desse contexto de desencanto, não podemos esquecer dos profissionais que de fato exercem seu trabalho em prol de uma educação pública de qualidade, sobre tudo aqueles que atuam na educação básica. In-conclusões.... Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O estudo possibilitou a ampliação do nosso olhar sobre algumas questões que norteiam a educação, permitindo também com que percebêssemos a importância da pesquisa para nossa formação enquanto estudantes de Pedagogia e futuros educadores. É importante ressaltar que este é um trabalho inconcluso, por se tratar de questões relacionadas á educação, as quais estão em constante mudança, necessitando assim estudos mais profundos a cerca da temática aqui trabalhada como forma de contribuir para efetivação de uma educação de qualidade. Vale lembrar que pela natureza desta produção, por ser um trabalho de pesquisa enquanto metodologias de ensino desenvolvidas num componente curricular não puderam aprofundar o estudo da temática, contudo fica a curiosidade que antes ingênua passou a ser o que Freire (1996) chama de “curiosidade epistemológica” na medida que provocou em nós estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia o desejo de aprofundar nos estudos da temática e nos qualificarmos enquanto futuros profissionais da educação. REFERÊNCIAS AKKARI, Abdeljalil; NOGUEIRA, Natania A. S. O ensino público e a formação de professores no Brasil: na direção de novas reformas curriculares. Práxis Educacional. Revista do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – v. 4, n. 4, jan/jun. vitória da Conquista: Edições Uesb, 2008. ALVES, Rubem. Ao professor com carinho. 10ª Ed. Versus Editora – Campinas, SP, 2010. BRANQUINHO, Livia Alves. A Prática Pedagógica da Educação Atual. Disponível: http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/a-pratica-pedagogica-educacao-atual.htm. Acessado: 12 de julho de 2012. BRASIL,Constituição Federal. Disponível em: (acesso em 10 de abril de 2012, ás 10h26min). www.oab.org.br/ConstituicaoFederal FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários á prática educativa. 37ª edição, São Paulo, Paz e terra, 1996. GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. (orgs.) Autonomia da escola: princípios e propostas. – Ed.6. – São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2004. GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. São Paulo em perspectivas, 2000. Lei de Diretrizes e Bases. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ldb (acesso 09 de abril de 2012, ás 08h37min) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, pra que?. 7ª Ed.- São Paulo, Cortez, 2004. PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. IN: Professor: formação, identidade e trabalho docente. – 7. Ed. – São Paulo: Cortez, 2009. NÓVOA, Antônio. Formação de professores e trabalho pedagógico. EDUCA, Lisboa, 2002. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, Vozes, RJ, 2002. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A função do atendimento educacional especializado dentro do currículo escolar: desafios para a educação inclusiva Margarete Dias de Souza23 RESUMO: A educação especial ainda é algo novo na escola, os estudos sem os resquícios dos preconceitos estão se configurando e mudando a visão dos profissionais da educação baseada na integração para uma abordagem pautada na inclusão. Porém, sabe-se que esse processo de transição não é fácil, pois envolve uma reestruturação curricular, bem como mudanças de pensamento e de atitudes dos educadores. A motivação para o desenvolvimento da pesquisa aqui compartilhada surgiu exatamente ao perceber a dificuldade existente no contexto escolar em incluir, nas suas práticas curriculares, o aluno com necessidades especiais e a importância da Sala de Recursos Multifuncionais para possibilitar essa inclusão. Nesse sentido, partiu-se da necessidade de entender que tanto o aluno, quanto o professor, precisam aprender um com o outro e sensibilizar a todos na comunidade escolar para o entendimento de que é preciso observar as diferenças e atendê-las de forma digna. Em face das crescentes exigências pela implementação da Educação Inclusiva e da urgência de uma “Educação para Todos”, como rege a Constituição Brasileira deve ocorrer uma política de formação continuada e específica para os professores que trabalham com os alunos com necessidades especiais. Sem essa formação, pode se afirmar que os problemas da Educação Especial coincidem com a política neoliberal que se impõe com o império do mercado, cujas leis desconsideram a História, a Política, o Humano e as desigualdades sociais tomando-as simplesmente como naturais, sem, contudo, prover de alguma forma que as oportunidade sejam para todos. Com base no estudo realizado foi possível identificar que para que a inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino se efetive, possibilitando o resgate de sua cidadania e ampliando suas perspectivas existenciais, não basta a promulgação de leis que determinem a criação de cursos de capacitação básica de professores, nem a obrigatoriedade de matrícula nas escolas da rede pública. Estas são, sem dúvida, medidas essenciais, porém não suficientes. É necessário também dentro dessas políticas públicas para a inclusão, programas de formação docente e acompanhamento contínuo, que orientem o trabalho pedagógico na perspectiva da diminuição gradativa da exclusão escolar, o que virá beneficiar, não apenas os alunos com necessidades especiais, mas, de uma forma geral, a educação escolar e a sociedade como um todo. Dessa forma, o Atendimento Educacional Especializado se constitui uma excelente oportunidade para o repensar da escola e do currículo aberto às diferenças. Palavras-chave: Educação Especial. Currículo. Atendimento Educacional Especializado. INTRODUÇÃO Na contemporaneidade novas formas de problematização das práticas em atendimento às especificidades de estudantes com deficiência têm sido teorizadas com vistas a contribuir para a tão sonhada inclusão escolar. Nesse sentido, o presente artigo visa apresentar resultados teóricos da pesquisa monográfica intitulada “A função do atendimento educacional especializado dentro do contexto escolar” que teve por objetivo refletir sobre como acontece o Atendimento Educacional Especializado, o funcionamento 23 Pedagoga. Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professora da Escola Municipal Dr. Colbert Martins da Silva – Feira de Santana/BA. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 da Sala de Recursos, as atribuições do professor e qual a importância desse atendimento para os alunos com necessidades especiais, que até então, estavam distantes do contexto escolar, bem como de um currículo adaptado para um atendimento específico. Com a pesquisa foi possível identificar que o atual contexto escolar demonstra que apesar de todas as políticas públicas em torno da inclusão, ainda existe uma enorme distância entre o que está escrito na lei e o que acontece no contexto escolar. Não é fácil quebrar velhas prática arraigadas durante séculos de história. Por isso, o presente trabalho pretende ser um momento de reflexão para se pensar como quebrar essas velhas práticas curriculares e de como criar novas em que o preconceito seja visto por todos os personagens do cenário escolar, permitindo dessa forma que se faça uma análise dos fazeres diários orientados por um currículo que deixe de lado as práticas da exclusão. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E O CURRÍCULO A nomenclatura “Necessidades Educacionais Especiais” foi adotada pelo Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica (Resolução nº 2, de 11-9-01, com base no Parecer CNE/CEB nº 17/2001, homologado pelo MEC em 15-8-01) (SASSAKI, 2003), pois antes da data, acima citada, educação especial era destinada especificamente ao atendimento de alunos que apresentavam deficiências (mental, visual, auditiva, físicomotoras e múltiplas); comportamentos típicos de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos e também de alunos que apresentavam altas habilidades/superdotação. Porém, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial (BRASIL, 2001) trouxeram no seu bojo motivos para muitas reflexões, pois lançam um novo conceito para a Educação Especial dando-lhe uma nova perspectiva: Entende-se que todo e qualquer aluno pode apresentar, ao longo de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional especial, temporária ou permanente, vinculada ou não aos grupos já mencionados: 1. Educandos que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 1.1. Aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específicas; 1.2. Aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 2. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, particularmente alunos que apresentam surdez, cegueira, surdo-cegueira ou distúrbios acentuados de linguagem; 3. Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que o leve a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes (BRASIL, 2001). Na esteira de determinações legais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira nº 9.394/96, no artigo 59 estabelece que os sistemas de ensino devem garantir aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; também assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em decorrência de limitações impostas pelas deficiências; e assegura aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar. A Constituição Federal brasileira de 1988, no artigo 208; inciso III garante a educação como direito de todos e o Decreto nº 6.949/2009, que ratifica a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência (ONU/2006), assegura o direito de pleno acesso à educação em igualdade de condições com as demais pessoas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a Educação Especial passe a assumir a configuração de modalidade de ensino, contudo ela não substitui a educação promovida na modalidade de classe comum. Quando a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) estrutura a Educação Especial como complemento ou suplemento para a formação do aluno com necessidades especiais em turno oposto a classe comum não afastar dele o direito de ter acesso ao currículo escolar adaptado a essas necessidades , possibilitando o grande salto na perspectiva de fazer uma educação inclusiva de maneira efetiva. Oferecer um Atendimento Educacional Especializado (AEE) no sentido mais simplificado da interpretação hermenêutica da palavra atendimento significa dar atenção, observar. Portanto, prestar um atendimento especializado é dar atenção observando e atentando de maneira específica para apoiar nas necessidades do aluno através de estratégias e procedimentos especiais e individualizados complementares ou suplementares dando-lhe suporte para permanecer e ter êxito nas classes comuns num sistema integral e bem articulado de atendimento e não mais num sistema paralelo desvinculado do contexto escolar. O AEE não é um trabalho desenvolvido com conteúdo que o aluno não aprendeu em sala de aula, como pensam equivocadamente alguns professores. Batista (2006) alerta para a questão de que “[...] o atendimento educacional [...] refere-se à forma pela Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 qual o aluno trata todo e qualquer conteúdo que lhe é apresentado e como consegue significá-lo, ou seja, compreendê-lo. (BATISTA, 2006, p. 19).” Portanto, Atendimento Educacional Especializado tem como fundamento trabalhar, dentro do currículo, os processos mentais superiores (capacidade de identificação, diferenciação, representação mental, comparação, codificação, decodificação, observação, interpretação, análise, síntese, inferência lógica, raciocínio lógico) com o objetivo de desenvolver esquemas mentais superiores elaborados que transformem informações em conhecimento aplicado. Na perspectiva curricular o aluno com necessidades especiais precisa ter acesso aos conhecimentos como qualquer outro de sua série nas classes comuns. No entanto, o que deve ser observado são as estratégias e mecanismos que serão utilizados para que o aluno se aproprie desses conhecimentos dando-lhe igual oportunidade de aprender como e junto aos demais. Goes (2002, p. 100) faz a seguinte consideração [...] a educação de pessoas com deficiência deve voltar-se para a construção das funções mentais superiores [...] O funcionamento superior está secundariamente ligado ao fator orgânico e depende das possibilidades de compensação concretizado pelo grupo social. A instituição escolar precisará ter um currículo que possibilite uma avaliação que deverá ser interpretada de acordo com a sua verdadeira razão de existir do avaliar: momento de diagnóstico para verificar o que o aluno aprendeu e o que o professor não conseguiu ensinar, revendo a prática, retomando o que ficou truncado, com o objetivo individualizar as ações para alcançar aqueles que precisam de mais tempo, estratégias especificas para atender às suas dificuldades para tornar acessível o aprender e o aprender a aprender. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva (BRASIL, 2008) estabelece que com relação processo de avaliação que: [...] No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação de tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana (BRASIL, 2008, p. 16). O AEE caracteriza-se como um trabalho integrado ao currículo escolar organizado pedagogicamente com o objetivo específico de atendimento dos alunos que apresentam necessidades especiais educacionais como: deficiência intelectual, surdez, deficiência física, transtornos globais, superdotação e altas habilidades, cegueira e baixa visão. O Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 atendimento educacional especializado é obrigatório do sistema de ensino, contudo participam desse atendimento apenas os alunos que apresentam necessidades especiais e querem o atendimento. Deve-se entender que o atendimento é um momento de complementação ou suplementação pedagógica, sem afastar do aluno o direito de freqüentar e ser escolarizados nas classes comuns junto aos colegas de sua idade. A Secretaria de Educação Especial, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais direciona as ações para adaptações curriculares com o intuito atender às diferenças e as especificidades dos alunos com necessidades especiais, propondo adequações curriculares e pedagógicas que atendam a proposta da Constituição Federal de educação para todos. As adaptações curriculares podem ocorrer tanto nos aspectos pedagógicos quanto físicos. Modificações para retirada de obstáculos como degraus e outros impedimentos arquitetônicos e a construção de adaptações que facilitem o acesso à sala de aula, como a construção de rampas e outros instrumentos que possibilite a acessibilidade de pessoas com limitações físicas, são um exemplo de que as mudanças para incluir são possíveis e que não exigem muitos gastos. Para as adaptações pedagógicas são necessárias investimentos na formação do professor capacitando-o para elaboração e efetivação de um currículo que contemple a diversidade, portanto aberto para constantes adequações, do projeto político pedagógico, planejamento anual, planejamento diário com objetivos, atividades e avaliações que visualizem e atendam a todos, respeitando as limitações e especificidades de cada aluno, não só daquele que apresente necessidades especiais. Uma concepção de aprendizagem de fato includente deve ser embasada pela reflexão crítica sobre as práticas excludentes dentro da escola em todas as suas faces. Martins (1997) coloca o indivíduo da exclusão como uma vítima dizendo que: Uma alternativa de fato includente impõe a necessidade de criticar, de recusar e resolver a excludência social; que a exclusão não se explica apenas pelo fenômeno em si, mas também, e, sobretudo, pela interpretação que ele faz da vítima (MARTINS, 1997, p. 21). Ainda no que tange as determinações legais, o Conselho Nacional da Educação na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determina que: Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Cercando de todos os lados possíveis o processo de ensino e aprendizagem através de um currículo que inclua o aluno na classe regular dando-lhe a oportunidade de ter acesso aos conhecimento como os demais e de uma avaliação sem os resquícios do tradicionalismo excludente se concretizará uma educação para todos. A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: possibilidades para o (re) pensar do currículo escolar A Sala de Recursos é o espaço onde se concretiza o atendimento educacional especializado dentro da escola. Espaço onde o que era apenas imaginação começar a tomar forma, estrutura. Este é o lugar na Educação brasileira em que a inclusão toma os rumos do acontecer. Essa conquista foi resulto de uma luta que apenas está começando. Fávero afirma que: Cada vez mais movimentos sociais, os pais de crianças com deficiência, os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, vêm se dando conta do quanto às escolas brasileiras são discriminatórias, especialmente em relação aos alunos com deficiência, e que é preciso encontrar alternativas para melhoria da qualidade de ensino para todos, sem exclusão. (FÁVERO, 2007,p. 20) A intenção do surgimento da Sala de Recursos nos meados dos anos 70 era proporcionar aos alunos com necessidades especiais, terem as necessidades atendidas dentro da escola possibilitando-lhes o desenvolvimento de suas atividades nas classes comuns tendo esse suporte de atendimento especial, contudo esse trabalho era voltado para os alunos considerados educáveis, os demais ficavam excluídos do processo. Neste período, portanto a Sala de Recursos era utilizada como um auxílio para reforçar o programa escolar dos alunos deficientes (BRASIL, 1979, p7 apud OLIVEIRA, 2004). A Declaração de Salamanca (1994) é o marco que quebra a ideia e prática preconceituosa de que as diferenças não podem conviver, pois traz a forte discussão de que todos, independentes das suas diferenças, deverão aprender juntos, em um mesmo ambiente, com condições iguais e atendendo as características que individualizam cada ser. Essa ideia preceitua o principio da igualdade real que segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, impõe que se tenha tratamento desigual para os desiguais, justamente para que suprida as diferenças e se atinja a igualdade substancial. . Segundo Carvalho apud Glat (2007), os sujeitos que necessitam da inclusão... Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 .são todos: os que nunca estiveram em escolas, os que lá estão experimentam discriminações, os que não recebem as respostas educativas que atendam às suas necessidades, os que enfrentam barreiras para a aprendizagem e para a participação, os que são vítimas das práticas elitistas e injustas de nossa sociedade, os que apresentam condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas ou com quadros psicológicos graves (Glat, 2007,p.165). Atualmente começa a se clarificar na instituição escolar e no currículo qual é o lugar da Sala de Recursos Multifuncionais – trabalho pedagógico especializado, com espaço próprio e materiais pedagógicos adequados às necessidades especiais do aluno, com atendimento em horário oposto ao horário das classes comuns, onde os alunos são atendidos individualmente ou em grupos com necessidades educacionais semelhantes. E que tem como objetivo de complementar ou suplementar a educação destes, instrumentalizando-os nos aspectos físicos e cognitivos, trabalhando as funções mentais superiores no intuito de atender as necessidades especiais e desenvolver o potencial junto aos demais alunos nas classes comuns diminuindo suas limitações e dando-lhe uma vida com autonomia. No que diz respeito ao trabalho do professor com o aluno com necessidade especial, esse muitas vezes não flui porque não basta que uma proposta se torne lei para que a mesma seja imediatamente aplicada. Entre as barreiras que impedem a inclusão, a principal, sem dúvida, é o despreparo dos professores para receber em suas salas alunos com necessidades específicas. O professor na Sala de Recursos tem a possibilidade, devido as característica de atendimento de estar fazendo as articulações entre o trabalho em sala comum e a dificuldade apresentado pelo aluno com relação ao acesso aos conhecimentos, facilitando esse acesso. A Sala de Recursos exige preparo do professor que deve ter graduação, pósgraduação ou curso de formação nas áreas específicas de Educação Especial, porque segundo Alves: [...] No atendimento é fundamental que o professor considere as diferentes áreas do conhecimento, os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimentos cognitivo do aluno, o nível de escolaridade, os recursos específicos para a sua aprendizagem e as atividades de complementação e suplementação curricular. (ALVES, 2006, p 14). Além de uma formação específica e continuada é necessário que o professor da Sala de recursos seja um pesquisador, pois, é através da pesquisa que o seu trabalho Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 percorrerá caminhos sólidos. Os conhecimentos precisam ser organizados, os saberes diários precisam ser sistematizados e utilizados para reflexão do grupo, é preciso pensar sobre o “fazere” e fazer a partir do que foi pensado cientificamente. Pesquisar enriquece o fazer diário, porque é nas reflexões, no levantamento de questionamentos que se embasa o trabalho do professor, evitando a mediocridade do fazer mecânico. É preciso pesquisar e refletir sobre a realidade posta, quem a compõe, o que precisa ser mudado para que se possa tomar decisões significativas e planejadas, embasadas num referencial teórico. A formação do professor sempre tendeu privilegiar uma concepção estática do processo de ensino-aprendizagem que trouxe como fundamento básico a existência de uma metodologia de ensino única e que seria comum a todas as épocas e a todas as sociedades em que se acreditava ( e alguns ainda acreditam), que todos os alunos são iguais que se igualam até na forma de aprender. E por muito tempo acreditou-se também que havia um processo de ensino-aprendizagem padrão para todos os sujeitos, e aqueles que apresentassem algum tipo de dificuldade era por terem alguma deficiência. Esta concepção de normalidade acabou por gerar dois tipos de processos de ensinoaprendizagem: um para os alunos que estão dentro das normas e os que não se enquadram nessa norma, que são os especiais. Neste contexto, o currículo, o projeto político pedagógico, o planejamento, o processo de avaliação e a prática pedagógica do professor, estão impregnados pela concepção, que hoje é vista como preconceituosa excludente, mas por muito tempo foi tomada cientificamente como a verdadeira que é a de que existem duas espécies de alunos: os normais que podem freqüentar a escola e aprenderão sem apresentar dificuldades e os anormais que eram chamados de “excepcionais”. Tais alunos são o público da Educação Especial e eram atendidos em instituições especializadas, o que os mantinha longe do contexto escolar, sendo o seu direito de terem o acesso aos conhecimentos sistematizados e aos bens culturais oferecidos pela sociedade, retidos deles. Os cursos de graduação que habilitam o professor para o exercício do magistério já estão se preocupando em trazer entre as suas disciplinas algumas específicas da educação inclusiva para que os professores se familiarizem, compreendam e respeitem a diversidade. Uma importante tendência tem surgido na concepção de formação dos professores, que é a “formação in locu”. Essa nova proposta de aperfeiçoamento possibilita ao professor uma discussão com base na realidade diária de sua prática Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 permitindo o movimento dialético de ação- reflexão- reflexão-ação. Outro fator importante para formação do professor da Sala de Recursos são os conhecimentos no campo da Tecnologia Assistiva e suas modalidades: Comunicação aumentativa e alternativas acessíveis, informática acessível, recursos pedagógicos acessíveis, Sistema Braille, técnicas do sorobã, produção de materiais ampliados e alto relevo, Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa na modalidade escrita para alunos com surdez, atividades cognitivas, aprofundamento e enriquecimento curricular, estimulação precoce, atividade de vida diária, entre outros. De acordo com a Secretaria de Educação Especial (MEC,2006, p. 20) os professores de Sala de Recursos Multifuncionais têm as seguintes atribuições: ...atuar como docente nas atividades de complementação ou suplementação curricular específica que constituem o Atendimento Educacional Especializado; atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno ao currículo e a sua interação no grupo; promover as condições para inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais em todas as atividades da escola; orientar as famílias para a participação no processo educacional; informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes sobre inclusão; preparar material específico para uso dos alunos na sala de recursos; participar dos processos de identificação e tomada de decisões acerca do atendimento às necessidades educacionais dos alunos; orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos alunos nas classes comuns; articular com gestores e professores para que o projeto pedagógico da instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva; participar das reuniões pedagógicas do planejamento, dos conselhos de classe, da elaboração do projeto pedagógico, desenvolvendo ação conjunta com os professores das classes comuns e demais profissionais da escola para promoção da inclusão escolar. O tipo de formação e requisitos para a docência na Sala de Recursos Multifuncionais ainda não está legalmente definida de maneira clara na lei maior que rege a educação brasileira que é a LDB. Cada realidade, em diferentes locais do Brasil tem adotado critérios diversificados de exigência para atuação desse profissional na Educação Especial, mas não especificamente para a regência na Sala de Recursos Multifuncionais. As exigências para a formação têm variado nos diferentes estados, sendo as vezes exigências genéricas, até requisitos bastante específicos para cada deficiência. Um bom exemplo é o estado de Goiás, que recomenda que os cursos superiores de formação de professores deverão oferecer informações gerais sobre vários tipos de deficiência e aborda aspectos e concepções da educação para diversidade, sem especificar, entretanto se tratar do professor especializado ou do professor do ensino regular. Alguns estados Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 explicitam um pouco mais detalhadamente o significado dessa capacitação, contudo, na prática, não existe regulamentação para concursos público para esses profissionais e especialistas. Na cidade de Feira de Santana os professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais estão fazendo ou já têm pós-graduação em Educação Especial ou área afins e participam mensalmente de formação continuada promovida pela Divisão de Ensino Especial da Secretaria Municipal de Educação em reuniões em que partilham as suas experiências diárias do fazer pedagógico das unidades escolares em que atuam. O estado que mais desenvolveu políticas para uma efetiva formação continuada e especifica dos professores para a Educação Especial foi o Rio Grande do Sul em que a formação organiza-se dando suporte às escolas, na formação continuada dos professores e na valorização remunerada daqueles que se dedicam a formação. CONSIDERAÇÕES FINAIS A realidade atual demonstra que ainda será um preciso uma longa caminhada de convencimento dos profissionais de educação para a urgência no atendimento dos alunos especiais. Seu tempo e espaço na escola precisam ser garantidos e respeitados. As velhas práticas de deixá-los para depois, quando não houver outras coisas consideradas mais importantes para fazer, precisará acabar, porque a educação contribui para a formação das pessoas com deficiência permitindo-lhe apropriar-se da cultura escolarizada. As deficiências intrigam a vida cotidiana e chamam a atenção da escola, não somente com relação aos alunos que necessitam de atenção especial, como também daqueles que poderão eventualmente apresentar dificuldades na aprendizagem decorrente de problemas de saúde ou provocada pelo meio social e econômica a que pertencem. Para que a inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino se efetive, possibilitando o resgate de sua cidadania e ampliando suas perspectivas existenciais, não basta a promulgação de leis que determinem a criação de cursos de capacitação básica de professores, nem a obrigatoriedade de matrícula nas escolas da rede pública. Estas são, sem dúvida, medidas essenciais, porém não suficientes. Será necessário também dentro dessas políticas públicas para a inclusão, programas de capacitação e acompanhamento contínuo, que orientem o trabalho docente e um currículo adaptado para promover um ambiente favorável física e pedagogicamente Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 preparado para reduzir as limitações impostas pelas deficiências o que resultará na diminuição gradativa da exclusão escolar, beneficiando não apenas os alunos com necessidades especiais, mas a todos. REFERÊNCIAS ALVES, Denise de Oliveira. Sala de recursos multifuncionais: espaço para atendimento educacional especializado. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006. BATISTA, Cristina Abrancha da Mota. Educação inclusiva: atendimento educacional especializado para deficiência mental. 2. ed. Brasília: MEC, SSESP. 2006. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei nº 10.098 de19 de dezembro de 2000. Disponível em <http://www.planalto.gov.br BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília; MEC/SEESP,2008.Disponível em<http://www.educacaoonline.pro.br BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília: MEC-SEESP Secretaria Especial,2001. Disponível em <http://www.portal.mec.gov.br de Educação BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Salas de Recursos Multifuncionais: espaço para atendimento educação especializado. Brasília: 2006. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 17ed. São Paulo: Saraiva, 1997. FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga et. al. Atendimento educacional especializado: aspectos legais e orientação pedagógica. São Paulo: MEC-SEESP Secretaria de Educação Especial, 2007. GLAT, Rosana (org) Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2007. GÓES S., M. C.R. Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e educação: contribuições da abordagem cultural. In OLIVEIRA, m. k. ; Souza, d. t. ; REGO, T. C. (Orgs.). Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002. MARTINS, José de Souza. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo, 1997. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos surdos. Brasília: MEC, 2006. RIO GRANDE DO SUL (Estado). CEE. Coletânea de atos normativos decorrentes da Lei federal n. 9.394/96 – LDB federal e estadual. Porto Alegre: Atual, 2002. SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA,2003. UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE, 1994. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O ensino da música na Educação Infantil: Desafios após promulgação da Lei Nº 11.769/08 Siméia Almeida Souza24 Lilian Miranda Bastos Pacheco25 RESUMO: A música tem figurado em políticas educacionais adotadas no Brasil como importante área do conhecimento a ser trabalhada na Educação Infantil, entre elas a Lei Nº 11.769/08 que trata da obrigatoriedade de sua inserção no currículo da Educação Básica. Esse novo contexto evidencia importante questão: a música torna-se componente curricular obrigatório, entretanto nem todos os professores e escolas estão preparados para implementá-la. Baseando-se no papel que ela pode desempenhar na formação das crianças e das experiências musicais dos professores que trabalham com estes sujeitos, a presente pesquisa buscou investigar a formação musical na formação inicial do professor unidocente, e como esta se reflete no currículo e na prática pedagógica da Educação Infantil em uma instituição pública no município de Feira de Santana. Esta pesquisa se configurou como um Estudo de Caso. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica e documental, com investigação a decretos, leis e publicações que tratam das concepções e regulamentações do ensino de música; nos portais das universidades públicas da Bahia com pesquisa ao currículo de formação do pedagogo; de questionário, realizado com professores da Educação Infantil; e de entrevista estruturada, realizada com coordenadoras pedagógicas da referida instituição. Organizou-se estes dados em torno dos seguintes eixos: a importância da música; o ensino de música na Educação Infantil; a Educação Musical na formação inicial dos professores unidocentes; e por fim, informações acerca do ensino de música na instituição pública investigada. A pesquisa verificou que a música está presente nas práticas pedagógicas de todas as professoras investigadas, no entanto nenhuma delas trabalha com conhecimentos específicos musicais, tampouco teve formação para isso em seu curso de formação inicial. Pôde-se verificar também a ausência de profissional de Educação Musical e a falta de condições para implementação da lei supracitada. Palavras-chave: Educação Musical; Educação Infantil; formação docente. Introdução A música, sob diversas formas, sempre foi uma constante na vida do ser humano e possui uma íntima relação com vários aspectos da atividade humana. Em virtude disso o comportamento musical humano tem sido alvo de inúmeras pesquisas (ÁLVARES, 2005; SLOBODA, 2008). No âmbito da Educação Musical, desde final do século XIX, há a contribuição de diversos autores no desenvolvimento de ideias e propostas de sistematização desta, com especial atenção voltada às crianças pequenas (BRITO 2003; GAINZA, 1988). A Educação Musical tem figurado também em algumas políticas educacionais adotadas no Brasil. No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 24 Pedagoga e estudante de Bacharel em Música. É professora de Musicalização Infantil nas escolas Despertar e Primeiros Passos. [email protected] 25 Professora Doutora da Universidade Estadual de Feira de Santana. [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 1998, vol3) a linguagem musical aparece como uma das áreas de conhecimento mais importantes de serem trabalhadas. Um destaque deve ser dado para a promulgação da Lei Nº 11.769, sancionada em agosto de 2008, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) tornando obrigatória a inserção da música no currículo da Educação Básica em todo Brasil. A publicação dessa lei inaugura um novo contexto de reconhecimento do papel da música na formação do sujeito, assim como passa a haver uma demanda expressiva para o ensino da Educação Musical. Em virtude disso, vários autores, como Bellochio e Furquim (2008), Aquino (2008), Diniz e Ben (2006) e Figueiredo (2004), entre outros, tem dissertado acerca da formação/ação do professor que irá lecionar esse conteúdo. Assim, com base no papel desempenhado pela música no desenvolvimento da criança e das experiências e fomação musicais dos professores que trabalham com estes sujeitos, a presente pesquisa buscou investigar a formação musical na formação inicial do professor unidocente egresso de universidades públicas da Bahia, e como esta formação se reflete no currículo e na prática pedagógica da Educação Infantil. O procedimento metodológico adotado, além da revisão bibliográfica, foi o estudo de caso realizado em um estabelecimento público de Educação Infantil no município de Feira de Santana. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica e documental, com investigação a decretos, leis e publicações que tratam das concepções e regulamentações do ensino de música; nos portais das universidades públicas da Bahia com pesquisa ao currículo de formação do pedagogo; e de questionário e entrevista estruturada realizados, respectivamente, com professoras e coordenadoras pedagógicas da Educação Infantil na instituição investigada. Importância da música A principal razão pela qual muitas pessoas se envolvem em atividades musicais, é que elas têm a capacidade de despertar emoções profundas e significativas. Considerando que muitas atividades musicais são também atividades sociais, a música pode proporcionar uma série de retornos sociais para aqueles que delas participam (SLOBODA, 2008). Pesquisas nas últimas décadas têm confirmado a influência dessa linguagem no desenvolvimento do sujeito, especialmente da criança (NOGUEIRA, 2008; HOWDARD, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 1984; GAINZA, 1988; SLOBODA, 2008). Elas sinalizam que as atividades de escuta, memorização, criação e reação à música são aprendidas e têm importante papel no desenvolvimento do sujeito e, logo, no processo ensino/aprendizagem, assim como nos múltiplos aspecto humanos, como o emocional, social, fisiológico e cognitivo. Por isso, a música é um elemento que pode enriquecer o processo educacional, estimulando a aquisição de novos conhecimentos (CORREIA, 2010; ÁLVARES, 2005). Outro dado importante é que as experiências rítmicas musicais que permitem uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) favorecem o desenvolvimento dos sentidos da criança (NOGUEIRA, 2008). Há pesquisas ainda que relacionam a música à aquisição de outras habilidades, como a linguística. O que estudos têm demonstrado é que os elementos da música (rítmicos e melódicos) atuam nos aspectos cognitivos e criativos do sujeito, podendo favorecer a aquisição de vocabulário, a aprendizagem da leitura e a produção de textos no processo de alfabetização (VIEIRA e LEÃO, 2003), já que propicia o aparecimento de situações problema, propondo novas formas de utilização e manuseio da linguagem. Outro aspecto relevante está relacionado à presença da música como experiência estética. De acordo com Snyders, A alegria da comunicação musical é que ela pode abrir-me um caminho de beleza que me permite sair verdadeiramente de minhas ruminações interiores. Quando escutamos juntos uma mesma página musical, pressinto que cada um de nós a incorpora de modo único (1997, pg.91). O ensino da música destina-se a fazer com que as pessoas encontrem nela mais alegria ao entrar em contato com as diferentes obras e experiências musicais. Assim, as pesquisas e autores apontados legitimam a presença da música na educação e sua importância no processo de formação do sujeito. O ensino de música na Educação Infantil: do século XX ao contexto atual Para compreender a conjuntura atual quanto à presença da música na escola farse-á um resgate histórico a partir do século XX,quando, na década de 1930 a inserção da música tornou-se de cunho obrigatório no formato de canto Orfeônico (1931). Mais tarde, na década de 1960, foi substituído pela Educação Musical. Em 1971, por meio da Lei N° 5692, a Educação Musical foi substituída pela disciplina de Educação Artística, que abrangia todas as modalidades artísticas do currículo. Desde então, essa prática da Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 polivalência para as artes permitiu o predomínio das artes plásticas, o que gerou o esvaziamento dos conteúdos da linguagem musical e “contribuiu (também) para a pouca presença de professores com habilitação em música nas escolas” (PEREIRA e FIGUEIREDO, 2010, pg.314). No momento atual do ensino de música na escola, a promulgação da Lei Nº 11.769/08 é de grande relevância por torná-la novamente obrigatória. No âmbito da Educação Infantil, é importante mencionar o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI – BRASIL, 1998, vol.1, 2 e 3), que apresenta orientações para o ensino desse nível da Educação Básica no Brasil. O documento prevê que o processo educativo deve proporcionar à criança situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que contribuam para o desenvolvimento de suas diversas capacidades. Define ainda os seguintes conhecimentos que devem ser desenvolvidos na Educação Infantil: Identidade e autonomia, Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade e Matemática. Neste documento há a concepção de música como linguagem e forma de conhecimento que tem estrutura e características próprias, devendo ser trabalhada baseando-se nos aspectos de produção, apreciação e reflexão. Alguns objetivos que o trabalho com esse conhecimento deve proporcionar são: (...) ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos; brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais; (...) explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento do mundo (RCNEI - BRASIL, 1998, vol.3 pg.55). O documento orienta ainda que sejam contemplados os seguintes conteúdos: (...) a exploração de materiais e a escuta de obras musicais (...); a vivência da organização dos sons e silêncios em linguagem musical pelo fazer e pelo contato com obras diversas; a reflexão sobre a música como produto cultural (...) (RCNEI BRASIL, 1998, vol.3 pg.57). Essas orientações quanto aos objetivos e conteúdos específicos do ensino da música, no contexto de boa parte das escolas, especialmente as públicas, não são efetivadas. Tal situação culmina em uma prática musical insuficiente, que dificilmente oferece às crianças a oportunidade de lidar com essa linguagem propriamente e com seus elementos. Ainda nessa perspectiva, segundo Loureiro, O ensino de música como disciplina inserida no currículo da escola fundamental apresenta-se hoje como uma área de conhecimento em que a diversidade de funções e a variedade de abordagens impedem a construção de uma prática educativa democrática, abrangente e formativa (LOUREIRO, 2003, pg.24). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Tal afirmação evidencia que na realidade brasileira o ensino de música ainda não apresenta um direcionamento que lhe dê identidade de saber escolar e que contribua, de modo sistematizado e intencional, para formação musical dos sujeitos. A aprovação da Lei Nº 11.769, em 2008, ainda não promoveu mudanças significativas. Algumas causas apontadas são o número reduzido de professores habilitados para trabalhar com o ensino desta área; a existência de poucas instituições para formação em licenciatura musical; a falta de conhecimento acerca do sentido e da importância da música para a formação do sujeito, especialmente no âmbito da escola, local privilegiado de formação; e, por fim, a falta de preparo dos professores unidocentes para trabalhar com este conhecimento. Inúmeras pesquisas apontam este dado (BELLOHIO e FURQUIM, 2008; AQUINO, 2008). A Educação Musical na formação inicial dos professores unidocentes O documento supracitado (RCNEI - BRASIL, 1998, vol1), apresenta ainda orientações para a formação do professor da Educação Infantil. De acordo com ele, as especificidades da infância exigem que o professor tenha uma competência polivalente, cabendo-lhe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas. Tal caráter demanda deste professor uma formação ampla que o capacite a lidar com as diversas formas de conhecimentos. De acordo com o Art.62 da LDB (BRASIL, 1996), a formação mínima para o profissional da Educação Infantil é a modalidade de Ensino Normal ou ainda a Licenciatura em graduação plena. Assegura ainda no Art.61 que esta formação deva propiciar o conhecimento das competências do trabalho docente para atender às especificidades e aos objetivos do exercício de suas atividades, o que inclui a música, como prevê o RCNEI (BRASIL, 1998, vol1). Quanto a isso, pesquisas de autores como Loureiro (2003), Bellochio e Furquim (2009) e Figueiredo (2004), dentre outros, afirmam que são poucas as escolas públicas que contemplam a música enquanto componente curricular. Uma das principais causas apontadas é a ausência de professores especialistas. Além disso, no caso específico da Educação Infantil, a principal causa apontada é a pouca atenção dada à formação musical dos professores unidocentes em suas matrizes curriculares de formação inicial. Essa Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 situação não permite uma sólida formação musical que embase uma prática docente eficaz, criando um claro paradoxo entre a pequena atenção dada à música na formação inicial do pedagogo e a frequente utilização que este profissional faz de recursos musicais em sua prática (AQUINO, 2008). Para compreender a situação dos currículos de formação de professor na Bahia, esta pesquisa investigou as seis universidades públicas existentes no estado, sendo duas federais e quatro estaduais. A pesquisa averiguou nos portais eletrônicos de cada uma das seis instituições mencionadas a existência da música enquanto componente curricular nos cursos de Licenciatura em Pedagogia. Não foi possível coletar os dados de uma das instituições (uma das federais) visto que a grade curricular do curso de Pedagogia não estava disponível no portal da mesma na data da coleta de dados. A partir das informações obtidas, verificou-se que em todas as instituições averiguadas, há a presença na disciplina Arte e Educação, ora como componente obrigatório na formação básica, ora como disciplina optativa. Foram analisadas as ementas desta disciplina em todas as universidades onde ela aparecia, e verificou-se que em todas havia uma abordagem muito genérica. A pesquisa verificou ainda que não há nenhuma referência à Educação Musical propriamente, enquanto disciplina no currículo obrigatório dos cursos de Pedagogia nas universidades públicas da Bahia. A música enquanto Educação Musical ou trabalhando seus fundamentos aparece apenas em duas das universidades pesquisadas como componentes optativos. Os dados apontam que a ausência ou insuficiência da formação musical dos professores unidocentes têm culminado em embasamento insuficiente para o desenvolvimento de práticas propriamente musicais, que contemple os conteúdos e conhecimentos específicos dessa área do saber. Esse resultado coaduna com os resultados de pesquisas em outras partes do Brasil, como as de Bellochio e Furquim (2008) e de Aquino (2008). O ensino de música em uma instituição pública: resultado da pesquisa A pesquisa de campo foi realizada em uma instituição educacional pública que atende a Educação Infantil, do município de Feira de Santana e vinculada a uma instituição de ensino superior. Este local foi escolhido por ser um estabelecimento de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 referência para a comunidade que a circunda. Havia uma expectativa de que estivesse em situação melhor de atendimento no que diz respeito à inserção da música no currículo educacional. Os dados coletados por meio dos questionários e entrevistas com as professoras e coordenadoras pedagógicas trouxeram informações sobre seus perfis pessoal/profissional; sobre a estrutura e funcionamento da instituição; informações referentes ao planejamento do ensino, aos documentos educacionais e a presença da música nestes. Foram coletados ainda dados acerca de como a música e os conteúdos musicais estão inseridos na prática pedagógica, e quais as concepções que estas profissionais têm sobre as contribuições da música. Foram entregues quinze questionários pela pesquisadora, mas apenas quatro deles foi devolvido. Verificou-se que duas das professoras são licenciadas em Pedagogia e as outras duas em Letras. Nenhuma delas tem pós-graduação. Apenas uma das professoras afirmou ter tido acesso a alguma disciplina de música na graduação, embora não fosse voltada para Educação Musical. As demais informaram que em seu curso de formação inicial não tiveram nenhuma disciplina de formação para o trabalho com música ou Educação Musical na Educação Infantil e/ou Básica. À parte isso, todas as professoras afirmaram contemplar o trabalho com música no planejamento pedagógico do seguinte modo: nos momentos da rodinha; em atividades que trabalham coordenação motora; em projetos interdisciplinares; e com cantigas de roda. Essas informações apontam certo predomínio da prática do canto e da utilização da música para outros fins em detrimento de um trabalho com os conteúdos propriamente musicais. Destaca-se que a música é uma linguagem que possui características estruturais próprias: como melodias, harmonia, ritmo. Além disso, o processo de iniciação musical da criança, que é o que o RCNEI (BRASIL, 1998, vol3) propõe quando define a música como um dos eixos de trabalho na Educação Infantil, deve ter como objetivo, (...) despertar o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, da memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e movimentação (CHIARELLI, 2005). A pesquisa verificou que essas orientações não são contempladas pelas professoras. O ensino musical proposto no planejamento o é de modo limitado pela falta de intencionalidade. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A pesquisa verificou falta de intencionalidade e certa limitação na forma como as atividades musicais são inseridas no planejamento, e que as orientações acima mencionadas não são contempladas pelas professoras. Quanto às concepções que professoras e coordenadoras pedagógicas têm sobre as contribuições da música, os argumentos surgidos foram: a utilização da música estimula a criança a trabalhar em equipe; proporciona o envolvimento das crianças na atividade realizada; contribui para o desenvolvimento da oralidade, da expressividade, da socialização; possibilita que a criança demonstre suas habilidades e talentos; estimula a desinibição, a criatividade; auxilia no trabalho (docente) e movimento e expressão corporal; permite o acesso à cultura musical e aumento da sensibilidade. Tais concepções têm algum amparo teórico, já que autores como Gainza (1988) e Snyders (1997) discorrem sobre isso, todavia não dão conta de amparar uma prática pedagógica com música de modo intencional, atendendo aos objetivos, metodologias e conteúdos próprios do ensino dessa área. Quanto às entrevistas realizadas com as duas coordenadoras pedagógicas da instituição, revelaram que são graduadas em Licenciatura em Pedagogia. Uma delas tem especialização em Supervisão Escolar e a outra em Supervisão Escolar e Educação Especial. Apenas uma delas teve acesso a uma disciplina de musicalização no rol dos componentes curriculares obrigatórios em sua formação inicial. Segundo ela, nesta disciplina discutia-se a importância da musicalização infantil e proporcionava o resgate de canções tradicionais. Assim como as professoras, verificou-se que as coordenadoras tiveram uma instrução musical insuficiente. Esse tipo de formação se reflete nas práticas pedagógicas desenvolvidas na escola no tocante à música, assim como nos documentos educacionais. A pesquisa verificou a existência de dois documentos educacionais na instituição: o Regimento Interno e o Projeto de Implantação. Ambos trazem orientações burocráticas acerca da organização e funcionamento da mesma. Não foi encontrado uma Proposta Pedagógica formalizada e documentada, embora esta seja uma orientação do Art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Por meio da entrevista e o acesso aos documentos supracitados, verificou-se que o trabalho com música ainda não aparece em nenhum dos documentos institucionais. Uma das coordenadoras informou que irá aparecer no Projeto Político Pedagógico, que ora está em construção. Essa realidade coaduna com grande número das instituições Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 escolares em todo o Brasil, visto que “poucas escolas incluem em seu currículo a disciplina de música” (LOUREIRO, 2003, pg.21). Pôde-se verificar também que atualmente não há profissional da área de música nesta instituição. Há dificuldade em encontrá-lo. Outros entraves para a implementação da Lei Nº 11.769/08, segundo as entrevistadas, são a falta de recursos financeiros e de espaço físico adequado. Uma das entrevistadas informou ainda a inexistência de estudantes da graduação na instituição de Ensino Superior à qual o estabelecimento é conveniado - habilitados para o trabalho com Educação Musical. Isso remete-nos ao compromisso que a Universidade tem com a construção, instauração e acompanhamento de políticas públicas que contribuam para a transformação educacional. Quanto a isso, espera-se que essa realidade de inadequação mude, na medida em que desde 2011 foi implantado o curso de Licenciatura em Música, que preparará os profissionais para trabalhar com o ensino de música nas escolas. Diante do contexto exposto, as coordenadoras pedagógicas informaram que não há previsão para implementação da lei supracitada. Considerações finais Os resultados da presente pesquisa vão ao encontro de inúmeras outras desenvolvidas em todo o país, nas quais se tem chegado às mesmas conclusões: as práticas musicais na Educação Infantil geralmente não contemplam os conhecimentos específicos musicais; os profissionais da Educação Infantil não são preparados para o trabalho com este conhecimento; não há profissionais da área de Educação Musical em número suficiente para atender a eminente demanda; e falta condições para implementação da Lei No 11769/08. A pesquisa verificou que, embora a música esteja presente nas práticas pedagógicas de todas as professoras, nenhuma delas trabalha com os conteúdos propriamente musicais, tampouco teve formação para isso. Dessa forma, as professoras encontram dificuldades para ampliar e diversificar as atividades que realizam; e o fazem de modo espontâneo e sem tomada de consciência. Baseando-se nisso e nos dados vislumbrados quando da pesquisa aos portais das universidades públicas da Bahia, acredita-se que a estrutura curricular dos cursos de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Pedagogia não proporciona um aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos acerca da Educação Musical. É preciso que a formação deste professor, não especialista em música, lhe proporcione os subsídios necessários para que sua prática seja fundamentada. A hipótese inicial desta pesquisa, a de que o estabelecimento educacional estava em situação privilegiada quanto ao processo de inserção da música como componente curricular obrigatório, não foi confirmada. A realidade encontrada neste estabelecimento evidencia que o fato de estar conveniado a uma instituição pública de Ensino Superior, até agora, em nada contribuiu para a implementação da referida lei e para a alteração do quadro que se repete em inúmeras escolas espalhadas por todo o país, qual seja: a música está presente no contexto da Educação Infantil, “atendendo a vários objetivos, alguns dos quais alheios às questões próprias dessa linguagem” (RCNEI - BRASIL, 1998, vol.3, pg.47). A pesquisa pôde verificar também que é grande a distância que separa as leis e os documentos oficiais a respeito da inserção da música na educação da sua efetiva implementação. Para além de estabelecer que a música deva ser conteúdo obrigatório na Educação Básica, é preciso a promoção de meios/estratégias de efetivação dessa lei. A presente pesquisa propõe que para isso é necessário que haja aumento do número dos cursos de formação para professor especialista em Educação Musical; a disponibilização de disciplinas de formação para o trabalho com música nos cursos de formação inicial para os professores unidocentes; assim como a presença dessa habilitação nos cursos de formação continuada, que podem ser iniciados e motivados no ambiente escolar, também um espaço importante de formação profissional. Assim, a satisfação de tais necessidades poderá motivar a criação de uma conjuntura ideal para que o ensino de música seja, de fato, expressivo na escola. REFERÊNCIAS ÁLVARES, Sergio Luís de A. Teorias do Desenvolvimento cognitivo e considerações sobre o aprendizado em música. Anais do 1º Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. AQUINO, Thaís Lobosque. A música na formação inicial do pedagogo: embates e contradições em cursos regulares de Pedagogia da região Centro-Oeste. VII CONGRESSO NACIONAL DA ABEM: Diversidade Musical e compromisso social: o papel da educação musical. São Paulo, outubro 2008. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro. A educação musical na formação inicial e nas práticas educativas de professores unidocentes: um panorama da pesquisa na ufsm/rs. 2009. Disponível em http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/grupo_estudos/GE01-3138--Int.pdf. Acesso em: 05 de junho 2011. BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro. FURQUIM, Alexandra Silva dos Santos. A educação musical no curso de Pedagogia: um estudo multicasos. XVII ENCONTRO NACIONAL DA ABEM. São Paulo: 2008. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei N° 5692/71, de 11 de agosto de 1971. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: 1971. ________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei N° 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. ________. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. ________. LEI N° 11.769, Altera a Lei N°9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 18 de agosto de 2008. BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. SP: Peirópolis, 2003. Disponível em: http://www.fe.unicamp.br/falaoutraescola/resumos-palestrantes/TecaBrito.pdf. Acesso em janeiro de 2012. CHIARELLI, Lígia Karina Meneghetti. A importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. 2005 In. http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos/musicalizacao/importancia_educacao.htm. Acesso em 25 de março de 2011. CORREIA, Marcos Antonio. A função didático-pedagógica da linguagem musical: uma possibilidade na educação. Educar em Revista n°.36, pg. 127-145. Curitiba 2010. Disponível em www.scielo.com.br DINIZ, Lélia Negrini. BEN, Luciana Del. Música na educação infantil: um mapeamento das práticas e necessidades de professoras da rede municipal de ensino de Porto Alegre. Revista da ABEM. Porto Alegre, V.15, pg. 27-37, set. 2006. FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira de. A preparação musical de professores generalistas no Brasil. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 11, pg. 55-61, set. 2004. FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e Fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo; editora UNESP, 2005. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 GAINZA, Violeta Hemsy de. Estudos de Psicopedagogia Musical. 3. ed. São Paulo: Summus, 1988. HOWDARD, Walter. A música e a criança. São Paulo: Summus, 1984. LOUREIRO, Alícia Ma. Almeida. O ensino da música na escola fundamental. Campinas, SP: Papirus, 2003. NOGUEIRA, Monique Andies. A música e o desenvolvimento da criança. Revista da UFG, vol.5, n°.2, dez 2003. Disponível em http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/infancia/G_musica.html. Acesso em 03 de Junho de 2011. PENNA, Maura. A dupla dimensão da política educacional e a música na escola: I – analisando a legislação e termos normativos. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 10, 1928, mar. 2004. PEREIRA, Emanuel de Souza. FIGUEIREDO, Sergio Luiz Ferreira de. Fundamentos Sociológicos da Educação Musical Escolar. 2010. Disponível em www.ceart.udesc.br/dapesquisa/files/2010/MUSICA-05Emanuel.pdf. Acesso em: 04 de junho 2011. SLOBODA, Jhon A. A mente musical: psicologia cognitiva da música. Trad. Beatriz Ilari e Rodolfo Ilari. Londrina: Eduel, 2008. SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as alegrias da música? Trad. Maria José do Amaral Ferreira, 3ªed. São Paulo: Cortez, 1997. VIEIRA, Edna A.C., e LEÃO, Eliane. Música: sua influência na leitura e no processo de alfabetização. 4ta. Reunião Anual de la Sociedad Argentina para las Cognitivas de la Música. Escola de Arte Veiga Valle; e Universidade Federal de Goiás. 2003. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A importância da família no processo de aprendizagem do aluno e sua contribuição para o currículo escolar* _________________________________________ The importance of family in the student’s learning process and their contribution for the scholar curriculum Thenize Santos Rasslan1; Marcio Harrison dos Santos Ferreira2,3,** RESUMO: Este artigo teórico avalia a importância da participação do núcleo familiar no processo de aprendizagem e as possíveis repercussões para o currículo escolar. O objetivo foi abordar de maneira generalizada o estado da arte de estudos que debatem a influência da família no processo de ensinoaprendizagem. É crescente o interesse pelo estudo das relações família/escola devido à sua relevância na construção da identidade e autonomia do aluno e às reflexões sobre como ampliar o envolvimento da família e torná-la corresponsável no processo de aprendizagem dos alunos. Entretanto, esta coparticipação é ainda limitada, na medida em que os pais se restringem a buscarem as notas e pouco se envolvem com o currículo e com as atividades escolares. A análise do tema deu-se através de pesquisa bibliográfica em diferentes bases de dados, consultando-se artigos científicos disponibilizados em portais de pesquisa (p.ex., “portal CAPES”, Scielo) e nos acervos da Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Biblioteca Digital da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), em Feira de Santana-BA, entre Maio de 2010 e Março de 2011. São apresentadas diferentes visões e abordagens teóricas sobre a temática, pretendendo-se elaborar uma sinopse que sirva de referência para profissionais da educação que pretendam construir uma relação de parceria com as famílias. Especial atenção é dada às concepções e tipos de envolvimento família-escola. Especificamente, enfatizam-se questões ainda pouco abordadas pela literatura, pretendendo-se: a) avaliar como as tensões familiares resultam em desajustamentos emocionais na criança, interferindo na aprendizagem; b) avaliar o papel da afetividade entre pais e filhos na promoção de um processo de aprendizagem significativo; e c) avaliar outros aspectos do papel da família na formação da personalidade da criança, igualmente relevantes para o currículo e gestão escolar. A escola, comumente, não considera e nem aproveita experiências e aspectos dessa natureza no seu currículo e no desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno. Conclui-se que as políticas públicas educacionais e as escolas deveriam incluir a família de forma participativa no processo educativo (p.ex., na implementação curricular, na adesão dos pais ao projeto político-pedagógico da escola), articulando estratégias ajustadas às demandas familiares do aluno, sem desvalorizá-lo, por ex., pela sua classe social, já que alguns autores, como p. ex., Carraher (1986); Correa, MacLean (1999) e Libâneo (2000), argumentam que pais de baixo nível socioeconômico têm dificuldades e se sentem inseguros ao participarem do currículo escolar. Palavras-chave: Aprendizagem; Relação Família/Escola; Currículo Escolar. ABSTRACT: (The importance of family in the student’s learning process and their contribution for the scholar curriculum). This theoretical article assesses the importance of the core family in the learning process and their possible repercussions to scholar curriculum. The aim of this study was to approach, in a nonexhaustive manner, the state of art on this theme exploiting studies dealing with the influence of family on student learning process. Recently, there are a rising interest by studies on family-school relationships due their relevance for student identity construction and autonomy, including reflexions about the family engagement in their corresponsability and proximity in the student learning process. However, this coparticipation is restricted (parents search student results, and rarely become involved with scholar curriculum and other scholar activities). Our analysis was based on bibliographic surveys on the database SCIELO, and CAPES, and on collections of the libraries “Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana” (BCJC-UEFS) and “Biblioteca Digital da Universidade Norte do Paraná” (UNOPAR), in ________ 1 2 * Parte do TCC em Pedagogia da primeira autora; Pedagoga, Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); Departamento de Ciências Biológicas, Programa de Pós-graduação em Botânica da Universidade Estadual 3 de Feira de Santana (PPGBot-UEFS); Licenciado e Bacharel em Ciências Biológicas (UFBA/UEFS), Mestre em Ciências (UEFS); ** E-mail p/contato: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 municipality of Feira de Santana, Bahia State, NE Brazil, among May-2010 and March-2011. This paper outlines different sights and theoretical approaches about this theme, and intend to draft an overview to work as guide to teachers and other pedagogical professionals committed with family-school relationships. Special attention is given to family relationships, “student’s conceptions”, and to family-school engagement types. We emphasized questions that has been sparsely discussed in the widely scattered literature yet are known to influence student learning process. Here, we intent a) to evaluate the influence of family strains on child’s emotional disturbance, and their impact on student learning; b) to assess the importance of affectivity between parent’s and children’s for a meaningful learning process; and c) to evaluate other aspects of family values and importance for their children’s personality formation, depicting an approach to curriculum assessment and change, and scholar management. The school, commonly, don’t apply these experiences to curriculum implementation, neither in the development of student’s cognitive capacities. We conclude that educational public management should include the family engagement in the student learning, and in curricular implementations (e.g., parents’ participation in the school’s pedagogical-political project). The school should implement strategies that seek the student’s necessities, for example, considering the student socio-economic category once some authors (e.g., CARRAHER, 1986; CORREA, MacLEAN, 1999; LIBÂNEO, 2000), argues that parents of low social economic power present difficulties about their participation and opinion on scholar curriculum. Key-words: Learning process; Family-school relationships; Scholar curriculum. INTRODUÇÃO É ainda difícil delimitar, precisamente, o que seja um “currículo escolar”. O campo dos estudos dos currículos ganhou proeminência com Ralph Tyler, para quem o mais importante na preparação de um currículo é a definição dos objetivos educacionais que a escola procura atingir (TYLER, 1981). Esse era o guia do currículo, desde que observados o que ele chamou de “as três fontes”: os interesses e necessidades dos alunos, as sugestões de especialistas em componentes curriculares e a vida contemporânea fora da escola. Neste último ponto, notamos a preocupação de Tyler com a importância da inclusão do contexto familiar para a formação curricular. Outra discussão está em entender que uma sociedade de classes é determinada pelo modo de produção capitalista, e que: “[...] corrigir os “defeitos” destes currículos é muito difícil e, se não há a correção dos problemas sociais, o currículo passa a ser parte destes defeitos. Uma ruptura social e política é fundamental para que os problemas de formação docente sejam repensados. [...] Assim, o currículo passa a ser entendido como um ato ou atividade global de toda sociedade e na práxis curricular instala-se a totalidade da práxis social” (DOMINGUES, 1988, p. 357). O problema desta tendência, segundo Domingues (1988), é que ela torna qualquer discussão sobre currículo uma reflexão não sobre si mesmo, mas uma discussão social. Nesse sentido, acreditamos que as reflexões sobre a interação família-aluno e famíliaescola apresentadas no presente artigo poderão contribuir com a formação de um currículo mais autônomo e participativo, considerando que a educação tem um papel Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 fundamental na produção e reprodução cultural e social e que ela começa no lar/família, “apesar de sabermos que, ironicamente e mascaradamente, os documentos e portarias reguladoras do MEC são tão gerais que até dificultam a construção de uma nova orientação acadêmica” (DOMINGUES,1988, p. 362). Além disso, os estudos aqui abordados apontam uma vital importância da conquista de um processo de aprendizagem que seja a um só tempo significativo e emancipador para o aluno. As causas dos problemas de aprendizado podem ser de diferentes naturezas: física, neurológica, sensorial, emocional, intelectual ou cognitiva, educacional e socioeconômica (p. ex., MUSSEN, 1970; SEAGOE, 1978; CARRAHER, 1986; DROUET, 1995). Esse artigo discutirá a importância da participação familiar no processo de aprendizagem da criança e as possíveis repercussões dessa relação famíliaescola para o currículo escolar. Nas últimas décadas é crescente o debate e a reflexão sobre como ampliar o envolvimento da família, como torná-la corresponsável e parte de um processo de aprendizagem significativa. Para muitas instituições de ensino essa ainda é uma questão não resolvida. Mas afinal, é importante envolver a família? É possível envolvê-la?. Alguns autores (p. ex., DROUET, 1995; FONSECA, 1999; LEÃO, 2006; RASSLAN, 2010) têm avaliado, especificamente, o papel da família na determinação de alguns problemas de aprendizagem, verificando-se que, em geral, os pais acabam favorecendo ou prejudicando o aprendizado dos filhos. Entretanto, uma coparticipação família-escola na aprendizagem é ainda limitada na medida em que os pais se restringem a verificar as notas e pouco se envolvem com o currículo e com outras atividades escolares. Objetivos – Nesse sentido, o presente trabalho foi construído com o objetivo geral de investigar, com base na literatura especializada, diferentes aspectos da relação entre a família e o processo de aprendizagem da criança com o intuito de fornecer uma sinopse geral sobre esse debate e sua possível repercussão para a implementação do currículo escolar. Especificamente, foi dada ênfase a algumas questões que a priori têm sido pouco abordadas pela literatura, pretendendo-se: a) avaliar como as tensões familiares resultam em desajustamentos emocionais na criança que interferem na sua aprendizagem; b) avaliar o papel da afetividade entre pais e filhos na promoção de um processo de aprendizagem mais positivo para a criança; e c) avaliar outros aspectos do papel do núcleo familiar na formação da personalidade da criança. Justificativa – Nossa proposta de estudo justifica-se uma vez que, comumente, a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 escola não considera e nem aproveita experiências e aspectos dessa natureza no seu currículo e no desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno. Como assinala Althuon (1999, p. 3): “Não basta construir conhecimento: é preciso viabilizar que o aluno construa sua identidade, sua autonomia com responsabilidade, sua cidadania. E isso só é possível se família e escola andarem juntas, sendo ambas sujeitos do processo educativo do jovem cidadão”. Metodologia – A análise deu-se através de pesquisa bibliográfica, não exaustiva, em diferentes bases de dados. Foram consultados artigos científicos disponibilizados em portais de pesquisa como o “portal da CAPES” e o da “SCIELO”, através dos sistemas de busca pelas palavras chave: “family-scholl relationships”; “família-escola”; “scholar curriculum”; “currículo escolar”; “student learning process”; and “aprendizagem”. Também foram consultadas obras pertinentes disponíveis no acervo da Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (BCJC-UEFS) e na Biblioteca digital da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), em Feira de Santana, Bahia. O levantamento foi realizado entre os meses de Maio de 2010 e Março de 2011. Limitações da abordagem – Reconhece-se que são ainda muitos os obstáculos a uma maior parceria família-escola, sobretudo devido a problemas de natureza socioeconômica e cultural uma vez que o “contexto familiar” acaba exercendo um impacto fundamental na motivação, no desempenho e na aprendizagem do aluno (por ex., RASSLAN, 2010, e ref. citadas). Por outro lado, ainda são escassas as publicações tratando diretamente desta temática e essa é outra limitação a possibilidade de se discutir mais amplamente o tema na atualidade. Como ressalta Delors et al. (1997, p. 31): "[...] É necessário não se iludir com uma visão imediatista e instrumental da educação. [...] É importante abrir e construir espaços para considerá-la em toda a sua plenitude" e, para alguns autores (p. ex., ALTHUON, 1999), essa proposta somente é possível em parceria com a família, já que através dela todos passam a condição de sujeitos da educação. DESENVOLVIMENTO Todas as práticas escolares preveem a promoção do aprendizado do aluno: “A aprendizagem é influenciar o comportamento inicial do aluno por meio das experiências vividas na escola, na rua, na família, [...]” (SEAGOE,1978, p. 6). O engajamento da família na educação dos filhos deve ser constante, tendo consciência da sua importância e de seu papel ajudando e influenciando no processo de aprendizagem dos filhos na escola. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Considerando-se os marcos legais vigentes para oferta do ensino médio, consubstanciados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº. 9394/96), dois aspectos pertinentes ao presente estudo merecem destaque: a) o desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado (Art. 35); e b) uma organização curricular que, entre seus componentes, contemple-se especificidades regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e do próprio aluno (Art. 26). “O grande avanço determinado por tais diretrizes consiste na possibilidade objetiva de pensar a escola a partir de sua própria realidade, privilegiando o trabalho coletivo” (BRASIL, 2006, p. 7). A relação família-escola e o processo de aprendizagem A relação que se estabelece entre o contexto escolar e o familiar é fundamental para o processo de aprendizagem. A família, juntamente com a escola, tem o papel de desenvolver a afetividade, a sociabilidade, e o bem estar físico dos indivíduos. A família é o lugar da reprodução física e psíquica cotidiana (cuidado do corpo, higiene, alimentação, descanso, afeto, etc.) que constituem as condições básicas de toda a vida social e produtiva (McDERMOTT, 1977; CARRAHER, 1986; FONSECA, 1999; CARVALHO, 2004). Além disso, a relação família-escola envolve expectativas recíprocas, tornando-se importante considerar, p. ex., questões políticas e de gênero. Nesse sentido, Carvalho (2004, p. 41) ressalta que: “[...] a política educacional, o currículo e a prática pedagógica articulam os trabalhos educacionais realizados pela escola e pela família segundo um modelo de família e papel parental ideal e com base nas divisões de sexo e gênero, subordinando a família à escola e sobrecarregando as mães. [...] no modelo de educação vigente, a escola tem mais poder do que a maioria das famílias”. A relação família-aluno e o processo de aprendizagem Dificuldades de adaptação escolar mediadas por crises e conflitos no núcleo familiar – Nos primeiros contatos com a escola é comum que algumas crianças demonstrem dificuldades de adaptação que podem ser ocasionadas por crises e conflitos no ambiente familiar. A influência do lar é muito importante para o crescimento emocional da criança e experiências saudáveis e positivas colaboram para um clima de segurança para a criança, possibilitando-a aceitar a si mesma pelo que ela é e, livre de angústias, poderá empregar construtivamente suas energias a fim de solucionar problemas (p. ex., MUSSEN, 1970; FONSECA, 1999). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Por exemplo, desde a década de 70 reconhece-se que as práticas de letramento familiares exercem grande influência no aprendizado da alfabetização escolar da criança: “[...] as atitudes são tão importantes para o letramento familiar e são tão diferentes entre diferentes grupos sociais que torna-se possível predizer o progresso de uma criança na escola antes mesmo dela lá pôr os pés.” (BROOKE, 2002, p. 293 apud LEÃO, 2006). Ou seja, antes mesmo da criança ir a escola, a família é seu principal mediador no processo de letramento. Nesse contexto, algumas pesquisas que utilizaram o método da leitura conjunta (TOPPING, 1986, apud LEÃO, 2006) constataram mudanças nas próprias concepções dos familiares dos alunos, após a observação de que as crianças eram capazes de aprenderem a ler, ou seja, passaram a acreditar na competência do aprendiz. Além disso, alguns também passaram a ser mais pacientes com suas crianças durante o processo de aprendizagem da leitura. A técnica da leitura conjunta de Topping (op. cit., p.36) consiste em ler junto com a criança e depois ouvi-la ler, por cerca de cinco minutos diariamente, sendo que as adaptações devem ser feitas de acordo com o contexto de cada família. Muitas dessas pesquisas (p. ex., FONSECA, 1999; LEÃO, 2006, e ref. citadas) demonstraram que a maioria dos alunos mudou seus hábitos de leitura, demonstrando maior confiança em relação a possibilidade de sucesso na aprendizagem da escrita, o que é especialmente desejável no contexto de integração do eixo família-escola. O papel da afetividade entre pais e filhos na promoção de um processo de aprendizagem mais positivo para a criança – Na pesquisa feita por Leão (2006), quando eram as mães que executavam atividades para os filhos, tais como leitura de historinhas, registrando os elementos do seu desenho, ou mesmo escrevendo uma história narrada pela criança, a criança mantinha a atenção fixada na mãe, observando atentamente seus gestos. Estas atividades vivenciadas de forma intensa entre a mãe e a criança podem trazer inúmeros benefícios ao desenvolvimento da criança, desde a melhora na relação mãe-filho até o incentivo educacional das atividades de leitura e escrita (p. ex., MUGNATTO, 1997). Nessas situações, a mãe tem oportunidade de demonstrar que além de ter conhecimentos que a criança ainda não tem (como o de saber ler e escrever), também esse conhecimento pode ser compartilhado em um momento prazeroso para ambas. Obviamente esses momentos também podem ocorrer Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 com a participação do pai, ou mesmo exclusivamente com ele, uma vez que é crescente o número de pais que ficam com a guarda dos filhos e que assumem (ou deveriam assumir) esse papel positivo na educação dos filhos. Uma atuação mais paciente e dedicada em relação ao ritmo da criança, segundo Leão (2006), pode trazer efeitos satisfatórios aos aspectos cognitivos e emocionais envolvidos no desenvolvimento das habilidades de letramento. Para Valsiner (1999) apud Leão (2006), os pais são os “outros sociais competentes” no sentido de solucionar as suas dúvidas ou ainda adiantar-se no ensino de regras ou normas da escrita alfabética, de acordo com a demanda do momento. Para isso, é importante levar em conta a necessidade de manter uma relação de confiança, ou investir na aquisição da mesma, visando um maior aproveitamento desses encontros entre pais e filhos para uma boa aprendizagem. McDermott (1977) entende que as “relações de confiança” são alcançadas por meio das interações e acontecem como uma qualidade do relacionamento entre as pessoas. Durante as Sessões de Situações Estruturadas (SEs), Leão (2006) observou um carinho genuíno entre mãe e filho, onde a mãe demonstrava seu afeto através da forma como mantinha-se atenta a todos os passos do filho, sem demonstrar fadiga ou desatenção em nenhum momento. É interessante adotar uma agenda compartilhada de trabalho entre a escola e a família no processo de letramento da criança (LEÃO, 2006), compreendendo que a palavra (o letramento) pode ser mediada pelo afeto. Para uma leitura mais aprofundada dos estudos de caso aqui pontuados brevemente sugere-se a sua leitura na íntegra ou a resenha dos mesmos em Rasslan (2010, pp. 14-19). Outros aspectos do papel do núcleo familiar na formação da personalidade da criança – Alguns estudos clínicos (cf. FONSECA, 1999, e ref. citadas) revelam que a atmosfera familiar também está relacionada com o ajustamento emocional. Eles indicam que é necessário considerar o conjunto total de relações que se dá entre os diferentes membros da família (mãe, pai, irmãos). Como ressalta Drouet (1995) o relacionamento entre pais e filhos depende muito do clima emocional estabelecido no lar. O autor também chama a atenção para o fato de que para se obter um bom clima emocional é preciso que haja harmonia entre o casal e que o tratamento dedicado a cada filho seja igual. Para Mussen (1970), os atritos entre os pais constituem o principal antecedente de desajustamento emocional nos filhos. Secundariamente, tensões indiretas como a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 influência que o pai exerce no emocional da mãe pode afetar o desenvolvimento da criança, em função da qualidade do relacionamento que mantém com sua mulher. Podemos afirmar que, de maneira geral, através da interação com outros sociais significativos (parentes, vizinhos, amigos dos pais, etc), a criança desperta para o prazer proporcionado pela leitura e assim terá mais chances de gostar de ler. A escola pode tentar conseguir o máximo de engajamento dos familiares, podendo assim ampliar e melhorar o seu relacionamento com a família, compartilhando a responsabilidade da participação e influência no processo de letramento, e essa mudança, segundo Leão (2006), pode ser o segredo do sucesso para o amor pela palavra. Libâneo (2000, p. 22) ressalta que: “A Educação é o conjunto de ações, processos, Influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupo na relação ativa com o ambiente natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais”. Oliveira (2001) destaca ainda que, nessa concepção de educação, é importante se fazer uma análise do contexto familiar, tentando compreender o quão os pais estão conscientes sobre o seu papel no processo de aprendizagem dos seus filhos. Isso porque “[...] não há como articular a interação família-escola sem entender o que eles pensam e sem tentar sensibiliza-los da sua importância no aprendizado dos seus filhos” (OLIVEIRA, 2001, p. 10), ou ainda como refletem outros pensadores, “A família como toda instituição social, apesar dos conflitos é a única que engloba o indivíduo em toda a sua história de vida pessoal’’ (PRADO, 1981, p. 09). Sabe-se que é na família que se iniciam os primeiros passos de toda uma vida e que é nela que todo indivíduo recebe seus primeiros ensinamentos, as primeiras normas de convivência, e a as orientações preliminares de como conviver com o meio social, “é nela que o indivíduo adquire toda uma estrutura, ou seja, uma gama de fatores capaz de promover o início da formação de seu caráter” (OLIVEIRA, 2001, p. 36). A família representa um “espelho”, representa também a autoridade de poder sobre os filhos visando incutir e resgatar seus valores, sua autonomia, tornando-se um legítimo sustentáculo de valores morais que mais do que nunca são agora essenciais para o futuro das novas gerações (PRADO, 1980; SZYMANSKI, 2001; OLIVEIRA, 2001). Nenhuma outra instituição substitui uma família, “mas com atendimento adequado, pode dar condições para a criança e o adolescente desenvolverem uma vida saudável no futuro” (SZYMANSKI, 2001, p. 53). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A articulação escola-família aumenta o interesse e a preocupação dos pais em participarem do processo escolar dos filhos como co-responsáveis e é preciso manter uma relação dialógica nessa parceria, onde todas as partes envolvidas possam expressar na busca de saídas para os problemas educativos (ALTHUON, 1999; OLIVEIRA, 2001). Nesse sentido, Oliveira (2001) indaga por que não trabalhar nas reuniões escolares temas sobre as situações-problemas vividos na escola e na sociedade, o que é proposto por Althuon (1999, p. 3): “Em um mês, é discutido o projeto pedagógico em outra a avaliação, em outra a tarefa de casa, em outro o estudo do meio, a orientação profissional, em outro a falta de diálogo, o problema do álcool e das drogas (...), em outro a falta de respeito e assim por diante”. Dessa forma, as reuniões são momentos em que pais relatam como percebem o desenvolvimento dos seus filhos, assim como também as suas insatisfações, entretanto: É preciso pensar sobre elas e sobre as diversas formas de atrair os pais a participarem do processo educativo das crianças, pois quando bem conduzidas, a escola e família juntas encontram solução prática para os problemas existentes (OLIVEIRA, 2001, p. 29). Repercussões do nível socioeconômico da família para a aprendizagem e para o currículo escolar A forma como o aluno vê a si mesmo e aos outros como aprendizes é influenciada pela interação com os pares e a professora. As concepções sobre suas competências como aprendizes têm implicações na maneira como interpretam as dificuldades de aprendizagem sua e de seus colegas, bem como as maneiras de superá-las (CORREA, MacLEAN, 1999). A aquisição da língua escrita pela criança, p. ex., é um momento crucial no processo de escolarização e é condição fundamental para que a criança seja bemsucedida em toda sua trajetória escolar. Daí a importância dos estudos com experiências de letramento (p. ex., LEÃO, 2006), já que todo saber formal conduzido pela escola é realizado, essencialmente, através da leitura e da escrita. Para pais de classes de menor poder aquisitivo, aprender a ler e a escrever significa uma primeira prova de que seu filho "dá mesmo p’ros estudos" (CORREA, MacLEAN, 1999). Carraher (1986), trabalhando com adultos de baixa renda e com filhos em idade escolar, verificou que a “boa apresentação social”, evitando que os filhos carreguem o estigma do analfabetismo, era o principal sentido que os pais davam à aprendizagem da leitura e da escrita, o que é corroborado por outros autores: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Uma vez que o analfabeto é estigmatizado socialmente, o fato de saber ler e escrever já garantiria ao indivíduo uma apresentação social menos vergonhosa. No entanto, quando perguntados sobre a importância da alfabetização para a melhoria de seu exercício profissional, a maioria dos entrevistados afirmou não precisar, necessariamente, aprender a ler ou escrever para continuar em seu trabalho atual (CORREA, MacLEAN, 1999, p.274). Outros estudos indicam, de acordo com o observado por Carraher (1986): [...] que a estigmatização social não se afigura como o principal motivo declarado pelas crianças mais novas para aprender a ler e a escrever. No entanto, com a idade e o crescente número de reprovações, os motivos apontados pelos alunos passam a se relacionar primordialmente à boa apresentação social na esperança de ascensão social” (CORREA, MacLEAN, 1999, p.274). Além disso, alguns autores, como p. ex., Carraher (1986); Correa, MacLean (1999) e Libâneo (2000), argumentam que pais de baixo nível socioeconômico também têm dificuldades e se sentem inseguros ao participarem do currículo escolar. CONCLUSÃO Conclui-se que as políticas públicas educacionais e as escolas deveriam incluir a família de forma participativa no processo educativo (p.ex., na implementação curricular, na adesão dos pais ao projeto político-pedagógico da escola), articulando estratégias ajustadas às demandas familiares do aluno. Alunos que se sentem incentivados pelos pais e os reconhecem enquanto parceiros da sua aprendizagem, em um contexto familiar estimulante, irão se esforçar para elevar sua aprendizagem (ORSI, 2003, p. 68). Para fomentar um debate profícuo sobre a melhoria da relação família-escola é necessário, primeiramente, pesquisar o perfil das famílias atuais, já que o núcleo familiar é o mediador das relações que o aluno estabelece com o mundo desde a infância até a adolescência. Diferentes questões merecem ser estudadas quanto a essa temática, p. ex.: a) Os pais preocupam-se quanto à escolha da escola para seus filhos? E que critérios são utilizados para definir essa escolha?; b) Quais as práticas realizadas pelos pais que tem como objetivo auxiliar no aprendizado dos conteúdos escolares de seus filhos; c) Quais as dificuldades vivenciadas pelos pais com relação ao acompanhamento do processo escolar dos seus filhos?, entre outros. Esse tipo de problemática permite analisar: a) a atual situação dos pais e da família em diferentes contextos; b) sua dificuldade em acompanhar o processo escolar dos filhos; e c) sua postura em relação às atividades escolares, como as questões relacionadas ao Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 currículo. Na atualidade, a inclusão do suporte familiar no atendimento psicopedagógico do aluno, segundo Orsi (2003, p.72): “Constitui um recurso valioso que pode auxiliar as dificuldades encontradas por toda a família [...] Que o atendimento psicopedagógico se torne também o lugar de se pensar a aprendizagem, a partir das relações humanas vividas na família”. Nossa pesquisa indica que a análise do contexto familiar “global” dos alunos de uma escola seria um importante referencial para educadores engajados na construção de uma relação de parceria com as famílias. Atividades como as idealizadas por Leão (2006) para as sessões de situações estruturadas, utilizadas no letramento infantil, poderiam ser reaplicadas com as necessárias adaptações numa parceria entre escola e família. Por exemplo, organizando encontros com os familiares da criança com a intenção de conhecer a cultura doméstica valorizada no lar e também visando propor uma parceria na elaboração de atividades que propiciem uma melhor aprendizagem durante o letramento. São inúmeros os prováveis desdobramentos de estudos e debates sobre essa temática. Consideramos que tanto o currículo escolar quanto outras atividades escolares e a própria gestão da escola devem pretender que a família atue de forma participativa, e inclusiva, colaborando para uma formação e aprendizagem significativa e emancipadora do aluno. São vários os efeitos positivos na aprendizagem que podem ser elencados nesse sentido e que são relevantes para a elaboração de um currículo escolar: a) formação de um pensamento crítico que possibilite a análise de problemas e uma melhor argumentação e tomada de consciência frente aos mesmos; b) habilidade de articular o pensamento crítico na forma oral e escrita; c) habilidade de análise e julgamento de suas ações e atitudes, e mesmo de seus “pré-conceitos”, tornando-se capaz igualmente de enxergar a perspectiva do(s) outro(s), de trabalhar melhor em grupos, p. ex.; d) habilidade de entender melhor seu papel na sociedade, assumindo mais facilmente a responsabilidade de suas ações, tomando decisões éticas em situações complexas e participando ativamente da democracia; e) distinguindo melhor a sua realidade local e o mundo globalizado, o pluralismo cultural, os movimentos sociais, a pluralidade sexual; entre outros. REFERÊNCIAS ALTHUON, B. Família e escola: uma parceria possível?. Revista Pátio, nº 10, p. 1-5, 1999. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, SEF, 2006. 135 p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume 2). CARRAHER, T. N. Alfabetização e pobreza: três faces do problema. Em: S. Kramer (Org.). Alfabetização: dilemas da prática. Rio de Janeiro: Dois pontos, p. 47-97, 1986. CARVALHO, M. E. P. Modos de educação, gênero e relações escola-família. Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 121, p. 41-58, 2004. CORREA, J.; MACLEAN, M. Aprendendo a ler e a escrever: a narrativa das crianças sobre a alfabetização. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 273-286, 1999. DELORS, J.; AL-MUFTI, I.; AMAGI, I. et al. Educação: Um tesouro a descobrir. Brasília:UNESCO/Edições ASA/Cortez, 1997. DOMINGUES, J. L. Interesses humanos e paradigmas curriculares. Revista Brasileira de Estudos pedagógicos, v. 67, n. 156, p. 351-366, 1986. DROUET, R. C. R. Distúrbios da aprendizagem. São Paulo: Ática, 1995. FONSECA, N. G. A influência da família na aprendizagem da criança. Projeto de pesquisa, Especialização em Linguagem do Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica. São Paulo: CEFAC, 1999. LEÃO, Denise Maria Maciel. Experiências de letramento na infância: interação mãecriança em situações estruturadas. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Brasília: UNB, 2006. LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos, Para quê?. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2000. McDERMOTT, R. P. Social relation as contexts for learning in scholl. Harvard Educational Review, Vol. 47, nº 2, p. 198-213, 1977. MUGNATTO, A. M. Interação mãe-criança: um estudo dos padrões interativos em uma SE de supervisão de tarefa. Tese de Doutorado. Brasília: UNB, 1997. MUSSEN, P. H. O desenvolvimento psicológico da criança. 5ª Ed., Rio de janeiro: EDU, 1970. OLIVEIRA, L. P. Uma relação tão delicada: A Participação da Família no Processo de Aprendizagem de Crianças do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série e Classes de Alfabetização. Monografia. Licenciatura Pedagogia. Manaus: Universidade da Amazônia, Centro de Ciências Humanas e Educação, 2001. ORSI, M. J. S. Família: reflexos da contemporaneidade na aprendizagem escolar. In: I ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOPEDAGOGIA, 2003, Maringá. Anais do I Encontro Paranaense de Psicopedagogia. Maringá: Maringá ABPppr, p. 67-74, 2003. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 PRADO, D. O que é família. 1ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1981. RASSLAN, T. S. A importância da família no processo de aprendizagem da criança. TCC, Pedagogia, Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Feira de Santana: UNOPAR, 2010. SEAGOE, M. V. O processo de aprendizagem e a prática escolar. 2ª Ed., Vol. 107, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. SZYMANSKI, H. A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília: Plano, 2001. TYLER, R. Princípios básicos de currículo e ensino. Porto Alegre: Globo, 1981. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Desafio na formação: construir um currículo na perspectiva interdisciplinar Zélia Almeida de Oliveira26 Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão teórica sobre a construção e organização do currículo na perspectiva interdisciplinar. Relata os desafios e conquistas vivenciadas nessa construção num processo de formação docente desenvolvido numa escola de Ensino Fundamental I da rede municipal de Feira de Santana. Parte da análise de um problema existente no contexto da escola: a inexistência de uma organização curricular. Assim, discute sobre concepção de currículo apresentada pelos professores ainda pautada no pensamento cartesiano da modernidade que fragmenta o conhecimento. Diante disso, reflete sobre a interdisciplinaridade, na qual é possível estabelecer relações entre saberes de diferentes áreas no currículo. Explicita a proposta metodológica de formação contínua em serviço que partiu da tematização e reflexão sobre a prática para problematizar sobre a concepção de currículo, desenvolvendo ações no sentido de investigar estudos educacionais para a construção de uma matriz curricular. Dessa forma, conceitua e discute sobre a opção feita por algumas modalidades organizativas de currículo como atividades permanentes, sequenciadas e projetos didáticos. Expõe algumas etapas desse trabalho, relatando uma possibilidade para desenvolver uma prática interdisciplinar proposta envolvendo as áreas de Língua Portuguesa, Ciências Sociais e Naturais. Em sua conclusão, expõe reflexões sobre algumas conquistas e desafios para a continuidade desse trabalho na organização do currículo da escola. Palavras-chave: Currículo; Interdisciplinaridade; Formação Docente. Introdução Este trabalho tenciona relatar os desafios surgidos e algumas conquistas do processo de construção, ainda em andamento, da matriz curricular da Escola Municipal Noide Cerqueira que atende ao Ensino Fundamental I na rede municipal de Feira de Santana no período de 2010 a 2012. É fruto também das inquietações surgidas na ação da coordenação pedagógica ao assumir o acompanhamento da prática educativa em parceria com os professores no cotidiano da escola. Ao analisar elementos da prática como planejamentos de aula e atividades dos alunos, foi observado um problema: os docentes de cada ano organizavam a ação educativa a partir de uma listagem de determinados conteúdos em cada disciplina, o que gerava um trabalho fragmentado sem possibilitar que a aprendizagem das crianças ocorresse de modo sistemático e relacional além de criar diferentes práticas de ensino na mesma instituição. A ausência de uma proposta curricular na rede municipal também contribuía para esse problema. O desafio estava posto nesse contexto. Uma grande questão inquietava a coordenação: como promover uma prática educativa mais articulada e sistematizada? Para isso, foi preciso pensar numa proposta de intervenção e formação docente tendo em 26 Pedagoga e especialista em Política do Planejamento Pedagógico: currículo, didática e avaliação. Professora e coordenadora pedagógica da Escola Municipal Noide Cerqueira. Email:[email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 vista alguns objetivos como: construir um currículo numa nova perspectiva - a interdisciplinar; mobilizar os professores da instituição nesse processo de construção e reorganizar/ressignificar as práticas de ensino e aprendizagem. Para isso, buscou-se na literatura teóricos que abordassem sobre as concepções de currículo como Macedo (2009), Sacristán (2000), Hernández (1998), a Resolução Nº 7 de 12/2010, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, os PCNs (2008), e também, investigações no campo da formação docente que ajudassem a compreender os professores como sujeitos, seus saberes e dificuldades. Assim, foram referenciais os estudos de Tardif (2002), Ramalho (2004), Geglio (2009), Alarcão (2004) e Zabala (2008). Dessa forma, esse trabalho apresenta uma reflexão teórica sobre as concepções de currículo que se manifestam na prática docente, dando ênfase para as possibilidades de um trabalho interdisciplinar; discute sobre a proposta de formação contínua em serviço apresentada como uma possibilidade do professor refletir sobre a prática tomando o currículo como eixo do trabalho; relata algumas ações em torno da construção de algumas modalidades organizativas do currículo propostas por Hernández (1998); E, por fim, apresenta algumas conquistas e desafios na continuidade desse trabalho. O currículo – concepções e implicações na prática docente A concepção de educação e currículo traz implicações na formação e prática docente. Por isso, é fundamental que o professor, nos espaços de formação, em especial, na própria escola, possa refletir sobre as concepções que referendam sua ação educativa. Nesse sentido, para Sacristán (2000), o professor exerce um papel fundamental ao mediar em sua prática os complexos elementos que envolvem o currículo: Antes de mais nada, se o currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e na qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes, é óbvio que, na atividade pedagógica relacionada com o currículo, o professor é um elemento de primeira ordem na concretização desse processo. (SACRISTÁN, 2000, p.165) Nessa perspectiva, é relevante conhecer qual a concepção de currículo os professores tomam como referência e são manifestadas na prática pedagógica. Por isso, intenciona-se analisar essas concepções para refletir sobre a escolha política e educativa da concepção de currículo adotada pela escola em seu Projeto Político Pedagógico. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Ao analisar os planejamentos de aula de cada ano e atividades desenvolvidas na prática, observou-se que muitos professores elegiam os conteúdos de trabalho de cada disciplina, sem haver uma articulação entre eles e nem com as unidades didáticas do ano letivo. Isso representa uma concepção de currículo como listagem de conteúdos. Para Macedo (2009), ela reflete o pensamento cartesiano da modernidade que fragmenta os conteúdos, não atribuindo sentido com o que se ensina. Segundo esse autor: Já está claro o quanto a perspectiva disciplinar fragmentou o currículo, bem como organizou nossa maneira de perspectivar o mundo, de forma predominantemente antinômica, bipolar, portanto. Aprendemos a olhar a realidade em muito por essa lógica, separamos muitas vezes o inseparável, porque a disciplina nos ensinou assim. (MACEDO, 2009, p.48). Dessa forma, observamos que o pensar do professor é disciplinar, fruto do seu processo histórico de formação escolar e até acadêmica, reproduzindo em sua prática essa concepção. Ainda para Macedo (2009), é preciso romper com a lógica positivista de que a disciplina representa uma fronteira para conhecer a realidade. Para ele, “É preciso destituir esse poder veiculador da disciplina para que possamos multirreferencializar o currículo” (MACEDO, 2009, p.50). Assim, é fundamental que o professor possa conhecer novas perspectivas de estudos sobre o currículo para refletir sobre seus conceitos e repensar a prática educativa. Nesse sentido, Sacristán (2000) considera que a concepção de currículo é complexa e envolve muitos elementos de análise, destacando: Que o currículo é a expressão da função socializadora da escola; No currículo se entrecruzam componentes e determinações muito diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas, produtivas de diversos materiais, de controle sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica. (SACRISTÁN, 2000, p.32) Além de reconhecer essa dimensão complexa, Hernández (1998), também considera que o currículo como organização de cada disciplina sozinha, com os seus métodos e procedimentos, já não dá conta de possibilitar a compreensão do mundo contemporâneo que é plural, marcado por avanços tecnológicos onde há uma produção do conhecimento e problemas com os quais os sujeitos se deparam no cotidiano e precisam solucionar. Nesse sentido, encontramos na literatura as pesquisas e estudos sobre a possibilidade de romper a lógica disciplinar através da perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, Macedo (2009) destaca que as disciplinas são chamadas a dialogar para melhor compreender a realidade de hoje, que é complexa, necessitando de explicações Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 mais amplas. Para esse autor é relevante compreender que “a noção-chave da interdisciplinaridade é a interação entre as disciplinas, que pode ir da simples comunicação de ideias até a integração mútua de conceitos, da terminologia, dos procedimentos” (MACEDO, 2009, p.51). Portanto, foi partindo dessa compreensão de interdisciplinaridade no currículo escolar que a elegemos como eixo para a formação proposta na escola, tendo a construção da matriz curricular como um grande desafio. A formação contínua em serviço: um caminho para mobilizar os professores na construção curricular A formação docente tem sido objeto de estudo para alguns autores como Tardif (2002) Ramalho, (2004), Alarcão (2001) e vem sendo considerada como uma possibilidade do professor refletir, problematizar e ressignificar seus saberes para mediar e transformar a prática educativa. Dessa forma, a perspectiva metodológica da proposta de formação na escola tinha como propósito tematizar a prática docente a partir da reflexão sobre os diferentes aspectos que envolvem o currículo. Para Sacristán, o professor é um relevante mediador na efetivação do currículo. E, Reconhecer esse papel mediador tem consequências no momento de se pensar em modelos apropriados de formação de professores, na seleção de conteúdos para essa formação, na configuração da profissionalização e competência técnica dos docentes. (SACRISTÁN, 2000, p.166) Nesse sentido, a formação contínua em serviço pode promover mudanças nas práticas. De acordo com os estudos de Geglio (2009), essa perspectiva de formação possibilita ao professor interagir com os parceiros, discutir ideias comuns e estabelecer trocas. Esse autor compreende ainda que: A formação em serviço é formação continuada, e que ocorre no ambiente de trabalho do professor. Porém, trata-se de um tipo de formação que tem a singularidade de ser efetivamente contínua e contextual, além de ser conduzida pelos próprios professores. (GEGLIO 2009, p. 114). Era preciso envolver a equipe e mobilizar os professores. E a formação em serviço dá esta condição, já que parte da vivência cotidiana. Alarcão (2001), em sua obra sobre a formação na escola reflexiva, acrescenta que o conhecimento é complexo e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 interrelacional. Nessa perspectiva, a formação precisa reconhecer ainda que os docentes possuem, de acordo com pesquisas de Tardif (2002) “saberes plurais”, “formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36), os quais se articulam e estabelecem relações em sua prática cotidiana e devem ser objeto de reflexão. Ao fazer estudos sobre o conceito de saberes docentes discutidos por Tardif (2002), e a profissionalização no exercício da docência, Ramalho (2004), conclui que é preciso repensar a formação do modelo disciplinar que ainda vigora na academia ou em outros espaços, destacando que, ao pensar de modo relacional, os professores desenvolverão sua ação pedagógica lidando melhor com a diversidade e complexidade de contextos que se deparam no cotidiano. Os desafios na formação: a construção da matriz curricular A proposta de formação continuada em serviço baseou-se na perspectiva metodológica de reflexão sobre a prática docente tomando estudos em torno de currículo e a construção da matriz curricular como eixo das ações de formação, sendo desenvolvida nos momentos de Atividade Complementar (AC), horário da rotina de trabalho do professor reservado para reuniões pedagógicas. A matriz curricular (MACEDO, 2009) referenda o currículo de uma instituição, definindo os objetivos, metodologias, conteúdos e formas de avaliação. A sua construção seria um passo para, gradativamente, elaborar a proposta curricular da escola. Precisávamos evitar uma prática sem articulação, o que gerava, às vezes, a improvisação de planejamentos em sala de aula. Os professores necessitavam de uma referência de trabalho. Pensamos em eixos temáticos que pudessem promover a relação entre áreas a partir de referenciais de cada área de conhecimento, dos PCNs (1998) e da Resolução Nº 7 de 12/2010, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Três grandes questões também nortearam esse processo: O que ensinar? Para quê? E como ensinar? Para Zabala (1998), elas direcionam o trabalho educativo. Elegemos as modalidades organizativas do currículo propostas por Hernández (1998), as quais consideram o tipo de conteúdo a ser ensinado, o contexto de vida dos alunos e necessidades de aprendizagem, contemplando a perspectiva interdisciplinar. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 São as chamadas Atividades Permanentes, que objetivam trabalhar com aprendizagens que requer um desafio diário; As Atividades Sequenciadas partem de uma temática e podem envolver duas ou mais áreas do saber, sendo desenvolvida uma sequência de situações que se relacionam e graduam os desafios; Já os Projetos Didáticos também partem de uma temática, com uma sequência de atividades, mas podem favorecer que os alunos estabeleçam muitas relações, transitando por diferentes áreas. Inicialmente, os professores foram ouvidos pela coordenação sobre como organizavam o currículo do ano letivo. Eles listavam os conteúdos ou seguiam o livro didático para cada unidade. Coletivamente, discutimos sobre a relação entre os conteúdos que os alunos estudavam de modo que perceberam que eram independentes em cada unidade e destacaram que eles até esqueciam sobre o que estudavam . No encontro seguinte, leram textos e discutiram sobre a concepção de ensino e aprendizagem da escola, o papel do professor e outras variáveis que envolvem a prática pedagógica e se relacionam com o currículo como o planejamento, avaliação etc. Depois, analisaram as modalidades organizativas propostas por Hernández (1998) para dar subsídio a construção que aconteceria em duplas (professores do mesmo ano), em momentos coletivos e extra escola. A partir das discussões, concluíram que o trabalho com projetos didáticos ainda representava um grande desafio transdisciplinar para a escola, isto considerando a concepção defendida por Macedo (2009) que “Um currículo transdisciplinar trabalha com as sínteses possíveis, com as relações possíveis, porque contextuais, históricas e políticas, sínteses estas requeridas pelas problemáticas humanas e seus desafio” (MACEDO, 2009, p. 55). Assim, era preciso estudar mais sobre projetos a fim de promover a construção contextual do conhecimento transitando por diferentes áreas. Por isso, iniciamos com a construção de Atividades Sequenciadas, essas seriam um desafio menor. Analisaram coletivamente uma sequenciada produzida na escola. Os professores iam construindo e compartilhando com a coordenação que ia intervindo na escrita quando tinham dúvidas. Às vezes, embora dominassem o conteúdo e pensassem em boas estratégias, apresentavam dificuldade nas intervenções em aula, as quais, geralmente eram objetivas, não instigavam os alunos a pensar. Por isso, precisávamos recorrer a referenciais teóricos para refletir e vislumbrar possíveis intervenções para promover relações entre os conteúdos e atividades desenvolvidas na prática. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Felizmente, algumas conquistas foram acontecendo. Em Língua Portuguesa, organizaram sequenciadas com eixos a partir de gêneros textuais, os quais envolviam as situações de leitura e escrita. Criaram também atividades permanentes, propostas com frequência para a conquista da leitura, uma das maiores necessidades das crianças da escola. Em Ciências Naturais e Sociais, as temáticas de trabalho começaram a ser pensadas por semestre, envolvendo duas unidades e passaram a se articular até com Língua Portuguesa, ao trabalhar os procedimentos para ler textos informativos. Alguns professores relatavam que os alunos começaram a perceber que a temática de uma área, às vezes, era igual ou semelhante à de outra, fazendo relações entre o que estudavam. Nesse movimento de construção curricular, era necessário, na formação, começar a elaborar também atividades sequenciadas na área de Matemática buscando sua articulação com as demais áreas de conhecimento e com os saberes do cotidiano que os alunos já traziam para a escola. E assim, seguimos dando passos marcados por algumas conquistas e muitos desafios na construção e organização curricular da instituição. Conclusão Construir um currículo na perspectiva interdisciplinar ainda representa um grande desafio. O currículo, conforme referenciais abordados nesse trabalho é complexo e envolve diferentes aspectos da ação educativa. Por isso, é preciso mobilizar os professores a estudar, a refletir sobre sua prática, o que pode ajudar a ressignificar seus diferentes saberes para pensar de modo relacional, instigando-os a organizar uma nova proposta curricular. Desse modo, a formação contínua, especialmente em serviço, pode representar um caminho para que se façam conquistas nesse sentido. Urge repensar um currículo disciplinar, que fragmenta o conhecimento. Este, já não possibilita ao aluno desenvolver um pensamento relacional para compreender e se inserir no contexto da contemporaneidade, que é diverso e multirreferencial. É fundamental ressaltar que alguns passos já foram dados. Com o desenvolvimento das atividades sequenciadas envolvendo as áreas de Língua Portuguesa, Ciências Sociais e Naturais, os alunos começaram a estabelecer relações entre o que estudavam na escola e o seu conhecimento de mundo. Além disso, no campo da formação docente, observou-se que, a partir do momento que os professores Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 são mobilizados a refletir sobre suas práticas, sentem-se instigados e começam atribuir um novo sentido à ação educativa. E esse é um grande passo para o começo de mudanças na escola. Referências ALARCÃO, I. Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. BRASIL, Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB n. 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: Secretaria de Educação Básica, 2010. GEGLIO, P. C. O papel do coordenador pedagógico na formação do professor em serviço. In: ALMEIDA, L.R., PLACCO, V. (Org). O coordenador pedagógico e o cotidiano da escola. Edições Loyola, São Paulo, 2009. HERNÁNDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Trad. Jussara Haubert Rodrigues. – Porto Alegre: ArtMed, 1998. MACEDO, R. S. Currículo: campo, conceito e pesquisa. – 3. Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009. RAMALHO, B. L. NUÑEZ, I. B. GAUTHIER, C. Formar o professor, profissionalizar o ensino – perspectivas e desafios – Porto Alegre: 2ª ed. Sulina, 2004. SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática; tradução Ernani F. da F. Rosa. -3. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2000. TARDIF, M. Saberes Docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 EIXO 2 – CURRÍCULO E EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 FALANDO SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR DOS SURDOS, QUAL O LUGAR DA CRIANÇA SURDA NO CURRÍCULO DA ESCOLA REGULAR? Antonio Cesar Ramos da Silva27 Jusceli Maria de Oliveira Carvalho Cardoso28 Márcia Raimunda de J. M. da Silva29 RESUMO: Uma das questões que levantamos neste artigo é a necessidade de reflexão sobre o currículo a fim de assegurar a presença, inclusão e a possibilidade da criança surda estar - aprendendo em meio ao chão escolar. Entretanto, antes mesmo de iniciar a discussão sobre as possibilidades e os caminhos a trilhar para termos um currículo inclusivo, carecemos de discutir as nossas próprias construções e visões sobre a surdez, sobre os indivíduos surdos e sobre os pensamentos traçados sobre a palavra currículo. A palavra surdez acompanha a humanidade ha séculos e isto tem configurado diversas condutas das pessoas em termos das reações diante do fenômeno do não ouvir. Ou seja, se examinarmos a carga semântica da palavra surdez, vamos experimentar diversos sentidos que as pessoas atribuem ao ser surdo, indo de concepções mais simplistas às mais complexas. É fato, que a surdez precisa ser analisada, estudada a partir de várias óticas por diversas ciências no exercício do diálogo multirreferencial. Entretanto, precisamos analisar com cautela, as condutas humanas derivadas das diversas concepções atribuídas ao vocábulo surdez. Neste trabalho, em especial, buscamos dialogar sobre qual o lugar da criança surda no currículo, efetivando conversas sobre a necessária construção de um currículo multicultural, plural, mobilizador da inclusão escolar do surdo. Em linhas gerais, o artigo busca evidenciar as concepções dos sujeitos que constituem a escola que temos, sobre currículo e surdez, enfatizando uma analise apurada, seguindo o pensamento pós-critico do currículo que assume uma perspectiva multiculturalista e tenta dar voz aos grupos considerados minoritários ao considerar a diversidade dos sujeitos na construção processual do currículo escolar. A referência teórica dos nossos escritos está norteada a partir desta linha de pensamento, aqui representada por Macedo (2002), Silva (2011), Macedo (2007), McLaren (1997) que dialogam sobre as posições curriculares edificadas pela perspectiva do sujeito diverso, plural, sobretudo pensando o ethos inclusivo como processo em construção solidária. Os escritos deste texto irão culminar com apontamentos sugestivos para subsidiar a construção do currículo escolar, de fato inclusivo. O pensamento defendido nas linhas e entrelinhas deste texto tecido na/e pela polifonia de vozes dos autores, é da necessidade de edificação de um currículo multirreferencial, multicultural, onde a diversidade humana é configurada como elemento mobilizador das aprendizagens que se edificam no coletivo,na força da colaboratividade. Palavras-chave: Surdez; currículo; inclusão; 1. Iniciando Nossas Reflexões: Inclusão Escolar dos Surdos - Quem São Os Sujeitos Surdos? Uma das questões que levantamos neste artigo é a necessidade de reexaminarmos o currículo em termos de evidenciar qual o lugar da presença e da inclusão da criança surda na escola. Entretanto, antes mesmo de iniciar a discussão sobre as possibilidades e os caminhos a trilhar para termos um currículo inclusivo, carecemos de discutir as nossas próprias construções e visões sobre a surdez e sobre os indivíduos surdos, afinal de contas, a palavra surdez acompanha a humanidade há séculos e isto tem imprimido diversas condutas das pessoas em termos das reações diante do fenômeno do não ouvir. 27 Especialista em Educação; Universidade do Estado da Bahia. E-mail: [email protected] Mestre em Educação Especial/UEFS/CELAE/CUBA. Docente da Universidade do Estado da Bahia. Email: [email protected] 29 Especialista em Educação Especial/UEFS; Mestre em Educação em Pesquisa/UQUAC. Pedagoga da Universidade do Estado da Bahia. E-mail: [email protected] 28 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Se examinarmos a carga semântica da palavra surdez, vamos encontrar diversos sentidos que as pessoas atribuem ao ser surdo, indo de concepções mais simplistas as mais complexas. É fato, que a surdez precisa ser analisada, estudada sob várias óticas por diversas ciências no exercício do diálogo multirreferencial. Entretanto, precisamos analisar com cautela, as condutas humanas derivadas das diversas concepções e conceituações atribuídas ao vocábulo surdez, pois este clareamento nos remete a necessária escolha de posições teóricas acerca do fenômeno da surdez como também das relações que o homem e a mulher surdos estabelecem nos contextos sociais. Evidencia-se assim, necessária a escolha teórica que norteará nossas próprias concepções acerca da surdez. Neste estudo, optamos por debater sobre a surdez pela perspectiva multirreferencial, no sentido de acolher vários olhares. Isto significa dizer que acolher a postura multirreferencial para compreender o fenômeno da surdez nos remete a procura pela polifonia de vozes de autores e teóricos no exercício de entender a surdez e as relações do surdo/surda com o mundo social. Para Santana: O diagnóstico da surdez traz junto cm ele os pré-construídos culturais em relação ao ser surdo: impossibilidade de falar, de aprender, falta de inteligência, insucesso na escola, incapacidade de conseguir um bom emprego etc. [...] o tema surdez envolve, em função disso, muitos aspectos de ordem médica, de ordem linguística e de ordem educacional, de ordem terapêutica, de ordem social e de ordem trabalhista e de ordem política (SANTANA, 2007, p. 15) Quando o fenômeno da surdez chega ao campo da Ciência Pedagógica, diversos trabalhos no âmago da educação, sobretudo derivados da inspiração sócio interacionisita de base Vigotskiana tem mostrado que as pessoas surdas apreendem o mundo pelas experiências visuais e apropria-se da língua de sinais para propiciar seu desenvolvimento e garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais. Hoje falamos e entendemos a cultura surda como a identidade cultural de um grupo de surdos que se define diferente de outros grupos. Essa cultura é multifacetada. Ao contrário do que muitas pessoas pensam o surdo tem especificidades, singularidades demarcadas pela forma comunicacional e interacional com o meio e com as pessoas, pois são de cultura imagética, visual e quirológica, longe de serem deficientes. Sendo assim, a identidade surda se constrói dentro de uma cultura viso-gestual, onde os sons não são base da linguagem e sim, os sinais feitos com as mãos e com o corpo. Vygotsky ao desenvolver a teoria sóciointeracionista teve por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 o papel da linguagem e da aprendizagem, sendo esta teoria considerada histórico-social. Assim, evidencia-se a necessidade que o meio em que ele vive como a família, escola seja rico em estímulos para que, obtenham conhecimentos adequados para lhe assegurar a construção de conteúdos e valores necessários para sua formação social. De acordo com Santana (2007) a discussão sobre o normal e o patológico antecede a discussão como diferença ou deficiência, não diz respeito apenas a questões biológicas, mas, principalmente sociais: Há uma linha tênue que delimita o que pode ser considerado normal e o que pode ser considerado anormal (ou não normal). Os graus de proximidade e distância da normalidade são medidos pelo “avaliador”, geralmente por meio de procedimentos fechados de avaliação. Esse avaliador ocupa sempre o espaço da norma, e por isso, julga-se “superior”, tendo o poder de definir quem foge ou não a ela (FOUCAULT, 2001). Nesse caso, o sujeito não pode ter características particulares, já que sua individualidade “compromete” a norma. Em outras palavras, a individualidade é vista como um desvio e, portanto, deve ser corrigida para adequar a pessoa ao que é considerado normal, evitando-se a discriminação. Discriminação esta de que são alvos os gagos, os afásicos, os surdos, os disfluentes, enfim, todos aqueles que fogem à norma vigente. (SANTANA, 2007, p. 23). Para Santana (2007), se a surdez de um lado está diretamente ligada à tragédia e à culpa, por outro, procura-se modalizar esse sentimento a fim de compensar as decepções causadas, diante da ideia de anormalidade, de incompetência, de patologia e de bizarria. A escolha da língua do indivíduo surdo não é uma escolha de um meio de comunicação ou da identidade cultural, é uma escolha política, por dois motivos: primeiro porque a maioria das famílias ouvintes e os profissionais da área identificam a surdez como privação, um desafio para a interação/inclusão da criança no mundo dos ouvintes. Integração que acontece pela adesão ao oralismo e o afastamento de sua cultura surda e da língua de sinais (instrumentos estranhos à estrutura social dominante). Segundo, porque a escolha é um domínio de poder dentro da política familiar. Escolher uma língua visual significa que a família precisa propor a construção de processo de aquisição de linguagem por meio desse modo de recepção e expressão. [...] vemos que as normas sociais – organizadoras de toda a nossa vida social (modos de falar, de se vestir, de atuar no mundo, de pensar etc) - “autorizam” a segregação. A forma como a surdez é descrita está ideologicamente relacionada com essas normas. Por isso, fazer que a surdez passe de doença à diferença não é uma simples mudança de ponto de vista; para isso é necessário estabelecer novas normas, o que não é imediato, já que implica mudanças sociais decorrentes da alteração dos padrões ao longo da história. É isto que alguns autores tem proposto: que a surdez passe da condição de patologia à condição de fenômeno social, ou político-social. (SANTANA, 2007, p. 32). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Essa mudança ganhou uma nova nomenclatura, não só terminológica, mas conceitual: de deficiente auditivo para surdo. Antes os surdos eram considerados deficientes e a surdez era uma patologia incurável. Hoje, os surdos são vistos como pessoas comuns que carregam em si, a diversidade pautada pela não comunicação oral, e sim gestual. 2. O Sujeito Surdo e a Escola: Para Além da Abertura dos Portões. Muito tem se discutido, e com tamanho entusiasmo sobre a inclusão escolar do sujeito surdo na escola, levando-se o debate a confrontos de posições teóricas e ideológicas. Quando se fala sobre o processo de inclusão do surdo, necessário se faz examinar o significado do termo incluir e as diversas posições que se derivam deste ato. Muitas instituições tem anunciado que estão no caminho da inclusão. Entretanto, devemos ponderar que o movimento para inclusão principia dentro dos sujeitos, na mudança de suas concepções; seus pensamentos derivarão ações empenhadas na inclusão. Devemos também lembrar as condições necessárias a inclusão como estrutura e formação do pessoal da unidade escolar. Sobre a inclusão anunciada pelo poder público cabe uma reflexão, encontrada em Macedo: Sociedade inclusiva, escolas inclusivas, currículos inclusivos, pedagogias inclusivas, didáticas inclusivas são categorias que legitimam por dizerem muito mais de um sistema que se dinamiza na injustiça social, sem que se toque de forma radical nas usinas das iniqüidades, aliadas aos mecanismos do liberalismo historicamente descomprometido com condições sociais igualitárias. (MACEDO, 2007, p. 158) Nas palavras acima vamos encontrar sustentação para provocar indagações: Por que incluir? De onde vem à necessidade de incluir o surdo? Por termos uma sociedade calcada nos alicerces da discriminação, e da ignorância nas possibilidades do surdo de aprender. Assim, vão sendo articulados discursos e ações empenhadas na derrocada das artimanhas da exclusão, entretanto ainda, sem lograr êxitos. O surdo, que não se sente partícipe de uma escola que se articula e se constrói mediante modelos ouvintistas, que o considera como elemento apêndice, integrado ao modelo escolar. Neste sentido indagamos: Onde esta o surdo no emaranhado do currículo escolar, se os conteúdos, metodologias, estratégias de ensino estão ainda pautadas pelo modelo hegemônico da cultura ouvinte? Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Neste sentido cabe uma reflexão em termos da inclusão escolar do surdo usando a fala de Strobel: A história do povo surdo mostra que por muitos séculos de existência, a pedagogia, as políticas e muitos outros aspectos próprios têm sido elaborados sempre sob uma perspectiva dos ouvintes e não dos surdos que, quase sempre, são ignorados e desvalorizados como sujeitos e profissionais que podem contribuir a partir de suas capacidades inerentes e de sua diferença: a de ser surdo. Desta maneira, a ‘inclusão’ de sujeitos surdos nas escolas, tendo-se a língua portuguesa como principal forma de comunicação, faz-nos questionar se a inclusão significa integrar o surdo realmente. Na verdade, a palavra correta para as experiências desenvolvidas não é ‘inclusão’, e sim uma forçada ‘adaptação’ com a situação do dia-a-dia dentro de sala de aula. (STROBEL, 2006) Assim, torna-se evidente que pensemos de fato a escola que temos oferecido ao surdo, no que tange a real situação e construção do sentimento de pertença que o surdo desenvolve ou não em relação à escola regular. Como bem aponta Macedo: [...] Antes de se planejar e implementar atos de currículo ditos inclusivos, é preciso construir cenários educacionais verdadeiramente acolhedores, possibilitadores de um prática educativa de competência aprovada, confiáveis, coletivamente constituídos e intercríticos. Deste modo é necessário pensar como garantir ao outro os instrumentos de poder para conquistar aprendizagens dignas e não apenas habitar de forma humilhante um cenário de um conhecimento que dificilmente conquistarão [...] (MACEDO, 2007, p. 160) Inquietamos-nos sobre a situação escolar do surdo, configurado como um alienígena dentro de uma escola que lhe promete a inclusão, o estar com, o participar e o aprender. Fato que não tem se consolidado, como atestam estudos e publicações relativas a educação dos surdos na escola regular. Para Skliar: Na concepção educacional atual, a inclusão dos sujeitos surdos em escolas de ouvintes é a forma mais rápida e certa de voltar a chamar o sujeito surdo de ‘deficiente’, porque o que está sendo feito atualmente é apenas um jogo político em que um governo quer “deixar uma vírgula a mais” nas leis de governos passados. Muitos pedagogos, psicólogos e até doutores e mestres alimentam os discursos de inclusão linguística e cultural dos surdos, sem perceber as consequências deste processo que só tem contribuído mais ainda para o fracasso educacional dos sujeitos surdos. Estes especialistas não têm nenhuma experiência na prática em sala de aula com os sujeitos surdos, acabando por colocar os referidos sujeito no mesmo patamar dos deficientes visuais, deficientes mentais e outros, sem se dar conta que os sujeitos surdos possuem uma identidade linguística e cultural que os diferencia dos outros. (SKLIAR, 1998, p.37). Assim, não basta abrir os portões da escola para a entrada do surdo, mas assegurar rotas de aprendizagens coerentes para a realidade do ser surdo. Podemos e devemos repensar o currículo escolar, onde se considere “o outro antes de ser considerado alguém a ser incluído, deve ser perspectivado com alguém que deve vivenciar a sua educação exercendo o poder-com”. (MACEDO, 2007, p. 162). Para isso, nada mais urgente que Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 repensar e ressignificar o currículo atual em face do currículo que desejamos: multicultural, polifônico onde cabem todos e todas as pessoas com suas singularidades. 3. Para Incluir o Surdo: (Re)Pensemos nossas Concepções Sobre o Currículo Escolar Considerando-se que a escola é uma instituição social, criada no/pelo projeto da modernidade para formar cidadãos e que para tal edificação dos sujeitos, é fundamental se pensar nestes como coletivos, porém, como indivíduos sociais, é fundamental que aprofundemos nossas visões quanto a compreensão ampla do currículo escolar e do seu papel neste constructo. O currículo passa a configurar como o centro das atenções quando surgem propostas de introduções de disciplinas ou mesmo saída de algumas destas. De resto, como nos diz Tadeu (1996, p.184) "O currículo é tomado como algo dado e indiscutível, raramente sendo alvo de problematização, mesmo em círculos educacionais profissionais". Até mesmo os sujeitos mais próximos da escola (alunos, diretores, professores) mostram-se receosos e inseguros quanto as suas próprias definições de currículo. Indagamos a alguns discentes da rede pública na cidade de serrinha, sua concepção sobre o currículo, e obtivemos o assombroso quadro: Dos vinte alunos questionados, quatorze afirmaram não conhecer o termo, a não ser superficialmente e os outros sujeitos ouvidos, referiam-se ao currículo como "distribuição de disciplinas que eles deveriam estudar durante o curso". Isto nos remete a necessidade, segundo Bunham (1993, p. 4) de "[...] aprofundar, para melhor compreender, não só a polissemia do termo, mas ao seu significado como processo social que se realiza no espaço concreto da escola". Ou seja, o currículo deverá ser traduzido como núcleo do processo institucionalizado de educação e entendido como a junção convergente de todas as práticas e construções de conhecimentos coletivos proporcionados aos alunos. É justamente no processo de formação dos sujeitos que o currículo vem a ganhar significância maior, pois o nexo íntimo e estreito entre educação e identidade social, entre escola e subjetividade é confirmado precisamente pelas experiências cognitivas e afetivas nele corporificados. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Assim, como pensar o currículo como processo coletivo, se nossas escolas atuam, na maioria das vezes discriminando e reproduzindo no seu interior, a ordem sócioeconômica majoritária? De acordo com Tadeu (1996, p.185): Há, uma distância enorme entre as experiências atualmente proporcionadas pela escola e pelo currículo e as características culturais de um mundo social radicalmente transformado pela emergência de novos movimentos sociais, pela afirmação de identidades culturais subjugadas pelas lutas contra o colonialismo [...] Neste âmbito, é ímpar que os professores procurem compreender tais novas configurações econômicas, políticas, sociais a fim de se ter assegurada a construção do currículo aberto que realmente ofereça subsídios e ações coletivas onde todos se vejam inclusos. Pensar e discutir o currículo como abrangente é considerar a idéia de inclusão no/ pelo currículo, pois é aí, que interage um coletivo de sujeitos (alunos, professores) além de outros que indiretamente ligam ao ensino. 4. Reflexões sobre a Urgência de Ressignificar o Currículo Escolar em Face da Inclusão do Surdo. Acreditamos que pensar na dimensão da importância desempenhada pelo currículo no processo de desenvolvimento integral do aluno surdo é tarefa precípua, norteadora para o trabalho pedagógico. Considerarmos que a escola em grande maioria atua discriminando os sujeitos “diferentes” e reproduzindo uma ordem sócio político-econômica majoritária, modelo a se seguir, estamos reconhecendo que seus currículos também assumem tal constatação. Todos os sistemas de trabalho, de atividades disciplinares, deste modelo curricular atuam como mecanismos de controle e regulação próprios da esfera de produção do mercado com o objetivo de produzir resultados educacionais que se ajustem, mas estreitamente às demandas das classes mais abastadas economicamente. Assim, fica evidenciada a situação do surdo/hipoacústico. Percebermos que muitos, apesar de minoritariamente, estão fazendo parte da rede pública escolar, entretanto é "um fazer parte" apenas físico, pois o currículo escolar vigente não foi concebido para recebêlo. O currículo atual é padrão para atender aos ouvintes. Temos assim, evidências fortes de que, pensar na prática inclusiva do surdo é pensar na construção de uma prática curricular aberta, flexível, multifacetada: aí se apresenta a necessidade de serem ressigificadas algumas concepções básicas para Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 nortear o fazer do currículo flexível: Concepção de crianças; Concepção de escola; Concepção de educação; Formação docente e Concepção de cultura e de linguagem. Considerar o currículo, a partir desta perspectiva pressupõe a assunção/construção de uma rede de referenciais, a partir da qual seja possível analisá-lo, compreendê-lo, segundo um compromisso com a sua transformação e com base na certeza de que, como processo social, o currículo apresenta possibilidade concreta de contribuir para a construção desses sujeitos autônomos e de uma sociedade democrática capaz de aprender na diversidade. De acordo com Bumham (1993) são três os referenciais constituintes desta rede de referências para se compreender o currículo escolar: complexidade, multirreferencialidade, subjetividade. Além destes, para tratar da inclusão do sujeito surdo, podemos ampliar a rede com a assunção de mais dois referenciais necessários: pluriculturalismo/linguagens. 5. Repensando Perspectivas Para Discutir Propostas Curriculares Para a Inclusão dos Sujeitos Surdos. A discussão em torno das construções curriculares para atender às necessidades educativas especiais, sobretudo a surdez, nos faz pensar em duas situações: a primeira de âmbito “macro”: É preciso discutir a questão do currículo inclusivo que seja edificado no coletivo e neste contexto, a família, a criança, a comunidade, as esferas culturais, sociais e políticas-administrativas deverão participar ativamente. Nesta percepção, muitas reflexões precisam ser feitas com intuito de se determinar as concepções que os atores sociais, imbricados no processo de construção curricular tem sobre o aluno com necessidades educacionais especiais. Neste âmbito, vale discutir amplamente: qual a função da escola? Que valores assumem? Que meios usa para chegar às metas? Que e educar? Porque pensar em inclusão? Quais as concepções sobre o aluno com necessidades educacionais especiais? Que tipos de escolas se pretendem com o currículo inclusivo? O currículo precisa ser pensado, discutido, pautando-se por um eixo básico único que lhe garanta sustentação e igualdade para todos. É preciso pensar na integração baseada na incorporação de um conjunto de alunos com NEE e não somente de alunos incluídos de forma isolada e dispersa. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Deste modo, pensar no currículo aberto, elástico, flexível é pensar no homem como ser complexo, inacabado, incompleto e plural por excelência. Neste enfoque, necessário se faz, eleger referenciais teóricos norteadores além de alguns pressuposto orientadores: ter clara a concepção de criança, escola e educação; ter clara a concepção de currículo; pensar no processo pelo qual haverá a realização do trabalho educativo diário, junto à criança; estabelecer claramente às metas; pensar na construção identitária do aluno e sua formação cidadânica; pensar no processo de educativo como integração multidisciplinar; buscar o objetivo socializador em ambiente que proporcionem o acesso e a ampliação pelas crianças dos conhecimentos da realidade social e cultural; respeitar e considerar a diversidade cultural; definição de linhas teóricas e referenciais orientadores para direcionamento didático; elementos subsidiadores para a elaboração de projetos educacionais singulares em parceria com as famílias e a comunidade; considerar a pluralidade étnica, cultural, religiosa, de gênero, social etc dos múltiplos mapas culturais desenhados no contexto nacional; A segunda situação, de modo “micro”. É urgente se pensar na inclusão de objetivos específicos, conteúdo, formação docente, metodologias, recursos especiais, atividades específicas e toda uma sistemática de atendimento - acompanhamento e apoio no currículo. Tais considerações são necessárias na proporção que os sujeito terão uma educação única, comum, porém respeitando às suas diferenças pessoais, deverão ter momentos e oportunidades de ações, trabalhos e práticas particulares neste todo comum. A respeito desta postura, acreditamos ser pertinente pensar em adequações curriculares para vislumbrar tais especificidades inerentes ao aluno especial. Para isso, pensamos na orientação específica para nee – deficiência auditiva, a partir de alguns princípios psicopedagógicos para a educação do aluno surdo: Respeito à dignidade e aos direitos da criança considerando-se cada criança surda como única, diferente na sua individualidade; Direito da criança surda a brincar com seus companheiros, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação; vivenciar experiências lúdicas, prazerosas na escola e em casa. Ter acesso a experiências diversas. Acesso da criança surda aos bens sócio-culturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, comunicação, interação social, pensamento, ética e estética. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Ser ajudada no seu processo de construção identitária pela família e escola; Considerar todos os conhecimentos prévios que já possuam sobre o mundo; Construção do Projeto Pedagógico - ponto de referência obrigatório para todo desenvolvimento curricular; adaptações curriculares; concepção que a escola tem quanto à inclusão escolar; Formação docente e construção de equipe de trabalho multidisciplinar; Tal suporte, a partir dos princípios abordados, se direciona exatamente a flexibilização dos/nos componentes curriculares numa área específica de atendimento ao surdo. De acordo com os princípios supraenumerados podemos ter uma visão-ação ampla da atenção educativa ao surdo dentro do currículo de perspectiva inclusiva. Uma provável conclusão Não se trata apenas de discursar sobre os benefícios e as possibilidades (ou impossibilidades de incluir pessoas com nee na escola regular?). A questão, como bem anuncia Macedo (2007, p.160) “antes de planejar e implementar atos de currículo, ditos inclusivos, é preciso construir cenários educacionais verdadeiramente acolhedores [...]”. É sobre a construção de uma escola onde tod@s estejam presentes, sentindo-se pertencentes e respeitados que discutimos neste artigo, sobretudo, focalizando o surdo nesta escola. As especificidades do ser surdo nos remetem a necessária ressiginificação dos nossos conceitos sobre o fenômeno do não ouvir, sobre a identidade e a cultura do povo surdo que tem como traço singular o sistema de comunicação quirológica, viso-espacial. O desafio esta lançado: resta-nos caminhar em direção a esta perspectiva de vida. Cabe a cada um, uma revisão de valores cristalizados, arraigados e pensar num mundo que se constrói e se move pela energia das diferenças que alimentam a diversidade, o que nos faz humanos, incompletos e assim, seres que necessitam sempre de aprender. REFERÊNCIAS BRASIL. (1998) Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, vol. 1. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 BUMHAM, Terezinha Fróes (1993). Complexidade, multirreferencialidade, subjetividade: três referências polêmicas para compreensão do currículo escolar. Revista em Aberto, ano 12, nº 58. Abril / junho. COLL, César. et alli. (1998). Desenvolvimento Psicológico e Educação. Necessidades educativas especiais – vol. 3. Porto Alegre. Artmed. FORQUIN, J. C. (1996). Escola e Cultura. Porto Alegre. Artmed. FOUCAULT, Michael. História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 2002. LANE, H. A máscara da benevolência: a comunidade surda amordaçada. Lisboa: Instituto Piaget, 1992. MACEDO, Roberto Sidnei, Currículo, Diversidade e Equidade Luzes para uma Educação Crítica. Salvador: EDUFBA, 2007 SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. Plexus Editora, 2007. SILVA, Tomaz Tadeu; (1996) Territórios Contestados. O Currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis. Vozes. SKLIAR, C. A forma visual de entender o mundo: educação para todos. Revista Especial, SEED/DEE, Curitiba, 1998. STROBEL, Lilian; ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p.244-252, jun. 2006 – ISSN: 1676-2592FERNANDES, S. F. Surdez e linguagem: é possível o diálogo entre as diferenças? 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998. _______. Surdos: vestígios culturais não registrados na historia. 2006. Tese (Mestrado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. RADUTZKY, E. Dizionario bilíngüe elementare della língua italiana dei segni. Roma Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Interlocuções identitárias da cultura do feirante no contexto escolar Cecilia de Fátima Boaventura de Macêdo30 “ Não há nada a dizer. Temos que ver, olhar. É tão difícil fazer isto. Estamos acostumados a pensar, todo o tempo. É um processo muito lento e demorado, aprender a olhar. Um olhar que tenha um certo peso, um olhar que questione.” Henri Cartier Bresson RESUMO: Trazemos a fotografia das feirantes como estratégia didática utilizada em sala de aula (Colégio Estadual Luiz Viana Filho- Cidade Nova) na análise e interpretação dos elementos que constituem os universos circundantes em que o aluno está inserido. Num segundo momento a partir das fotografias das feirantes, tivemos o objetivo de levantar o reconhecimento e debate dos alunos em relação a esse espaçoa feirinha local - como fonte de sobrevivência (pais e parentes sobrevivem daquele trabalho, muitos alunos também trabalham e ex-alunos continuam lá). Buscamos também ressaltar a importância da nossa cultura popular – o feirante- a partir de uma atividade de ordem econômica e carregada de símbolos como também na preservação da tradição. Seguindo essa linha procuramos demonstrar aos alunos que os mesmos fazem parte dessa realidade na construção e identificação deles enquanto sujeitos histórico-culturais. A metodologia inicial está pautada num estudo experimental com exercícios de observação espacial partindo da Teoria dos Universos Circundantes (BITT-MONTEIRO, M:2000) e os alunos puderam diante da fotografia estabelecer relações entre textos e contextos, fazendo suas representações e significados, colocando suas opiniões de mundo. Neste sentido a fotografia se configura como uma linguagem carregada de símbolos e traz consigo o registro de uma de uma cultura, no nosso caso - a feirante- que pode estar entre a continuidade ou ruptura de sua relação temporal e espacial na sociedade contemporânea. É com base num entrecruzamento com a disciplina História que procuramos demonstrar aos nossos alunos que eles fazem parte integrante dessa construção e memória social, pois a cidadania também está entrelaçada com esse processo de reconhecimento do seu trabalho. Palavras- chave: Fotografia e cultura; Feirantes; Contexto escolar. Introdução A fotografia é um instrumento adicional de contemplação, registro, memorização e análise. (Bit-Monteiro, 2000,p.6) Fotografar é um ato de representar, de expressar, de comunicar e de registrar o momento. Trazemos a fotografia como escolha de um cenário, como discussão de um grupo e cultura que possui uma referência performativa 31. É centrando na percepção, na crítica visual a partir de situações, cenas ou experiências de grupos que parecem-nos corriqueiras ou desinteressantes, frente aos modelos estabelecidos pela hegemonia cultural, que trabalhamos a arte de contemplar a fotografia 30 Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social (FGV). Especialista em Texto (UEFS). Graduada em Letras (UEFS). Professora de Língua Portugesa da rede pública estadual desde 1994. [email protected] 31 Termo usado por Georges Yúdice (2004) que se refere aos processos pelos quais identidades e entidades de realidade social são constituídas pela repetida aproximação de modelos normativos. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 buscando uma educação do olhar32 para aguçar as percepções e sensações dos alunos e ampliar as leituras que os cercam. Neste intento a fotografia integra-se como elemento didático-pedagógico dinamizador nas aulas de língua portuguesa, a partir de questionamentos que emergiram na sala de aula sobre quais as representações que se tem dos feirantes no espaço escolar. Partindo dessa discussão visamos ressaltar a importância da nossa cultura popular – o feirante- a partir da representatividade que possuem no contexto escolar, de alunos que assim o são, e sobrevivem a partir dessa atividade de ordem econômica financeira. A fotografia neste caso irá fazer emergir para os alunos o contexto social a que eles fazem parte, como espaço que está entrecruzado em suas itinerâncias. Nesta perspectiva o trabalho com a imagem fotográfica reveste-se de caráter singular como estratégia de estímulo à tomada de consciência do espaço onde trabalham e de referência cultural. A partir da fotografia como registro (documento) queremos demonstrar aos alunos as possibilidades desse fazer histórico a partir da interpretação das imagens das feirantes como algo para os alunos inicialmente simples, mas buscando construir um outro olhar fotográfico, com uma interpretação do contexto social. Face ao exposto trazemos as questões: a) até que ponto a fotografia contribui para o reconhecimento do ser feirante no espaço escolar? b) Qual é a importância que uma imagem possui para o ato de reconhecerse? Partimos das fotografias como registro de imagens que irá estabelecer uma reflexão aos alunos quanto ao seu lugar na sociedade, explorar as representações que os mesmos fazem dessa realidade. Há que se destacar que ao trazer à tona essa problematização dá-se no cotidiano das seqüências didáticas novas possibilidades de trabalhar conteúdos interdisciplinares como a disciplina História, por exemplo, no reconhecimento dos alunos enquanto sujeitos que fazem parte integrante dessa memória social. Partindo desse propósito apoiamo-nos na Teoria dos Universos Circundantes (BitMonteiro, 2000, p.6) Seja um suporte, uma linguagem ou um signo, a fotografia e suas ramificações, estão definitivamente ligadas nas inter-relações do homem com seu meio, e em suas percepções, conhecimentos, reconhecimentos, memorizações e críticas dos assuntos e situações, que ocorrem ou já ocorreram tanto nos universos que o circundam, quanto no de outros. Por este veio nossos objetivos com este projeto são: 32 Locução usada pela professora para atividades que requerem a transição do pragmático para o reflexivo. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Utilizar a fotografia como estratégia didática na sala de aula para os alunos observarem e reconhecerem-se como feirantes e no espaço em que estão inseridos. Reconhecer a feira como elemento constitutivo da cultura local e espaço de sobrevivência. Diante da necessidade de compreender como os estudantes da rede pública - que não tem uma educação que oferece condições instrumentais mínimas requeridas pela sociedade atual - para viver e atuar num contexto de incertezas, onde não prepara o suficiente os estudantes para viver e poder ganhar a vida, buscamos compreender as novas formas de construção do conhecimento sabendo que estamos diante de estudantes que são um ser de relações, que está no mundo e com o mundo, favorecendo em nossas aulas uma aprendizagem resultante da relação sujeito-objeto33, numa interação recíproca. Esta compreensão possibilitou-nos uma reorganização na visão educacional e reflexões constantes, buscando mais trocas, diálogos e interações no nosso olhar. É assim que sugere Moraes (2005, p.200) A proposta construtivista incorpora não apenas a razão, mas também a intuição, as emoções e os sentimentos [...] [...] O indivíduo aprende pela interação das estruturas nervosas ao estabelecer conexões com os símbolos, ao utilizar os sistemas simbólicos oferecidos pela cultura. O entendimento desse fenômeno nos diz que quotidianamente temos acesso a imagens fotográficas com o seu poder de comunicação que a mídia coloca-nos, por essas questões buscamos articular uma educação que se volte para a compreensão da cultura visual, onde questionamos alguns valores que são construídos pelos alunos e cabe-nos orientá-los numa nova forma de observar, de ver, de perceber, de captar também de forma crítica, e analisar melhor seu espaço de convivência. Metodologia O percurso de nosso projeto foi desenvolvido nas seguintes etapas prevista em seis a sete aulas: Etapa 1 - Inicialmente expliquei aos alunos o Projeto Identidades Feirantes, os seus objetivos e propósitos, qual interesse em executar, e perguntei quem estaria interessado em participar. Em sua maioria queriam saber se os trabalhos correspondentes de suas 33 MORAES, Maria Cândida . O paradigma Educacional Emergente. Papirus, 1997. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 participações seriam tidos como avaliativos, esclareci que sim, afinal de contas eles estariam envolvidos nas produções e encaminhamentos e por fim englobaríamos uma avaliação mais abrangente: oral, performática – no contato com as feirantes-, seus modos de falar etc. Etapa 2 - Partimos de uma investigação de caráter experimental conforme Monteiro (2000) com exercícios de observação do ambiente – a feira -, seguido de seleção das feirantes e do pedido de permissão das mesmas para serem fotografadas, explicandolhes qual o objetivo das fotografias. Como foi num dia de semana, poucas estavam lá, fazendo-nos voltar no sábado seguinte e explicando-as sobre o projeto. Nessa etapa questionamos: Será que os alunos no contato com a feira reconhecem os elementos que compõem os espaços visitados? No momento da fotografia o cuidado com o enquadramento da foto, a escolha da cena, o ângulo, o quê a cena deveria refletir. Todas essas escolhas e discussões foram preliminarmente trabalhadas em sala de aula no intuito de esclarecê-los do propósito do projeto. Neste contato encontramos alguns alunos da escola que estavam trabalhando na feira e questionaram-nos porque não os fotografávamos também, explicamos o projeto rapidamente e pedimos que depois nos procurassem na escola. Etapa 3 - Depois dessa observação seguimos a escolha das fotografias, nada muito fácil em se tratando de adolescentes e jovens com suas dúvidas e questionamentos intermináveis, mas conseguimos ao final elencar as mais significativas. Como se aproximava o Dia Internacional da Mulher, resolvemos fazer uma exposição fotográfica que perdurasse até o final do mês, na biblioteca da escola e convidamos as feirantes para virem, e ficaram surpresas com suas fotos. Muitos professores da escola levaram seus alunos para visitação. Etapa 4 - Levamos nossos alunos a observar as fotos e inicialmente exporem espontaneamente seu pensamento visual, com suas idéias livremente, suas percepções das imagens. Ao refletirmos com Bit-Monteiro (2000) sobre a questão do tempo, a capacidade que a imagem tem de fazer o instante vivido retornar, e o passado ressignificar, pudemos vivenciar tal experiência nas descrições dos alunos diante das fotografias. Estabelecemos questões partindo das observações diante da imagem como a sua composição, o que a cena reflete, para compreender o grau de percepção dos alunos e o espaço em que convivem cotidianamente. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Com isso os alunos puderam diante da fotografia estabelecer relações entre textos e contextos, fazendo suas representações e significados, colocando suas opiniões e interpretação do mundo. Dessa forma a fotografia possibilita-nos “mostrar o mundo, muito mais do que nos oferecê-lo ao nosso pensamento”, conforme Samain (2005). Assumindo a postura de observador, os alunos puderam estabelecer um novo conjunto de referenciais, conforme ressalta Bit- Monteiro (2000) Na medida em que o interesse por algo evidencia-se ou é estimulado, a percepção torna-se automaticamente mais viva e aguçada, emocionalmente e cognitivamente dirigida aos universos e seus elementos que nos cercam, de modo mais detalhista, com atenção mais refinada. (p.5) Desta forma eles demonstraram uma percepção mais crítica e apurada, pois os elementos espaciais com que convivemos diariamente acabam por sistematizar emoções, fazendo-nos acomodar nossas sensações, deixando-nos “sem perceber” outras sensações que diariamente vivenciamos, pois os referenciais acabam por se estabelecerem e ficam automatizados. Percebemos nas descrições dos alunos a partir da fotografia sua forma de olhar a sociedade e o mundo, e as representações que eles possuem de si, conforme suas características sociais, históricas e culturais, que segundo (HERNÁNDEZ, 2000) são “os imaginários sociais, a comunicação entre as representações sociais e o mundo imagético que invade o cotidiano dos alunos”. Etapa 5 - Nesta etapa após essa primeira parte de percepção do sujeito no reconhecimento em relação ao seu território contém as seguintes indagações*: 1) Os elementos que compõem a foto salientam qual informação foi considerada mais importante na imagem? 2) Observando as fotografias como vocês percebem o espaço / território da feira? 3) Qual a contribuição da fotografia no registro dessa cultura local? *Essa etapa não pode ser efetivada em decorrência da greve da rede estadual. Devemos reconhecer o potencial descritivo da imagem como aliado de uma metodologia que traz a comunicação através de imagens não-verbais, resultante de um processo de construção de sentidos, que aparentemente num primeiro instante não parece ter envolvimento com um trabalho de cunho social, mas o estudo da fotografia em sala de aula reveste-se de um sentido tanto cultural como historicamente inseridos. Com propriedade ressaltou Yúdice (2004) [...] pensar que essas experiências de sujeitos, grupos e culturas que vivem os processos de fragmentação espaço-temporal contemporâneos [...] [...] devem ser Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 estudados como núcleos de vida cultural transbordando em novos arranjos sociais, negociados com a imposição de modelos normativos. Ao refletir com Yúdice sobre essa necessidade de preservar as tradições torna-se imperativo que o espaço escolar - como espaço gerador de saberes e que difunde a cultura – traga sempre à discussão a imbricação da cultura com o desenvolvimento da tecnologia baseada na utilidade, pois que esta de alguma forma motiva o deslocamento e deslegitimação das identidades culturais. Referências HERNANDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. MONTEIRO, Mario Bittencourt. Projeto Bios. a Fotografia como elemento de Percepção, a Fotografia como elemento de Percepção, Visão e Interferência nas questões Ambientais. Porto Alegre: Revista de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, vol. 8, p.251-271, 2000. ________.Teoria dos Universos Circundantes – Percepção, espaço e fotografia: uma abordagem metodológica. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA & COMUNICAÇÃO da UFRGS - Vol. 8, p. 261-71. Ano 2000. ISSN 0103-0361. MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas, SP; Papirus, 2000. SAMAIN, Etienne. O fotógrafo. 2ª Ed. São Paulo: Editora Hucitec. Editora Senac. São Paulo.2005 YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Trad. MarieAnne Kremer. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A importância da cartografia no ensino da geografia: possibilidades para a aprendizagem discente Christiane Couto Miranda de Lima34 RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar resultado de experiência sobre minicurso a respeito da contextualização do ensino da geografia nas séries iniciais do Ensino Fundamental, junto a 33 estudantes do 1 º ano do Curso de Formação do Magistério. No desenvolvimento da prática compartilhada trabalhei tema de extrema importância dentro da área geográfica: cartografia. Para tanto, utilizei os pressupostos teóricos de Piaget (1970), com sua proposta construtivista, ao afirmar que todo conhecimento deve ser construído pelas crianças através de suas ações. Essas ações, em interação com o meio e o conhecimento anterior organizado na mente, proporcionam a acomodação dos conhecimentos percebidos que passam a ser assimilados. Por essa perspectiva, parti do entendimento de que os conhecimentos cartográficos devem valorizar a utilização do espaço da ação cotidiana dos estudantes e a partir dele é que deverão ser construídas as primeiras noções espaciais para depois representá-lo utilizando símbolos e codificando-os. No que se refere à localização e orientação no espaço geográfico, também foram valiosas as contribuições de Piaget (1970) acerca do pensamento intuitivo assentando-se sobre o desenvolvimento da criança e a compreensão de que na construção da noção de espaço é através do processo intuitivo que ela começa a se dar conta de que o juízo que fez da localização dos objetos por meio de seus referenciais espaciais muitas vezes não confere com o que acontece. Sendo assim, procurei utilizar o próprio corpo do aluno, com a dinâmica pedagógica “Mapa do Eu”, desenvolvendo sua lateralidade, mediante a um trabalho com o esquema corporal, explorando as noções de lateralidade e proporcionalidade. Por meio do mapa do próprio corpo, os alunos construíram a ligação concreto X representação e se prepararam para a utilização dessas noções em outras representações. Outro resultado importante decorreu das contribuições de Freire (1998) quando afirma que os educandos devem se envolver no processo de construir seu próprio conhecimento. Com base nesse pressuposto, além da dinâmica citada, foram utilizadas outras técnicas como, a dinâmica do varal, construção de maquetes da sala de aula, desenhos, saída ao pátio da escola para localizar-se através do sol, construção de bússola, globo terrestre com bola de isopor, mapas, etc. Espera-se que os resultados do trabalho contribuam à reflexão de práticas pedagógicas docentes comprometidas com o desafio de favorecer a aprendizagem de diferentes estudantes. Palavras-chave: Geografia. Cartografia. Representação. Introdução Discussões atuais indicam a importância em se considerar a diversificação de estratégias de aprendizagem, bem como a facilitação do ensino das disciplinas escolares a fim de oportunizar condições para o enriquecimento e produção do conhecimento de diferentes estudantes. Nesse sentido, por acreditar na relevância da temática e sua inserção nas discussões curriculares, o presente texto tem por objetivo apresentar resultados de experiência construída na realização de minicurso a respeito da contextualização do ensino da geografia nas séries iniciais do Ensino Fundamental, junto 34 Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista em Métodos e técnicas de ensino pela Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Professora da rede municipal de Feira de Santana – BA, atuando na Escola Municipal Otaviano Campos e Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite. Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Nobre de Feira de Santana. Email: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 a 33 estudantes do 1 º ano do Curso de Formação do Magistério. Para tanto, consideramos importante apresentar as considerações iniciais deste tema. A fim de organizar o presente texto, inicialmente discutiremos a compreensão sobre a geografia, bem como da cartografia que subsidiou a construção da experiência relatada. Em seguida problematizaremos a experiência propriamente dita, com vistas a socializar seus resultados, que sob o ponto de vista desse texto, podem contribuir a reflexão e redimensionamento das práticas curriculares de outros professores. A seguir iniciamos a discussão sobre a geografia, e, por conseguinte, das estratégias para diversificação do seu ensino e aprendizagem discente. A geografia e a utilização da cartografia: entendimentos necessários Sendo a geografia a ciência da sociedade e da natureza, necessário se faz mostrar ao estudante que ele é sujeito dessa sociedade e como tal está localizado em um determinado ponto do espaço geográfico dessa mesma sociedade. Ressaltamos assim, a importância da cartografia não só para a geografia como ciência, mas também para a geografia como disciplina escolar, já que a cartografia nos dá sustentabilidade para a correta localização e orientação em qualquer ponto do espaço terrestre. No ensino escolar, as habilidades: localização, orientação, representação, devem partir do espaço do cotidiano do estudante para um espaço mais distante, numa constante inter-relação e interligação entre essas duas instâncias, ou seja, o próximo e o distante, sendo que, segundo Almeida (2010, p. 13),” a realidade é o ponto de partida e de chegada. De sua observação o aluno deve extrair elementos sobre os quais deve refletir e a partir disso ser levado a construção de conceitos”. Nas reflexões que fazemos no presente texto, consideramos importante salientar, que a cartografia marca o início dos estudos geográficos e não o seu fim. Nesse sentido, para o aluno, é indispensável e de extrema importância que ele participe ativamente do processo de (re) construção do conhecimento, que deve ser elaborado por meio de suas ações (PIAGET, 1970). Essas ações, em interação com o meio e o conhecimento anterior já organizado na mente, proporcionam a acomodação dos conhecimentos percebidos que passam a ser assimilados pelo aluno. Assim, o aluno em sua prática escolar deve ser bem orientado pelo professor, que deverá usar metodologias equivalentes a de ensinar a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ler e escrever, já que o ensino geográfico através da cartografia insere os estudantes na leitura do mundo. A partir dessas considerações, entendemos que, o mapa e todas as outras representações cartográficas, no ensino e aprendizagem da geografia, tornam-se extremamente importantes, pois é através desses elementos que o aluno terá possibilidade de conceber e organizar o espaço geográfico. Isto, porém, somente ocorrerá se ele participar ativamente do processo de construção do seu conhecimento no que diz respeito às habilidades necessárias para a leitura e análise do espaço geográfico no qual está inserido. O aluno deverá ser capaz de se reportar ao processo de produção do espaço, confrontando com a configuração espacial do mapa, o que ainda é uma das dificuldades encontradas pelos professores da Geografia que veem o processo de comunicação cartográfica como muito complexo. Daí decorre a importância de se trabalhar a cartografia desde os anos iniciais do ensino fundamental, respeitando-se o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno, partindo-se do espaço da ação cotidiana dos mesmos. Nos pressupostos teóricos que respaldaram a elaboração do minicurso, no que se refere à localização e orientação no espaço geográfico, foram utilizados subsídios teóricos de Piaget (1970), ao afirmar que o pensamento intuitivo, característico da criança a partir dos quatro até aproximadamente os sete anos, assenta-se sobre a aparência dos fenômenos, isto é, sobre aquilo que a criança percebe, ou parece que está acontecendo. Isto ocorre em toda situação de aprendizagem que a criança realiza em seu meio. Na construção da noção de espaço, é através desse processo, que ela começa a perceber que o juízo que fez da localização dos objetos através de seus referenciais espaciais muitas vezes não confere com o que realmente acontece. Quando o aluno atinge maturidade suficiente para compreender um mapa, essa compreensão, [...] por si mesma já traz uma mudança qualitativamente superior na capacidade do aluno pensar o espaço. O mapa funciona como um sistema de signos que lhe permite usar um recurso externo à sua memória, com alto poder de representação e sintetização (ALMEIDA, 2010, p. 13). O aluno deve perceber-se como sujeito ativo e participativo da sociedade da qual faz parte, para tal necessita compreender a organização do espaço geográfico no qual está inserido, espaço esse que pode e deve ser representado e sintetizado através de mapas para melhor ser analisado e entendido. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 No âmbito do ensino de Geografia, os parâmetros Curriculares Nacionais estabelecem objetivos, dentre eles, Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações; saber utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos (BRASIL, 1997, p. 35). A Geografia não existiria sem a cartografia, já que a cartografia está para a Geografia como um suporte básico extremamente importante. Não seria possível para a Geografia analisar, interpretar, relacionar informações sobre o espaço geográfico sem a utilização da linguagem cartográfica representando a espacialidade dos acontecimentos e fenômenos geográficos, possibilitando ao aluno a leitura desse espaço, já que para Almeida (2010, p. 46), “possivelmente estaremos presenciando ainda neste século uma comunicação interplanetária, e essa preocupação com a leitura de mapas precisará ser ampliada para uma leitura do espaço sideral.” Por isso é relevante a preocupação de, desde os anos iniciais do ensino fundamental, introduzir algumas técnicas e métodos para preparar o aluno para a leitura do espaço geográfico, bem como propiciar aos alunos atividades que os levem a agir e refletir sobre o espaço, internalizando os conhecimentos cartográficos. Esta preocupação fomentou a realização da experiência relatada na próxima seção. Esperamos oferecer com riqueza os detalhes de sua operacionalização e assim contribuir para importantes reflexões curriculares sobre o ensino da geografia, bem como a utilização da cartografia. O uso da cartografia: compartilhando um pouco da experiência realizada Com base nos pressupostos teóricos que embasam a experiência compartilhada, e em observância ao objetivo de contemplar a proposta pedagógica de trabalhar a cartografia, foi realizado um trabalho na forma de minicurso para estudantes do curso de habilitação para o magistério nas séries iniciais. O minicurso teve o intuito de contribuir ao ensino de geografia e instigar os futuros professores para a sistematização da Cartografia. A partir de uma pesquisa feita com esses estudantes do curso de magistério, pude perceber a necessidade de abordar este tema, já que os alunos mostraram uma grande carência em relação a assuntos cartográficos. Sendo assim, a proposta foi posta em prática durante cinco dias, buscando sempre proporcionar dinamismo e a interação Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 dos alunos no processo ensino-aprendizagem e a correlação com os seus conhecimentos anteriores. Durante a realização do minicurso atentei-me para trabalhar sempre voltada para a proposta construtivista de Piaget. Construindo o objeto de estudo, tornou-se mais prazeroso para os alunos a assimilação da aprendizagem tornando-a mais significativa. Foram desenvolvidas no primeiro dia de trabalho, para o tema A importância da Cartografia no ensino da Geografia, atividades como Dinâmica do Varal, onde os alunos em forma de desenho mostraram seus conhecimentos já adquiridos sobre os conceitos de geografia e de Cartografia. Foi também elaborado o Mapa do Eu (mapa corporal), para desenvolver nos alunos a lateralidade e a descentralização da criança, pois segundo Castrogiovanni (2009, p. 30), “a construção das noções espaciais está relacionada com o processo de descentralização, que vai ocorrendo com a diminuição da postura egocêntrica...”. No segundo dia, com o tema Em busca da compreensão Geocartográfica, houve uma aula expositiva sobre convenções cartográficas e a construção do croqui e da maquete da sala de aula, partindo do principio de que o aluno deve construir noções espaciais a partir de ações de um espaço conhecido e vivenciado por ele, onde foram utilizados materiais trazidos pelos alunos, como caixa de sapato, de fósforo, copinhos descartáveis, bonequinhos de plástico, etc. Para tanto, apoiamo-nos no entendimento de que “A maquete servirá de base para se explorar a projeção dos elementos do espaço vivido (a sala de aula) para o espaço representado (planta)” (ALMEIDA, 2010, p. 52). No terceiro dia, o tema trabalhado foi Como orientar-se e como localizar um ponto no espaço terrestre, as atividades propostas foram: desenho da rosa-dos-ventos (colocando-se no centro do desenho) para localizar-se no espaço no qual está inserido, construção da bússola, construção do globo (para trabalhar as coordenadas geográficas) saída ao pátio da escola para orientar-se através do sol. Para tanto nos baseamos no entendimento de que Graficamente, a rosa-dos-ventos dá as direções... É fundamental considerarmos o sol, as estrelas e a bússola, como instrumentos práticos e eficientes para a orientação. O descaso no que diz respeito à utilização de tais instrumentos pode acarretar problemáticas situações cotidianas como comprar uma passagem de ônibus ou de trem e viajar todo tempo do lado do sol, construir uma casa com os quartos voltados para o sul, em Porto Alegre, ou até fatais [...] (CASTROGIOVANNI, 2009, p. 41). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Posteriormente as atividades citadas acima houve uma aula expositiva para a explicação de seu funcionamento como instrumentos para a correta localização no espaço geográfico. No quarto dia do minicurso o tema trabalhado foi A importância da leitura de mapas para nossa localização no espaço terrestre, onde foi construídos mapas e as suas respectivas legendas e escalas, partindo-se do espaço cotidiano, próximo, para um espaço mais distante do aluno (processo que deve ser construído gradualmente). A título de exemplo desse trabalho, a classe foi dividida em grupo e cada grupo ficou com a elaboração do mapa de uma determinada região geográfica do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a mesma escala, formando um quebracabeça, que posteriormente juntado formou-se então o mapa do Brasil, com a colaboração de todos. Todos os mapas elaborados foram devidamente explorados pelos alunos com a orientação/instigação do professor, onde leram o espaço sob vários pontos de vista. É preciso salientar ainda segundo Castrogiovanni (2009, p.78), que ”Para ser um bom leitor de mapas, deve-se inicialmente ser um bom construtor.” No quinto e último dia do minicurso, agora com o desenvolvimento do tema O lugar, depois de ouvir, ler e cantar a música “Meu lugar” (Márcio Farias), intervi com algumas perguntas relativas à música e ao tema proposto para que houvesse a interpretação da música. Foi trabalhado também o texto extraído das “Aventuras de Alice” de Lewis Carroll (1980 p.41-46). Trabalhando esse texto foram propostas algumas questões/indagações para que se pudesse pensar o lugar como uma categoria de análise geográfica. Posteriormente foi observada uma paisagem a partir do pátio da escola, onde os alunos descreveram e desenharam essa paisagem. No estudo dos lugares, segundo Castrogiovanni (2009, p.106) “As atividades de representação do espaço permitem que se trabalhe com a realidade concreta, o que facilita o desenvolvimento da habilidade de leitura de mapas.”. Com a finalização das atividades, os alunos puderam avaliar o minicurso, aspecto que se tornou significativo e me impulsionou inclusive a elaboração deste texto. A seguir apresentamos nossas conclusões. Conclusão Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O objetivo desse trabalho foi relatar uma experiência muito proveitosa realizada em forma de minicurso, servindo apenas como sugestões exemplificativas de como contextualizar a Geografia nas séries iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo para a reflexão de práticas pedagógicas comprometidas com o desafio de favorecer aos alunos a participação efetiva na construção do conhecimento. Sendo assim todos os trabalhos desenvolvidos tiveram um enfoque construtivista. É necessário que os professores das séries iniciais se atentem que a “alfabetização cartográfica” é tão importante quanto à aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática, devendo ser desenvolvida na criança a capacidade de percepção através da simbologia, representando o espaço cotidiano para posteriormente entender a dinâmica do espaço organizado fora do ambiente escolar. Esperamos que outros professores elaborem criativamente atividades voltadas para a alfabetização cartográfica na perspectiva de levar a criança a interagir com o seu meio. Dessa forma acreditamos na ressignificação de práticas curriculares, ao tempo em que consideramos a importância da experiência compartilhada e de sua ampliação em outros fóruns acadêmicos. Com esse desejo reiteramos a relevância de contribuir com a prática de diferentes professores e assim corroborarmos a construção da aprendizagem discente. Referências ALMEIDA, Rosângela Doin de. O Espaço Geográfico: ensino e representação. 15ª Ed. São Paulo: Contexto, 2010. BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: história, geografia. Brasília: 1997. CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Editora Mediação, 2009. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. PIAGET, Jean. A Formação do Símbolo na criança. Rio de Janeiro. Zahar, 1970. VYGOTSKY, Lev S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Uma experiência de estudos do desenho curricular numa turma do ensino superior Claudine de Lima Nunes Cordeiro35 RESUMO: O pano de fundo deste relato visa apresentar uma experiência com acadêmicos de uma instituição de ensino superior, na disciplina Currículo. Esse trabalho teve como objetivo fundamentar e instrumentalizar o acadêmico sobre o cabedal teórico do campo de currículo com vias a enriquecer e solidificar a sua formação, no tocante ao exercício da sua docência com competência técnica. A disciplina foi apresentada de maneira a estimular os estudantes a se aprofundarem neste campo temático e muito prazeroso, levando-os a pensar reflexivamente acerca do conceito de currículo no senso comum para depois mergulhá-los nos textos dos teóricos mais renomados no campo epistêmico de currículo, alguns dos teóricos estudados, a saber: Silva(2007), Antônio Flávio Moreira(2000), Sacristán (2000) Miguel Arroyo(2000) entre outros.Confrontamos os conhecimentos adquiridos e a luz destes teóricos pudemos ressignificar o que é, como acontece e o que faz o currículo no contexto escolar.Assim , o trabalho foi ficando cada vez mais intrigante , rico e após fundamentação teórica, chegou o momento de analisar uma proposta curricular de algumas cidades, para que tivéssemos suporte teórico e metodológico no sentido de solidificarmos subsídios fundamentais no caminhar e construir o nosso desenho curricular.Ao final da disciplina como proposta de avaliação deveríamos construir um pôster com os resultados obtidos na análise da proposta curricular.Contudo, a análise teve como preceitos alguns requisitos: leitura e compreensão da proposta curricular escolhida, procedendo ao destaque de pontos relevantes e sinalização de artifícios que ficaram latentes na referida proposta.Diante do estudo foi possível construir o pôster enfatizando e contornando os pontos relevantes e os que ficaram esquecidos.Neste sentido, conseguimos identificar alguns elementos da proposta curricular, tais como: a construção deve versar pela coletividade e diversidade dos atores do contexto educativo, acurado cuidado com a educação especial, diversidade cultural:etnia, questões de gênero, sexualidade, respeito irrestrito ao outro,formação pedagógica continuada,identidade,dentre outros.Partindo deste princípio da igualdade, constatamos que a experiência ora referida foi bastante sugestionadora de outras experiências no campo epistemológico de currículo, bem como produtiva, enriquecedora e eficaz, pois contribuiu de forma relevante para a referida formação acadêmica, concedendo ressignificação aos estudos de currículo e nos proporcionando a especificidade do saber- fazer da construção de uma proposta curricular. PALAVRAS-CHAVE: Currículo;Proposta Curricular;Experiência. Introdução A formação de pedagogos requer um ensino cimentado em princípios teóricos e práticos que subsidiem seu fazer docente, para tanto os cursos de Graduação em Pedagogia, organizam-se para possibilitar e aferir competência técnica aos estudantes. Nesse contexto, o desenvolvimento de trabalho de análise e revisão de literatura confere ao estudante suporte essencial as suas práticas de docência nas classes de ensino fundamental e apoio a gestão e supervisão escolares. Neste sentido, acredito que a organização de estudos da disciplina Currículo,sob a forma de aprofundamento de referenciais teóricos com alguns dos mais renomados 35 Especialista EAD em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Especialista em Gestão e Coordenação Escolar pela Faculdade Católica de Ciências Econômica da Bahia (FACCEBA), Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Professora da Escola Municipal Anizio pereira Bernardes em Feira de Santana, Bahia e coordenadora na Escola Rubem Alves. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 pesquisadores no campo epistemológico do saber , currículo, análise de propostas curriculares e construção de construto acerca dos conhecimentos construídos na referida disciplina, foram de efetiva relevância no contexto de estudo. Diante desta perspectiva, o Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Educacionais (FACE), no ano de 2012 iniciou estudos e construções de propostas curriculares na disciplina de Currículo no intuito de instrumentalizar os discentes na atuação competente na prática educativa, bem como proporcionar uma formação profissional voltada às necessidades dos participes da escola. Com o intuito de socializar as experiências adquiridas ao longo da disciplina, os discentes apresentaram seus aprendizados em forma de pôsteres, no qual criaram estratégias de demonstrar as análises efetuadas. Os pôsteres foram apresentados e explorados pelos alunos com inquirições e reflexões, bem como com contribuições pertinentes no âmbito de estudo. Neste sentido, construímos caminhares e formas de desenhar a proposta curricular de cada município que tinha uma representante na turma, conferindo sentido e significado aos postulares em questão. Discussões e Conversas Curriculares O currículo é um campo epistemológico do saber que vem ganhando visibilidade e espaços no contexto atual.Este enfoque nos remete a seguinte questão: afinal o que é currículo? Qual a nossa compreensão acerca do conhecimento curricular?O nosso pensar deve pautar-se na pluralidade e multireferencialidade, pois a palavra currículo origina-se do latim currere que significa trajetória, caminhada, percurso. Diante do exposto, cabe ressaltar que currículo expressa intencionalidade , escolha e que está imbuído de poder,por isso desprovido de neutralidade. É na construção da proposta curricular que se define, decide que tipo de homem para que tipo de sociedade se quer formar.O currículo é responsável por moldar o tipo de sujeito a formar, pois é no decorrer curricular que se processa o cidadão. “Os arranjos sociais e as formas de conhecimento existentes são aparentemente apenas humanos: eles refletem a história e a experiência do ser humano em geral, sem distinção de gênero”. (SILVA, 2007, p. 93).Parafraseando Silva, percebemos que currículo é história de vida, caminhada, conhecimentos experienciados. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Neste sentido, entendo que o currículo é um campo dialético e dinâmico, é o chão no qual os processos de ensinagem e aprendizagem se concretizam num ir e vir que se realizam de forma ontológica. O currículo pode ser visto em dois sentidos: em suas ações (aquilo que fazemos, e seus efeitos (o que ele nos faz).Portanto não devemos esquecer que o conhecimento, a cultura e o currículo são produzidos no contexto das relações sociais e reverberam poder.Ocultar estas relações significa reificar o conhecimento e o currículo. Dessa forma, a inserção da diversidade cultural no currículo implica compreender as causas políticas, econômicas culturais e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia.Tendo essas especificidades respeitadas e contempladas no currículo implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação. O currículo é fruto de disputas, é um campo de contestações, de intencionalidades, variadas vozes, quereres e fazeres. O currículo é representação social, território de contestações. O currículo deve ser entendido como processo, que envolve uma multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos âmbitos, que vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas pedagógicas, na escola como instituição e nas unidades escolares especificamente. Para compreendê-lo e, principalmente, para elaborá-lo e implementá-lo de modo a transformar o ensino, é preciso refletir sobre grandes questões” (SACRISTAN, 1998, p.37) Corroborando com Sacristán, o currículo para atender a atual demanda se faz imperioso estudar as questões que perpassam pelo âmbito cultural e global da sociedade, o que implica reconhecer na alteridade um dos seus pilares. Interfaces Conclusivas Ademais reafirmamos neste sentido, que o currículo contextualizado nos impulsiona a repensar espaços e saberes implicados na formação do profissional da educação, instrumentalizando-o no fazer docente para além doas paredes da sala de aula. E a experiência na disciplina foi providencial para por em cheque os saberes construídos com base no senso comum finalmente ressignifica-los à luz da ciência. Em suma, a reconstrução de conhecimentos elencados e ressignificados na disciplina currículo serviram de base para outros saberes, conferindo assim a extrema relevância destes conhecimentos para a turma. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Referências GOODSON, Ivor. Currículo: teoria e História. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. HERNÁNDEZ, Fernando, VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 1998.199p. MOREIRA, Antonio Flávio B. Currículos e programas no Brasil. 3. ed. Campinas: Papirus, 1997. 232p.(coleção magistério: formação e trabalho pedagógico). MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 1997. 232p.(coleção magistério: formação e trabalho pedagógico). MOREIRA, Antonio Flávio B; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. Tradução de Maria Aparecida Baptista. 2. ed. revista. São Paulo: Cortez, 1995.154p. PEDRA, José Alberto. Currículo, conhecimento e suas representações. Campinas: Papirus, 1997. 119p. (coleção práxis). SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 352p. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 154p. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 “Dia do folclore”. Problematização para investigação no espaço escolar Cora Corinta Macedo de Oliveira 36 RESUMO: No presente relato de experiência elaborado a partir da discussão em sala de aula do curso de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, questionamos se seria possível pensarmos uma dada temática incluída nas orientações curriculares e utilizada na reprodução do conhecimento escolar, como elemento de reflexão para o desdobramento de uma atitude na política educacional? Poderíamos argumentar na atividade didática pedagógica do professor um pronunciamento político que demarcasse um território de justiça social para refletir sobre a relação entre os conteúdos curriculares e o fazer pedagógico em seu significado para o Outro – os alunos das escolas públicas das series iniciais?. Estas questões foram problematizadas a partir da perspectiva de que a pratica de comemoração do “dia do folclore”, por suposto de caráter obrigatório em escolas baianas das series iniciais, poderá indicar a possibilidade na adoção de um caminho para refletirmos e afirmamos a continuidade da presença do marco civilizatório de populações tradicionais principalmente de populações afro descendente em suas expressões de diversidade cultural. Para tanto apresentamos neste relato de experiência algumas possibilidades para sua investigação no espaço escolar, por exemplo, desde uma reflexão sobre o conceito cientifico na produção e reprodução do conhecimento escolar e principalmente a partir da discussão do conceito de cultura no seu sentido plural. Palavras–chave: Colonialismo; currículo; concepção científica. O presente ensaio se apresenta como um “relato de experiência” e estará qualificado como um trabalho de pesquisa de caráter etnográfico e enquanto tal ele ensaia sobre um conhecimento que consideramos relevante á discussão de gestão educacional, em particular para as escolas publicas baianas. Dito isto iniciaríamos indicando os encontros entre educadores e estudantes os quais nos propiciaram levar a cabo esta problematização sobre a instituição do dia do folclore. Dentre eles o encontro com os estudantes do curso de pedagogia da UNEB do Campus XV alguns deles também professores da rede municipal de ensino e o encontro com o gestor educacional do Colégio Estadual Renan Baleeiro em Salvador. A partir dai nos dispusemos a elaborar o presente registro. Sua escritura está fundada na ordem do dia a dia na disciplina educação e cultura afro-brasileira (atualmente “História e cultura afro-brasileira e indígena”) junto ao curso de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia. Nela uma temática recorrente em todos os semestres é sobre a condução das comemorações do “dia do folclore” em escolas baianas. Embora na condição de docente, divagássemos em sala de aula o sentimento de ojeriza frente ao direcionamento escolar na comemoração 36 Docente da Universidade do Estado da Bahia. Estudante de Licenciatura em Pedagogia UNIFACS. [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ao “dia do folclore”, nunca efetivamos uma leitura de possibilidades intelectuais para maturar tal sentimento num movimento capaz de despertar ou abrigar o interesse do estudante de pedagogia na produção de uma monografia, de um artigo sobre o que é hegemonicamente reproduzido no espaço escolar sob o conceito de folclore. Os professores que estudam a graduação em pedagogia no Campus XV alguns deles ainda consideram que este dia é muito importante para o ambiente escolar. Conforme declararam “Ele é esperado o ano todo” – “A escola se prepara o ano todo para a comemoração do dia do folclore- é uma festa linda que envolve também a comunidade”. Mas ainda assim valeria refletir sobre o seu significado para os alunos no espaço em que tal comemoração se efetiva? Poderia se constituir na reprodução de uma opressão? De um recalque onde os sujeitos não se dão conta do ridículo que estão fazendo a si próprio? De um deboche de elementos vivos e constituintes da cultura local? E principalmente no que as comemorações são apresentadas pelos próprios alunos encenando o “conhecimento folclorista” seria prudente indaga-los sobre o que eles pensam sobre o que é o folclore; ou o que os seus pais afirmam que é o folclore? O que seria dizer folclore para além da sua conceituação intelectual e enciclopedista? Por exemplo, o que quereria dizer Antônio Candido em sua apresentação sobre o tema dos Caipiras no vídeo documentário produzido por Isa Grinspum Ferraz na coletânea Intérpretes do Brasil (Disco 2) em 2001-2002, quando disserta sobre o fala caipira e usa o conceito de folclorizado, seria um sinônimo de deformado? Por que existe o lugar comum do qualificarmos folclore de algo bizarro, como desqualificado de sentido? Seria pertinente tomar em observação estes sentimentos perceptivos para uma reflexão sobre o que reproduzir e produzir sobre o folclore na ordem da sua institucionalização normativa curricular? Quais foram os ideólogos e quando instituíram a composição do folclore como uma disciplina curricular efetuada no dia 22 de agosto em todas as escolas básicas? Outra direção que demarcava em nós o sentimento de ojeriza à comemoração do “dia do folclore” é quanto aos conteúdos reproduzidos sobre o folclore em escolas baianas. Salvo engano identificamos que frequentemente elementos da cultura afrobrasileira como a capoeira, o samba de roda, e em particular elementos da religiosidade do candomblé são os mais configurados como folclore, a exemplo da baiana do acarajé, das comidas por elas comercializadas... Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Indicaríamos que a comemoração do “dia do folclore” como tal, já não é objeto de pratica de numeráveis escolas. Escolas baianas têm preferido, por exemplo, levar o grupo escolar a um passeio na cidade de Maragojipinho para que as crianças conheçam a cidade que é o marco cultural na América Latina na produção de objetos a base da cerâmica, conforme foi declarado pelas estudantes da graduação em Pedagogia que cursam a disciplina História e cultura afro-brasileira e indígena. Em outro encontro com educadores do Colégio Estadual Renan Baleeiro, identificamos que seu gestor educacional aboliu o “dia do folclore” em si do que se havia instituído como uma caracterização de alguns elementos da cultura baiana a exemplo da baiana de acarajé e do samba de roda e adotou uma abordagem para si em “arte educação” dinamizando uma continuidade, retomando a “cultura popular” da comunidade para o espaço escolar legitimando sua expressão no cotidiano educacional e no desdobramento da pratica pedagógica. Atitude que se pode fazer uma analogia com a opção de se comemorar o dia 22 de novembro como um marco da condução da conquista do fim do período escravocrata no Brasil, em vez da comemoração do dia 13 de maio. Desde aqui seguiríamos indagando se a disposição em gestar um novo paradigma que conteste a reprodução hegemônica do dia do folclore se edifica a partir do gestor educacional? A partir de professores? A partir de uma reivindicação da comunidade? No particular do Colégio Estadual Renan Baleeiro, conformamos que sua dinâmica foi adotada a partir da sensibilidade politica do gestor Elias Malaquias da Silva que ao afirmar a continuidade e vivacidade das expressões populares de linguagens artísticas propicia no espaço escolar a fluência de lugares estéticos que contribuem para uma efetiva relação dialógica entre pares. Um caminho para demarcarmos espaços de justiça social no espaço escolar? Uma politica afirmativa de elementos culturais na dinâmica educacional? E para esta primeira problematização da temática “o dia do folclore” a prosa com o educador Elias Malaquias no que ele afirma que o conceito fundador é o de “cultura popular” em detrimento do conceito de folclore ele nos incita ainda a discutir uma problematização de ordem conceitual. Enfim o que é dizer folclore para a intelectualidade brasileira e em que se difere de dizer “cultura popular”. Na tentativa de tematizar a relação entre estes dois conceitos folclore vs. cultura popular e no que estivemos desconcertando os estudantes na sala de aula desde o identificado da reprodução ingênua da comemoração do “dia do folclore” a estudante Regiane Almeida assumiu o movimento Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 reflexivo e nutriu a discussão indicando que em suas leituras sobre o filosofo Antônio Gramsci encontrou uma passagem onde ele ressalta seu desprezo pelo folclore dizendo que: O folclore é um aglomerado indigesto de fragmentos de todas as concepções que se sucederam na história. Ao mesmo tempo Gramsci considera o folclore como importante e diz que deve ser estudado e compreendido como concepção do mundo e da vida, em grande parte implícita, de determinados estratos da sociedade, em contraposição às concepções oficiais do mundo. Para Gramsci existe cultura popular na medida em que existe cultura dominante. Nesta perspectiva, segundo alguns, a cultura popular assumiria em face da cultura dominante uma posição diversa, contestadora de sua autoproclamada universalidade. (FERRETI, 2008) Nisto um breve passeio pelos artigos produzidos na internet identificamos que é Gramsci o principal arauto do movimento de instituir no ocidente o conceito de “cultura popular” em contraponto o uso do conceito de folclore ou como indica Marco del Roio (ROIO, 2007) é dele a tentativa de “emancipar o subalterno”. Como principal seguidor do marxismo ele irá se confrontar com o caráter a-histórico da abordagem folcloristas do Outro – o subalterno se postulando como um intelectual engajado com a classe operária. Desde ainda a pesquisa na internet o trabalho de Andrea Ciacchi (2010) estuda a produção cientifica do estudioso folclorista brasileiro Câmara Cascudo e destaca: Por trás de cada manifestação mencionada por Câmara Cascudo, não se enxerga ninguém: nem mulheres nem homens reais. Ao contrário, quando o autor se empenha em descrever as várias disciplinas da cultura não popular, estamos diante de uma galeria de “arqueólogos”, “sociólogos”, “antropólogos”, “eruditos da novelística”, “músicos”, “médicos”, etc. Em outras palavras, a cultura popular parece “fazer-se por si mesma”, emergindo dessa zona indistinta e dotada de vitalidade própria que é o passado. Já a cultura “oficial”, esta, é feita por homens vivos, atuantes, protagonistas da sociedade “real” e “moderna. (CIACCHI, 2010).. Ainda Ciacchi (2010) nos apresenta um dado inusitado: a discussão desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre a condução normativa de reprodução do conceito de folclore no espaço escolar (BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. 10. Pluralidade Cultural. Orientação Sexual. Brasília: MEC/SEF. 1997.). Valeria seguir indagando se nós quando adotamos a obrigatoriedade curricular de ministrarmos a disciplina “História e cultura afro-brasileira e indígena” no espaço acadêmico e do ensino/aprendizagem básico refletimos e participamos da condução do conteúdo dos PCN? Cientes de que o caminho para tomarmos a palavra para determinar o significado da comemoração do “dia do folclore” vai de encontro por suposto pelo estudo epistemológico da produção do conhecimento folclórico as estudantes de pedagogia – Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Claudia Ribeiro Damasceno, Emanuele Ribeiro Viana, Neilma Santos Ramos, Silvia Luci de Lemos Santos, Karine Sullivan Pinto Cunha, Aline Figueredo de Almeida e Regeane Almeida foram mais longe e indicam que se trata de uma abordagem cientifica no método etnológico. A etnologia apresenta uma metodologia que se filia aos primórdios da antropologia. Os equívocos do olhar etnocêntrico e as interpretações, simpáticas, mas distorcidas, da antropologia nacionalista (ultimamente, populista), significam, em última instância, um ver-de-fora para-dentro; uma projeção, uma estranheza mal dissimulada em familiaridade. Essa estranheza, e os juízos que dela provêm, tem ancestrais conhecidos nos cronistas e nos catequistas dos séculos iniciais da colonização (BOSI, 1992:320). Como tal, por suposto, que sua tradução se configura, em bases etnocêntricas onde os achados etnológicos seriam talvez expressões culturais nulas de história, de continuidade, passível de extinguirem-se pelo seu caráter “primitivo”; não evoluído à condição culta de civilização europeia; expressões culturais nulas de lógica, de inteligência que justifique em si a sua existência social. E embora não nos interesse os rumos desta abordagem cientifica, diríamos que seus ideólogos vêm retomando a sua pratica e realçando em humanidade suas produções ainda que não se perca talvez o foco do seu caráter etnocêntrico no recorte de estudos de populações então identificadas como “subalternas”. (FERRETI, 2008) Reproduzir o conceito de folclore no dia 22 de agosto em escolas seria uma pratica colonialista praticas inocentemente pelos professores? A partir de tal pressuposto podemos por certo tentar compreender o movimento intelectual gramsciano e o desdobramento da sua proposta metodológica, particularmente entre a intelectualidade brasileira quando propõe o estudo da cultura popular em contrapondo a cultura erudita numa pratica fundada no materialismo histórico na relação dicotômica entre - cultura erudita vs cultura dominante. Empoderar politicamente os atores produtores da cultura popular dinamiza a sua pratica discursiva em tons marxista. Assumir tal postura politica visa exercer em quem a pratica a função de intelectual compromissado com a transformação social e por suposto contrários às relações de exploração promovidas no sistema capitalista. Visa resguardar a posição de vanguarda das “classes subalternas” falando por ela e mesmo “resgatando” o que se entende como uma cultura popular em extinção. Não obstante o discurso marxista que legitima a pratica entre nós de estudos sobre a cultura popular, seu discurso tem estado passível de critica; um dos arautos em ponderar o sentido e significado da utilização do conceito cultura popular em sua versão Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 dialética é o estudioso Renato Ortiz: “No âmbito nacional, Renato Ortiz é um dos pesquisadores que mais detidamente tem refletido sobre a questão da cultura popular.” (FRESSATO 2011). É Ortiz (2003) quem desde a nossa leitura iniciática das suas reflexões sem dúvida nos autoriza também preterir o conceito de “cultura popular” enquanto um princípio epistemológico, um caminho para o dialogo com as expressões culturais posta na ordem da diversidade, sem hierarquias dicotômicas, sem o apelo ao sentimento de vanguarda do intelectual e sim de um compromisso em respeitar e promover expressões culturais da comunidade escolar e do seu entorno, incluindo ai a cultura da palavra escrita. Neste sentido o educador, o professor e particularmente o gestor terá a responsabilidade de promover a cultura local, identificando não somente a sua continuidade, mas principalmente refletindo o que intelectualmente os discursos acadêmicos têm dito sobre ela. E principalmente talvez entendendo a diversidade cultural em sua condição plural. Talvez um caminho politico educacional para colaborarmos na produção subjetiva de reflexão para a promoção da justiça social entre nós. Referencias BOSI, Alfredo. 1996. Dialética da colonização. Editora Schwarcz. São Paulo. BENJAMIM, Roberto. Conceito de folclore. http://www.unicamp.br/folclore/Material/extra_conceito.pdf BRASIL. Decreto lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm BRASIL. Decreto lei 11.645, 10 de março de 2008. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm CALDERA, Claudia. Revisitando o ethos indígena e a nação no caminho da construção das identidades. http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/ALDR6WENT7/1/disserta__o_arquivo__nico.pdf CANDIDO, Antonio. Caipiras. Video documentário produzido por Isa Grinspum Ferraz na coletânea Intérpretes do Brasil (Disco 2) em 2001-2002 DEL ROIO. Marco. 2007. Gramsci e a emancipação do subalterno. Revista Sociologia e Politica. Curitiba 29, p 63-79, nov. 2007 http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n29/a06n29.pdf FERRETI, Sergio. 2008. Folclore e cultura popular. http://poemia.wordpress.com/2008/06/05/folclore-e-cultura-popular/ Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 FRESSATO, Soleni Biscouto. s/d. Cultura popular: reflexões sobre um conceito complexo. http://oolhodahistoria.org/culturapopular/artigos/culturapopular.pdf ORTIZ, Renato. 2003. Cultura brasileira e identidade nacional. Brasiliense. São Paulo. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ABRIR AS PORTAS PARA O NOVO: A EXPERIÊNCIA DE COORDENAR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO – BAHIA Edésio Conceição Nascimento37 RESUMO:O Programa Mais Educação tem por objetivo contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo e da permanência de crianças, adolescentes e jovens, mediante oferta de educação em tempo integral. A proposta deste trabalho busca apresentar a experiência de organizar, coordenar e proporcionar os meios necessários para a implantação e manutenção do Programa Mais Educação em três escolas de Ensino Fundamental I e II, da Rede Municipal de Ensino de Santo Estevão, situado ao sul do Território de Identidade Portal do Sertão, Estado da Bahia. Neste trabalho, apresentarei inicialmente as ideias dos professores Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, principais mentores da educação em tempo integral no Brasil, cujos resultados estão presentes na Portaria Interministerial nº 17/2007 e no Decreto nº 7.083 da Presidência da República em 27 de janeiro de 2010; e enfatizarei todo processo de elaboração dos planos de trabalho das Unidades de Ensino juntamente com seus gestores, a organização do currículo e da estrutura referente aos tempos e espaços escolares para o pleno funcionamento das atividades, a orientação financeira para acesso aos bens materiais e imateriais, assim como a formação pedagógica dos monitores, que são os principais autores do processo de ensino e acompanhamento das atividades e aplicação dos recursos nas Unidades de Ensino. É também foco deste trabalho, apresentar as experiências exitosas do Programa como forma de contemplar os objetivos inerentes ao Projeto de Ensino das escolas referentes à ampliação da jornada escolar dos estudantes. PALAVRAS-CHAVE: Mais Educação; Ensino Integral; Currículo. O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e incrementado pelo Decreto nº 7.083/2010, surge numa perspectiva de implantação do Sistema de Ensino Integral nas escolas públicas mantidas pelos estados, municípios e o Distrito Federal. Objetiva-se em contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo e da permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, mediante oferta de atividades no contratempo escolar que por sua vez, tendem a contribuir nas ações das atividades realizadas pelos professores e estudantes no tempo regular, de forma a ser parte do currículo. Este artigo faz referência à forma com a qual este programa foi apresentado aos gestores da Rede Municipal de Ensino de Santo Estevão - Bahia, as suas perspectivas em si tratando da implantação em 03 (três) Unidades de Ensino localizadas na Zona Urbana, indicadas pelo Ministério da Educação – MEC; os entraves provocados pela falta de experiência – já que se tratava de estar implantando no Sistema de Ensino um novo 37 Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS; Especialista em Estudos Culturais, História e Linguagens pelo Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE; Vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Santo Estevão – Bahia, na Coordenação Municipal do Programa Mais Educação; Email para contato: [email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 formato de organização escolar; todo o processo de estudos acerca dos referenciais teóricos e práticos, buscando nos professores Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, a base para organização sistemática e curricular das escolas nas quais o programa seria implantado, além da formação pedagógica na metodologia da perspectiva do ensino em tempo integral para os gestores, coordenadores, professores e monitores destas escolas. Pressupostos teóricos e financeiros do Programa Mais Educação Tendo como base teórica as ideias dos Professores Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, alguns dos mais importantes nomes da história da educação brasileira, o Programa Mais Educação é instituído pelo Governo Federal e formalizado pela parceria entre diferentes ministérios: entre eles o da Educação, das Ciências e Tecnologias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura, dos Esportes e do Meio Ambiente. O Mais Educação tem base legal nos mais variados documentos oficiais da União. A Constituição Federal de 1988, no Artigo 208; a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, nos artigos 34 e 87; a Lei nº 10.172/2001, que institui o Plano Nacional de Educação; e o Decreto nº 7.083/2010, que regulamenta o financiamento do Programa Mais Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. O professor baiano Anísio Teixeira - que se destacou pelo pensamento de democratizar o ensino, ao pensar ainda na década de 50 do século passado, a escola numa perspectiva de ensino que completasse o indivíduo, pretendia desenvolver em Salvador, no bairro popular da Liberdade, a ideias de uma escola na qual os seus estudantes poderiam ter acesso de forma integral, ou seja, que lá os saberes intra e extraescolar fossem sistematizados num só ambiente. Nasceu daí a Escola-Parque, batizada com o nome de Centro Educacional Carneiro Ribeiro, planejada para receber 1000 (mil) alunos distribuídos por igual nos dois turnos do diurno, onde estes teriam acesso ao ensino regular e complementação educacional no turno oposto, com alimentação e atendimento médico e odontológico. As atividades no turno oposto eram organizadas de acordo com a temática por setores, como nos explicita Nunes (2009, p.126): Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 artes aplicadas (desenho, modelagem e cerâmica, escultura em madeira, cartonagem e encadernação, metal, couro, alfaiataria, bordados, bijuterias, tapeçaria, confecção de brinquedos flexíveis, tecelagem, cestaria, flores) no Setor de Trabalho; jogos, recreação e ginástica no Setor de Educação Física e Recreação; grêmio, jornal, rádio-escolar, banco e loja no Setor Socializante; música instrumental, canto, dança e teatro no Setor Artístico; e leitura, estudos e pesquisas no Setor de Extensão Cultural e Biblioteca. O projeto do professor baiano influenciou a criação do sistema educacional brasileiro, que resultou numa parceria com outro grande educador, Darcy Ribeiro - que muito contribuiu com esta concepção de ensino no estado do Rio de Janeiro, a partir da criação dos Centros Integrados de Educação Pública nos anos de 1980. A parceria desses dois grandes pensadores da educação brasileira resultou na organização do Plano para a Educação Básica na capital federal – que seria modelo para todo Brasil, e na criação da Universidade de Brasília nos anos de 1960. É importante ressaltar que em 2007, parte daí, as ideias para o pensamento e organização de estratégias pedagógicas e financeiras do Ministério da Educação para o Ensino Integral através de um programa que em parceria com outros ministérios implantaria esta modalidade de ensino nas escolas públicas do país. O Mais Educação que está inserido numa das ações do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação, é financiado pelo FNDE para contemplar os custos com materiais de consumo, permanentes e pagamento de pessoal e serviços que são prestados referentes à aplicação do Programa nas escolas. Para ter o direito ao Programa no seu município, o Gestor municipal (prefeito) deve fazer adesão através do PAR – Plano de Ações Articuladas e acessar o SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, através do site www.simec.mec.gov.br para confirmar através de login e senha, a adesão ao Programa. A partir daí, o MEC selecionará as escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os dados do Censo Escolar do ano anterior, podendo os gestores das escolas fazer adesão após ser informada e confirmada através do SIMEC pela Secretaria Municipal de Educação. A implantação do Programa Mais Educação na Unidade de Ensino se dá inicialmente por meio da elaboração de um Plano de Trabalho, por parte do Gestor Escolar, orientado por uma Coordenação Municipal. O papel deste Coordenador é buscar todos os meios necessários que vão desde a implantação do Programa no município, a orientação financeira de aplicação dos recursos para adquirir materiais e pagamentos de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 serviços, organização curricular junto aos gestores, professores e toda a comunidade escolar, até a prestação de contas dos recursos uma vez enviados pelo MEC/FNDE. Ao aderir ao programa, na elaboração do Plano de Trabalho, deve-se acessar o SIMEC e preencher todos os campos (Dados da Escola, Dados do Diretor, Dados do Coordenador, Atividades, Parceiros e Documentos Anexos). Ao finalizar o Plano de Trabalho, o Gestor Escolar deve encaminhar para avaliação do Coordenador Municipal que poderá solicitar correção ou enviá-lo ao MEC que fará sua avaliação e encaminhará ao FNDE para que este faça o repasse dos recursos. As atividades no Programa Mais Educação estão organizadas em macrocampos: Acompanhamento Pedagógico e Alfabetização, Educação Ambiental, Esporte e Lazer, Direitos Humanos em Educação, Cultura e Artes, Cultura Digital, Promoção da Saúde, Comunicação e Uso de Mídias, Investigação no Campo das Ciências da Natureza, Educação Econômica, para as escolas localizadas na Zona Urbana e Campos do Conhecimento, Agroecologia, Iniciação Científica, Educação em Direitos Humanos, Cultura e Arte Popular, Esporte e Lazer, Memória e História das Comunidades Tradicionais, para as escola localizadas no campo. Cada macrocampo é formado por atividades inerentes àquela temática (BRASIL, 2009) O município de Santo Estevão: caracterização educacional Com uma extensão territorial de 363 km², Santo Estevão está localizado na rota da BR 116 - Sul, no território de identidade Portal do Sertão, já na divisa com o Piemonte do Paraguaçu (através do município de Rafael Jambeiro) e com o Recôncavo (através dos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu), há 144 km da capital, Salvador. Tem uma população de 47.901 habitantes (dados do Censo do IBGE/2010) e uma densidade demográfica de 131,95 hab./km². No aspecto educacional, tem uma Rede de Ensino formada por 40 (quarenta) Unidades que são mantidas administrativamente pela Secretaria Municipal de Educação SEDUC, oferecendo Educação Básica – Pré-Escola e Ensino Fundamental I e II. Do quantitativo de Unidades de Ensino do município, apenas 10 (dez) estão localizadas na Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Sede enquanto que a maioria está localizada na Zona Rural, atendendo um total de 8.712 (oito mil setecentos e doze) estudantes, dados do FNDE. No município, 07 (sete) escolas oferecem Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e as outras 33 (trinta e três) se incumbem de oferecer o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Todas as Unidades de Ensino são atendidas pelo FNDE que repassa anualmente os recursos do PDDE, para custear os materiais de consumo e permanentes adquiridos pelas escolas e pelo PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, sendo estes recursos destinados à alimentação escolar, administrados pela SEDUC. A Rede Municipal de Ensino de Santo Estevão é beneficiada, no ano de 2012, por diversos programas do PAR, entre eles, o Programa Mais Educação. A experiência de implantar e coordenar uma nova perspectiva curricular Em Santo Estevão, o Programa Mais Educação está presente até o primeiro semestre de 2012 em 03 (três) Unidades de Ensino. As Escolas Municipais Joana Angélica, Isauro Borges Cabral, ambas com 120 (cento e vinte) alunos cadastrados e Monsenhor José Waldir de Souza, com 105 (cento e cinco) alunos no Programa. Todas localizadas no perímetro urbano. No segundo semestre, o Programa será ampliado para mais 06 (seis) escolas e 2.040 (dois mil e quarenta) estudantes, dentre elas 02 (duas) localizadas na Zona Rural. Inicialmente, em janeiro de 2011, recebemos a informação do MEC de que as Escolas Municipais Joana Angélica, Isauro Borges Cabral e Monsenhor José Waldir de Souza, foram selecionadas para implantarem o Programa Mais Educação. Buscamos maiores informações acerca do Programa, que só encontramos através de comunicações orais por telefone, com técnicos em Brasília, além de videoconferências realizadas pelas equipes técnicas da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e publicações no site portal.mec.gov.br/maiseducacao. Convidamos os gestores para apresentarmos a proposta a qual foi muito bem recebida por eles. Orientamo-nos na organização dos seus respectivos Planos de Trabalho e fomos para a comunidade em busca de parceiros tanto para trabalhar no Programa – os chamados monitores, quanto para nos ajudar em si tratando de espaço Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 para a realização das atividades, visto que nossas escolas são naturalmente lotadas nos dois turnos diurnos e não comportavam um contingente maior de estudantes. Mas como poderia fazer o Programa acontecer? Procurando possíveis espaços na cidade para a execução das atividades no contraturno. Outro entrave que muito nos preocupou foi o fato de que teríamos que dar suporte em termos de recursos humanos ao Programa, visto que nos documentos oficiais, o financiamento é destinado apenas para compra de material, pagamento de serviços e ressarcimento de monitores. Neste ínterim, teríamos que trabalhar com a possibilidade de contratação de pessoal para servir na alimentação escolar, já que os estudantes participantes do programa deveriam almoçar na escola. De acordo com o Manual de Orientações do Programa Mais Educação, cabe à Secretaria Municipal ou Estadual de Educação a liberação de um professor do seu quadro efetivo, para atuar como coordenador escolar. Após a elaboração dos Planos de Trabalho, aguardamos a validação por parte do MEC através do SIMEC e imprimimos o Plano geral Consolidado, que determina o quantitativo dos recursos que as escolas iriam receber para manter o Programa. Iniciamos os trabalhos práticos com o Programa no ano de 2012, inicialmente com formação pedagógica para os monitores e coordenadores atuantes nas escolas. Buscamos a experiência de uma profissional que já atua no Programa desde a sua implantação e que tem serviços prestados à comunidade escolar no concernente ao Mais Educação. Em março, com o início do ano letivo regular, convocamos todos os envolvidos para uma reunião para começarmos também as atividades do Mais Educação. Os gestores das escolas procederam na compra dos materiais necessários para o início e na segunda quinzena de março convocamos uma reunião com os pais dos alunos cadastrados a fim de iniciarmos as atividades. Conseguimos através de remanejamento de espaços, concentrar todas as atividades nas escolas. Assim, enquanto uma acontece no espaço da biblioteca, outra é organizada na quadra, outra no laboratório de informática e assim o Programa vai acontecendo. As atividades escolhidas pelas Unidades de Ensino foram: Escola Municipal Monsenhor José Waldir de Sousa – Letramento, Capoeira, Agenda 21 escolar, Handebol, Dança e Banda Fanfarra; Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Escola Municipal Isauro Borges Cabral - Letramento, Capoeira, Iniciação Musical por meio de Flauta Doce, Matemática, Dança e Radio Escolar; Escola Municipal Joana Angélica - Letramento, Capoeira, Banda Fanfarra, Recreação, Dança e Cineclube; Cada uma das atividades é coordenada por um monitor que se trata de pessoas que já desenvolvem aquela atividade na comunidade. Não é necessário ter uma formação na área, exceto para aqueles que vão atuar com os campos do conhecimento (Letramento, Matemática entre outros). Depois de 04 (quatro) meses de trabalho, muitas vezes sufocados com uma série de problemas ora relacionados às questões de recursos humanos, ora de cunho organizacional, conseguimos observar muitas melhorias na aprendizagem e no comportamento dos estudantes. No acompanhamento das atividades práticas, ouvimos depoimentos de diretores, coordenadores e professores sobre mudanças nos hábitos escolares; os estudantes falam sobre o prazer que têm de freqüentar a escola para a realização de atividades diferenciadas; as escolas que optaram por Banda Fanfarra já fazem apresentações musicais para a comunidade escolar; os professores já comentam sobre melhorias por parte da leitura e escrita em alguns estudantes e o que considero de certa forma, o maior dos ganhos: o aumento da autoestima nas nossas escolas. Contudo, é imprescindível considerar que, apesar dos entraves – visto que seria muita imaturidade da nossa parte, acreditar que não teríamos problemas, o Programa Mais Educação é a oportunidade das escolas estarem desenvolvendo atividades que até pouco tempo eram utópicas. Seria difícil para o gestor concentrar na escola atividades de cunho artístico-culturais, esportivas, de lazer e recreação, entre outras, assumindo estes custos. Trabalhado com os pré-requisitos necessários ao tratamento que deve ser dado ao ser humano, o Programa Mais Educação pode vir a ser uma das possibilidades de melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Referências BRASIL. Ministério da Educação. Rede de saberes Mais Educação: pressupostos para projetos pedagógicos de educação integral: caderno para professores e diretores de escolas. – 1. ed. – Brasília : Ministério da Educação, 2009. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 BRASIL. Ministério da Educação. Passo a passo Mais Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília : Ministério da Educação, 2011. NUNES, C.. Centro Educacional Carneiro Ribeiro: concepção e realização de uma experiência de educação integral. In: MAURÍCIO, L. V (org.). Revista Em Aberto, Brasília MEC-INEP, vol. 22, nº 80, abril. 2009, p. 121 a 134. MAURÍCIO, L. V.. O que se diz sobre a escola pública de horário integral. In: Cadernos CEMPEC – Educação Integral nº 2. São Paulo: CEMPEC, 2006. PAULA, Estela. Educação Integral: concepções e experiências no Brasil. Artigo. Disponível em educacaointegral.wordpress.com/2010/08/06/educacao-integral- concepcoes-e-experiencias-no- brasil/ Acessado em 19/07/2012. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Aprendizagem de crianças que sofreram abuso sexual: O que dizem e o que fazem os profissionais de educação. Edian de Oliveira Moreira de Queiroz Giovanna Marget Menezes Cardoso Liliane Santos Sandes RESUMO: Desde a história da humanidade, pesquisas revelam que as crianças, estão sujeitas a todos os tipos de violência, só a partir da década de 50 do século XX surgem estudos acerca do abuso sexual infantil. Com aprofundamento dos estudos percebeu-se que as crianças que sofrem abuso sexual precisam de atenção especial evidenciado por estudos e práticas que possam combater essas ações. Assim, é valido questionar: qual a percepção que os profissionais da educação têm da aprendizagem de crianças que foram abusadas sexualmente? Quais as ações que esses profissionais desenvolvem para contribuir com a aprendizagem dessas crianças? Neste sentido, este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa monográfica, que objetivou analisar compreensivamente as questões relacionadas à aprendizagem de crianças que foram abusadas sexualmente e as ações dos profissionais de educação, e como objetivos específicos: conceituar abuso sexual; contextualizar o cenário do abuso sexual; escutar educadores que trabalham com crianças que sofreram abuso sexual. A pesquisa é de abordagem qualitativa, tendo a pesquisa de campo como procedimento metodológico e a entrevista como dispositivo de coleta de dados. Foram entrevistadas uma psicóloga educacional que atende no CREAS, no município de Santo Estevão/BA e uma professora da rede pública municipal de ensino. Para oferecer sustentação aos estudos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com leituras de produções de autores renomados que pesquisam sobre a temática, a saber: Sanderson (2005), Áries (1981), Watson (1994), Martins (2008) dentre outros. Os resultados evidenciaram que as ações dos profissionais de educação podem contribuir para prevenção do abuso sexual, bem como contribuir para minimizar os prejuízos causados pela prática do abuso. O tema é de relevância educacional, pois se entende que este seja um assunto que perpassa no âmbito educacional e causa prejuízos de ordem social e educacional. Palavras-chave: Abuso Sexual; Aprendizagem; Profissionais de Educação Pra começo de conversa... Desde a história da humanidade, estudos revelam que as crianças, estão sujeitas a todos os tipos de violência, só a partir da década de 50 do século xx, os estudos acerca desse tema surgiram. Com aprofundamento dos estudos percebeu-se que as crianças que sofrem abuso sexual precisam de atenção especiais evidenciados por estudos e práticas que possam combater essas ações. Aluna do IX Semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus XI – Serrinha e Professora do ensino fundamental da rede estadual no município de Feira de Santana – BA. E-mail: [email protected] Pedagoga, Especialista em Metodologia do Ensino e da pesquisa em Educação e em Supervisão Escolar, Professora da rede municipal de Feira de Santana, Coordenadora de Sistema, Coordenadora do PAFOR do curso de Licenciatura em Pedagogia – UNEB/Campus XI- serrinha e Professora do curso de Licenciatura em Pedagogia- UNEB/Campus XI - Serrinha. E-mail: [email protected] Psicóloga, Pedagoga, Especialista em Psicopedagoga, Professora da rede pública municipal de Feira de Santana e Psicóloga da escola Rubem Alves. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Especialmente no Brasil os estudos e pesquisas apontam que essas práticas vêm crescendo consideravelmente e, por isso nas últimas décadas o tema deixou de ser um tabu passando a ser um assunto discutido em diversos espaços sociais, com o intuito de prevenir e identificar os sinais de abuso sexual. Assim, é valido questionar: qual a percepção que os profissionais da educação têm da aprendizagem de crianças que foram abusadas sexualmente? Quais as ações que esses profissionais desenvolvem para contribuir com a aprendizagem dessas crianças? Neste sentido, este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa monográfica, que objetivou analisar compreensivamente as questões relacionadas à aprendizagem de crianças que foram abusadas sexualmente e as ações dos profissionais de educação, e como objetivos específicos: conceituar abuso sexual; contextualizar o cenário do abuso sexual; escutar educadores que trabalham com crianças que sofreram abuso sexual. No Brasil só após a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 é que surgem ações para enfrentamento da violência sexual. Há registros de um grande número de mobilização social, com o intuito de tornar as ações de combate a violência sexual em políticas públicas capazes de responsabilizar e mobilizar toda a sociedade. Em 12 de julho de 2000, em Natal (RN), foi aprovado na assembleia ordinária do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – CONANDA, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto - Juvenil, este foi o resultado após um processo vasto de mobilização social que culminou na efetivação deste encontro. Só a partir desse momento, este se constitui como diretriz nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. É preciso que a sociedade esteja atenta, pois, profissionais de educação e os demais seguimentos para muito além de identificar, devem também cuidar e prevenir para que as crianças não se tornem a cada dia alvos fáceis. “A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios”. (ECA, Art.86) Para mobilizar as esferas governamentais, sociedade civil e organismos internacionais no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, o governo brasileiro, em articulação com a sociedade civil organizada, lançou em 2000 o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto- Juvenil. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O presente estudo constitui-se em uma pesquisa qualitativa, que trabalha com nível de realidade que não é mensurável, quantificado, e responde a questões muito particulares (MINAYO, 2008). O método de investigação usado foi o de pesquisa de campo que de acordo com Gil (1999), caracteriza-se mais pelo aprofundamento das questões do que pela distribuição das características. PROPOSTA PEDAGÓGICA DE PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA SEXUAL Os profissionais de educação enquanto formadores de opinião podem contribuir para informação sobre este assunto, criando debates sobre as temáticas que cercam a sexualidade de forma tranquila a transmitir segurança as crianças e adolescentes. Esta responsabilidade é dos pais, contudo estes ainda sentem muitas dificuldades em discutir sobre sexualidade com os filhos, e em muitos casos transferem essas responsabilidade para escola e professores. Para que os profissionais de educação, especialmente o professor consiga agir de maneira coerente e ajudar as crianças e adolescentes, precisam ter uma formação adequada e práticas mais reflexivas, que contribuam no esclarecimento de questões relacionadas à sexualidade. Estas práticas pedagógicas devem também promover ações articuladas com a comunidade escolar, família e os demais seguimentos sociais, com o intuito de orientar e prevenir sobre abuso sexual. Porém, Segundo Sanderson (2005) pais e professores precisam estar conscientes que podem orientar, de várias formas, as crianças sobre o perigo do abuso sexual e do aliciamento, sem descrever detalhes sexuais, pois em muitos casos à criança não tem desenvolvimento etário, cognitivo e emocional necessário para discutir sobre práticas sexuais. Essas orientações não garantem que essas crianças nunca estarão vulneráveis a essa situação, mas asseguraram que tenham acesso ao conhecimento e às informações que podem ajudar a minimizar estes riscos. Programas escolares poderiam incluir a prática e o treino de mensagens básicas de segurança, assim como encenações de situações potencialmente perigosas, com conselhos para as crianças sobre como evitá-los e o que fazer caso se sintam em perigo.( SANDERSON,2005, p.281) As ações de prevenção giram em torno de mobilizações de toda sociedade, não só as famílias a escola, todos devem estar atentos e dispostos a adquirir conhecimento a fim de prevenir o abuso sexual infantil. Para tanto são necessários políticas de proteção e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 prevenção, que devem gerar em torno da educação de toda sociedade, na tentativa de evitar que surjam novos casos e que essa violência continue a se perpetua. “Portanto, investimentos em saúde e educação podem promover mudanças radicais nas atitudes e nas crenças, o que, por sua vez, facilitará a prevenção do Abuso Sexual em Crianças.” Sanderson (2005, p.283) Esses investimentos precisam ser feitos de maneira rápida e eficiente, pois crescem a cada dia os casos de abuso sexual, manifestações que englobem as diversas classes e espaços sociais, pois já se compreende que o abuso sexual causa danos muitas vezes irreversíveis para as vítimas. SEXUALIDADE SEGUNDO PCNS A partir da década de 70, surge a discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo das escolas. Em meados dos anos 80, esta intenção se intensificou devido à preocupação dos educadores com grande crescimento da gravidez entre adolescentes e aumento das doenças sexualmente transmissíveis. (PCN) Independente da faixa etária, acontecem manifestações que estão relacionadas à sexualidade. Tratar sobre esse assunto na contemporaneidade não é apenas papel da família, mas, também da escola e professor, estes não devem de forma alguma ignorar ou reprimir qualquer acontecimento ligado a sexualidade. Visto que, no mundo globalizado a criança está exposta a diversas “ferramentas” informativas. Partindo disso, a escola deve promover o entendimento reflexivo e educativo acerca destas questões. O trabalho de orientação sexual também contribui para a prevenção de problemas graves como abuso sexual e a gravidez indesejada. As informações corretas aliadas ao trabalho de autoconhecimento e de reflexão sobre a própria sexualidade ampliam a consciência sobre os cuidados necessários para prevenção desses problemas. (PCN, p. 78) Nesta perspectiva os PCNS que servem para nortear a prática do professor incorporam como temas transversais a orientação sexual. Este tem como proposta o trabalho e esclarecimento, problematizando acerca de questões que favoreçam refletir e ressignificar as informações, emoções e valores recebidos. Considerando que as questões que cercam a sexualidade ainda estão cercadas por tabus, crenças e valores. “O trabalho de Orientação Sexual deverá, se dar de duas formas: dentro da programação, nas diferentes áreas do currículo e extraprogramação, sempre que surgirem questões relacionadas ao tema.” (PCNS, p.88) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Corroborando com os PCN’s, temos o Estatuto da Criança e Adolescente ECA, este surge para fazer com que os direitos das crianças e adolescentes sejam melhor conhecidos, compreendidos e, acima de tudo, cumprido. (BRASIL, 1997) Neste sentindo o ECA trata o abuso sexual como uma violação grave aos direitos humanos, e considera que o trabalho de prevenção deve acontecer por meio de um trabalho educativo global, enfocando a educação para a saúde sexual. A escola deve estar preparada para apreender e compreender todas as manifestações do educando, a fim de orientá-lo em suas buscas, ajudá-lo a sanar dúvidas e superar medos, incitá-lo a refletir, questionar e descobrir o melhor caminho a ser trilhado. Pois a sexualidade na escola visa principalmente levar aos alunos, a partir dos seus conceitos e vivências, as informações e conhecimentos que permitirão compreender as diferentes dimensões da sexualidade, suscitando a reflexão e o desenvolvimento de atitudes de responsabilidade individual, familiar e social. (RIBEIRO. 2009, p. 2) No intuito de melhor assegurar os direitos da criança, também temos a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96, ambos os documentos chamam a atenção para a responsabilidade da família e estado para as questões de direitos da criança e adolescente. O artigo 3º da LDB tem correlação direita com o artigo 5º do ECA, quando ambas as leis garantem o direito sem negligências e nem oprimir por razões sociais, econômicas, culturais e religiosa. (Art. 2º, LDB) (Art.4º, ECA) APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL A aprendizagem é um processo cognitivo que implica que o ser humano interaja com o meio, a partir da sua experiência de vida. Para se adaptar, cada um de nós tem de gerir a informação que recebe, tendo em conta as solicitações da situação e as informações que já possuímos. Assim se percebe que em face de uma mesma situação, diferentes pessoas aprendam de forma diferente e que o resultado da aprendizagem seja também diferente. A aprendizagem é um processo pessoal, que envolve a totalidade da pessoa: o seu pensamento, as suas emoções e a fatos, a sua história de vida. O processo de aprendizagem se inicia na infância para Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Nas interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da linguagem, no contexto Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 das situações imediatas. Essa teoria apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal A experiência do abuso sexual pode afetar o cognitivo, afetivo e social de crianças de diferentes formas e intensidade. A percepção dessas consequências é importante, pois poderá contribuir no conhecimento de como a criança lida com essa violência e de como os profissionais agem para que estas vítimas consigam superar os traumas causados por esta prática. Assim, O impacto do abuso sexual infantil sobre o desenvolvimento depende de vários fatores, os quais estão relacionados às características individuais da criança, da família e do meio social em que ela vive. Depende ainda do contexto do abuso e de como foi a revelação deste para os pais ou para o confidente da criança. Por outro lado, depende muito da idade que iniciou o abuso, da frequência, duração e da presença ou não de penetração. Borges (2008, p. 13) O ato sexual abusivo pode trazer para a vítima diversa consequências, quando a vítima é uma criança, o ato é considerado ainda mais grave pelo fato de ela estar em uma fase importante do seu desenvolvimento. A criança compreende o mundo em diferentes estágios de seu desenvolvimento cognitivo. Muitas crianças são abusadas sexualmente, algumas interiorizam e outras exteriorizam sua resposta ao abuso sexual. Sanderson (2005, p.230). Desse modo, para que se compreenda como a idade em que a criança se encontra quando sofreu o abuso interfere no processo de aprendizagem se faz necessário compreender o desenvolvimento infantil. Isso sem dúvida no que diz respeito ao processo de aprender influenciará, pois em cada fase a criança tem uma percepção diferente dos acontecimentos sociais. Segundo Piaget e Inhelder (1973) as crianças passam por quatro estágios principais de desenvolvimento cognitivo, nos quais seus processos de pensamento se tornam cada vez mais semelhantes aos dos adultos. Os estágios são: O estágio sensório- Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 motor, 0-2 anos; O estágio pré-operacional, 2-7 anos; O estágio operacional concreto, 711 anos; O estágio operacional formal, 7-15 anos. No estágio sensório-motor, a criança se concentra inicialmente nas sensações sensoriais e motoras, neste estágio acontece o inicio do desenvolvimento da linguagem e pensamento estruturado. Neste período a criança necessita de representações físicas das coisas e se orienta através da identificação e nomeação dos adultos. O Estágio de desenvolvimento pré-operacional, as crianças já usam a linguagem de forma mais coerente e os processos que envolvem o pensamento se tornam mais avançados, porém mesmo assim ainda não são capazes de raciocinar de acordo com a lógica adulta, neste estágio elas tendem a generalizar as coisas, ex: “Todos os homens são pais”. No pré-operacional há muita imprecisão, pela falta de habilidade cognitiva para pensamentos abstratos. Já no estágio operacional concreto, o pensamento da criança se assemelha mais ao do adulto, contudo ainda não é capaz de um pensamento abstrato de uso consciente da lógica adulta. O último estágio que é o operacional formal, já é caracterizado pela presença de um pensamento sistemático e que inclui a lógica formal. “Mesmo seqüenciando estes estágios Piaget não acreditava que todas as crianças alcançassem esse último estágio” Sanderson (2005, p. 230) Ainda segundo a autora, “Crianças que forem abusadas sexualmente durante qualquer um desses estágios extrairão significado e entendimento que dependerão do estágio de desenvolvimento em que elas estejam.” Sanderson (2005, p. 231) No estágio sensório-motor, portanto a criança estará mais vulnerável ao abuso sexual, pois confiando no adulto, e sem o entendimento necessário, dificilmente conseguirá contar a outro adulto. No estágio sensório-motor ela confia na orientação dos pais e adultos. Nomear estímulos e respostas sensoriais facilita o entendimento e a interpretação das crianças de suas experiências, do que parece “bom” e do que parece “mau”. Isso pode se tornar distorcido se alguém diz à criança o contrário do que ela realmente sente. Sanderson (2005, p. 230) Nestas fases de desenvolvimento ocorrem muitas transformações num curto período de tempo, sendo assim um abuso sexual em qualquer um desses estágios pode interferir diretamente e prejudicialmente no desenvolvimento do indivíduo. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O QUE DIZEM OS ACHADOS DA PESQUISA... As entrevistas foram feitas na tentativa de perceber quais as ações dos profissionais que contribuem no processo educativo de crianças que foram vítimas de abuso sexual, pensando também em ações preventivas e que possibilitem uma atuação diferenciada do profissional de educação e psicólogo educacional. A professora entrevistada trabalha em uma escola municipal na cidade de Feira de Santana, esta escola fica localizada em um bairro carente e com alto índice de criminalidade. Na escola trabalham 11 professores, uma coordenadora pedagógica e conta com diretora e vice, um porteiro e duas funcionárias de merenda. O psicólogo que participou da entrevista trabalha no CREAS – Centro de Referencia e Assistência Social (Santo Estevão) na cidade de Santo Estevão e atende crianças e adolescentes em situação de risco, encaminhas/acompanha essas crianças e adolescentes a escola. No decorrer da entrevista a Rosa relatou que quando teve um caso de abuso sexual na sua sala, não soube identificar e que sua experiência com o assunto veio através da própria vivência e que só após ter esse caso é que buscou saber mais sobre o assunto. Sendo assim esta, não tendo conhecimento, inicialmente não identificou que se tratava de uma criança vítima da violência sexual. Ela notou um comportamento diferente na criança com sinais que foram semelhantes aos que foram citados por o cravo anteriormente. Quanto à identificação a Rosa disse que a própria criança contou quando foi questionada por ela sobre seu comportamento que era inadequado para sua idade. Já havia notado diferença no comportamento de minha aluna, embora ainda não soubesse o real motivo da mudança. (ROSA) Neste momento que a criança a contou se estabeleceu uma relação de confiança entre as partes, isso é extremamente necessário, para que a criança revele que está sendo vítima de alguma violência sexual, Sanderson (2005) afirma que ela precisa confiar para que conte o “segredo”. Com a fala da Rosa evidenciam-se lacunas na formação docente e nos faz refletir enquanto educadores e pessoas sobre a importância de buscar constantemente novos conhecimentos assumindo assim, uma postura de pesquisador. Percebendo esse contexto, fica evidente que a primeira ação que os profissionais que contribuem no processo educacional devem assumir é de se preocupar com a formação continuada, esta Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 tem relação direta com a identificação e prevenção. Só buscando conhecimento sobre assuntos que perpassam os muros da escola e interfere negativamente a sociedade, e tendo alguma informação sobre este assunto pode-se para além de identificar, adotar medidas que auxiliem a vítima, seja em relação a questões da aprendizagem ou que interfiram no seu bem estar. Quando perguntada sobre quais ações acredita ser a correta após identificar que houve o abuso sexual a Rosa demonstrou insegurança, e respondeu “Não sei se foi a postura mais correta, porém eu chamei a coordenação, juntamente com a direção da escola e contei o caso, para que a escola tendo conhecimento da situação tomasse as medidas cabíveis.” Nesse viés, vale ressaltar que as ações preventivas devem ser pensadas, pois é de suma importância que a sociedade, as crianças e adolescentes que estão vulneráveis a este tipo de violência, estejam conscientes e informadas, a prevenção é sem dúvida a melhor estratégia para que se evitem novos casos. Essas ações precisam se efetivar na prática, por isso o Cravo quando perguntado sobre o trabalho preventivo que pode ser feito na escola, ele disse que estes poderiam ser feitos, “Através de debates e palestras nas escolas, abordando sobre o abuso sexual, evitar situações de negligência e suas marcas na vida da pessoa.” Da mesma forma a Rosa, disse acreditar que “só haverá redução nos casos de abuso se a escola assumir um papel de disseminadora de questões que estejam relacionadas a esse assunto, tendo visto que a mídia já faz este trabalho.” O diálogo estabelecido com os entrevistados, só reafirma a ideia que foi supracitada ao longo do referencial teórico, é de fato necessário que haja mais manifestações que girem em torno da mobilização para ações preventivas, estas, podem ser pensadas pelos profissionais de educação que por serem formadores de opinião e em muitos casos dialogam diretamente com famílias e com as crianças. Podendo assim, tratar de questões relacionadas à sexualidade, participação ativa dos pais na vida dos filhos dentre outros assuntos que giram em torno do abuso sexual. Se durante algumas dessas fases de desenvolvimento de competências, a criança sofrer algum trauma, isso pode vir afetar o seu desenvolvimento afetivo, social e consequentemente comprometer a aprendizagem. Com esse entendimento, surge à preocupação de como a criança vítima de abuso sexual, que é exposta a uma situação de estresse sofre comprometimento na aprendizagem. Perguntamos ao Cravo, quais as características comportamentais que ele observa com mais frequência nas vítimas Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 atendidas, este disse: “Medo, resistência ao falar sobre o assunto, culpa, vergonha, isolamento social e baixo rendimento na escola.” A Rosa disse acreditar que a criança vítima de abuso tem não só um comprometimento na aprendizagem. “Certamente, acredito que os traumas sofridos pela criança abusada, afetam não só á vida escolar da criança, mas sua vida como todo.” O Cravo diz que a criança que sofre abuso sexual apresenta distúrbios psicológicos, tais como: Sentimentos de baixa autoestima, ansiedade exagerada, podendo levar a transtornos de ansiedade generalizada e mista depressão, medo, crises de pânico, transtorno de pânico, distúrbios alimentares, culpas, isolamento social e uma série de patologias psicossomáticas. (CRAVO). Desse modo, pensando nos distúrbios psicológicos que as vítimas de abuso sexual sofrem, nasce à inquietação, será que o professor de alguma forma pode contribuir para que esta criança ou adolescente não tenha um comprometimento no seu processo de aprendizagem. Acredito que sim, a partir do momento que a criança sabe que você conhece problema dela, passa existir um círculo de confiança entre o professor e o aluno. Desta maneira, o professor terá meios de se aproximar dessa criança e de criar uma metodologia diferenciada, respeitando os limites e a realidade daquela criança, que certamente sofre de algum transtorno psicológico. Devo salientar que o professor deverá procurar ajuda especializada. (ROSA) Em sua fala a Rosa enquanto professora traz uma problemática de grande importância, destacando a importância do professor, que pode contribuir para aprendizagem ou não aprendizagem das vítimas de abuso sexual, para tanto o mesmo deve estar atento a metodologia de ensino utilizada. Vale destacar que um trabalho pedagógico, aliado uma metodologia adequada, a uma formação continuada e conhecimento sobre o assunto, pode contribuir para a superação do trauma, para tanto se faz mister que o profissional de educação tenha um olhar sensível e perceba que o processo de aprendizagem desta criança pode ser diferenciado, já que por conta do abuso sexual, estas podem a vir desenvolver alguns comprometimentos psíquicos que interferem no processo de aprendizagem. Como salienta a Rosa, o professor deve procurar ajuda especializada, o psicólogo e um dos profissionais que deve atuar juntamente com o professor, na tentativa de minimizar os efeitos do abuso, não só no que diz respeito à aprendizagem. Compreendendo que o trabalho conjunto desses profissionais podem contribuir para reduzir os efeitos negativos do abuso sexual no que diz respeito à aprendizagem, surgem Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 centros especializados, aqui destacaremos o CREAS, que é o centro de atendimento onde o Cravo atua. Segundo Ele o tratamento das vítimas acontece em grupo e individual. Ocorrem das duas formas, individuais e em grupos. Os atendimentos individuais no CREAS não possuem um caráter clínico. A intervenção da equipe tem a finalidade de tirar a criança da situação de risco. O trabalho do psicólogo é fazer um acompanhamento breve a fim de que o demandatário consiga elaborar algumas questões referentes à violação ocorrida. Nos trabalhos em grupos são desenvolvidas atividades que visem a ressignificação do trauma na vida desses sujeitos, propondo atividades que auxiliem na reelaboração de conteúdos traumáticos. (CRAVO) Neste espaço também há atendimento para família, pois esta também deve receber informação e tratamento para que possa juntamente com estes profissionais colaborar no tratamento da vítima. Cravo relata como acontece o atendimento as famílias: Os atendimentos à família ocorrem mais no sentido de orientações, de como os membros da família devem proceder frente ao abuso, sobretudo em casos como esses em que o vínculo familiar muitas vezes já foi rompido e como pode ser resgatado. (CRAVO) A escola é um espaço social em que a criança está inserida, é também um espaço em que muitas questões referentes às crianças podem ser percebidas. Contudo seguindo a reflexão sobre o papel da família Szymanzki (2010) traz que a família é uma das instituições que assumem a tarefa educativa que lhes é outorgada pela sociedade. Neste sentindo, não só a escola deve agir de maneira preventiva e auxiliando a vítima, mas a família também deve ter conhecimentos que não só possam possibilitar prevenção, mais intervir de maneira coerente quando a criança tiver sido vítima da violência sexual. Contando com o apoio dos PCNS que podem nortear a prática pedagógica é válido ressaltar que a partir da implementação do eixo transversal intitulado de Orientação Sexual, surge também um olhar diferenciado para o discurso da sexualidade, este pode ser um excelente instrumento de orientação para o professor que não tiver muito conhecimento acerca dessa temática. A partir do discurso da sexualidade, nascem também as questões que cercam esse tema, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e o abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes. Neste sentindo a fala da Rosa a respeito da responsabilidade da escola e professor e família, evidencia que só após ter conhecimento sobre o tema em questão é que a família a escola ou o professor podem agir de maneira a amparar a vitima de abuso. Penso que as escolas bem como os professores devem primeiramente, se informar sobre o assunto. Tendo essas informações, ela deve acompanhar Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 mais de perto as crianças que apresentar qualquer tipo de sinal que possa está relacionado com algum tipo de violência, seja ela sexual ou não. A escola deverá conhecer o histórico familiar das crianças onde, como e com quem vivem e, sobretudo trabalhar juntamente com os professores o tema, abuso sexual na escola, tanto com os alunos quanto com as famílias dos mesmos. Infelizmente na maioria das vezes esses abusos acontecem por causa de muitas mães omissas que por medo de perder o companheiro, finge não ver o que está acontecendo. (ROSA) No percurso da pesquisa com a realização de estudos e leituras torna-se perceptível que a criança vítima de abuso sexual, precisa de atenção especial, sendo que as ações que precisam ser incluídas nas atividades escolares e familiares perpassam na informação, mesmo para os casos onde já aconteceu abuso, a criança precisa entender que foi vitima de uma violência e que precisa de ajuda para superar essa situação. Essa ajuda virá por meio de profissionais especializados, como psicólogo, professor, psicopedagogo dentre outros. Considerações in-conclusivas... Refletir sobre as práticas dos profissionais que lidam com essas crianças, podem ajudar-nos enquanto profissionais de educação a desenvolver uma escuta sensível dos comportamentos e falas, bem como das aprendizagens e não aprendizagens dos estudantes ajudam-nos também a nos desenvolvermos enquanto pessoas. Visto que tendo conhecimento sobre este assunto é que se torna possível fazer inferências, esta pesquisa evidenciou questões que mostraram as possibilidades e dificuldades desses profissionais.Nesse pensamento pretendeu-se esclarecer algumas questões que possam a vir contribuir para que os leitores deste estudo desenvolvam um olhar sensível e consciente acerca da sua importância enquanto agente transformador da sociedade. Este trabalho de pesquisa permitiu conhecer sobre um tema ainda pouco explorado. Desta forma considera-se que este trabalho não se encerra aqui mais suscita outros questionamentos, tais como a relação entre o abuso sexual e as questões de gênero e etnia, gerando outras ideias no intento de não deixar morrer o debate sobre um tema tão necessário ao desenvolvimento do sujeito, sendo-se assim a pesquisa pretendeu provocar e nunca encerrar um tema tão amplo e de necessidade para a sociedade em geral. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 REFERÊNCIAS BRASIL. Lei 8.069/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. SANTOS, Benedito Rodrigues dos. Guia de Referência: Construindo uma cultura de prevenção à violência sexual. São Paulo: Childhood- Instituto WCF- Brasil: Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretaria de Educação, 2009. RIBEIRO, Letícia Érica Gonçalves. Sexualidade: Qual o papel da escola?. Goiânia: Revista Mátria. 7º edição, 2009. ARIES, Phillipe. História social da infância e da família. Rio de Janeiro, Ed. Jorge Zahar, 1973. GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1999. MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria método e criatividade. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. BRASIL. Estatuto da Criança e Adolescente. Estatuto da Criança e Adolescente: Disposições Constitucionais pertinentes: lei nº 8.609, de 13 de julho de 1990. 6 ed. Brasília: Senado Federal, subsecretaria de edições técnicas, 2005. ________, Ministério da saúde. Saúde e prevenção nas escolas: Guia para a formação de profissionais de saúde e educação. Secretaria de vigilância em saúde, 2006. MARTINS, Raquel. Sinais e Sintomas de abuso sexual. 15 de agosto de 2009. Disponível em: HTTP< WWW.educaçãodeinfância.com. Acessado em: 19/05/2012. SZYMANZKI, Heloisa. A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília: Liber Livro, 2010. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A construção do currículo numa ação compartilhada: Escola Municipal Ester da Silva Santana Erica de Souza Fadigas Neris* Ivana Cardim Pinheiro** RESUMO:O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de experiência a respeito da construção de currículo escolar pautado nas ações implementadas na Escola Municipal Ester da Silva Santana localizada em Feira de Santana, onde vem se tentando elaborar um currículo escolar. Neste texto apresentamos como as ações foram planejadas, executadas e refletidas coletivamente entre professores e coordenação para a construção do currículo, qual a base teórica metodológica utilizada, e como vem sendo acompanhada sua execução. Adotamos aqui um conceito de Currículo defendido por Torres (1995), bem como consideramos ainda os conceitos de currículo prescrito e currículo em ação Silva (1990) para as discussões acerca da prática pedagógica desenvolvida pelos professores da escola. A relevância desse trabalho deve-se a necessidade de nortearmos a prática escolar e de defendermos a proposta pedagógica na qual pautamos o nosso trabalho, refletindo assim as discussões e estudos desenvolvidos com todo corpo docente a respeito da construção da identidade escolar e regional. Considera-se que este pode ser o início de uma pesquisa instigante e importante que poderá contribuir não apenas para a compreensão da situação tal qual ela se mostra hoje, mas também para possíveis discussões e até transformações acompanhando as mudanças da ideia de currículo do Ensino Fundamental no nosso país. Palavras-chave - Currículo; prática docente; construção coletiva Introdução A construção do referido trabalho reflete a necessidade de se discutir na escola e em outros ambientes como o acadêmico, a construção do currículo escolar numa perspectiva coletiva e democrática de modo a contemplar os anseios da prática pedagógica. Trazer para as propostas curriculares questões que atendam a diversidade, a heterogeneidade e as especificidades das salas de aula não é tarefa fácil. Na Escola Municipal Ester da Silva Santana, localizada no bairro Mangabeira na cidade de Feira de Santana, uma proposta vem sendo construída e ações vêm sendo implementadas na busca da melhoria da qualidade do ensino, trata-se de uma ação da direção, coordenação e dos professores da escola, uma vez que esta ainda não contava com a sua proposta de ensino, que é um instrumento que contribui para nortear as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas para o bom andamento das suas atividades. Entendemos que este documento deve ser atualizado constantemente, ainda se fazer alguns ajustes, para que seja alinhado à Proposta Curricular do nosso município, que se encontra em fase de construção. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Sabendo que cada escola deve buscar a sua própria identidade, o currículo deve ser elaborado pela coletividade. Diante da evolução hodierna com rápidas transformações tecnológicas, sociais e culturais é que buscamos inovar, enriquecer e contextualizar as nossas propostas pedagógicas, procurando formar e considerar a identidade pessoal dos nossos alunos, professores e outros profissionais, tomando por base as Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais. O currículo é de fundamental relevância para o bom desempenho pedagógico, este deve contemplar um estudo da realidade escolar e os objetivos que se pretende alcançar. Na proposta até então sistematizada buscamos registrar os conteúdos e objetivos pretendidos com vistas a possibilitar o desenvolvimento de Projetos pedagógicos, Atividades sequenciadas, incluindo os Temas Transversais sugeridos pelo MEC. O Currículo numa perspectiva crítica Percebemos que a construção e execução do currículo escolar é tarefa que está intrinsecamente ligada a postura do professor, suas intencionalidades, sua autonomia, e sua reflexão crítica, com o intuito de basearmos a construção deste currículo numa discussão teórica consistente utilizamos como fonte de pesquisa os trabalhos de Torres (1995) e Silva (1990). Adotaremos aqui um conceito defendido por Torres (1995, p.14), segundo o qual “(...) currículo incluiria conteúdos e objetivos, assim como métodos e critérios de avaliação, não se limitando a instrução, abrangendo as relações e aprendizagens sociais (currículo não escrito)”. Para que possamos entender como foi proposto aos colegas professores a construção coletiva de um currículo próprio, frente a lista de conteúdos escolares previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e livros didáticos, e ao fato da proposta curricular do município está em construção. Demonstrou-se e a possibilidade destes professores fomentarem adaptações curriculares em suas ações educativas cotidianas cabe ainda uma diferenciação importante entre currículo prescrito (desejado) por programas oficiais ou planejamentos anuais e currículo em ação, entendido como aquele posto em prática (Torres, 1995). Silva(1990, p.10) define currículo prescrito como aquele que: “Antecipa os resultados do ensino, preestabelece o que deve ser ensinado, e o trabalho do professor fica limitado à proposta de meios, impedindo o resgate da cultura de que o aluno e portador.” Correlacionando o currículo prescrito com o trabalho desenvolvido pelos professores, Silva,(1990, p.1) relatando seu estudo sobre o tema apresenta o currículo em ação considerando o seguinte: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 “A intervenção do professor é fundamental para promover a interação na sala de aula. Da sua pratica concreta, decisões e intencionalidade, surgira o contorno do currículo, o que e de uma complexidade impar, porquanto irão direcionar a ação pedagógica e imprimir um significado ao processo educativo”. A partir de indagações, questionamentos e desconfiança em busca de uma transformação foi que surgiu a teoria critica de currículo. Sendo necessário compreender o currículo a partir da formação de conceitos. Segundo Veiga (1991), a escola como aparelho ideológico das classes dominantes seja de uma forma direta ou através do seu currículo tenta estabelecer normas e ensinamentos que contribui para manipular os seus dominados, atuando de uma forma discriminatória excluindo os alunos das classes menos favorecidas. Diante disso é importante afirmar que a escola é um espaço de reflexão, de luta e de contestação, onde o seu papel está a serviço dos interesses populares. Fazendo da escola o caminho para que o direito de todos seja respeitado, onde os educandos possam desfrutar de uma formação básica comum, valorizando a arte e a cultura. Propiciando a estes a conquista de melhores condições de trabalho e participação cultural e política. Formando o cidadão para participar da luta contra as desigualdades sociais. A construção do currículo: compartilhando experiência Sendo o currículo, um instrumento de confronto de saberes. É preciso que se valorize os saberes dos educandos das classes populares e os seus modos de vida. Valendo-se destes conhecimentos como ponto de partida para o trabalho educativo. Sendo assim ao partir para a elaboração do currículo ressalto alguns aspectos relevantes: o aluno seja o construtor do conhecimento; valorizar os conhecimentos prévios do educando; a organização das atividades deve incluir a totalidade social, visando a transformação crítica e criativa do contexto escolar. Outro aspecto importante é conhecer o contexto social da escola, reconstruir a história dos educadores e dos alunos, e da comunidade, bem como conhecer a prática pedagógica utilizada pela instituição. Com a sistematização destes dados, fazer o levantamento dos problemas e buscar o direcionamento das ações a serem desenvolvidas em busca de soluções. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Para mudar a realidade escolar devemos buscar caminhos de atuações de forma compartilhadas por todos os envolvidos no processo educativo, uma vez que a construção do currículo é um ato político. Para isto devemos definir objetivos pautados numa pedagogia crítica, visando a transformação social. Como apresentamos na construção do Projeto Político Pedagógico da escola, uma proposta pedagógica sócio-interacionista, a construção da nossa Proposta Curricular foi norteada também por esta proposta. Primamos assim por uma aprendizagem a partir dos conceitos do senso comum, para assim introduzir outros conceitos mais específicos e detalhados, promovendo a interação entre os pares. Norteando uma organização de conteúdos básicos e essenciais para que aconteça uma aprendizagem significativa proporcionando aos nossos educandos um ensino de qualidade, onde estes possam conquistar uma participação cultural, política e social enquanto cidadãos. Uma instituição não autonomizada é parte integrante e inseparável dos demais fenômenos que compõem a totalidade social, procurando formar o cidadão para participar da luta contra as desigualdades sociais, no desvelamento da ideologia dominante. Nessa perspectiva a escola está fundada nos princípios que deverão nortear o ensino democrático público e gratuito. Veiga (l99l). Iniciamos a construção da nossa proposta de currículo a partir do levantamento dos conhecimentos prévios do corpo docente e demais componentes da equipe gestora. Fizemos a leitura e discussão do texto Por Um Currículo Consistente de Fernando José de Almeida, onde o mesmo situa o ensino público na realidade atual, mediante as novas necessidades de aprendizagem. Através de pesquisas fizemos também um levantamento das expectativas de aprendizagem por disciplina e por série e a partir destas construiu-se os objetivos de cada série. Depois dos estudos e das discussões coletivas, agrupamos os professores por série para que listassem na tabela da proposta curricular, os conteúdos e os objetivos esperados. É relevante pensar na qualidade do conteúdo e não na quantidade. Deve-se relacionar os conteúdos às diversas disciplinas. Articulando-as à vida prática dos educandos, suas experiências de vida e da comunidade, suas expectativas e seus valores. Desta forma incorporar estas vivências aos conteúdos propostos, contribuindo para que o aluno desenvolva a sua criticidade numa prática pedagógica reflexiva. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Transformando os sujeitos tanto educadores como alunos em sujeitos capazes de buscar ações que contribuam para superar as dificuldades encontradas. Ao serem devolvidas as tabelas para a coordenação, fizemos os ajustes nas produções feitas pelos professores e nos encontramos num outro momento para discutirmos as estratégias de ensino e avaliações. Então com a coleta de todo o material a equipe de coordenação foi construindo e ajustando o que foi necessário tomando por base os Parâmetros Curriculares Nacionais e os textos que constam nas referencias bibliográficas. A seleção e organização dos conteúdos curriculares, é uma ação complexa, uma vez que estes conteúdos trazem interesses e intencionalidade de classes de diferentes visões da sociedade. Por isso cabe aos educadores o compromisso político em busca do bem da coletividade. Não podemos pensar em currículo sem pensar em avaliação, ao pensar em uma educação transformadora e sócio-interacionista, o processo avaliativo deve comungar com a mesma proposta de ensino e educação. Pois ao contrário de uma avaliação classificatória e controladora, esta deve servir como um instrumento norteador para a melhoria dos resultados. Uma vez que avalia-se para diagnosticar a aprendizagem bem como o ensino e a partir deste diagnóstico planejar atividades de intervenções para que a aprendizagem aconteça. Ou seja, avaliar para repensar a prática pedagógica, e redirecionar meios para uma aprendizagem significativa. Considerações finais No desenvolvimento deste trabalho procurou-se provocar discussões acerca de um dilema na vida profissional de professores e professoras do Ensino Fundamental diante do fato de terem que selecionar conteúdos, definir objetivos e estratégias de trabalho diante de um currículo prescrito. As fontes de consulta que serviram de embasamento teórico para discutir o currículo foram Silva (1990) e Torres (1995) que revelaram a existência de um currículo prescrito e a possibilidade da construção de um currículo em ação. Utilizou-se tal referencial na busca de uma orientação para construção do currículo escolar e para se fazer uma análise da prática dos professores e de sua participação na Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 tomada de decisão sobre o que se pretende enquanto proposta pedagógica na Escola Ester da Silva Santana. Percebemos que as estratégias utilizadas pelos professores para seleção de conteúdos está vinculada a intencionalidade, autonomia e reflexão que se pretende na escola. Pois, a autonomia bem como a flexibilidade se fará presente quando se fazem necessárias as adaptações no currículo prescrito. Considera-se que este pode ser o início de uma pesquisa instigante e importante que poderá contribuir não apenas para a compreensão da situação tal qual ela se mostra hoje, mas também para possíveis discussões e até transformação do formato do currículo do Ensino Fundamental no nosso país. Referências BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais : introdução aos parâmentros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamnetal. Brasília: MEC/SEF, 1997. SILVA, Terezinha M. N. A construção do currículo na sala de aula: o professor como pesquisador.São Paulo: EPU, 1990 p. 1-18. TORRES, Rosa M. Que (e como) é necessário aprender? Necessidades básicas de aprendizagem e conteúdos curriculares. 2ª ed. Campinas, SP: Papirus, 1995. p.11-18. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (Org.) Escola Fundamental, Currículo e ensino. São Paulo: Papirus, 1991. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Inclusão e flexibilizações curriculares: a contribuição da sala de recursos Flavia Andrade Brito 38 RESUMO: Partindo do pressuposto de que a educação é para todos, a escola tende a buscar o reconhecimento e a valorização da diversidade e das diferenças individuais como elementos intrínsecos e enriquecedores do processo escolar. Por acreditar que os sujeitos podem aprender juntos, embora com objetivos e processos diferentes, a inclusão nos remete a mudanças significativas no contexto escolar no que se refere às questões pedagógicas, relacionais, administrativas e institucionais, sendo necessário a realização de flexibilizações curriculares, essas se originam da identificação da necessidade e possibilidade de o educando aprender, traçando caminhos para aquisição do conhecimento. O Atendimento Educacional Especializado tem aí um papel fundamental de orientação e apoio aos profissionais diretamente ligados as crianças com Necessidades Educacionais Especiais. Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta a experiência vivenciada na Sala de Recursos Multifuncional do Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), tendo como objetivo refletir o processo de inclusão na escola e como a Sala de Recursos vem auxiliando nesse processo, seus entraves e conquistas. Partindo da ideia de autores como, Carvalho (2000 e 2008), Werneck (1999), Roos (2003), Mantoan (2003), Santomé (1995) é que viabilizamos flexibilizações metodológicas e didáticas a fim de promover aprendizagens. Essa experiência vem possibilitando perceber que é possível trabalhar o mesmo conteúdo com todos, adequando às práticas e objetivos pedagógicos às especificidades e capacidades de cada um. Palavras-chave: Inclusão, Flexibilizações curriculares, Sala de Recursos. Partindo do pressuposto de que a educação é para todos, busca-se reconhecimento e valorização da diversidade e das diferenças individuais como elementos intrínsecos e enriquecedores do processo escolar. Conforme CARVALHO, Especiais devem ser consideradas as alternativas educativas que a escola precisa organizar, para que qualquer aluno tenha sucesso; especiais são os procedimentos de ensino; especiais são as estratégias que a prática pedagógica deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem. Como esse enfoque temos procurado pensar no especial da educação, parecendo-nos mais recomendável do que atribuir essa característica ao alunado. (2000, p.17) Tal conceito nos remete a mudanças significativas no contexto escolar no que se refere às questões pedagógicas, relacionais, administrativas e institucionais, garantindo a aprendizagem de todos os alunos, tendo em vista o respeito pela diferença. Nessa assertiva, CARVALHO (2000, p. 17) “[...] a diferença não é uma peculiaridade das pessoas com deficiências ou das superdotadas. Todos somos absolutamente diferentes uns dos outros 38 Centro de Educação Básica da UEFS [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 e de nós mesmos, a medida que crescemos e nos desenvolvemos. Somos todos especiais.” A inclusão de alunos/as com necessidades educacionais especiais implica redimensionamento curricular dos processos de ensino-aprendizagem, bem como do acesso aos diferentes espaços físicos da Instituição. Segundo Werneck (1999, p. 12-13), Partindo da premissa de que quanto mais a criança interage espontaneamente com situações diferenciadas, mais ela adquire o genuíno conhecimento, fica fácil entender porque a segregação não é prejudicial apenas para o aluno com deficiência. A segregação prejudica a todos, porque impede que as crianças das escolas regulares tenham oportunidade de conhecer a vida humana com todas as suas dimensões e desafios. Sem bons desafios, como evoluir. Dessa forma, devemos organizar a prática pedagógica, possibilitando a individualização do ensino de acordo com as particularidades de todos os alunos. Pressupõe, sobretudo um trabalho de planejamento coletivo e de colaboração entre os profissionais, centrando-se no contexto do grupo, atendendo não só os alunos com necessidades educativas especiais, mas também as eventuais especificidades dos demais alunos, contribuindo, dessa forma, com o processo de inclusão escolar. As flexibilizações curriculares, tanto no que se refere às adaptações dos objetivos, dos métodos, como também da avaliação, ocorrem como uma das formas mais específicas de contemplar as necessidades individuais do aluno. Além disso, entende-se que as discussões a respeito da inclusão devem ser ampliadas e estendidas a toda comunidade escolar, para que haja o entendimento e respeito às diferenças, já que somos todos diferentes com um jeito próprio de pensar e agir. Assim, “[...] é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza.” (SANTOS apud MONTOAN, 2003, p.34). Flexibilizações curriculares para a educação inclusiva Uma flexibilização curricular origina-se da identificação da necessidade e da possibilidade de o educando aprender. Dessa identificação, resulta a formulação do objetivo. Desse objetivo, deve ser elaborada a estratégia que irá favorecer a aprendizagem do educando. Dessa estratégia, deverão ser escolhidos os aspectos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 principais sobre os quais o educando deverá se concentrar. Se a estratégia não for bem sucedida, o professor deverá reelaborar suas formas de intervenção encontrando a estratégia que melhor se adeque àquele aluno. Após essa estratégia, ser bem sucedida com esse ou aquele aspecto, ou dimensão, ou imagem, ou forma, deve-se buscar a generalização, levando-o a explorar esse conceito em outras situações. As flexibilizações são caminhos para viabilizar a aquisição do conhecimento. Não se trata de eliminar conteúdos, mas priorizar o que é essencial e, ao mesmo tempo, o que pode ser relevante para o aluno. Assim, não há necessidade de saturar os educandos com repetições, mas com desafios e problematização do trabalho, visando apropriação de conceitos fundamentais. À luz dessa concepção de educação inclusiva, cada profissional da educação, envolvido direta ou indiretamente com os alunos, é chamado a refletir acerca dos novos contextos e exigências educacionais e a comprometer-se com o objetivo de organizar saberes, recursos e procedimentos metodológicos. Portanto, o objetivo maior destas ações é entender que, independentemente das condições biopsicossociais dos educandos, todos "... são capazes de aprender e ensinar, assim como todos os professores são capazes de ensinar e aprender" (Ross, 2003) No entanto, é preciso definir papéis, responsabilidades, uma vez que a situação escolar de cada educando é responsabilidade de todos os envolvidos no processo educativo. O profissional especializado deve atuar em conjunto com o educador do ensino regular na perspectiva de atuar enquanto um apoio na realização de flexibilizações que auxiliem o trabalho do educador e o pleno desenvolvimento do educando. Portanto, a prática do professor especializado deve ser uma prática coletiva e não a única responsável pela aprendizagem do aluno. Do mesmo modo, atribui-se também ao educador do ensino regular a responsabilidade na elaboração de práticas pedagógicas que atendam às necessidades de cada educando, considerando-se que todos os educadores apresentam condições profissionais para educar e aprender com todos os educandos, sejam eles com ou sem deficiência, sendo, portanto capazes de realizar flexibilizações, sempre que necessário. Nessa lógica, não cabe ao educador de determinada série/ano, culpabilizar professores das séries/anos anteriores pela não aprendizagem de determinado educando. Cabe-lhe viabilizar flexibilizações metodológicas e didáticas a fim de promover Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 aprendizagens. É possível trabalhar a mesma aula com todos, adequando as práticas e objetivos pedagógicos às especificidades e capacidades de cada um. Atuando na Sala de Recursos A sala de recursos se caracteriza pela organização de procedimentos e estratégias pedagógicas, linguagens, metodologias e flexibilizações curriculares para atender as necessidades que se apresentam na escola. Trata-se de um trabalho diferenciado, devendo, porém, estar vincula aos objetivos e aprendizagens escolares. É um apoio especializado, não devendo ser confundido com reforço, o educando deverá frequentá-la preferencialmente no período contrário ao das aulas comuns do ensino regular. Segundo a resolução nº 4, de outubro de 2009: O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem. (BRASIL, 2010) O trabalho em sala de recursos tem caráter pedagógico, cujo objetivo é orientar e articular estratégias para os educandos que apresentam necessidades educacionais especiais na aprendizagem. Tem por finalidade, atuar junto à comunidade escolar, acompanhando práticas pedagógicas, contribuindo assim, em evitar processos de exclusão e rotulação de alunos. Os educadores da sala de recurso devem trabalhar na perspectiva de compartilhar o conhecimento e buscar novos apoios, metodologias, e instrumentos de avaliação, enfim, envolver e estar envolvido com todas as pessoas que fazem parte da escola. Nessa área de atendimento, os educadores das salas de recursos e sala regular deverão ter garantido em cronograma de atendimento, um momento para refletir criticamente sobre suas práticas e sobre o desenvolvimento de cada aluno. Isso tudo para evitar que a aprendizagem de determinados educandos se torne responsabilidade exclusiva do educador especializado. Esses momentos de reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem nortearão o trabalho pedagógico, permitindo identificar quais as flexibilizações curriculares se fazem necessárias no contexto regular de ensino. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O educando deve ser encaminhado para a sala de recursos a partir do momento em que o educador perceber que esgotaram seus recursos pedagógicos em sala de aula e após ter buscado apoio junto à equipe pedagógica. Segundo as diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado é público alvo do Atendimento Educacional Especializado: Alunos com deficiência seja ela de natureza física, mental ou intelectual, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, transtornos desintegrativos da infância e alunos com altas habilidade/superdotação. Então, faz-se necessário que o educando passe por uma avaliação do contexto. A avaliação do contexto escolar deve ser interpretada como a verificação de desempenho escolar, em relação ao seu contexto educativo, familiar e social, com vistas à melhoria da qualidade das respostas educativas da escola. Deve contemplar: - o contexto sociocultural em que o educando está inserido; - os aspectos: cognitivo, motor, socioafetivo emocional; - as habilidades acadêmicas; - análise das intervenções e estratégias de aprendizagem utilizadas com o educando. Após o preenchimento dos instrumentos de avaliação no contexto, a equipe pedagógica, junto ao educador regente e o da sala de recursos, farão a análise das respostas, com a finalidade de saber se as dificuldades apresentadas pelo educando correspondem à proposta de trabalho da sala de recursos, que visa contemplar as áreas de desenvolvimento (cognitiva, motora e socioafetiva e emocional) de forma a subsidiar os conceitos e conteúdos defasados no processo de aprendizagem ou não. Desse modo, na organização do trabalho na sala de recursos, o educador especializado deve considerar que: • os atendimentos serão realizados individualmente ou em pequenos grupos de alunos, de acordo com suas necessidades educacionais especiais, a faixa etária, o programa a ser desenvolvido e o nível de escolaridade. • a programação desenvolvida deve respeitar as necessidades individuais do educando, sendo observadas as áreas do desenvolvimento; • A sala de recursos visa disponibilizar, além dos recursos já existentes em sala de aula comum, outros recursos, metodologias, linguagens e adaptações em condições físicas e ambientais adequadas às necessidades e diferenças de cada um; Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A cessação do atendimento deve ser gradativa, devendo ser decidida, caso a caso, pela equipe pedagógica da escola junto aos educadores da sala regular e os da sala de recursos, com registro em ata e relatório de dispensa o qual deve ser arquivado na pasta individual do educando. Conclusões preliminares: construindo através da experiência A concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até os marcos teóricos e referenciais técnicos que a concretizam na sala de aula. Relacionam princípios e operacionalização, teórica e prática, planejamento e ação. A escola para todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos estudantes. Pensar em flexibilização significa considerar o cotidiano das escolas, levandose em conta as necessidades e capacidades dos seus estudantes e os valores que orientam a pratica pedagógica (BRASIL, 2010). A parti da experiência vivenciada na Sala de recursos multifuncional do Centro de Educação Básica da UEFS foi possível perceber que, as flexibilizações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar frente ás dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Pressupõem que se realize a flexibilização de aspectos referentes ao currículo regular que possa contemplar ás peculiaridades dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os estudantes. As respostas a essas necessidades devem estar previstas e respaldadas no projeto pedagógico da escola, não por meio de um currículo novo, mas da flexibilização progressiva do currículo implementado no ensino regular, buscando garantir que os estudantes com necessidades educacionais especiais participem da programação geral da escola, igual a qualquer outro estudante, entretanto, considerando as especificidades que as suas necessidades possam requerer (BRASIL, 2010). Nesse direcionamento considera-se que os conteúdos escolares refletem os significados e valores culturais e sociais que foram e são construídos no infinito processo de interação do homem com o mundo natural e social. Esses conteúdos são atualizados as práticas de sala de aula, quando o professor escolhe as metodologias mais adequadas para a aprendizagem, os recursos didáticos e os processos de avaliação. As expectativas Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 de aprendizagem buscam auxiliar na definição dos planos dos professores. Elas refletem aquilo que se espera que os estudantes aprendam na escola, traduzindo em práticas os objetos e princípios previstos nos documentos curriculares. Partindo dessa premissa e que acreditamos, que os sujeitos podem aprender juntos, embora com objetivos e processos diferentes, tendo em vista uma educação de qualidade. Dessa forma, essa experiência me levou a elaborar um Formulário de Registro das Flexibilizações Curriculares visando descrever e sistematizar a organização dos conteúdos, expectativas de aprendizagem (objeto), procedimentos didáticos e de avaliação para favorecer o processo de aprendizagem do estudante com necessidades educacionais especiais que estão incluídos nas classes comuns. É importante ressaltar que o formulário abrange as flexibilizações referentes ao currículo regular, conforme explicitadas pela (American Association on intellectual and Developmental Disabilities) – AAIDD. Referências Bibliográficas Brasil, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos PolíticosLegais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva / Secretaria de Educação Especial – Brasília : 2010. CARVALHO, Rosita Edler. Removendo Barreiras para aprendizagem: educação inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2000. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. WERNECK, Claudia. Inclusão: qualidade para todos. In: Revista Nova Escola, São Paulo, nº 123, 1999, p.8-17. ROSS, P. R. ; GUIMARAES, M. . História e Educação Especial no Brasil. 1. ed. Curitiba: IBPEX, 2003. v. 1. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Braille: Noções Básica do Sistema de Leitura e Escrita Tátil Márcia Raimunda de Jesus M. da Silva39 Marta Martins Meireles40 Jusceli Maria de Oliveira Carvalho Cardoso41 RESUMO: O projeto de extensão foi pensado a partir das observações realizadas na rede municipal de ensino da cidade de serrinha, contemplando as dificuldades dos professores em trabalhar didaticamente com o aluno com deficiência visual. Teve como objetivos complementar os conhecimentos dos alunos do Departamento de Educação, principalmente os pedagogos em formação, mas aberto aos outros cursistas, no sentido de oferecer uma alternativa para compreenderem o sistema Braille, visto ser este projeto pioneiro na área; também poder alcançar os professores da região, pais e interessados. Como o trabalho com o aluno com deficiência visual requer conhecimentos específicos tais como o conhecimento do sistema Braille, trabalhamos com uma proposta de realizar o curso em três momentos: o primeiro, realizado, presencialmente tendo como foco os conhecimentos teóricos e práticos de Braille; o segundo, também presencial, elaborado depois do aprendizado do sistema Braille, com a construção dos projetos para realização das oficinas com professores e alunos na escola; o terceiro com execução das oficinas nas escolas para professores e alunos do magistério, com o objetivo de “despertar o desejo” dos cursistas para o aprendizado do Braille e incentivá-los a adotarem uma postura e atitudes de cunho inclusivo, observando ser possível esta realidade no espaço escolar. O curso, na sua inteireza, apresentou carga horária de 80 horas, realizado no período de março a junho do ano em curso, com participação em torno de quarenta e cinco cursistas, do curso de Pedagogia e Geografia. Foi ministrado com uma metodologia dinâmica, com uso de recursos específicos (regletes), vídeos, músicas e outros, com reflexão sobre o Braille, a deficiência visual e a atuação do professor. A avaliação do curso foi positiva, tendo pretensão de oferecer mais três novas turmas no mês de novembro deste mesmo ano. O referencial teórico norteador das ações se configurou a partir do sóciointeracionismo vigotskiano e o diálogo com autores diversos e específicos da área. PALAVRAS-CHAVE: Braille; deficiência visual; Práticas Pedagógicas. Relatar o sucesso de uma experiência de extensão sempre acompanha o desejo de desenvolver outras ações quiçá bem-sucedidas. Essa realidade pôde ser expressa neste projeto desenvolvido no Departamento de Educação do Campus XI – Serrinha/UNEB, no período de março a junho de dois mil e doze, pela oferta do Curso de Extensão em Braille42: Noções Básicas do Sistema de Leitura e Escrita Tátil, oferecido a docentes da rede pública, alunos do Campus, pais e interessados, com carga horária inicial de quarenta horas. Este relato evidencia a importância da necessidade de formação do educador no aprendizado de práticas pedagógicas específicas, bem como, induz outros 39 Pedagoga/UNEB; Especialista em Educação Especial/UEFS; Especialista em AEE/UNESP; Mestre em Educação/UNEB; [email protected] 40 Pedagoga/UNEB; Especialista em Mestrado/UNEB. [email protected] 41 Educação Especial/UEFS; Aluna Especial Docente da UNEB; Mestre em Educação Especial CELAE/CUBA. E-mail: [email protected] No Brasil, de acordo com a Comissão Brasileira do Braille, de caráter permanente, a palavra “braille” deve ser grafada com dois “l” conforme o original francês, cujo termo é usado no Brasil há mais de 150 anos. 42 do Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 que, ainda não possuindo em sala de aula, aluno com deficiência visual ou baixa visão, desperta-lhe o interesse de desenvolver ações voltadas à inclusão, mesmo não sendo especificamente um docente. Trezentas pessoas foi o total de inscritos. Inicialmente selecionamos quarenta e cinco, divido em três turnos. Pretendemos ao fim de cada ciclo de quarenta e cinco cursistas, selecionarmos mesma quantidade e assim sucessivamente até que todos os inscritos tenham feito o curso de Braille. Para alcançarmos nossos objetivos, escolhemos um determinado número de cada classe inscrita: pais, professores, alunos e interessados. Entretanto, os docentes com alunos com necessidades educacionais especiais, foi convocado em maior número. A organização deste curso ficou sob a responsabilidade do Núcleo de Apoio e Pesquisa à Educação Inclusiva (NAPEI), e do Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (CAPENE), com apoio da Secretaria Municipal de Educação e do respectivo Departamento. Compõe o NAPEI professores do Campus, alunos e interessados. Os objetivos na execução deste curso foi complementar os conhecimentos dos graduandos e bacharéis em formação e demais egressos, no sentido de oferecer uma alternativa para compreenderem o cotidiano educacional das pessoas com cegueira, iniciando com o ensino do sistema Braille. Outro objetivo foi possibilitar uma melhor compreensão da baixa visão/cegueira; sobretudo, que os cursistas tivessem efetiva participação na disseminação/construção de outro “olhar” sobre a deficiência visual; produção de material adaptado; fortalecimento das relações interpessoais. Os conteúdos ministrados foram elaborados e avaliados pela coordenação geral e docentes do curso. Trabalhamos com o conceito de deficiência visual e cegueira: diferenciação; história de Louis Braille; surgimento do sistema Braille; material elaborado em emborrachado; cela braile construída em material alternativo, tecnologia assistiva, Braille e transcrição; jogos pedagógicos, músicas, vídeos, dominó e outras atividades. Por compreendermos que a inclusão educacional é muito mais que inserir o aluno em sala de aula, apresentamos os cursistas neste universo, para posteriormente, eles pudessem dar o suporte necessário para fortalecer o processo de permanência na escola e conduzir os alunos ao desenvolvimento cognitivo. A permanência, pode ser potencializada pelo domínio do docente acerca dos conteúdos específicos. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Nesse sentido, a solicitação de inscrição por alunos do curso de Administração, deixou-nos admirados e ao mesmo tempo, felizes, pois demonstra que a discussão sobre a temática da educação inclusiva, fecunda no Departamento, mostra seus frutos, despertando o interesse de pedagogos, administradores e geógrafos em contribuir para o acolhimento ao sujeito com necessidades educacionais especiais em diversos espaços de trabalho, sendo sala de aula, empresa ou instituição. O desenvolvimento do projeto buscou concretizar em realidade os anseios dos sujeitos envolvidos no campo educacional, cuja demanda pela formação nas áreas específicas das necessidades educativas especiais, ainda é carente. A importância do aprendizado do Braille é expressa por Sá (2007, p. 27): “O domínio do alfabeto Braille e de noções básicas do sistema por parte dos educadores é bastante recomendável e pode ser alcançado de forma simples e rápida, uma vez que a leitura será visual”. Nos eventos, seminários e ações de cunho extensionista, evidenciava-se a insegurança dos participantes sobre a atitude pedagógica para com esses alunos. Assim, A dinâmica de trabalho estave pautada em apresentar esses sujeitos, relatando sua trajetória, no mundo e no contexto nacional, seguida dos recursos de trabalho pedagógico. A discussão sobre as tecnologias assistivas e sua importância para a pessoa com deficiência não ficou ausente. Apesar de todo arcabouço tecnológico presente na sociedade e, as mesmas se configurarem em grandes recursos para as pessoas, principalmente com deficiência, embora posto como verdadeiro, nem todos tem acesso, muito menos as pessoas com deficiência. Baggio (2006) afirma “O ingresso da humanidade na Era da Informação é um fato, mas ainda apenas para uma pequena parcela da população”. A partir dessas discussões apresentamos a importância do aprendizado do Braille pela pessoa cega, refletindo sobre a necessidade de uma transformação da postura educacional perante as novas tecnologias, com o aporte de Galvão Filho (2008, p.25): [...] Nessa perspectiva, buscamos analisar e discutir a conjunção dessas diferentes realidades: a utilização de Tecnologia Assistiva (TA) para o “emponderamento” da pessoa com necessidades educacionais especiais, possibilitando ou acelerando o seu processo de aprendizado, desenvolvimento e inclusão social e apontando para o fim da ainda bem presente invisibilidade dessas pessoas em nossa sociedade. A profissão docente exige o conhecimento das tecnologias e sua utilização pelo aluno, a partir de uma referência de educação, com uma teorização acerca do currículo e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 do sujeito que sorre essa ação educacional. Muitos alunos tem acesso ao computar e outros recursos, mas no caso do aluno cego, esse acesso é restrito por conta da ausência no domínio dos softwares usados na área de deficiência visual. A partir dessas discussões, o curso foi reestruturado em sua metodologia. Subdividimos as ações em três momentos. Esta divisão aconteceu também por conta da solicitação dos alunos de alterar a carga horária, pensada, inicialmente, em quarenta horas, para oitenta horas. Não havendo conteúdo teórico-prático suficiente para o tempo proposto, sugerimos que nos trouxessem uma alternativa para essa ampliação. Assim, o projeto tomou nova configuração: o primeiro momento, realizado, presencialmente tendo como foco os conhecimentos teóricos e práticos de Braille; o segundo, também presencial, elaborado depois do aprendizado do sistema Braille, com a construção dos subprojetos para realização das oficinas com professores e alunos na escola; o terceiro com execução das oficinas nas escolas para professores e alunos do magistério, com o objetivo de “despertar o desejo” dos cursistas para o aprendizado do Braille e incentivá-los a adotarem uma postura e atitudes de cunho inclusivo, observando ser possível esta realidade no espaço escolar. O curso, na sua inteireza, apresentou carga horária de 80 horas, realizado no período de março a junho do ano em curso, com participação em torno de quarenta e cinco cursistas, do curso de Pedagogia, Geografia e Administração. Foi ministrado com o efetivo exercício no uso de recursos específicos (regletes), com escrita e transcrição do Braille, e mais vídeos, músicas e construção de recursos adaptados. A metodologia foi pensada visando contemplar aspectos teóricos e práticos ao mesmo tempo. Paralelo a teoria, realizava-se a escrita. Buscamos a realização de atividades dinâmicas, com jogos de dominó com os alunos usando viseira, jogos de memória com os olhos fechados; vídeo, músicas, caça-palavra em braile. Brincadeira. O processo de realização do curso aconteceu de forma interativa e dinâmica, com participação de todos. Assim, ao término das atividades teórico-práticas do próprio curso de Braille, com quarenta horas, planejamos as outras quarenta. Destinamos dez horas de encontros para visitar algumas escolas interessadas em nos conceder espaço para que as oficinas pudessem ser realizadas e os participantes. Outras vinte horas foram direcionadas para a elaboração das propostas das oficinas nas escolas e seleção de material de acordo com o público, se aluno ou professor. Quatro horas foram a culminância das oficinas e as seis Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 restantes contemplou a escrita do relatório para certificação dos participantes das oficina e avaliação das duas etapas do projeto, a parte teórica com quarenta horas e a segunda etapa realizada nas escolas. O suporte teórico utilizado no curso contou com autores diversos. Entretanto, utilizamos principalmente as publicações que explicam o aprendizado e utilização do Braille, a exemplo dos livros publicados no portal do MEC como “Grafia Braille para a Língua Portuguesa”, o “Código Matemático Unificado”, “Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille” e a “Grafia Química Braille para uso no Brasil”. Autores como Galvão Filho (2008) e Baggio (2006) na área de tecnologia assistiva, Sá (2007) versando sobre o Atendimento Educacional Especializado, e outros da área da inclusão educacional. Resultados Desde o primeiro dia de curso sua execução foi marcada por descobertas e surpresas. Os relatos dos alunos da impressionante negação do aprendizado de Braille ao êxtase por conseguirem ler os livros didáticos, oferecidos no final do curso. Não sabemos quem foram os maiores beneficiados: nós ou cursistas. Observar a evolução no aprendizado do conhecimento do Braille, nos motivou a elaborar novos projetos na área. Finalizamos o curso com a realização de várias oficinas, num total de onze, em cinco cidades da região, com a participação de mais de 50 pessoas, entre alunos e professores da educação básica. Os alunos do Departamento, aguardam ansiosos novos ciclos do curso, pois já tem lista de pré-inscrição todos os segmentos sociais. Não importa, se professor ou discente, mais importante é que conseguimos “despertar” o desejo dos sujeitos de ambos os espaços: Departamento e escolas. Da proposta inicial, foi criada uma rede. Os participantes das oficinas, com quatro horas de duração, fazem parte de uma lista de espera. Considerações Finais Consideramos pertinente o aprendizado e uso por parte do professor e do estudante com deficiência visual do sistema Braille de leitura e escrita tátil. É necessário que a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Universidade esteja atenta a formação dos futuros professores, pois o currículo dos cursos de licenciatura deve contemplar conteúdos não apenas sobre Língua de Sinais Brasileira, mas também de assuntos que reportem ao aluno com deficiências e/ou necessidades educativas especiais, sendo responsável pelos futuros professores que estarão presentes na educação básica. REFERÊNCIAS BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. A Construção do Conceito de Número e o Pré-Soroban. Brasília: MEC/SEESP, 2006, 92p; BRUNO, M. M. G. Educação Infantil: saberes e práticas da inclusão: dificuldade de comunicação sinalização; deficiência visual. Brasília. MEC, 2006. p.11-37 BAGGIO, Rodrigo. A sociedade da informação e a infoexclusão. s/d GALVÃO, Teófilo Alves; DAMASCENO, Luciana Lopes. Tecnologia assistiva em ambiente educacional. In: Tecnologia Assistiva. Instituto de Tecnologia Social. 2008, p. 25-39 FRANCO, J. R; DIAS, T. R. S. A Pessoa Cega no Processo Histórico: um breve percurso. s/d. p. 07. http://www.asdef.com.br/innova/assets/artigos/historia009.pdf. Acesso em: 17/09/2011 RIBEIRO, M. L. S.; Perspectivas da Escola Inclusiva: algumas reflexões . In.: Educação Especial: do querer ao fazer. BAUMEL, R. C. R. de C.; RIBEIRO, M. L. S.; Avercamp. 2003. p. 42-50 MAZZOTTA, Mario José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. Cortez: São Paulo, 2003, 208 p. REGO, Tereza Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural de educação. Petrópolis: Vozes, 1998, 138 p. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 SASSAKI, Romeu Inclusão – construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro, WVA, 1997, p.47-50. SILVA, L. M. A diferença / deficiência no contexto da educação especial. Revista da Faeeba. Salvador, 2000, p. 175-183. SILVA, S. Educação especial – entre a técnica pedagógica e a política educacional. In: SILVA, S. Educação especial: múltiplas leituras e diferentes significados. São Paulo: Mercado de Letras, 2001, p.179-191 SILVA, T.T. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, T. T. (org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Rio de Janeiro: Vozes, 2000, p. 73-102 TOMASINI, M.E. A. Expatriação social e a segregação institucional da diferença: reflexões. In: BIANCHETTI, L.; FREIRE, I. M. (Orgs.) Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho e cidadania. São Paulo: Papirus. 1998, p.111-130. VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991 168 p. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Mitos e tabus sexuais comuns na adolescência: Uma pesquisa-ação sobre sexualidade com alunos da rede pública de Feira de Santana-BA* Marcio Harrison dos Santos Ferreira1,2,** ; Thenize Santos Rasslan3 RESUMO: O ensino de Biologia deve nortear o posicionamento do aluno frente a questões e ações do diaa-dia (p. ex., cuidados com o corpo, a alimentação, a sexualidade), entretanto encontra-se ainda distanciado da realidade, não permitindo à população perceber o vínculo estreito existente entre o que é estudado na Biologia e o cotidiano. As visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e a saúde poderão ser mais bem orientadas se o processo de aprendizagem estiver significativamente relacionado com as preocupações comuns na vida de todo jovem, como a sexualidade. São inúmeros os recursos para tornar a aprendizagem significativa e, na atualidade, vem ganhando espaço a ideia de conciliar a prática pedagógica com a pesquisa. Além disso, a temática da sexualidade tem experimentado grande visibilidade no currículo escolar. Aqui, apresentamos um relato de experiência oriunda de uma Pesquisa-Ação lidando com aspectos da sexualidade e cultura ao discutir fenômenos da puberdade e os principais mitos, tabus e crenças sexuais. Nossos objetivos foram contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos temas trabalhados e verificar os conceitos prévios que predominam nessa temática no contexto escolar em Feira de SantanaBA. A metodologia apropriou-se de insights da pesquisa-ação e do modelo de aprendizagem por mudança conceitual, resultando em um estudo de natureza qualiquantitativa, utilizando-se: análise de discursos, questionários, entrevistas estruturadas e semiestruturadas e depoimentos oriundos dos debates promovidos no âmbito da prática pedagógica. Os resultados são de caráter ainda preliminar. Os indivíduos apresentaram conhecimentos considerados regulares ou insatisfatórios quanto à puberdade e sexualidade, principalmente entre os mais jovens e de menor escolaridade. Os níveis de conhecimentos sobre a puberdade feminina foram mais significativos que sobre a masculina e verificou-se que indivíduos do sexo feminino, no geral, encontravam-se menos informados que os do sexo masculino. Discutem-se as concepções sobre papéis sexuais obtidas em dois grupos com perfis distintos quanto ao nível de instrução e características sócio demográficas e registra-se a influência de fatores socioculturais na manifestação daquelas posturas. O estudo aponta a necessidade da implementação de um maior número de ações voltadas à Educação em Saúde e Sexualidade nos currículos da rede de ensino de Feira de Santana, visando a multiplicação de informações sobre os temas ligados à puberdade, sexualidade e cultura, os quais poderão subsidiar uma melhor convivência com a diversidade sexual, a adolescência, e fazer da sexualidade um exercício de liberdade responsável. Palavras-Chave: Sexualidade; Conteúdos Curriculares; Pesquisa-Ação. INTRODUÇÃO O ensino de Biologia deve nortear o posicionamento do aluno frente a questões e ações do dia-a-dia (p. ex., cuidados com o corpo, a alimentação, a sexualidade), entretanto encontra-se ainda distanciado da realidade. Em muitos temas, a população não percebe o vínculo estreito existente entre o que é estudado na Biologia e o cotidiano (BRASIL, 1998). As visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e a saúde poderão ser melhor orientadas se o processo de aprendizagem estiver significativamente relacionado com as preocupações comuns na vida de todo jovem, como a sexualidade. ______ 1 * Parte da Monografia de Licenciatura em Ciências Biológicas (UEFS) do primeiro autor; Departamento de Ciências Biológicas, Programa de Pós-graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de 2 Santana (PPGBot-UEFS); Licenciado e Bacharel em Ciências Biológicas (UFBA/UEFS), Mestre em Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 3 Ciências (UEFS); Pedagoga formada pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); ** E-mail p/contato: [email protected] Entre os recursos para tornar a aprendizagem significativa, vem ganhando espaço a ideia de conciliar a prática pedagógica com a pesquisa-ação (sensu THIOLLENT, 2003; DEMO, 2002): “ser professor é assumir uma postura pedagógica de investigação e não mais de mero repetidor de conhecimentos” (BAPTISTA, 2003, p.11). Além disso, a temática da sexualidade tem experimentado uma visibilidade crescente no currículo escolar. Dentre as transformações sócio-culturais da atualidade, destaca-se a situação da saúde e estilo de vida da população de adolescentes e jovens que encontram-se na faixa etária de 10 a 24 anos, e que representam 31% da população mundial (OPAS, 1996). Em Feira de Santana, Bahia, eles correspondem a cerca de 25% do total de habitantes (Anuário Estatístico de Feira de Santana, 2008). Esse adolescente, em geral, não recebe na família informações sobre a puberdade ou a sexualidade. A carência dessa discussão mostra uma relativa falta de compromisso não só da família, mas como do sistema educacional e da sociedade em geral quanto à formação dos adolescentes nessa temática (BATISTA NETO, 1990; FERREIRA, 2006; GOMES et al., 2002): Os conteúdos didáticos são principalmente dirigidos à prevenção de DST/AIDS [atualmente Infecções Sexualmente Transmissíveis, as IST’s]. Raramente discutem-se outros temas, p.ex., o mecanismo de funcionamento do corpo relacionado à puberdade e maturação sexual, vivências e conflitos decorrentes do crescimento e da sexualidade em geral (VITIELLO et al., 1988, p. 38). Geralmente, estas informações são limitadas e geram dúvidas que podem conduzir a ansiedades e dificuldades relacionadas às suas experiências em direção à maturidade (p. ex., VITIELLO et al., 1988; RIBEIRO, 1990). Ao tratar de temas relacionados à sexualidade nas escolas podemos colaborar com a criação de um espaço propício à execução de práticas de educação em saúde para adolescentes, local este que: [...] além de oferecer informações precisas e adequadas sobre os cuidados com a própria saúde, também fornece a estes a possibilidade de questionar, discutir, refletir e estabelecer juízos de valores tão necessários ao seu desenvolvimento biopsicossocial (RIBEIRO, 1990, p. 54). A pesquisa-ação, ou o “ensino com pesquisa”, segundo Pedro Demo (2002), representa uma possibilidade e uma necessidade de renovação das estratégias de ensino: A educação pela pesquisa traz a pesquisa para o cotidiano do professor e do aluno, atuando como método de atualização e reconstrução do conhecimento. [...] Desta maneira, cria-se um campo de atuação do professor que vai além da aula expositiva, de repassador de conhecimentos e de avaliador das “cópias”, pois Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 inclui a prática como componente necessário da teoria, e vice-versa. [...] professor é, na essência, pesquisador, ou seja, profissional da reconstrução do conhecimento, tanto no horizonte da pesquisa como princípio científico e, sobretudo, no da pesquisa como princípio educativo. (DEMO, 2002, pp. 28-30). Diante desse contexto, o presente projeto foi concebido a partir da reflexão sobre essas carências e vêm utilizando elementos da Pesquisa-Ação e do modelo de ensinoaprendizagem por mudança conceitual (sensu MORTIMER, 1995). Nosso intuito foi planejar e propor uma intervenção pedagógica (QUADRO 1) que fosse capaz de verificar o nível dos conhecimentos prévios sobre eventos da puberdade e sobre sexualidade, principalmente os mitos e tabus sexuais, visando colaborar com uma aprendizagem significativa de tópicos em “Sexualidade e Cultura” com os alunos participantes. Objetivos – Nossos objetivos foram: a) contribuir com o processo de ensinoaprendizagem dos temas trabalhados; b) verificar os conceitos prévios que predominam nessa temática no contexto escolar em Feira de Santana-BA; e c) refletir sobre sua importância e repercussões para a promoção de um currículo escolar mais emancipador e abrangente. Metodologia – Para acessar, na íntegra, a metodologia, o instrumental didático utilizado e os resultados preliminares, incluindo os outros subtemas, confira Ferreira (2006, pp. 15-35). Nossa Pesquisa-Ação (cf. sinopse, QUADRO 1) até o momento incluiu 67 alunos de escolas da rede pública de ensino de Feira de Santana-BA, em três diferentes contextos: 25 alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Yêda Barradas Carneiro; 30 alunos de diversas escolas do município matriculados no Minicurso/Oficina “Adolescência: conhecendo melhor o meu corpo e a minha sexualidade” do IV Encontro de Biologia Júnior da UEFS; e 12 alunos de nível superior incompleto inscritos no Minicurso “Sexualidade e Cultura” da I Semana de Licenciaturas (SELIC) da UEFS. Além disso, incluem-se na discussão sobre conceitos prévios sobre puberdade, 16 alunos da disciplina “Biologia Aplicada a Programas de Saúde” do curso de Ciências Biológicas da UEFS (Turma 2005.2), totalizando 83 alunos oriundos de 10 escolas/cursos da rede pública municipal e estadual de Feira de Santana, Bahia. As respostas ao questionário sobre os marcos da puberdade (atividade 5, QUADRO 1) foi avaliada por ANOVA one way (p < 0,05) visando identificar diferenças entre os 4 grupos. Os alunos participantes, ou seus responsáveis, assinaram um Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pautado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nas Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ações educativas, foram tratados os principais fenômenos da puberdade e os principais mitos e tabus sexuais dos alunos participantes, enfatizando-se alguns subtemas. Resultados e desdobramentos esperados – Entre as metas e desdobramentos esperados com o projeto encontram-se: a) fornecer informações básicas sobre as principais modificações corporais durante a puberdade; b) discutir a importância e a consistência dos mitos, tabus e crenças sexuais recorrentes na puberdade e adolescência; c) possibilitar e facilitar a reflexão sobre a importância da cultura para a compreensão e vivência da sexualidade; d) promover uma mudança conceitual das concepções alternativas contraproducentes de forma gradual e eticamente orientada; e e) promover uma maior inclusão de temas da sexualidade humana nos currículos escolares. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 QUADRO 1 – Cronograma sintético da ação educativa (distribuída em quatro etapas e 12 atividades) desenvolvida em nossa Pesquisa-Ação em “Sexualidade e Cultura” com 67 alunos do Ensino Fundamental e Médio de 10 instituições da rede pública de ensino de Feira de Santana, Bahia, entre 2005 e 2006. ROTEIRO PROGRAMÁTICO ETAPAS (Semana) I - Preparativos II - Apresentação da temática “Sexualidade e Cultura” e sondagem de conceitos prévios III - Tomada de consciência, mudança conceitual e debates sobre a temática ATIVIDADE INSTRUMENTAÇÂO TODOS Ens. Fundamental (8º e 9º ano) Ensino Médio 1) Contato com escola (s) 2) Reunião com pais e professores envolvidos 3) Abertura dos trabalhos 4) Palestra: “Sexualidade e Cultura” 5) Jogral (psicodrama) e coleta dos questionamentos sobre a puberdade 6) Apresentação das concepções do “sujeito coletivo” (sensu LEFÉVRE et al., 2000) 7) Vídeo: Saúde e sexualidade na adolescência 8) Seminário: “Puberdade e adolescência: mudanças no corpo e na mente” ___Intervalo (15’)____ 9) Mini Oficina: “Mitos, tabus e crenças sexuais” (trabalho com artigos, poemas, música, etc.)* 10) Formação dos grupos de trabalho (GT’s) e distribuição das temáticas O CORPO (poema O Umbigo – Mário Quintana e música Momento VIII – Arnaldo Antunes) Esquema corporal; Puberdade corporal e social; Concepções sobre papéis sexuais; Posturas e atitudes perante o sexo; ... Namoro e relacionamento afetivo-sexual; Riscos de maternidade e/ou paternidade indesejada; Sexo Saudável; entre outros. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 (subtemas) entre os grupos.** IV - Consolidação da temática e apresentação dos produtos dos GT’s 11) Montagem supervisionada dos painéis e exposição dos produtos*** 12) Encerramento * Atividade finalizada com a discussão do esboço elaborado por Tiba (1986, p.110) sobre as fases de transição entre os esquemas mentais e corporais desde a infância até a adolescência. ** As temáticas discutidas estão disponíveis na íntegra em Ferreira (2006).*** Na semana seguinte à formação dos GT’s, os alunos expõem o material produzido a partir das temáticas, dedicando-se nessa etapa por volta de 2 hs por turma. Sugerese que seja viabilizado um local onde possam ficar expostos esses produtos, permitindo assim o intercâmbio de informações entre as turmas envolvidas. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 DESENVOLVIMENTO As mudanças biológicas que se manifestam na adolescência representam o início da capacidade reprodutiva humana e é o período chamado Puberdade (TANNER, 1962; VITIELLO et al., 1988). Os Principais processos envolvidos na “crise do adolescente” (ABERASTURY et al., 1981) incluem: a) redefinição da imagem corporal (perda do corpo infantil e aquisição do corpo adulto); b) busca de pautas de identificação no grupo de iguais (parceiros); e c) estabelecimento de um padrão de luta/fuga com a geração precedente. Esses pressupostos biológicos e socioculturais foram considerados, em nossa pesquisa-ação, conjuntamente com a “Escala de Tanner” para o estadiamento maturacional da puberdade (TANNER, 1962), que utiliza uma graduação baseada em 3 itens: pelos pubianos, mamas e genitais masculinos. Também foram consideradas literaturas sobre mitos e tabus sexuais, como p. ex., Tiba (1986, 1994), Vitiello et al. (1988), Ribeiro (1990), Yazlle (1993), OPAS (1996), Aquino (1997) e Gomes et al. (2002). Todo o embasamento teórico e os resultados preliminares da pesquisa, incluindo outros subtemas de interesse em saúde e sexualidade do jovem e adolescente, estão disponíveis em Ferreira (2006). Resultados preliminares – Considerando-se o perfil sócio demográfico dos 67 alunos participantes: a) quanto à idade, 62% eram adolescentes (12-18 anos) e somente 10 alunos tinham entre 25 e 30 anos; b) quanto ao sexo, 75% são do sexo feminino; e c) quanto a escolaridade, 75% cursavam o Ensino Fundamental, 7% o Ensino Médio incompleto, e 18% o Ensino Superior incompleto. Os alunos apresentaram conhecimentos considerados regulares ou insatisfatórios quanto à puberdade (TABELA 1) e sexualidade, principalmente entre os mais jovens e de menor escolaridade. Os níveis de conhecimentos sobre a puberdade feminina foram mais significativos que sobre a masculina e, além disso, verificou-se que os indivíduos do sexo feminino, no geral, encontravam-se menos informados que os do sexo masculino (ANOVA, p < 0,05), o que merece receber maior atenção em etapas subsequentes do projeto, já que isso se deu a despeito de uma presença bem maior de indivíduos do sexo feminino que participaram dessa etapa da pesquisa. Por outro lado, aumento das mamas e menarca (início e fim da puberdade feminina) são eventos mais notáveis e culturalmente mais discutidos e “valorizados” do que o aumento dos testículos ou a eliminação do esperma (início e fim da puberdade masculina), o que poderia explicar os índices obtidos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 TABELA 1 – Concepções prévias sobre o início e o fim da puberdade entre 83 alunos em quatro diferentes contextos educacionais da rede pública de ensino de Feira de Santana, Bahia, entre 2005 e 2006. BAPS = Biologia Aplicada a Programas de Saúde (disciplina do curso de Ciências Biológicas da UEFS, turma 2005.2); SELIC = I Semana de Licenciaturas da UEFS (MiniCurso “Sexualidade e Cultura”); CEYBC = Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro; Encobio Jr = IV Encontro de Biologia Júnior da UEFS (Minicurso “Adolescência: conhecendo melhor o meu corpo e a minha sexualidade”). Σ = universo total dos alunos participantes. MENINAS – N(%) INÍCIO FIM BAPS SELIC CEYBC Encobio Jr Σ = 83 BAPS Crescimento das mamas** 12 (75) 12 (100) 22 (73) 13 (52) 59 (71) 4 (25) 1(8) 6 (20) 5 (20) 16 (19) Primeira menstruação*** SELIC CEYBC Encobio Jr Σ = 83 CARACTERÍSTICA* 1 (6) 0 (0) 5 (17) 7 (28) 13 (16) 10 (63) 10 (83) 17 (56) 12 (48) 49 (59) 2 (13) 0 (0) 3 (10) 2 (8) 7 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Surgimento de pelos pubianos 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6) 1 (8) 5 (17) 5 (20) 12 (15) Não sei 1 (6) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 4 (5) 1 (6) 0 (0) 2 (7) 3 (12) 6 (7) Ovulação MENINOS – N(%) INÍCIO BAPS FIM SELIC CEYBC Encobio Jr Σ = 83 BAPS SELIC CEYBC Encobio Jr Σ = 83 Pelos nas axilas 8 (50) 8 (67) 17 (57) 10 (44) 43 (53) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Primeira ejaculação*** 2 (13) 2 (16) 1 (3) 0 (0) 5 (6) 6 (37) 6 (50) 13 (43) 7 (28) 32 (39) Aumento dos testículos** 5 (31) 2 (16) 11 (37) 7 (30) 25 (31) 2 (13) 1 (8) 6 (20) 3 (12) 12 (14) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (37) 4 (34) 10 (34) 7 (28) 27 (33) 1 (6) 0 (0) 1 (3) 6 (26) 8 (10) 2 (13) 1 (8) 1 (3) 8 (32) 12 (14) Mudança da voz Não sei * A composição corporal do adolescente oscila em função da maturação sexual. Para as meninas, a idade da menarca (primeira menstruação) representa o inicio da desaceleração do crescimento que ocorre no final do estirão puberal, e o maior acúmulo de tecido adiposo. Para os meninos, o pico de crescimento coincide com a fase adiantada do desenvolvimento dos genitais e pilosidade pubiana, momento em que também ocorre desenvolvimento acentuado de massa magra e muscular (ref. citadas em FERREIRA, 2006). O crescimento físico e o aparecimento dessas mudanças estão relacionados a fatores genéticos e ambientais (EVELETH, TANNER, 1990 apud FERREIRA, 2006) e/ou déficits nutricionais (GALLER et al., 1985; SATYANARAYANA et al., 1980 apud FERREIRA, 2006). ** Marco inicial da Puberdade; *** Marco final da Puberdade (sensu TANNER, 1962; TIBA, 1986). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 na pesquisa. O maior nível de escolaridade deve ter favorecido o maior número de acertos verificados (p < 5%) nas turmas BAPS e SELIC (TABELA 1). Os resultados aqui apresentados são corroborados em grande parte por Costa (2001) e Gomes et al. (2002), demonstrando que esses conhecimentos tendem a aumentar com o avanço da idade e da escolarização. A intenção de discutir concepções prévias sobre os marcos inicial e final da puberdade (atividade 5, QUADRO 1) foi o de promover uma reflexão e debate sobre as principais mudanças corpóreas e fisiológicas dessa etapa da adolescência, como p. ex., sua duração (2-4 anos), o crescimento esquelético linear, a alteração da forma e composição corporal e o desenvolvimento de gônadas e caracteres sexuais secundários. Nas atividades subsequentes foram elencados fatores que podem influenciar essas mudanças e discutido o impacto e legitimidade dos mitos, tabus e crenças sexuais comuns entre os alunos (QUADRO 2). Essas atividades visavam promover uma aprendizagem por mudança conceitual (sensu MORTIMER, 1995; AGUIAR Jr, 2001), considerando-se “as limitações da forma habitual de introduzir conhecimentos” (BAPTISTA, 2003, p. 6) na docência em Ciências e Biologia. Estudos realizados por Brandão et al. (1995), Benfam (1996), D’Afonseca et al. (2001) e Gomes et al. (2002) relatam que adolescentes têm pouca informação sobre sexualidade e que os conhecimentos tendem a ampliar-se com a idade e a escolaridade do jovem. Segundo Gomes et al. (2002), o baixo conhecimento dos adolescentes quanto a esses assuntos pode estar relacionado à não inclusão generalizada nos currículos escolares de atividades em sexualidade no 6º e 7º ano. Entre os alunos participantes da nossa pesquisa-ação, 75% cursavam o Ensino Fundamental, e aqueles do 6º e 7º ano apresentaram carências de informações ainda mais acentuadas do que os de 8º e 9º ano (dados não apresentados). Igualmente, em nossa pesquisa vimos que o tratamento da sexualidade no currículo do Ensino Fundamental em 9 das 10 instituições de ensino só era inserida a partir do 8º ano, corroborando o registro de Gomes et al. (2002). Mitos e tabus sexuais comuns entre os participantes – No Quadro 2 são apresentados alguns dos mitos e tabus relacionados à sexualidade feminina e masculina e que apareceram com maior frequência nos depoimentos e atividades com as diferentes turmas. Estes se relacionam principalmente com a anatomia dos genitais, a fisiologia da resposta sexual, a menstruação e a masturbação. Alguns autores relatam que os mitos geralmente desaparecem com a maturação do Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do236 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 adolescente, entretanto alguns deles permanecem recorrentes e, p. ex., podem gerar tensão durante o ato sexual (VITIELLO, 1988; RIBEIRO, 1990; TIBA, 1994; AQUINO, 1997). QUADRO 2 – Alguns mitos e tabus relacionados à sexualidade masculina e feminina entre 67 alunos da rede pública de ensino de Feira de Santana, Bahia, entre 2005 e 2006 (adaptado de FERREIRA, 2006). Mito/Tabu (Sexualidade Masculina) Mito/Tabu (Sexualidade Feminina) A mulher menstruada se cansa mais fácil porque perde o sangue menstrual (R., ♂, 17) É pecado a mulher se bolinar (masturbação) (T., ♀, Punheta (masturbação) desenvolve o pênis (L., ♀, 16) 13) Muita masturbação diminui a potência (sexual) (A., ♂, A mulher menstruada não pode lavar a cabeça (“pode ficar doida”) (J., ♂, 19) 18) Punheta demais prejudica a inteligência (R., ♂, 17) A menstruação é um período fértil (A., ♂, 16) Se o cara falhar da primeira vez com uma mulher é A menstruação forma mancha no rosto (“Dá pra saber porque não gosta da fruta (homossexualidade) (M., ♀, que a mulher está menstruada pela cara”) (A., ♀,20) 22) O homem que sente arrepio (sensibilidade) no bico do A mulher perde a virgindade se masturbar (A., ♀, 15) peito é porque é bicha (homossexualidade) (A., ♂, 16) Se a mão for grande, o bicho (pênis) também é (R., Para perder o cabaço (perda da virgindade), a mulher sofre muito, dói e sangra muito (R., ♀, 17) ♂, 19) A mulher gosta de pênis grande (R., ♂, 19) Se não sangrar é porque não é virgem (P., ♀, 19) Quanto maior (pênis) mais elas gosta (A., ♂, 17) A mulher é mais passiva (durante o coito) (J., ♂, 18) Se for grandão (pênis) o cara faz melhor na hora Se tiver boca grande, a xoxota (vagina) também é (J., (coito) (J., ♂, 18) ♂, 18) Se sentir gozo (orgasmo) a mulher pegando na bunda Quanto mais comunicativa mais fácil de rolar é viado (homossexual) (G., ♂, 19) (abordagem sexual) (R., ♂, 19) Os dois podem pegar doença sexual (DST ou IST) Ela só goza (orgasmo) quando o cara penetra bem em banheiro sujo (J., ♂, 18) fundo (a vagina) (G., ♂, 19) Pode pegar (infecção sexualmente transmissível) em Se ela ficar paradona (passiva) nunca goza muito lugar, [...] até no ônibus dá medo (T., ♀, 13) (orgasmo) (R., ♂, 19) Se tiver testículo grande é porque pode fazer muito Da primeira vez não engravida (A., ♂, 16) filho (fertilidade) (I., ♀, 17) * Entre parênteses (inicial do Nome, Gênero (♀-Feminino e ♂-Masculino) e Idade do aluno). A masturbação dá espinhas (J., ♀, 15) Concepções sobre papéis sexuais – Ao explorar os sentimentos pessoais dos participantes em relação a seu próprio papel e ao do outro sexo, com um exercício simples (TABELA 2, cf. na íntegra em FERREIRA, 2006), obteve-se maior facilidade de debater e refletir sobre o significado dos papéis sexuais na sociedade e na vida de cada um. Verificaram-se trechos de concepções obtidas em depoimentos em sala de aula que se repetem em ambos os contextos (níveis de escolaridade), como por exemplo: “menstruação, gravidez, dor no parto e uma educação mais repressora são algumas das principais desvantagens para a mulher”, enquanto “poder explorar as emoções com maior liberdade e amadurecer mais cedo do que os meninos são algumas das principais vantagens de ser mulher”. Entre as vantagens de “ser homem” foram apontadas “uma maior independência e liberdade no geral, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do237 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 maior liberdade sexual e não precisar cuidar tanto da aparência”, ou então “não ter que passar por alguns “problemas físicos” comuns nas mulheres”, entre eles a dor do parto e a menstruação. As desvantagens seriam “ter normalmente uma maior pressão social para garantir o sustento da família, ter de reprimir muitos sentimentos e ser forte e corajoso em muitas situações”. Pode-se perceber, diante disso, a força do fator sociocultural na manifestação dessas concepções sobre as vantagens e desvantagens de representar os papéis pertinentes a cada sexo. A Tabela 2 fornece uma ideia geral sobre o predomínio de certas noções em detrimento de outras, observando-se que na turma da SELIC foi maior o número de comportamentos que foram concebidos como indiferentes quanto ao papel sexual quando comparado ao do CEYBC. É possível que essas diferenças reflitam a faixa etária e nível de escolaridade distinto de cada grupo, mas outros fatores também podem estar contribuindo para os índices observados (p. ex., nível de diálogo sobre sexualidade com os pais, amigos, etc). TABELA 2 – Algumas concepções sobre papéis sexuais na opinião de alunos do Colégio Estadual Yêda Barradas Carneiro (CEYBC, Ensino Fundamental e Médio) e do Minicurso “Sexualidade e Cultura” (diversos cursos, Ensino Superior incompleto) da 1ª Semana de Licenciaturas (SELIC), UEFS, Feira de Santana, Bahia, entre 2005 e 2006*. Comportamento Cuidar das crianças Orientar sexualmente os filhos Realizar trabalhos domésticos Ter docilidade e romantismo Embelezar-se Ser elemento sexual ativo Defender o cônjuge Manter economicamente o lar Decidir sobre a anticoncepção * Adaptado de Ferreira (2006) Turma CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC CEYBC SELIC Masculino (%) Feminino (%) Indiferente (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 20 14 15 0 0 0 60 0 15 0 50 7 35 7 45 14 25 0 0 0 35 0 40 14 40 100 85 100 50 93 65 93 55 86 65 79 80 86 50 100 60 86 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do238 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A escola, ao priorizar temas curriculares “tradicionais”, recusa aos jovens explicações básicas sobre a sexualidade humana e acaba colaborando com a iniciação sexual “precoce”, com a gravidez e paternidade indesejada, etc. Por ex., Benfam (1996, p. 13) afirma que “[...] o menor conhecimento das moças, apesar destas receberem mais informações sobre educação sexual, sugere a vivência da sexualidade mais cedo entre os rapazes, o que possibilita maior conhecimento no assunto”. Costa (2001) registrou a iniciação sexual, no geral, entre os 10 e 14 anos e acentuou que os parceiros em geral eram amigos e pertenciam a mesma faixa etária, sendo a casa do parceiro o local preferido para a iniciação sexual. Uma série de contextos sociais e culturais poderá interferir na manifestação precoce ou tardia de muitos aspectos ligados à sexualidade (VITIELLO et al., 1988; TIBA, 1994; RIBEIRO, 1990), daí a necessidade de maiores pesquisas (em outros campos disciplinares inclusive) com esse enfoque e também direcionadas à revisão dos currículos escolares e práticas pedagógicas vigentes. CONCLUSÃO Apesar das limitações e obstáculos a uma mais ampla disseminação do tema da sexualidade nos currículos de ensino de Ciências e Biologia, consideramos que os resultados da presente ação educativa poderão subsidiar o desenvolvimento de ações básicas de Educação em Saúde e Sexualidade, implementando-se melhorias no currículo escolar, disseminando e adequando conhecimentos sobre sexualidade e contribuindo na promoção e prevenção em saúde. Além disso, nossa experiência indica que é possível crer na contribuição da pesquisa-ação colaborando para o processo de aprendizagem e também na formação inicial de novos docentes. O conhecimento sobre eventos relacionados à puberdade e adolescência e o tratamento de temas ligados à sexualidade, sobretudo aqueles que sofrem impacto direto de aspectos culturais, contribui fortemente para que os adolescentes possam vivenciar essa etapa da vida com informações seguras sobre o processo de crescimento e desenvolvimento pelo qual estão passando, amenizando os conflitos e as inseguranças de uma sociedade em constante mudança sociocultural. Nossa ação educativa poderá orientar outras pesquisas dentro da temática dos mitos, tabus e crenças sexuais, campo da sexualidade ainda muito pouco estudado do ponto de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do239 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 vista científico e poderá também ser orientada segundo os insights de outros ramos científicos, como a antropologia, a psicologia e a sociologia. Além disso, espera-se alcançar uma reflexão sobre a força da cultura, da família, dos amigos e da escola na formação da sexualidade do aluno. Em termos de implementação curricular, atualmente, na rede de ensino público em Feira de Santana, encontra-se em desenvolvimento as diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), no qual aborda-se a saúde do adolescente com enfoque na sexualidade de uma forma transdisciplinar e transversal, permeando obrigatoriamente as diversas áreas do conhecimento. Este processo tem possibilitado o reconhecimento da importância do papel social da escola no processo de educação para a saúde dos jovens, mas também tem revelado a necessidade de maiores informações sobre a temática da sexualidade em Feira de Santana, Bahia, sobretudo no Ensino Fundamental (p. ex., COSTA, 2001; GOMES et al., 2002; FERREIRA, 2006). Apesar do caráter preliminar dos nossos resultados, eles indicam a necessidade de implementar mais ações voltadas à Educação em Saúde e Sexualidade nos currículos das escolas da rede de ensino de Feira de Santana, visando multiplicar informações sobre temas ligados à puberdade, sexualidade e cultura. Essas informações poderão subsidiar não somente o autocuidado e maior responsabilidade frente as vivências presentes e futuras, mas também uma melhor convivência com a diversidade sexual e a adolescência, tornando a sexualidade um exercício de liberdade responsável, ampliando a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, da gravidez indesejada e dando ao aluno jovem e adolescente uma maior consciência sobre seu corpo e sua sexualidade. Agradecimentos: Aos professores Dalva Nazaré O. França (NIES-UEFS), Valdemiro Lopes Marinho (UEFS), Geilsa Costa S. Baptista (UEFS, UFBA), Kenia Costa P. dos Anjos (BAPS-UEFS) e Francisco Antonio R. Setúval (UEFS) pela colaboração em diferentes etapas do desenvolvimento do projeto. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do240 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência normal. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. AGUIAR Jr., O. Mudanças conceituais (ou cognitivas) na educação em ciências: revisão crítica e novas direções para a pesquisa. Ensaio - Pesquisa em educação em ciências, Belo Horizonte, vol. 3, n. 1, p. 1-25, 2001. AQUINO, J. G. Sexualidade na escola. São Paulo: Summus, p. 97-105, 1997. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE FEIRA DE SANTANA. v. 2. Feira de Santana: CDL, 2008. BAPTISTA, G. C. S. A importância da reflexão sobre a prática de ensino para a formação docente inicial em Ciências Biológicas. Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, vol. 5, n. 2, p. 4-12, 2003. BATISTA NETO, F. A geração dos anos 90: perfil do adolescente. Florianópolis: PROMOVER, 1990. BENFAM. Sociedade civil e bem estar familiar. Rio de Janeiro: Programa de Pesquisa Demográfica e Saúde, 1996. BRANDÃO, L. O. et al. Avaliação do nível de conhecimento dos adolescentes do Parque Ouro Branco sobre sexualidade. Semina, Londrina, v.16, p. 58-68, 1995. BRASIL, MEC, Secretaria de Educação Fundamental (SEF). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos, temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. COSTA, J. P. Sexualidade na adolescência: conhecimentos, iniciação sexual e a participação da escola e da família. Monografia, Especialização em Saúde Pública, Departamento de Saúde, UEFS. Feira de Santana: UEFS, 2001. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do241 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 D’AFONSÊCA, L. G. et al. Fontes de informação e aprendizado de adolescentes sobre puberdade e sexualidade. In: Congresso Internacional de Adolescência, 8, 2001, Salvador. Resumo do VIII Congresso Internacional de Adolescência, Salvador: ASBRA, 2001. p. 160. DEMO, P. Educar pela pesquisa. 5ª Ed., Campinas: Autores Associados, 2002. FERREIRA, M. H. S. Sexualidade e Cultura: discutindo os principais mitos, tabus e crenças sexuais comuns na adolescência. Monografia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Departamento de Ciências Biológicas, UEFS. Feira de Santana: UEFS, 2006. GOMES, W. A. et al. Nível de informação sobre adolescência, puberdade e sexualidade entre adolescentes. Jornal de Pediatria, Porto Alegre, vol. 78, n. 4, p. 301-308, 2002 MORTIMER, E. Conceptual change or conceptual profile change? Science & Education, Dordrecht, vol. 4, p. 267-285, 1995. OPAS – Organizacion Panamericana de la Salud. Acciones de Salud MaternoInfantil. Washington: OPAS/OMS, 1996. RIBEIRO, P. R. M. Educação Sexual: além da Informação. São Paulo: EPU, 1990. TANNER, J. N. Growth at adolescence with a general consideration of the effects of hereditary and environmental factors upon growth and maturation from birth to maturity. 2ª ed., Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1962. THIOLLENT, M. J. M. Metodologia da pesquisa-ação. 12ª ed., São Paulo: Cortez, 2003. TIBA, I. Puberdade e adolescência: desenvolvimento biopsicossocial. São Paulo: Agora, 1986. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do242 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 TIBA, I. Adolescência: O despertar do sexo. Um guia para entender o desenvolvimento sexual e afetivo nas novas gerações. São Paulo: Editora Gente, 1994. VITIELLO, N. et al. Adolescência hoje. São Paulo: Roca, 1988. YAZLLE, M. E. H. D. Mitos Sexuais Femininos. Revista Brasileira de MedicinaGinecologia e Obstetrícia, São Paulo, vol. 4, n. 5, p. 244-248, 1993. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do243 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O coordenador pedagógico e a formação de professores – construindo a escola inclusiva. 43 Maria Auxiliadora Freitas P. de Araujo RESUMO: Na atualidade, uma das discussões que vem ocupando o cenário educacional brasileiro diz respeito à educação inclusiva, que apregoa a matrícula de alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais do desenvolvimento nas classes comuns das escolas regulares. O trabalho que será apresentado traz uma reflexão sobre a construção dessa escola inclusiva, o que se constitui como desafio para a atuação do coordenador pedagógico. O estudo é fruto de uma pesquisa bibliográfica, em que se mostra como este profissional poderá organizar e mediar seu trabalho, principalmente no que se refere a formação contínua dos professores voltada às questões da inclusão escolar. Na pesquisa, objetivou-se analisar como a escola deve atender a todos, numa proposta de ultrapassar os entraves existentes para efetivação da proposta de educação inclusiva. Assim, compreende-se que, essa é uma proposta que deve garantir o acesso a uma educação significativa de qualidade e equidade de oportunidades, oferecida pela escola, e que o coordenador pedagógico pode auxiliar na promoção da sua implantação, revendo junto aos professores, em momentos de formação, concepções e práticas que permearam todo o trabalho pedagógico, auxiliando em sua consecução. Destaca-se que esta implantação requer um processo de mudanças estruturais e organizacionais de nossas escolas, e que a atuação do coordenador pedagógico é fundamental, para que junto com os autores da escola, sensibilize e sensibilize-se, para a construção de uma escola inclusiva. Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Escola inclusiva; Formação continuada. INTRODUÇÃO A formação dos profissionais da educação tem sido uma constante nas reflexões e em ações, tanto dos órgãos responsáveis pela educação brasileira, assim como de cada professor que busca investir em sua formação. Acreditamos ser possível uma melhoria do processo educacional, se enfrentarmos situações que tanto emperram a difícil tarefa de educar, as diferentes implantando e implementado tais ações. Dentre tantos desafios que precisam ser abordados e discutidos, elegemos analisar o desafio enfrentado pelos coordenadores pedagógicos em trabalhar com a diversidade, respeitando às diferenças de todos os envolvidos no processo educacional e promover a inclusão. Iniciando nossas reflexões nos questionando sobre: como as dificuldades para efetivar este processo de inclusão educacional vem sendo enfrentado, visto que, esta temática, muitas vezes tem sido uma omissão na construção de propostas de formação continuada de professores? 43 Maria Auxiliadora Freitas P. de Araujo - Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do244 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Entendendo a formação como processo contínuo, respeitando e partindo das concepções dos professores, é que propomos como objetivo geral refletir sobre a construção de uma escola inclusiva, destacando como foco a formação continuada, através de momentos sistematizados, mediados pela coordenação pedagógica. E como objetivos específicos: Analisar qual é o papel do coordenador? Quais são suas concepções de educação e de inclusão? Como estes podem auxiliar neste processo? Assim, buscaremos elucidar e ressignificar a importância destes profissionais como os responsáveis pelo planejamento e execução da formação contínua dos professores auxiliando assim, a efetivação da educação inclusiva nos espaços escolares. Desta forma, buscaremos através da análise do papel do coordenador pedagógico, da identidade já construída e do perfil ideal proposto para este profissional, ressaltar a sua importância na construção de uma escola e de uma sociedade mais inclusiva. A partir da realização de uma pesquisa bibliográfica, analisamos que, muitas vezes estes profissionais assumem uma função não prevista em sua formação inicial (Pedagogia), sendo convidados, promovidos ou designados a assumir este cargo, onde desempenha a função de coordenar o pedagógico da escola, construir e implementar o Projeto Político Pedagógico das instituições escolares, assim como assumir tantos outros desafios. Para referendar o trabalho usaremos os escritos de autores como: Isabel Alarcão (2003, 2001), Antonio Nóvoa (2002), Berenice Borssoi (2008), em busca de elucidarmos algumas questões sobre a formação de professores e o papel do coordenador pedagógico. E compartilhando idéias de, Windyz Ferreira(2006), Marcos Mazzotta (1997) entre outros, veremos esta temática na perspectiva da educação inclusiva. Desta forma, nos propomos a entender a educação na perspectiva da educação inclusiva, concepções atuais de escola, e o que precisa ser reelaborada nesta Instituição. É preciso ampliar o espaço da escola, visualizando-a nesta perspectiva que atenda e funcione para todos, onde não existem exigências, prérequisitos, seleções ou qualquer tipo de discriminação para o acesso e permanência de todos os alunos. Portanto, a escola precisa reconhecer outros desafios, além dos historicamente registrados e supracitados, como a repetência, evasão, indisciplina, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do245 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 não que estes tenham sido superados, mas, não são os únicos enfrentados pelos professores, direção e coordenação pedagógica. E o coordenador pedagógico deve estar preparado para mediar estes conflitos e propor um trabalho de qualidade, dando o suporte necessário para atender a TODOS. E, desta forma, se trabalhamos na perspectiva da inclusão, a formação dos educadores deve atender a estes princípios. Inclusão educacional no Brasil – adentrando as escolas. Parece-nos um discurso novo, mais uma novidade apresentada a educação brasileira. De onde surgiu esta idéia de inclusão? Para alguns, é algo novo que logo passará; para outros, uma mudança de postura e não tem volta. Contudo, o discurso e a necessidade não têm nada de novo; pois, desde o início da educação institucionalizada existem aqueles alunos que não aprende tudo que a escola ensina ou não conseguem acompanhar a turma. O processo de inclusão educacional que ganha espaço no Brasil desde a década de 90, nos exige mudanças significativas e urgentes. Seja nas práticas pedagógicas, no currículo, na forma de avaliação; ou seja, nas posturas de gestores, educadores e alunos na luta contra toda forma de atitudes discriminatórias, ou obstáculos ao acesso e permanência de todos nas salas de aula. As escolas precisam de reestruturação, para abrir as portas das salas de aula comum para alunos especiais, com habilidades ou necessidades diferenciadas. Aliás, sempre existiram em nossas escolas as crianças que não aprendiam, não acompanhavam o programa previsto para as séries, mas, não eram consideradas, respeitadas, nem se tinham medidas, oportunidades, para que estas avançassem. Assim, é que a educação na perspectiva da inclusão promove mudanças de postura, de valores, curriculares, arquitetônicas buscando o entendimento e respeito às diferenças. Reafirmando todos os documentos que legalizam a inclusão e a realidade educacional descritas, o texto da Convenção Interamericana, (2001), traz como destaque ao que se refere a educação: Que a educação Inclusiva deve acontecer em todos os níveis, e os estados devem comprometer-se a assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional sob alegação de deficiência, e que estas recebam apoio necessário. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do246 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Desta forma, é primordial que o professor conheça os fundamentos da inclusão, históricos, filosóficos e pedagógicos, para que possam entender o movimento inclusivo e ter como buscar e cobrar dos órgãos públicos o que está garantido em lei. E de repensar e reconstruir suas práticas. Formação Continuada– Caminho seguro para o professor inclusivo Buscamos elucidar as questões que nortearam a pesquisa: como vem acontecendo a formação continuada dos professores para atender aos alunos diferentes? Como trabalhar as suas habilidades e deficiências? Como estão organizados os programas para atender a este demanda? Como estamos discutindo a educação na perspectiva da educação inclusiva na formação dos educadores? Analisando a luz da proposta curricular, a formação dos professores, na perspectiva da educação inclusiva, deve trazer tanto os conteúdos teóricos quanto a valorização das suas experiências. Pois estes deixam de ser vistos como transmissores do conhecimento em turmas homogêneas e passam a serem mediadores da construção do conhecimento em classes heterogêneas, sendo que nesta turma os alunos apresentam ritmos e formas diferentes de aprender. Segundo Alarcão ( 2001, p.11-120), a formação dos professores, deve garantir a seguinte preposição: (...) uma escola reflexiva, concebida como organização que pensa em si própria, na sua missão social e na sua organização, e confronta-se com o desenrolar de sua atividade. Uma escola onde se realize, com êxito, a interligação entre três dimensões da realização humana: pessoal, profissional e a social. E onde gerem conhecimentos e relações, comprometimento e afetos. Este conceito de escola com certeza assemelha a uma proposta de educação inclusiva, pois, responsabiliza-se pela aprendizagem de todos, discute constantemente suas práticas e reconstrói suas concepções para atender melhor o seu público alvo: todos os alunos. Assim, como pensarmos em uma formação continuada para o fortalecimento da escola inclusiva, há de se pensar na estrutura curricular. Contemplando fundamentos para a educação inclusiva; já na formação inicial, e também na extensão, aperfeiçoamento, por toda vida profissional do professor. Pois como já Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do247 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 dissemos antes, a construção da sociedade, da escola inclusiva é uma transformação de posturas e práticas educativas necessárias, não mais um modelo a ser seguido, e sim uma concepção a ser construída e implantada. E o Coordenador Pedagógico será o mediador no processo de democratização das ações, aquele que coordena as relações, promove as mudanças, faz avançar todo trabalho pedagógico/educativo. E assumindo esta função, encara um coletivo que precisa ser auxiliado, coordenado para que alcance as metas estabelecidas. Segundo Oliveira (2009), “o coordenador medeia o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir do professor”. Como mediador, o coordenador é um profissional que deve desenvolver as várias dimensões da sua ação. Afinal, é necessário que este profissional conheça os demais profissionais, a realidade da escola e consiga promover discussões em prol da melhoria de todo processo. Ainda sobre a função deste profissional, Oliveira(2009, p. 56), nos diz que: A ação do coordenador pedagógico tem como objetivo oferecer apoio ao professor, organizando e subsidiando suas reflexões e opções acerca da prática pedagógica e das dificuldades encontradas no dia a dia de seu trabalho. Com certeza, entre todos os desafios enfrentados na realização da formação docente, o de trabalhar na diversidade vem ocupando grande parte de estudo e planejamento do coordenador pedagógico. Pois, é preciso compreender, para organizar suas práticas e tornar real esta educação que respeita às diferenças e destrói práticas preconceituosas. Segundo Christov (2003, p. 9), “ a atribuição essencial do coordenador pedagógico está, sem dúvida alguma, associada ao processo de formação em serviço dos professores.” E conseqüentemente, a tudo que interfere diretamente no sucesso pedagógico de todos os alunos, independente de suas capacidades e ou dificuldades. Assim, formação continuada requer muito mais do que momentos estanque. Precisa fazer parte do planejamento da Escola, no ambiente de ensino e em outros espaços que se façam necessário. Buscando uma interligação entre outros profissionais. Viabilizando assim, a escola realmente inclusiva. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do248 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Mas, precisamos compreender que a escola está inserida neste contexto social e que por muito tempo reproduziu práticas excludentes. Mas, vivenciamos um processo de mudança social e educacional, desde a Conferência Mundial de Salamanca em 1994, onde o Brasil reafirmou o compromisso de estabelecer uma educação para TODOS, é que lutamos pela necessidade de criação de uma escola que garanta a escolarização de pessoas com deficiência. Dos oriundos de comunidades quilombolas, indígenas, sem permitir nenhum tipo de comportamento discriminatório. Contudo, sabemos que, muito além de integrar, “moldar” os indivíduos para entrar na escola, precisamos nos movimentar em prol de uma educação que eduque na diversidade para atender a qualquer demanda. Buscando conscientizar toda comunidade escolar de que é possível a escola para todos. E este desafio é de todos, principalmente do coordenador pedagógico, mediador que construir, junto com todos, um projeto de escola inclusiva. Promovendo reflexões acerca das práticas já existentes e das que poderão ser desenvolvidas, desde que a visão de educação que esta escola assuma seja baseada nos princípios da democracia e da inclusão. Sabemos que as mudanças só ocorreram quando o trabalho for coletivo, articulado por todos, e por estar inserida no contexto em se busca a construção de uma sociedade democrática, mais justa, a escola desempenha papel . Seja desde a elaboração da proposta pedagógica que traduza a sua visão inclusiva, até o planejamento de momentos de reflexão – formação de seus profissionais. Assim as ações dessa instituição serão diferenciadas, orientadas para o melhor desenvolvimento de todos. Como bem afirma Isabel Alarcão (2001, p. 26): “ A escola precisa pensar continuamente em si na sua missão social e na sua organização. Dessa forma, propor uma discussão, redefinição da visão de educação que a escola possui, rever e construir novas concepções seria o primeiro passo para que o coordenador pedagógico, em parceria com TODOS os envolvidos com a escola, desenvolva um trabalho que atenda ao princípio da inclusão. Levando em conta que a inclusão escolar é uma tarefa, desafio complexo, que envolve uma série de fatores. Desde a formação contínua dos professores, à adequação de matérias e recursos pedagógicos, e dos espaços físicos da escola. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do249 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Assim, a missão do Coordenador pedagógico vai além de planejar o trabalho pedagógico da escola. A ele cabe a responsabilidade de implementar, junto a todos, direção, professores, funcionário, alunos, pais e comunidade, uma escola, realmente inclusiva. A escola , e todos que dela participam, precisa reconhecer respeitar o papel do coordenador pedagógico. Muitas vezes perdidos no mar de tarefas a serem cumpridas, com pouco ou quase nenhum reconhecimento, sem autonomia. Mas, responsável por cuidar, planejar e fazer acontecer o trabalho pedagógico da escola. E contando com este profissional que exerce papel primordial na implantação da inclusão escolar, que propomos que a escola inclusiva seja construída, observando a legislação vigente e promovendo situações que permita a todos os envolvidos se pronunciarem, refletirem, opinarem. Portanto, o espaço em que deve acontecer, é o ambiente escolar, através dos encontros freqüentes e produtivos, que deverão ser mediados por um coordenador pedagógico, por este ser o profissional que debruça a sua formação para este fim. Relembrando que, neste espaço, baseado na perspectiva da educação inclusiva, a formação continuada de professores, gestores e do próprio coordenador, deve ser uma ação constante e primordial. Para Oliveira ( 2009, p. 36): Esse profissional assume um papel de agente desencadeador, estimulador e articulador do trabalho pedagógico escolar; proporcionando a continuidade da formação docente, de forma reflexiva. Assim, a visão da escola inclusiva se confunde com a missão dos coordenadores pedagógicos em busca desses direitos. É urgente assumir o projeto de construção de uma escola para todos, começando pela conscientização e sensibilização da comunidade escolar, passando pela formação contínua dos profissionais que atuam na escola, e se efetivando com a criação de um espaço educativo onde todos os alunos sintam-se motivados para aprender, trocar experiências, compartilhar saberes, trocar pontos de vista e desempenhar seu papel de sujeito ativo e reflexivo, sujeito em construção. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do250 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 REFERÊNCIAS ALARCÃO, Isabel. Escola Reflexiva e Nova racionalidade. Porto alegre: Artmed Editora,2001 BRASIL. DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. CHRISTOV, Lúcia Helena da Silva. Educação continuada: função essencial do coordenador pedagógico. In: GUIMARÃES, Ana Archangelo et al.O Coordenador Pedagógico e a Educação Continuada.6 ed. São Paulo: Loyola, 2003. OLIVEIRA, Luzia de Fátima Medeiros de. Formação docente na escola inclusiva: Diálogo com o fio tecedor.Porto Alegre, 2009. Ed. Mediação. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 2 ISSN 2357-7096 As implicações do processo de implantação do currículo para o ensino fundamental de nove anos no ambiente escolar Makson Ivaldo Castelo Silva44 Gabriela Oliveira Garcia da Silva 45 Selena Castelão Rivas46 RESUMO: O presente artigo resulta de uma pesquisa que objetiva compreender as implicações curriculares decorrentes da lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 que altera a duração do ensino fundamental de oito para nove anos que estabelece quatro anos para que as escolas façam as reformulações necessárias. Tal pesquisa serviu de base para discussões sobre o referido tema, sendo articulada com outras realizadas por alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia que envolveram escolas de vários estados, entre estes, a Bahia. A base teórica emerge das contribuições de autores como Libâneo (2004), Macedo (2008), Pacheco (1996), Silva (2009), Silva (2005) e arquivos documentais do MEC sobre a implantação do ensino fundamental de nove anos. O processo metodológico teve uma abordagem quantitativa, discorrendo sobre as concepções curriculares atuais, o conceito de currículo, as orientações sobre a alteração curricular no ensino fundamental, os dados alcançados através dos questionários aplicados aos professores e componentes do corpo técnico escolar escolhido, e, a análise da proposta curricular da instituição escolhida. Foi selecionada uma escola da rede privada da região metropolitana de Belém-PA, que oferece desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Os dados dos questionários evidenciaram como ocorreu a participação dos professores na reformulação do projeto político-pedagógico, e também o conhecimento destes acerca das novas concepções curriculares e dos documentos que sofreram alterações. A análise do projeto político-pedagógico demonstra as alterações efetivadas e aspectos importantes que deveriam ser ressaltados. Palavras-chave: Currículo; Projeto político-pedagógico; Ensino Fundamental; INTRODUÇÃO A reformulação curricular, diante da alteração da duração do ensino fundamental de oito para nove anos, é uma necessidade real para as escolas. Para que tal reformulação ocorra de forma consentânea, a escola deve promover uma 44 Extensionista em Docência e Pesquisa do Ensino Superior, graduando em Licenciatura em Pedagogia, Faculdade Adventista da Bahia e Bacharelado em Teologia, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E-mail: <[email protected]> 45 Graduanda em Licenciatura em Pedagogia, Faculdade Adventista da Bahia. E-mail: <[email protected]> 46 Doutora em Educação, Universidade Federal da Bahia - UFBA. Professora, coordenadora do núcleo de pósgraduação, pesquisa e extensão, Faculdade Adventista da Bahia. E-mail: < [email protected] > Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 discussão com os profissionais quanto ao tipo de currículo a ser adotado e como este implicará nas ações pedagógicas em sala de aula. Afinal, a tessitura curricular reflete os objetivos, os métodos, os conteúdos e a avaliação da escola e, portanto, esta deve integrar a filosofia de cada instituição a fim de que o sujeito a ser formado evidencie os objetivos da escola. A alteração já mencionada afetou todas as escolas brasileiras, seguindo uma tendência mundial. Esta tem levantado discussões e exigido das escolas a adequação necessária, evidenciando a importância da investigação proposta. Assim, este estudo procura responder quais as implicações decorrentes do processo de implantação do currículo para o ensino fundamental de nove anos para uma escola selecionada previamente para pesquisa. Para isso, em primeiro lugar faz-se importante apresentar as concepções do conceito de currículo por alguns autores e documentos, já que esta conceituação é cunhada historicamente em um processo complexo. E, também expor as propostas contemporâneas curriculares mais utilizadas pelas escolas atualmente. Em seguida foca-se nas orientações documentais sobre a implantação do ensino fundamental de nove anos, com o objetivo de compreender as implicações que envolvem o currículo. Posteriormente são analisados os questionários, pontuando as concepções de currículo, os tipos de currículo conhecidos, a participação docente na mudança do ensino fundamental de oito para nove anos e a compreensão dos sujeitos da escola sobre os documentos que sofreram alterações. E finalmente o projeto político-pedagógico fornece base para um estudo documental que procura elucidar aspectos curriculares importantes. CURRÍCULO: CONCEITO E PROPOSTAS CONTEMPORÂNEAS Em 1918 Bobbit publicou um livro intitulado The Curriculum que foi estabelecido como um marco para o currículo, pois, a partir deste período, este passou a ser objeto de estudo específico. A partir de Bobbit, de acordo com Silva (2005) o currículo passou a ser gerenciado como uma mecânica devido às forças peremptórias que operavam naquele contexto. Assim Macedo (2008) explicita que a educação estadunidense organiza-se com base numa aliança do econômico e o Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 4 ISSN 2357-7096 técnico-científico, pautada pela democracia liberal, refletida na atualidade apesar das discussões sobre a prática educacional. O currículo normalmente é definido como um documento que constitui os conteúdos que devem ser trabalhados na sala de aula. Contudo, esta concepção não é consensual. Libâneo (2004) refere-se a duas definições de currículo. A primeira definição estaria vinculada ao papel do currículo de representar as ideias e conhecimentos sociais para assegurar o bom funcionamento da sociedade, enquanto que a segunda explicita que o currículo organiza os conhecimentos culturais que devem ser transmitidos. Macedo (2008) apresenta a seguinte definição de currículo: um artefato socioeducacional que se configura nas ações de conceber / selecionar / produzir, organizar, institucionalizar, implementar / dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores visando uma dada formação, configurada por processos e construções constituídos na relação com conhecimento eleito como educativo. (p. 24) A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 retrata no artigo 13 que o currículo “configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos”. E neste documento apresenta-se também a difusão de valores, dos direitos e deveres do cidadão e o respeito ao bem comum. Faz-se necessário apresentar também a concepção do documento “Indagações sobre currículo: currículo e desenvolvimento humano”: Os currículos [...] são uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento de que os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. (2007, p. 9) Ao analisar as discussões sobre a conceituação deste tema, enfrentamos certa dificuldade, pois vários autores trazem suas concepções. Assim, faz-se necessário compreender o significado da palavra currículo. A respeito disso, Pacheco (2001) afirma que “o lexema currículo, proveniente do étimo latino currere, significa caminho, jornada, trajetória, percurso a seguir e encerra, por isso, duas Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 5 ISSN 2357-7096 ideias principais: uma de sequência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos”. A reflexão sobre o conceito do currículo escolar está intimamente atrelada às decisões que percorrem as ações pedagógicas. Entretanto, o que evidencia as concepções curriculares são os tipos de currículo adotados pela escola, pois estes possuem objetivos diferentes que permeiam o processo de ensino-aprendizagem. Macedo (2008) destaca os currículos por competência, problema, projetos, temas geradores, módulos de aprendizagem, em rede e por ciclo de formação como algumas propostas contemporâneas de organização curricular que permeiam discussões e tem aspectos interligados às concepções apresentadas por Libâneo (2004). Na noção por competência a formação é configurada pelo saber teórico e prático o que denomina-se saberes em uso, e vinculada a um conhecimento necessário para inserção no mercado de trabalho evidenciando influência da tendência tecnicista. No currículo por problema os temas de estudo são esclarecidos por meio da elaboração de problemas que possibilitam a construção do conhecimento pelo aluno de maneira independente. Uma comissão elabora os problemas e estes são apresentados aos alunos que seguem passos para resolução. Este é um tanto similar ao currículo por projetos que valoriza o conhecimento experienciado, no qual o professor escolhe o tema e direciona a pesquisa partindo da perspectiva que o aluno deve ter consciência de sua própria aprendizagem. Já o currículo por temas geradores são inspirados em Paulo Freire, e há a preocupação em articular-se com a realidade do aluno e propor temas que mobilizarão um trabalho coletivo e cooperativo no qual se valoriza a dialogicidade. Compreende-se o currículo por módulos de aprendizagem aquele que é organizado por blocos, possibilitando a flexibilidade quanto a terminalidade do percurso. Diferente do currículo em rede que potencializa o uso de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem e promove a interação. A última proposta apresentada é o currículo por ciclo de formação a qual é uma forma de organizar a temporalidade do tempo escolar, procurando respeitar o ritmo biológico e eliminar a reprovação dos anos iniciais. Estas perspectivas apresentadas evidenciam os principais modelos de organização curricular que permeiam as escolas e necessitam estar claras na proposta curricular. Cada concepção tem seus objetivos e métodos diferenciados, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 6 ISSN 2357-7096 que possibilitam aos professores e gestores uma reflexão sobre o sujeito que se anseia formar e quais práticas possibilitam a efetivação deste trabalho. Uma cuidadosa observação dos aspectos gerais do currículo corrobora para a compreensão da afirmação de Libâneo (2004) de que o currículo não é neutro, ele sempre reflete intenções e ações, que tornam-se realidade através das ações docentes e das condições providas pela organização escolar. AS IMPLICAÇÕES CURRICULARES NA AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS A ampliação do ensino fundamental para nove anos está inserida numa discussão corrente e atual, conforme o documento “Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação” (2009) apresenta e de acordo com a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que estabelece o ensino fundamental de nove anos como meta da educação nacional. Assim, é perceptível que a organização curricular é influenciada pelas novas concepções educacionais emergentes provenientes das rápidas mudanças sociais. A educação brasileira tem como objetivos explícitos fornecer a qualidade, o acesso e a permanência na escola, e para cumprimento destes visualizamos discussões em torno do tempo da criança no ambiente escolar, dos espaços e tempos escolares, dos conteúdos e das áreas de conhecimento, entre outros aspectos que estão inseridos no currículo. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 define a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração e estabelece como prazo para implantação nas escolas o ano 2010. Esta ação tem sido discutida desde a década de 90, conforme Silva (2009, p. 27) “embora a lei tenha sido implementada apenas em 2006, as condições para a ampliação do Ensino Fundamental foram sendo gestadas já durante a reforma educacional brasileira na década de 1990”. O documento “Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais” (2004) esclarece a alteração que possibilita a inserção da criança, no ensino fundamental, a partir dos seis anos. Ele apresenta dados que elucidam o fato de que crianças desta idade já estão envolvidas no ambiente escolar, e, a promulgação da lei amplia o propósito de equidade e inclusão. Assim, as classes populares serão mais Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 7 ISSN 2357-7096 favorecidas, uma vez que, as crianças da classe média e alta já estão incorporas em espaços de ensino. Para dar qualidade ao ensino nesta faixa etária não se pensa em transferir para estas crianças os conteúdos e atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos considerando o perfil dos alunos. O Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008 é destacado no documento “Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação” (2009) e declara a importância da criação de um novo ensino fundamental, com matrícula obrigatória para as crianças a partir dos seis anos completos ou a completar até o início do ano letivo. [...] Reitera normas, a saber: o redimensionamento da educação infantil; estabelece o 1º ano do ensino fundamental como parte integrante de um ciclo de três anos de duração denominado “ciclo da infância”. Ressalta os três anos iniciais como um período voltado à alfabetização e ao letramento no qual deve ser assegurado também o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento. Destaca princípios essenciais para a avaliação. (2009, p. 8) A implantação de um novo Ensino Fundamental destacado no documento “Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação” (2009) exige uma alteração na proposta pedagógica que deve ser efetivada por cada escola. Para subsidiar esta ação o Ministério da Educação organizou dois documentos: “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações pedagógicas para a inclusão das crianças de seis anos de idade” e “Indagações sobre Currículo”. Através destes documentos e com um espaço temporal de quatro anos, as escolas deveriam iniciar este processo de implantação do Ensino Fundamental de nove anos com qualidade e sem prejuízos ou impasses para as crianças de seis anos. Assim, o documento “Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais” (2004) ressalta sua proposta: Para recebê-las, ela necessita reorganizar a sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os espaços, os tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o planejamento e a avaliação, de sorte que as crianças se sintam inseridas e acolhidas num ambiente prazeroso e propício à aprendizagem. É necessário assegurar que a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental ocorra da forma mais natural possível, não provocando nas crianças rupturas e impactos negativos no seu processo de escolarização. (2004, p. 22) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 8 ISSN 2357-7096 Nos últimos anos esta proposta tem sido efetivada com o objetivo de diminuir a desigualdade educacional brasileira, porém para que esta implantação ocorra corretamente é preciso que o professor, sendo o sujeito praticante do currículo, esteja consciente das alterações do projeto político-pedagógico da escola e participe das discussões em um trabalho coletivo na instituição que trabalha. A ação dentro da sala de aula evidencia o compromisso do docente com a proposta curricular, quando esta lhe é apresentada. Contudo, a isenção dos professores nestas discussões pode acarretar prejuízos quanto a consolidação dos objetivos legais e pedagógicos apresentados pelos documentos do Ministério da Educação. METODOLOGIA A abordagem desta pesquisa promove uma análise dos dados obtidos para interpretação dos fenômenos ocorridos na escola diante da alteração da proposta curricular. Assim, foi realizada uma pesquisa documental e de campo, viabilizando um estudo sobre as implicações decorrentes do processo de implantação do currículo para o ensino fundamental de nove anos na escola selecionada. A coleta de dados foi realizada numa escola da rede privada que oferece da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental, e que está localizada na região metropolitana de Belém, oferecendo da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino. A amostra foi composta por cinco professoras que atuam do 1° ao 5° ano do ensino fundamental respectivamente, e duas representantes do corpo administrativo da escola, estas foram a coordenadora pedagógica e a diretora da escola. Entre estas, uma professora em processo de conclusão do nível superior, e as outras em processo ou com pós-graduação concluída. O contato foi feito no segundo semestre de 2011 com a coordenadora pedagógica, a qual foi a mediadora da aplicação da pesquisa na escola. Os sujeitos da pesquisa foram informados do interesse da pesquisa e disponibilizaram-se para a coleta de dados. Assim, tendo em vista atender os objetivos específicos, foi requisitado uma cópia do projeto político-pedagógico da escola e a participação do grupo de amostra através de questionários. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal 9 ISSN 2357-7096 ANÁLISE DOS RESULTADOS Os dados coletados, analisados e expressos nesta seção, objetivam evidenciar o envolvimento e a conscientização dos sujeitos da escola nas discussões da implantação da Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 que define a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração e estabelece como prazo para implantação nas escolas o ano 2010. Como também, discorrer sobre a organização da proposta curricular que está inserida no projeto político-pedagógico. OS SUJEITOS DA ESCOLA E A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS A leitura dos questionários aplicados na escola proporcionou a tabulação dos dados sobre o grupo e o conhecimento deles sobre o currículo. A definição sobre currículo foi apresentada de forma simplória e limitada, sendo esta vinculada apenas a organização dos conteúdos na matriz curricular. Todavia, foram apresentadas outras concepções sobre currículo, onde este foi definido como “um instrumento que engloba os saberes de forma ampla e específica”, e “algo construído a partir do projeto político-pedagógico”. Os dados evidenciaram que os docentes estão cientes da maioria das propostas curriculares evidenciadas por Macedo (2008), sendo as mais conhecidas: por competência, por projetos, por temas geradores, por ciclo de formação e por módulos de aprendizagem. Todavia, os currículos por problemas e em rede são desconhecidos. O ano que a escola selecionada iniciou o processo de alteração no currículo do ensino fundamental foi 2009. Com base nesta informação inquiriu-se sobre a participação no processo de mudança do currículo da escola. As respostas evidenciaram que a participação neste processo foi mínima, e alguns esclarecem que ao chegarem à escola, já encontraram a proposta curricular alterada. Entretanto este é um dado alarmante, pois o professor sendo o sujeito direto da ação pedagógica, deveria exercer papel ativo nessa implantação. O questionário sinaliza a apenas participação de uma professora neste processo de mudança e esta afirma sua atuação na seguinte fala: “fizemos estudos, tivemos palestras e acompanhamos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 10 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 de forma prática o pedagógico neste avanço”. Ela ainda apresenta que houve resistência do corpo docente, mas o processo foi facilitado devido o apoio da administração da rede e a devida explanação do assunto. Mesmo não participando diretamente da mudança, os entrevistados apresentaram os aspectos que dificultaram e favorecerem a implantação, baseados em relatos que ouviram ao chegarem à escola. Os aspectos que dificultaram o processo foram a readaptação e compreensão da proposta pelos professores e gestores, e também a conscientização dos pais sobre as implicações desta mudança, que inicialmente demonstraram forte oposição. Os entrevistados também foram questionados sobre os documentos que sofreram alteração devido a mudança proposta pela Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Os professores sinalizaram, principalmente, a proposta curricular, o projeto político-pedagógico e o regimento interno, os quais, inclusive, são os documentos ressaltados pelo Ministério da Educação no documento “Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação” (2009). Diante destes, o regimento interno merece atenção, pois é o instrumento que envolve normas da instituição, e com a reestruturação do Ensino Fundamental sua reformulação tornase imprescindível. Por meio da análise dos subsídios apresentados, é possível verificar que mesmo não tendo participação efetiva nos debates sobre a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, os entrevistados são conscientes das novas propostas curriculares, de como ocorreu o processo de implantação na escola e os documentos que passaram por alterações. Por um lado estes são conscientes das discussões atuais, todavia, ainda há a necessidade de maior envolvimento nas discussões concernentes às práticas e alterações da proposta pedagógica que englobam a proposta curricular. ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA As informações desta seção foram obtidas do projeto político-pedagógico da escola. A instituição escolar em questão possui amplas salas de aula, laboratórios, profissionais qualificados com nível de ensino em pós-graduação, em sua maioria. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 11 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Esta oferece da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino. Sobre o tipo de currículo adotado pela escola, faz-se necessário destacar que ela não explicita, mas promove um currículo alternativo, onde ele é aberto, pois possibilita flexibilidade quanto às ações pedagógicas na sala de aula e fechado quanto aos conteúdos. Ao referir-se a organização curricular, o projeto políticopedagógico não apresenta o critério de organização das turmas, mas deixa explícito que utiliza o regime de seriação e distribui o tempo escolar em quatro unidades no ano letivo. O referencial curricular está dividido em dois blocos, sendo um a educação infantil e o segundo o ensino fundamental. É apresentada a área de conhecimento, a respectiva ementa, os objetivos para cada etapa e os conteúdos para cada série oferecida pela escola. Encontra-se descrita também a metodologia para ser trabalhada em cada área e as concepções avaliativas que estão embasadas na filosofia da escola. Contudo, o documento não apresenta um projeto de inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira, que de acordo com a Lei no 11.645, de 10 de março de 2008 torna-se uma temática obrigatória. O documento analisado não apresenta a matriz curricular do ensino fundamental, somente é apresentada a matriz da educação infantil. Assim, diante dos dados analisados é possível compreender que esta proposta deixa lacunas quanto às informações que precisam estar bem definidas para o bom andamento da escola. Um dos pontos a ser destacado é a falta da abordagem definitiva quanto ao tipo de currículo utilizado pela escola, assim como não é apresentada as matrizes curriculares para o ensino fundamental. CONSIDERAÇÕES FINAIS A partir do que foi apresentado neste trabalho nota-se que há por parte do Ministério da Educação documentos de base para alteração do ensino fundamental de nove anos que fornecem subsídios para as escolas. Ao compreender a complexidade do currículo, torna-se evidente que as mudanças que o envolvem trazem implicações diretas e evidentes nas instituições escolares. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 12 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Assim, diante dos dados obtidos é possível concluir que o processo de implantação do ensino fundamental de nove anos na determinada escola não envolveu diretamente seus professores, como também sua proposta não apresenta alguns aspectos que deveriam estar explícitos quanto ao currículo, como a proposta curricular do ensino fundamental alterada. Os professores apresentaram conhecimento sobre os tipos de currículo, mas comumente relacionaram a sua definição aos conteúdos fixos à matriz curricular. Um dos aspectos negativos destacados foi a falta de participação destes profissionais neste processo, contudo houve a preocupação da instituição em conscientizar os funcionários e pais da emergente mudança no tempo de duração do ensino fundamental. Um fator positivo está relacionado ao nível de estudo dos profissionais e como isto é evidente ao apresentarem conhecimento sobre as propostas curriculares atuais e sobre os documentos escolares que sofreram alterações. O que fica ainda mais explícito ao analisar a proposta, é que esta apresenta algumas alterações para o ensino fundamental de nove anos, contudo deixa algumas lacunas como a apresentação da matriz curricular. Tais resultados corroboraram em promover uma discussão com alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia que aplicaram seus questionários em diferentes escolas e regiões. Ao pontuar o processo de implantação do ensino fundamental de nove anos concluímos que em sua maioria, as escolas enfrentaram problemas parecidos e os projetos políticos-pedagógicos não foram completamente reformulados. Evidenciando que a proposta de reformulação curricular não ocorreu de forma sistemática e dialogada como prevista pelos documentos legais, não somente na Bahia, mas em outras regiões, como exposto neste trabalho. Portanto, compreende-se que toda alteração curricular implica em um processo que envolve todos os sujeitos que estão inseridos no ambiente escolar, destacando o professor que é o sujeito ativo na sala de aula e o aluno que é o sujeito formado pela escola. Para que possibilite um processo de qualidade deve haver a participação efetiva dos professores nas discussões quanto ao currículo para o ensino fundamental de nove anos e a escola tem que comprometer-se em organizar seu projeto político-pedagógico. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 13 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 REFERÊNCIAS BRASIL. Lei 11. 645, de 10 de março de 2008. Inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Lex: Diário Oficial da União, Brasília, 10 de março de 2008, art. 1. BRASIL. Lei 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 09 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 06(seis) anos de idade. Lex: Diário Oficial da União, Brasília, 06 de fevereiro de 2006. BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Indagações sobre currículo: currículo e desenvolvimento humano. Organização do documento: Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. vl. 1. BRASIL. Ministério da Educação. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2009. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2004. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Lex: Diário Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. LIBANEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. revista e ampliada. Goiânia: alternativa, 2004. MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo: campo, conceito e pesquisa. 2. ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2008. PACHECO, J. A. Currículo: teoria e práxis. Porto: Porto Ed., 1996. SILVA, Rute. A implementação do ensino fundamental de nove anos e seus efeitos para a educação infantil: um estudo em municípios catarinenses. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 14 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A utilização da fotografia no ambiente escolar: Possibilidades para práticas pedagógicas Milayne Lanayra R. F. Valente Lima47 Daniele Andrade Lima48 RESUMO: As transformações que vem permeando a sociedade nas últimas décadas atingem o cotidiano escolar e geram a necessidade para os professores de atentar às inúmeras situações que fazem parte deste cenário. Logo, se faz necessário promover nessa esfera educacional e curricular, o desenvolvimento de atividades que permitam aos alunos um aprendizado mais consistente de significado para a sua formação física, intelectual e mental, a fim de que, o mesmo seja preparado para os desafios cotidianos que a vida apresenta. Nesse contexto, a fotografia é uma ferramenta importante para atingir um novo patamar educacional, ao passo que, analisar a captura de uma imagem é uma forma de educar o olhar e, vale salientar que essa educação tanto pode reforçar discursos habituais e massificados, como, desenvolver um olhar para o contexto, as histórias, os sujeitos sob aspectos principalmente culturais, que o constroem, buscando representações que fujam dos discursos oficiais. Este texto surgiu do desejo de relatar uma experiência vivenciada como ministrante de uma oficina sobre fotografia no ambiente escolar, para alunos do primeiro semestre do curso de pedagogia de uma instituição localizada no Recôncavo Baiano, e objetiva evidenciar a importância da fotografia como recurso propulsor de reflexões e ampliações sobre e da realidade escolar, além de ferramenta de construção de experiências cotidianas. Foi perceptível ao final da oficina, que os participantes compreenderam na prática a importância dos educadores estarem constantemente revendo suas práticas pedagógicas, inserindo estratégias dinâmicas que potencializem o aprendizado, reconhecendo assim, a fotografia como uma das práticas eficazes para tal. Palavras-chave: Educação; Fotografia; Cultura. CONSIDERAÇÕES INCIAIS Nosso século é marcado pela tirania da eficiência, da lógica do mercado e do consumo, assumindo uma mentalidade que molda os imaginários individuais, impondo códigos e condutas e agravando o processo de afastamento entre o homem e o meio.” (SCHULTZE, BENTES, MATTOS, 2008 p. 8) 47 Jornalista. Graduanda em letras com Língua Inglesa pela Universidade Estadual de Feira de Santana. [email protected]. 48 Graduanda em letras com Língua Inglesa pela Universidade Estadual de Feira de Santana. [email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 15 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 No início do século XXI, uma onda de novas ideologias e comportamentos se alastrou pela sociedade, levando a uma perda de identidade e desestabilização das relações sociais. Esse novo cenário de incertezas reflete-se em todos os âmbitos, inclusive, na escola. Logo, no presente relato de experiência, que se configurou a partir de uma oficina sobre Fotografia no ambiente escolar, ministrada para alunos do primeiro semestre do curso de Pedagogia de uma instituição localizada no Recôncavo Baiano, apresentamos a fotografia como uma das possíveis ferramentas para despertar nos indivíduos, que compõem o ambiente escolar da educação básica, questionamentos concernentes a essa nova sociedade. O Objetivo deste trabalho é, portanto, despertar nos professores a necessidade de implementar procedimentos ao ensino, buscando formar sujeitos ativos e críticos na recepção de imagens a fim de (re)significar a essência identitária de ambos, professores e alunos. De acordo com Kossoy (2001) a fotografia é uma forma de registro e expressão cultural, que captura elementos sociais, econômicos e culturais do cotidiano. Já para Charles Baudelaire apud DUBOIS (2004, p. 28), fotografar é o mesmo que fazer arte, de acordo com o que ele diz em “Como a fotografia nos proporciona todas as garantias desejáveis de exatidão, (...) a arte é a fotografia”. Sendo assim, não se pode reduzi-la a uma ação não arraigada de valores, sentimentos e elementos culturais. Infelizmente, a ideia de que a fotografia é um simples monumento documental chega à esfera educacional, tanto para alunos, como para professores, que desconhecem-na como elemento de natureza simbólica, elaborada pelo pensamento, sentimento, referências pessoais, culturais, sociais e profissionais, causando um distanciamento do ensino com a arte de fotografar. A fim de retomar, portanto, a fotografia segundo as características supracitadas neste parágrafo, bem como introduzi-la como ferramenta pedagógica, embasamo-nos em um referencial teórico pautado em Kossoy (2001), Barthes49, Amorim (2005), Persichetti 2000, Freire (1996), entre outros. 49 A mensagem fotográfica (Roland Barthes), encontrado em: http://pt.scribd.com/doc/49666238/AMensagem-Fotografica-Roland-Barthes Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 16 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Logo, pensar na fotografia como um elo despertador de novos olhares, entre a escola e a sociedade na qual ela está inserida, pode ser uma ferramenta poderosa na mão de professores. CAMINHOS PERCORRIDOS É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se reforma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 1996, p. 25). Nossa proposta com a Oficina sobre Fotografia no ambiente escolar foi suscitar nesse espaço ações que viabilizem a produção de saberes e fazeres educacionais utilizando a fotografia como uma ferramenta pedagógica. Para tanto, buscamos embasamento no tripé ação-reflexão-ação que permeia as relações entre a teoria e a prática no âmbito educacional. A metodologia utilizada nesta oficina esteve focada na práxis docente, pois “o homem é um ser da práxis [e por isso] não pode reduzir-se a um mero expectador da realidade... Sua vocação ontológica (...) é a do sujeito que opera e transforma o mundo.” (FREIRE, 1969, p.124-125). Neste sentido, em um primeiro momento fizemos um breve histórico da fotografia, da câmara escura à fotografia digital e trouxemos os conceitos de arte e fotografia a fim de fazer um paralelo entre ambas. Em conseguinte, trouxemos aos alunos fotografias, algumas famosas, outras amadoras, produzidas por nós, com o propósito de instigar neles o despertar de emoções e sentimentos. O terceiro momento foi mais prático. Os alunos puderam, através de performances criadas por eles mesmos demonstrar os sentimentos despertados com as visualizações das fotografias, e designaram um integrante de cada grupo para registrar a apresentação da própria equipe. Ao final, discutiu-se, partindo da percepção já diferente dos próprios alunos, a fotografia como uma possível ferramenta pedagógica. Da mesma maneira, procuramos trazer neste relato três passos para introduzir a fotografia na sala de aula e na escola como um todo. O DESPERTAR DE UM NOVO OLHAR: PRIMEIROS INTRODUZIR A FOTOGRAFIA NO AMBIENTE ESCOLAR PASSOS PARA Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 17 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 As primeiras fixações da luz se deram com os experimentos de Nicéphore Nièpce, seguido de Louis Daguerre, que desenvolveram, respectivamente, a heliografia e o daguerreótipo, predecessores da fotografia e da máquina fotográfica. Instrumento elitizado em princípio, as máquinas fotográficas somente tornaram-se mais acessíveis às massas a partir de 1888 com uma invenção de George Eastman: a câmera portátil carregada com filme de rolo, denominada Kodak, que, através do slogan: “Você pressiona o botão, nós fazemos o resto”, popularizou a fotografia. Essa popularização tornou mais acessível às pessoas fotografarem e serem fotografadas, afinal, a única distância para tal era a posse de uma máquina, o enquadramento e o disparo do botão. Consequentemente a essa ideia de facilidade, não se pode deixar de notar que torna-se cada vez mais perceptível a banalização da fotografia única e exclusivamente como mera ilustração que ratifica o que está dito em palavras, ou como monumento iconográfico histórico. Vale ressaltar ainda que, apesar de a facilidade do acesso à fotografia ter proporcionado a inserção dos indivíduos na arte como forma de expressão, o grupo detentor desse conhecimento ainda é pequeno, devido às limitações impostas pelo sistema escolar atual. Ao longo dos anos escolares, as crianças vão gradualmente perdendo o contato com formas mais livres de expressão, como o desenho, a pintura, o canto, entre outras. Retomar a inserção da arte por meio da fotografia, seria uma forma de proporcionar para a criança um reencontro com seu eu que, nas séries iniciais, tinha um maior contato com produções artísticas. Portanto, nesse primeiro momento, a preparação do professor é de suma importância para a aplicação da fotografia como ferramenta pedagógica e de (re)significância, pois a busca de novos conhecimentos, a partir de leituras impressas e imagéticas, o faz compreender a essência do que ele posteriormente, apresentará na sala de aula. No início dessa caminhada, o professor deverá analisar a captura de uma imagem como uma forma de educar o olhar, salientando que essa educação tanto pode reforçar discursos habituais e massificados, como, desenvolver um olhar para o contexto, as histórias e os sujeitos, sob aspectos principalmente culturais que o constroem, buscando representações que fujam dos discursos oficiais. (AMORIN apud FERRAÇO, 2005). Assumir, mesmo que aos poucos, uma postura de criação estética na formação da criança, introduzindo arte no cotidiano escolar, precisa ser uma realidade constante na vida do educador. Afinal, essa nova forma de fazer Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 18 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 educacional leva a criança ao contato com novas realidades e percepções de mundo. A fotografia, não deve, portanto, ficar de fora desse processo. O DESENVOLVIMENTO DE UM PRÁTICAS PARA UTILIZAR NOVO OLHAR: IMPLEMENTAÇÃO DE A FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO. Na prática, além de buscar novos conhecimentos, o professor precisará também começar a mobilizar a escola, para viabilizar o uso da fotografia como instrumento pedagógico, utilizando-se das facilidades que a tecnologia proporciona para tal, bem como da estrutura já oferecida pela escola. Um bom exemplo disso seria o uso dos laboratórios de informática, a aquisição de câmeras digitais, impressoras fotográficas, papel próprio para a impressão das fotos e material didático sobre fotografia, além de buscar a colaboração de funcionários e de outros professores para esta implementação. Ao adotar uma nova postura frente à utilização da fotografia, também é primordial para o educador o reconhecimento dos alunos como sujeitos potenciais, inseridos em realidades distintas e capazes de reproduzi-las. Sendo assim, é importante, além de conhecer a sua nova ferramenta, proporcionar ao aluno conhecimento prévio subjetivo, com simples toques de técnica sobre a arte de fotografar, através de cursos e palestras, para que eles se familiarizem e consigam perceber que “Quaisquer que sejam a origem e o destino da mensagem, a foto não é apenas um produto ou um caminho, é também um objeto, dotado de uma autonomia estrutural. (...)” (BARTHES)50. Seguindo a metodologia utilizada na oficina, além de cursos e palestras, a fotografia, também precisa ser inserida no cotidiano das aulas para promover um contato constante com o despertar de sentimentos e do olhar crítico nos alunos. É importante que eles aprendam a manipular as imagens e organizá-las de forma a representar as interpretações que ocorreram no momento da produção das mesmas. Sendo, para tanto, necessária a colaboração conjunta de todos os professores da escola, afinal, esse deve ser um trabalho amplamente interdisciplinar. 50 A mensagem fotográfica (Roland Barthes), encontrado em: http://pt.scribd.com/doc/49666238/AMensagem-Fotografica-Roland-Barthes. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 19 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A CONCRETIZAÇÃO DO NOVO OLHAR: A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA “Afinal de contas, os olhos de uma criança funcionam como uma filmadora, que armazena todas as informações visuais disponíveis, deixando que grande parte de suas interpretações se revelem mais tarde...” (AMORIM apud FERRAÇO, 2005, p. 112) Depois de procurar um conhecimento prévio, mobilizar a escola, se familiarizar com a fotografia, aprender a manipular uma câmera e como funciona o processo de revelação de imagem, chega a hora dos alunos colocarem em prática seu aprendizado. Chega a hora de fotografar! Separados em grupos, os alunos devem cumprir tarefas designadas pelos professores. Dentre essas tarefas, é interessante promover excursões nas quais eles possam fotografar diferentes espaços. Um exemplo interessante seria uma feira livre ou um parque com natureza, afinal, nestes cenários, os professores podem levantar discussões diversas que vão dos campos da ciência aos campos sociológicos. Após os exercícios de fotografia, chega o momento da “fotomontagem” seguida da “fotoexposição”. A fotomontagem se constitui da escolha das fotos pelas próprias crianças. É de suma importância nesse instante desmitificar a ideia de que uma fotografia está ruim ou não. Afinal, todas as imagens devem ser pensadas como formas de expressão de sentimentos, pois, por não se tratar de trabalhos profissionais, as técnicas não devem ser contadas como principal critério de avaliação e escolha para a exposição, afinal, como diz Salgado apud PERSICHETTI (2000, p. 80), “Eu acho que qualquer pessoa que vê uma imagem, lê a imagem. Você não depende de jeito nenhum do seu nível de sofisticação teórica. Você lê em função de sua vida dentro do âmbito social”. Portanto, como um último passo para expor os novos conhecimentos adiquiridos pelas crianças, deve-se escolher um dia para expor as imagens para a comunidade escolar e as famílias (FOTOEXPOSIÇÃO). Neste momento, as crianças deverão sentir-se livres para expor suas ideias e sentimentos no momento da produção. Logo, a capacidade criativa e de expressão é que deverão ser os principais focos na hora de avaliar. É, portanto, de suma importância, que durante o processo de avaliação o professor retome a ideia de que a fotografia, além de ser testemunha de um fato, reflete o contexto sócio-histórico e o momentos íntimos, cheio de peculiaridades e subjetividades, do ato de sua criação, como diz Simonetta Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 20 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Persichetti (2000), que ainda acrescenta que a fotografia deve ser lida com criticidade da mesma forma como lê-se um texto, afinal, os resultados da sua decifração espelham a bagagem histórico cultural do leitor. Segundo DIAS (2004, p. 260) “A concepção de criança (...) direciona a prática pedagógica e esta (...) por sua vez, é capaz de cristalizar uma dada imagem sobre a infância.”. Essa concepção de criança é um dos pontos que objetivamos concretizar com essas práticas, afinal, a partir do momento em que o indivíduo cria uma concepção do que é ser criança, torna-se mais fácil entender o que é ser aluno, seu papel, sua posição, tanto no ambiente escolar, familiar como na sociedade em geral. (IN)CONCLUSÕES À guisa de, não concluir o processo, pois este nunca deve deixar de ser trilhado, é notório compreendermos enquanto educadores que aprender a ler imagens, sons, objetos amplia nossas possibilidades de sentir e refletir sobre novas ações. E dentro deste campo, elegemos a fotografia como instrumento que permite que as pessoas reflitam sobre o mundo e o cotidiano, propondo novos olhares e indagações àquilo que faz parte de sua realidade. Neste sentido, podemos inferir que a fotografia eterniza os momentos vivenciados e experienciados e o cotidiano escolar é um cenário, no qual a fotografia, certamente, poderá servir de instrumento pedagógico nas mãos de professores e alunos. REFERÊNCIAS DIAS, Lara Simone. Qualidade na Educação da Primeira Infância: perspectivas pósmodernas. Educ. Soc., Campinas vol 25, n. 86, p. 260-262, abril 2004 DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico. 6 ed. São Paulo, Papirus, 2003. FERRAÇO, Carlos Eduardo (org.). Cotidiano escolar, formação de professores (as) e currículo. São Paulo: Cortez, 2005. FREIRE, Paulo. O papel da educação na humanização. Revista Paz e Terra. Rio de Janeiro, ano IV, n.09, p. 123-132, out. 1969. ______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários as práticas educativas. São Paulo: Paz e Terra, 1996. KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. Edição revista. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do 21 Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 MÜLLER, Tânia Mara Pedroso. As aparências enganam?: fotografia e pesquisa. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2011. PERSICHETTI, S. Imagens da fotografia brasileira. São Paulo: Senac, 2000. V. I e II. SCHULTZE, Ana Maria; MONTEIRO, Eduardo Bentes; BRANDÃO, Cláudia Mariza Mattos. Fotografia e Educação: Alguns Olhares do Saber e do Fazer. Intercom 2008 / III Multicom - Colóquios Multitemáticos em Comunicação - Mesa 2008 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A pesquisa-ação na temática da violência escolar em escolas municipais de Feira de Santana. Nadjane Gonçalves de Oliveira51 RESUMO: A violência merece atenção especial quando atinge o espaço escolar, já que este é um local de formação social dos alunos, bem como de fortalecimento da identidade e de construção de cidadania. Dessa forma, o currículo escolar quando não está voltado para a prevenção dos problemas que envolvem a violência pode levar a escola a um estado de vulnerabilidade, pois ao experienciar a violência na escola, crianças e adolescentes são influenciados a perpetuar a concepção do poder, prestígio, autoafirmação e valorização vinculados ao desrespeito, à ausência de limites, ao uso de drogas, à agressão do mais forte contra o mais fraco ou de um gênero para com outro, entre outras. O presente trabalho é um relato de experiência no método da Pesquisa-Ação utilizado no projeto Diagnóstico da Violência e Estratégias de Construção da Paz nas Escolas Municipais de Feira de Santana, iniciado no ano de 2011, através da parceria entre a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a Prefeitura Municipal representada pelas Secretarias de Educação, Saúde e Prevenção à Violência, além do 1º Batalhão de Polícia Militar. O estudo tem como objetivo geral, mapear a realidade da violência nas escolas e proceder as intervenções que o diagnóstico venha a sinalizar, considerando as seguintes etapas metodológicas: a) conhecimento da realidade (aplicação de questionários e observação participante); b) planejamento das soluções possíveis; c) efetivação das ações planejadas sistematicamente; d) Avaliação, e, e) identificação dos saberes adquiridos. A operacionalização dessas etapas tem implicado na elaboração de conflitos internos e interpessoais no que consiste reavaliar valores, saberes e posturas cristalizados entre pesquisadores, professores, alunos e gestores públicos. O envolvimento com o método e os problemas identificados têm possibilitado o emergir de sentimentos como indignação, impotência, angústia, abandono dos excluídos, ansiedade, medo, desespero e tristeza. O desejo da mudança, a identidade com a causa, o princípio dialógico preconizado pelo método, a cooperação e a afetividade estão sendo os grandes recursos para mediar as diferenças e os limites dos sujeitos neste processo. Essa proposta de Pesquisa-Ação se insere na modalidade de desenvolvimento de tecnologia social na medida em que utiliza a filosofia do protagonismo estimulando o empoderamento das pessoas envolvidas na questão para que exerçam seu papel de atores sociais, mobilizando-se e organizando-se para o enfrentamento de seus problemas e reivindicando soluções articuladas com o poder público. Palavras-chave: PESQUISA-AÇÃO; ESCOLA; VIOLÊNCIA. 1 INTRODUÇÃO A violência escolar é sem dúvida um dos maiores problemas enfrentados pelas escolas na sociedade atual. O fenômeno da violência é multifatorial e se apresenta das mais variadas formas preocupando a todos os envolvidos nesse universo de alta complexidade que é a escola. Dessa forma, objetivamos mapear o real contexto da violência nas escolas e proceder as intervenções que o diagnóstico venha a sinalizar, constitui o objetivo geral do estudo Diagnóstico da violência e estratégias de construção da paz nas escolas municipais de Feira de Santana, Bahia, Brasil, sobre o qual relataremos as experiências vivenciadas no período de 2011-2012, utilizando a abordagem metodológica da Pesquisa-Ação. 51 Pedagoga, Psicipedagoga, Supervisora Educacional, Mestre em Desenvolvimento da Criança, Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. e-mail: [email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 2 A PESQUISA-AÇÃO: MÉTODO DE INTERVENÇÃO NA REALIDADE SOCIAL Originada nos Estados Unidos, a partir de Kurt Lewin, a Pesquisa-Ação pode ser definida como um tipo de pesquisa organizada de modo participativo, com a colaboração de pesquisadores e de membros ou grupos implicados em determinada situação ou prática social, de modo a “identificar os problemas, buscar soluções e implementar possíveis ações coletivamente deliberadas” (THIOLLENT, 2001, p. 32). Esse modo de pesquisa pressupõe interação, imprescindível, entre os envolvidos na situação de pesquisa, pesquisador social e demais implicados, aqui considerados atores sociais, os quais, deixam a situação de objeto investigado na pesquisa tradicional e passam a ser sujeitos participantes do processo investigativo. Estabelece-se uma relação de horizontalidade, não cabendo individualismos, nem espírito autoritário ou centralizador. Assim, a pesquisa-ação não pode ser implementada unilateralmente pelo pesquisador sem que os implicados expressem seu desejo de investigação e ação. Os participantes identificam o problema da pesquisa e as possíveis soluções no contexto vivenciado. É o que se pode denominar método da Sociologia Aplicada, ou ainda, como prefere Argyris e colaboradores (1985), a ciência da ação e apesar de sua intenção transformadora, não pode ser confundida com um ativismo ou pragmatismo desvinculado da produção necessária de conhecimento, aprendizagem e conscientização. 2.1 Fase Exploratória a) Fase de identificação dos sujeitos/atores sociais ligados à situação do estudo interessados em compor as equipes de trabalho juntamente com os pesquisadores e pactuação de compromisso; b) Apresentação e discussão com possibilidade de ajuste a respeito dos objetivos e dos métodos da pesquisa e modalidade de participação dos atores sociais; c) Elaboração do quadro conceptual do estudo – embora não deva estar concluído nesta fase, consiste no levantamento bibliográfico dos principais conceitos e teorias que perpassam o tema em estudo, sobre os quais toda a equipe estará esclarecida. Como estratégia de gerenciamento do processo, institui-se um grupo permanente auxiliado por pesquisadores. Esse grupo, com representantes dos diversos setores, define os problemas a serem trabalhados, a partir dos dados coletados no universo da instituição, realiza os seminários, coordena as atividades dos diversos sub-grupos, reúne as informações, interpreta os resultados e busca as soluções, sempre considerando o Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 universo de participantes da realidade. 2.2 Fase de Investigação – Diagnóstica Adotar o método do diagnóstico, nessa concepção, perpassa o ideário de cidadania no que consiste assegurar o direito dos indivíduos de participar, de sugerir e de agir sobre a sua própria realidade. Também, inclui princípios filosóficos do Protagonismo no que implica no processo de empoderamento das pessoas para participar, valorizá-las em seu potencial e capacidade para proceder as mudanças necessárias ao seu bem estar e da coletividade, vislumbrando a construção e desenvolvimento do pensamento coletivo: o bem ou o mal-estar alheio deve afetar a cada um que compõe a realidade. Elencadas as informações, realiza-se a listagem de problemas, na primeira etapa, a seguir, procede-se à uma análise a respeito de cada problema identificado para definir a sua posição na ordem de prioridades, norteando a etapa de intervenção. “O diagnóstico aponta para a situação presente e, se possível, também para o que aconteceu no passado, representando um quadro de referências para o futuro” (PEREIRA, 2000, p. 68). Agora é o momento da fase de aprofundamento do problema, através de questionários anônimos, com perguntas fechadas e abertas, já ajustados à linguagem e à cultura dos respondentes. É o denominado questionário orgânico (ALDERFER; SMITH, 1982) e deve prever espaço para sugestões de enfrentamento do problema. Essa fase será efetivada a partir das seguintes atividades: 1) Construção do roteiro de entrevista qualitativa a ser aplicada em amostra intencional de 20 pessoas por escola/turno (THIOLLENT, 1997); 2) 3) 4) 5) 6) Treinamento da equipe de entrevistadores; Aplicação do roteiro de entrevista; Análise e interpretação das respostas; Relatório de análise das entrevistas. Retorno do relatório aos entrevistados. A principal técnica de investigação empregada nesse estudo é entrevista semiestruturada, individual e coletiva, que “combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador” (MINAYO, 1992, p. 108). Como técnica complementar de apreensão dos dados, utiliza-se o Grupo Focal, comumente empregada para a captação de informações sobre um determinado acontecimento vivenciado ou conhecido por um grupo de pessoas que discutem livremente sobre o assunto, guiado por um moderador (animador) e um observador Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 (registrador). Esta modalidade de pesquisa tem um compromisso com a formação de novos conhecimentos entre os envolvidos. Desse modo, realizam-se seminários sobre a temática da violência e sub-temas que o transversalizem e que sejam sinalizados no percurso do estudo. Para a otimização dos trabalhos e melhor gerenciamento, constituiu-se um grupo permanente composto por pesquisadores, diretores de escola e representantes das secretarias de educação, saúde e prevenção à violência, do município. Outros grupos auxiliaries, ainda são formados, a exemplo do grupo de estudos e grupo de pesquisa, os quais, subsidiam o envolvimento e a responsabilização dos diversos atores sociais. 2.3 A análise temática dos dados A Análise temática consiste em identificar a força ou frequência com que aparecem as unidades de significação ou núcleos de sentido ou temas ou ainda, afirmações sobre um determinado assunto em foco, expressos através de uma palavra, uma frase, um resumo, considerando-se as concepções teóricas relacionadas com o objeto de estudo. Pode ser operacionalizada em três etapas: 1. Pré-Análise: leitura flutuante; Constituição do Corpus; Hipóteses emergentes. 2. Exploração do Material: codificação; recorte do texto em unidades de registro; classificação e agregação dos dados em categorias. 3. Tratamento dos resultados obtidos e Interpretação (BARDIN, 1977). Procede-se a uma avaliação quantitativa com a construção de tabelas de distribuição das respostas, além de uma análise qualitativa. As respostas são avaliadas e interpretadas pelo conjunto dos pesquisadores a fim de conseguir o consenso a seu respeito. 2.4 Fase de Intervenção/Ação 1 - Divulgação dos resultados Além de informar, visa continuar o processo de sensibilização e mobilização para as mudanças necessárias. 2 - Implementação de ações Muitas sugestões irão sendo construídas ao longo do processo e serão apresentadas ao final, portanto, a imagem-objetivo visualizada neste estudo é a mudança Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 da realidade encontrada, iluminada pela proposta de construção do Território de Paz, do Ministério da Saúde, a partir das estratégias sugeridas pelos atores sociais envolvidos neste processo, o que só está sendo possível com a participação da comunidade e do poder público. 2.5 Fase de Avaliação De acordo com o método e os objetivos deste estudo, selecionam-se alguns indicadores que serão utilizados na avaliação, quais sejam: 1) capacidade de propostas; 2) continuidade do projeto participação; 3) qualidade do trabalho em equipe; 4) conhecimento, formação e informação; 5) comunicação 3 VIVENCIANDO A PESQUISA-AÇÃO A equipe do Projeto Violência nas Escolas (PROVESC), é composta por representantes das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Prevenção à Violência, Polícia Militar (1° BPM), profissionais voluntários, pesquisadores da UEFS/NIEVS, e alunos de diversos cursos da UEFS (Enfermagem, Biologia, Odontologia, Educação Física, Medicina, Pedagogia, Psicologia). 3.1 Experienciando o trabalho da Rede PROVESC nas escolas municipais de Feira de Santana Como representante da Secretaria Municipal de Educação com embasamento no diagnóstico já realizado até o momento, acredito que é cada vez mais urgente a necessidade de desmitificarmos que a temática da violência é algo que pode ser desprezada por ser uma “coisa desagradável” e “forte demais” para o universo da escola e consequentemente para as crianças, adolescentes e professores. Entretanto, a própria comunidade escolar está sofrendo por não trazer essa temática para o currículo escolar. Sobretudo porque a comunidade escolar é vítima da sua própria negligência e é urgente a inserção dos temas que estão associados ao fenômeno da violência nas salas de aula. Não se trata aqui de apenas inserir alguns temas transversais, mas fazer dos problemas da realidade da comunidade escolar o mote, para serem pensados, refletidos, estudados e enfrentados através de estratégias elaboradas coletivamente. Trazer essa temática para a sala de aula desde as séries iniciais é uma forma de trabalhar com um tema controverso e presente em nossas vidas, oportunizando Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 momentos de reflexão que auxiliarão na transformação social, oportunizando que as crianças e os adolescentes sejam protagonistas na elaboração, implantação e implementação de ações que subsidiem uma vida social pautada nos princípios da cidadania, no respeito mútuo e na coletividade. Este trabalho pode ser realizado com a utilização de recortes de jornais e revistas, pesquisas, filmes, músicas, desenhos animados, notícias televisivas, dentre outros, os professores podem levantar discussões acerca do tema numa possível forma de criar um ambiente de respeito ao próximo, considerando que todos os envolvidos no processo educativo devem participar e se engajar nessa ação, para que a mesma não se torne contraditória. E muito além das discussões e momentos de reflexão, os professores devem propor soluções e análises críticas acerca dos problemas a fim de que os alunos se percebam capacitados para agir como cidadãos. O protagonismo juvenil, a credibilidade e a confiança são as melhores formas de mostrar para crianças e jovens que é possível vencer os desafios e problemas que a vida apresenta. Acreditamos que o currículo escolar é um importante instrumento para o alcance de uma sociedade mais justa, igualitária, que contribua com a formação de sujeitos críticos e reflexivos de sua própria realidade. Nessa perspectiva citamos Giroux (1977, p. 163), quando nos chama a atenção para uma prática mais política: Essencial para a categoria de intelectual transformador é a necessidade de tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico. Tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização diretamente na esfera da política, argumentando-se que as escolas representam tanto um esforço para definir-se o significado quanto uma luta em torno das relações de poder [...] Tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de pedagogia que incorporem interesses políticos que tenham natureza emancipadora [...]. O currículo precisa ser atrativo, interessante e deve, além de respeitar as diferenças, dialogar com os anseios e as angústias das crianças e dos adolescentes. A escola deve organizar-se para o enfrentamento da exclusão, das desigualdades sociais, das relações de poder e das alienações que caracterizam o seu cotidiano, sem descuidar da compreensão dos sujeitos que a compõe. Os sujeitos inseridos nas comunidades escolares precisam agir politicamente, principalmente na reivindicação dos seus direitos junto ao poder público, e é claro, sendo cientes dos seus deveres, tendo em vista a garantia de uma escola que realmente Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 oportunize ambiente de dignidade, tanto em sua estrutura física, como em seu arboço pedagógico, garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes e que ofereça condições dignas para a prática docente. Diante do exposto, compreendemos que a metodologia adotada pela Rede PROVESC, tenciona não apenas conhecer toda essa complexidade, mas principalmente pensar e efetivar estratégias de prevenção e intervenção no enfrentamento à violência, que contribuam com o resgate da valorização do ser humano enquanto um ser de relações, considerando as suas especificidades, suas diferenças, suas limitações e suas qualidades. REFERÊNCIAS ALDERFER, C. P., SMITH, K. K.Studying intergroup relations embedded in organizations. Administrative Science Quaterly, n. 27, 1982. ARGYRIS, C. PUTNAM, R., SMITH, D. M. Action science. San Francisco: Jossey-Bass, 1985. BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. GIROUX, Henry. Os Professores como Intelectuais – Rumo a uma Pedagogia Crítica da Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1992. PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. THIOLLENT, Michel. Pesquisa-Ação nas organizações. São Paulo: Atlas, 1997. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ENSINO DE CULTURA: UM DESAFIO PARA O PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA Palloma Rios da Silva52 Reinaldo Ferreira Venas Filho53 RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo investigar o nível de conscientização crítica dos professores de inglês atuantes da cidade de Feira de Santana no que diz respeito a como ensinar a cultura estrangeira em suas aulas de língua inglesa. Foi realizado um estudo de caso descritivo-comparativo entre como a cultura é abordada em sala de aula de língua inglesa em escolas públicas e em instituições privadas da cidade. De acordo com a pragmática intercultural, língua e cultura caminham juntas, desta forma, adquirir uma nova língua implica em conhecer a cultura alheia, bem como entender a própria. Por outro lado, resumir o “ensino de cultura” a uma abordagem, de forma arbitrária, dos costumes e hábitos dos falantes nativos, como peças de vestuário, datas comemorativas, etc., supervalorizadora da cultura alheia sem que haja uma discussão que trata de aspectos diferentes entre a cultura materna e a cultura-alvo, isto pode criar a idéia de que os aspectos culturais alheios servem como modelos, principalmente, pelo fato do forte interesse e curiosidade do aluno em adquirir a língua e, conseqüentemente, aprender como melhor se comunicar entre os nativos. O problema se agrava ao tratar de língua inglesa. Os professores de inglês se vêem em meio a um turbilhão de informações. E, diante da impossibilidade de separar língua e cultura e da posição da língua inglesa como internacional, nos deparamos com o seguinte dilema: “Que cultura ensinar?”. Em seus estudos Kramsch (1996) aponta que há 03 relações entre cultura e ensino de línguas (cultura e língua, cultura na língua e língua como cultura) sendo que a terceira é considerada a mais eficaz, pois prevê um estudo comparativo entre a cultura materna e a estrangeira estudada. Foram entrevistados 15 professores, 07 atuantes em escolas públicas e 08 em instituições particulares. Quando questionados acerca de como a cultura era ensinada em suas aulas, apenas 01 de escola pública e 01 de escolas particulares responderam que a cultura deve ser trabalhada em sala de aula de forma crítica, comparando materna e alheia. A transmissão arbitrária de aspectos culturais em sala de aula influencia no desenvolvimento do senso crítico do aluno, dessa forma, esta pesquisa se direcionou ao professor, peça principal no processo de ensino/aprendizagem. Diante dos dados levantados, foi possível constatar que há muito que se fazer para que a cultura em sala seja trabalhada de forma a motivar os alunos a refletirem sobre o seu lugar no mundo. Palavras-chave: Ensino de língua inglesa, cultura, professor brasileiro de inglês. ABSTRACT: The current work had as the main objective to investigate the level of critical sense of the English teachers working in Feira de Santana, concerning about the ways of teaching cultural aspects in class. It was made a comparative/descriptive research in loco about how cultural aspects are discussed during English classes in public and private institutions as well. According to the intercultural pragmatic, language and culture walk side by side, therefore, acquiring a foreign language inflicts knowing the respective foreign culture as well as their own. On the other hand, to resume foreign cultural teachings to, simply and arbitrarily, show the native speaker’s behaviors, their clothing, celebrations, etc. The problem relies on the super exposure and appreciation of the foreign culture without the proper method of discussion about the differences of the two respective cultures in session. This mislead could compromise the learning and count the foreign culture as a model to be followed. One of the reasons for this to happen is the fact that the student might have an inclination to act as a native speaker to blend in the foreign society’s style. There stands, in the middle of the storm, the English teacher, surrounded by tons of information, so, facing the facts that English is an 52 Licenciatura em Letras com Língua Inglesa (Universidade Estadual de Feira de Santana) [email protected] 53 Licenciatura em Letras com Língua Inglesa (Universidade Estadual de Feira de Santana) [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 international language and the impossibility of dissociate language and culture, he wonders, “Which culture should I teach?”. Kramsch (1996) points for three relations between culture and language teaching (culture and language, culture as part of language and language as culture), in which implies the last as the more effective, because it foresees a comparative study about mother culture and the foreign ones. It was interviewed 15 English teachers, seven from public schools and eight from private institutions. When they were questioned about how the cultural aspects are discussed in class, only one of each side answered that the cultural aspects should be discussed in a critical way establishing comparisons of the mother and the foreign cultures. The arbitrary transmission of the foreign cultural values in class affects, directly, the student’s critical sense development, so, this research went towards the teacher, key of the teaching/learning process. Facing the collected data, it was concluded that there is still a lot more to do about the ways of cultural teaching in class, in a way that the student may think about his role in the world. Keywords: English language teaching, culture, Brazilian English teacher. INTRODUÇÃO As razões pelas quais os brasileiros se sentem motivados a aprender inglês são várias e dependem de cada um. Seja qual for a razão, ela é conseqüência da expansão do idioma desde que, devido à globalização, surgiu a necessidade de se ter uma língua que pudesse ser utilizada para a comunicação entre as nações. Segundo Crystal (2005), “uma língua se torna mundial por uma razão apenas — o poder das pessoas que a falam”, e com a ascensão dos Estados Unidos da América após a I Guerra, o inglês hoje é o idioma mais falado por pessoas não-nativas de culturas diferentes no mundo numa proporção de 3 para 1, segundo informações retiradas da edição de 5 de março de 2005 da revista Newsweek, e, por esse motivo, já recebe o status de língua franca global. Em meio ao crescente interesse em aprender o idioma e a expansão do inglês pelo mundo está o professor está brasileiro de inglês. Consoante Siqueira (2005) há uma tendência atual de “homogeneização cultural” patrocinada por países como os Estados Unidos. O autor afirma que “o professor de inglês tem o privilégio de se encontrar, literalmente, no olho do furacão. O que ele faz dessa condição é o seu grande desafio, o seu dilema” (SIQUEIRA, 2005). É nele que reside grande parte da responsabilidade de transmitir e mediar a aquisição desta nova língua. E, diante da impossibilidade de separar língua e cultura e da posição da língua inglesa como internacional, nos deparamos com o seguinte dilema: “Como ensinar cultura?”. Além do fato de ter o cuidado de não supervalorizar a cultura alheia e de não saber que cultura abordar em suas aulas, os professores brasileiros de inglês se deparam com a exigência em cumprir o conteúdo programático voltado ao léxico e a gramática da língua. Por estes fatores, o trabalho do professor de inglês pode se tornar mecanizado e as aulas se resumirem a explicações sobre regras gramaticais ou a mera imitação de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 como os nativos falam e/ou se comportam, geralmente dando ênfase às culturas estadunidense e britânica, “adotando a postura tradicional que se preocupa somente em transmitir informações culturais estanques” (BROCK & REIS, 2010, p. 74). Quando a difusão de outra cultura é feita de forma arbitrária e inconsciente, sem que o tema seja transmitido de forma a fazer o aluno refletir sobre o seu lugar no mundo e entender o lugar do outro, a preocupação com o ensino de cultura se faz necessária. É preciso que se faça uma análise de como a cultura está sendo abordada em salas de aula, tanto de escolas públicas como em cursos de idiomas, bem como verificar se os professores de língua inglesa estão criticamente conscientes deste fenômeno. Sendo assim, tendo em vista a difusão da cultura estadunidense no Brasil, bem como as diferenças entre o ensino de inglês nas escolas públicas e nos cursos de idiomas, o objetivo do presente trabalho foi investigar e comparar a consciência cultural crítica dos professores inglês da cidade de Feira de Santana54. DEFINIÇÃO DE CULTURA O conceito de cultura sofreu modificações de acordo com a época e a área de conhecimento. No âmbito da lingüística aplicada, pode-se destacar a autora Claire Kramsch que em seu trabalho intitulado The cultural component of language teaching definiu cultura sob dois aspectos: A primeira definição, sob a ótica das ciências humanas, está relacionada com “a maneira como um grupo social representa a si e outros grupos através dos materiais de produção, sejam as obras de arte, literatura, instituições sociais, ou artefatos da vida cotidiana e os mecanismos para reprodução e preservação destes no decorrer da história. A segunda definição, do ponto de vista das ciências sociais, refere-se às atitudes e crenças, modos de pensar, agir e compartilhados por membros de “grupos de conhecimento” (NOSTRAND, 1989, p. 51) 55 (KRAMSCH, 1996, p. 02). A junção dessas duas definições, segundo Reis e Brock (2010) torna o conceito de cultura mais completo, a dissociação deles abre lacunas que dificultam o entendimento de cultura como um todo. De acordo com as autoras, a cultura é assimilada pelos indivíduos de geração em geração e reformulada no decorrer da história. É de fundamental 54 O presente trabalho é fruto da pesquisa realizada no período de conclusão do curso de Licenciatura em Letras com Inglês pela Universidade Estadual de Feira de Santana. 55 Tradução nossa. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 importância o entendimento da própria cultura, pois, permite ao indivíduo a assimilação da cultura do outro (REIS E BROCK, 2010, p. 75 – 76). INTERCULTURALISMO E MULTICULTURALISMO A partir do instante em que nos sujeitamos a aprender e nos abrir a “outro mundo”, é possível perceber as diferenças e começar a lidar com elas. A aquisição de uma língua estrangeira implica no entendimento da cultura do outro. Tal processo, quando feito de forma consciente em sala de aula, faz o aprendiz perceber as diferenças entre os povos, de maneira que é possível, não só se comunicar com os outros através da língua, como também, a ter contato com o estrangeiro, compreender e aceitar as diferenças. No que diz respeito a entender as diferenças entre os povos, podemos destacar o multiculturalismo e o interculturalismo. O termo multiculturalismo, segundo Fernandez (1999, p. 84) “refere-se à coexistência enriquecedora de diversos pontos de vista, interpretações, visões, atitudes, provenientes de diferentes bagagens culturais”. Adotando um posicionamento intelectual aberto e flexível, baseado no respeito às diversidades e na rejeição de todo preconceito, o multiculturalismo incentiva o indivíduo a transcender os horizontes de sua formacão cultural, permitindo que ele veja, sinta e interprete por meio de outras apreciações culturais (REIS E BROCK, 2010, p. 78). Quando se trata da comunicação entre povos de diferentes culturas, quando há troca de experiências, ocorre a interculturalidade. Ao ter a noção da multiculturalidade existente no mundo, indivíduo, através da interculturalidade, pode obter uma maior conectividade sócio-cultural entre os integrantes, propondo assim, uma interação mais consciente necessária para a possível erradicação de preconceitos e estereótipos aliando pontos favoráveis entre culturas e quebrando as barreiras do individualismo, tornando o ser humano como parte de um todo. ENSINO DE LÍNGUAS E CULTURA Sabe-se que no processo de ensino/aprendizagem de línguas não maternas há que se explorar a cultura do outro, embora tal processo ocorra, muitas vezes, através de métodos tradicionais, como herança do “modelo estruturalista” (REIS & BROCK, 2010, p. 76) que focam apenas aquisição de signos lingüísticos e a gramática da língua estrangeira alvo. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Classificar a língua como relato da cultura não é suficiente para entender o processo de simbiose cultural e a relevância de tal relação no processo de ensino/aprendizagem. Kramsch (1996 apud REIS & BROCK, 2010, p. 76) aponta três possíveis relações entre língua e cultura: Cultura e língua Cultura na língua Língua como cultura Entende que os aspectos culturais devem ser ensinados paralelamente ao ensino de estruturas e vocabulário na língua estrangeira, sem haver reflexão; Pressupõe o ensino de aspectos culturais como produtos (literatura, artes, etc), ideias (crenças, valores, etc) e comportamentos (costumes, hábitos, vestimentas, etc) simultaneamente ao trabalho com a aquisição da língua, sem que haja nenhum tipo de reflexão durante esse trabalho; Prevê a reflexão/comparação durante o trabalho com o sistema formal sobre os aspectos culturais de outros países e sua relação com a cultura nacional. Tabela 1: Relações entre língua e cultura Kramsch (1996 apud REIS & BROCK, 2010, p. 76) Dentre as três relações acima apresentadas podemos afirmar que a que mais contempla um ensino eficaz de língua estrangeira é a terceira, pois a importância de se ensinar cultura no processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira se deve ao fato de que, ao adentrar no universo alheio, podemos entendê-lo e refletir sobre a nossa própria cultura estimulando o aluno a assegurar a sua identidade nacional - já que é também falante da sua própria língua - ao mesmo tempo em que se apropria de capacidades suficientes para a construção negociada de sentidos com outros falantes de inglês (TERRA, 2008, p. 01-02). Adentrar na cultura do outro não significa anular a nossa, mas somar e aceitar as influências culturais que sofremos na formação da nossa identidade. “Assim é necessário crer que essa realidade cultural é tão heterogênea e heteroglóssica quanto à língua em si” (MAXWELL, 2002, p.22). O INGLÊS NO BRASIL No Brasil, a diretriz educacional e o cenário político propiciaram a difusão e promoção da língua e cultura norte-americana na maioria das escolas nacionais. A disciplina língua inglesa está presente nas escolas desde 1838, quando tornouse parte do currículo obrigatório do ensino secundário do Colégio Pedro II, mesmo que nesse período houvesse uma predominância dos referenciais franceses nessa Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 escola, que serviu de modelo para as outras instituições brasileiras. (...) As mudanças mais expressivas vieram com a Lei 5692/71 onde foi explicitada a nova direção para as finalidades do ensino de línguas estrangeiras que, ao se articularem com os novos objetivos da educação e interesses da sociedade, tornaram o inglês o idioma ensinado nas disciplinas de língua estrangeira na maioria das escolas brasileiras (RAHE, 2011, p.3249). Santos (2007) toma como ponto de partida para a difusão do inglês no Brasil a fundação do Instituto Brasil - Estados Unidos (IBEU), em 1937 no Rio de Janeiro, mas, segundo o autor, a promoção do idioma no Brasil não se resume a instituições binacionais como o IBEU. Durante a Segunda Guerra e a Guerra Fria foram financiados intercâmbios de jovens aos Estados Unidos, estadias para professores no Brasil e curso para professores brasileiros; foram doados material didático, material de escritório e equipamentos para as aulas; e foram investidos recursos em melhorias infraestrutura das instituições de educação (SANTOS, 2007, p.14). Com todo o investimento em aprimorar a infra-estrutura das instituições de ensino paralelo, em meados dos anos 70 houve um verdadeiro boom destas instituições de ensino. Nesta época, o Brasil se encontrava no ápice da ditadura militar o que favorecia uma troca mais rápida e mais eficiente de informações por muitas vezes confidenciais entre os dois países em questão, para isso, surgia a necessidade de formar pessoas capacitadas para tal. Tais motivos, bem como a Lei de 1971 supracitada contribuíram para a firmação definitiva dessas instituições. Após a criação da LDB de 1971, a carga horária de língua estrangeira nas escolas públicas diminuiu consideravelmente, “agravada ainda por um parecer posterior do Conselho Federal de que a língua estrangeira seria ‘dada por acréscimo’” (LEFFA, 1999, p.14). Algumas escolas, segundo o autor, eliminaram o ensino de língua estrangeira do ensino fundamental e, no ensino médio, ofereciam apenas 1 hora de aula por semana. A partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de, pelo menos uma língua estrangeira, tornou-se obrigatório a parte do II Ciclo, mais precisamente a partir do 6º ano (nomenclatura atual). O inglês é utilizado como língua estrangeira moderna obrigatória nas escolas com “ênfase no desenvolvimento da leitura, justificada, segundo seus autores, pelas necessidades do aluno e as condições de aprendizagem” (LEFFA, 1999, p.16). Esta ênfase na aprendizagem da leitura deslocou o ensino de língua estrangeira para os cursos de idiomas, fato este que, segundo Leffa (1999) não será recuperado Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 pelas escolas públicas, por restringir o trabalho do professor, enquanto que o ensino de inglês é investido em cursos de idiomas e essas instituições se espalham por todo país. O ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras se torna defasado e de pouca credibilidade para os alunos. Nos cursos de idiomas, a estrutura é mais bem planejada para que o aluno tenha acesso à língua de forma mais prazerosa e eficaz. Os professores são bem remunerados, as salas são compostas por uma quantidade menor de alunos, o que facilita o aprendizado, enquanto que na escola pública, consoante Assis-Petterson e Cox, “falta tudo” a escola é o “lugar onde os alunos não aprendem”, “nela, o ensino de inglês é uma história de faz-de-conta, encenada por professores invisíveis” (ASSIS-PETTERSON & COX, 2005, p. 10). Criou-se a idéia de que só se aprende a falar inglês em institutos de idiomas. METODOLOGIA Esta pesquisa foi realizada com o intuito de investigar a consciência crítica dos professores de inglês com relação à maneira como a cultura é trabalhada em sala de aula. Foram realizadas entrevistas com os professores participantes, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário pré-produzido composto de doze questões objetivas e três discursivas. Através do método dedutivo, os professores foram questionados, além da faixa etária, acerca da utilização de materiais didáticos e autênticos (materiais como filmes, textos, músicas oriundos de países falantes da língua estrangeira alvo) como também sobre como a cultura estrangeira é trabalhada em sala de aula, para que o estudo descritivo-comparativo entre os professores de escolas públicas e instituições particulares pudesse ser realizado. ANÁLISE DE DADOS Após a análise dos dados coletados é possível fazer alguns levantamentos e inferências. Dos 15 professores participantes 07 atuam em escolas públicas e 08 em instituições privadas. A faixa etária é entre 19 e 49 anos, sendo que 08 deles estão acima dos 30 anos. No que diz respeito ao nível de graduação, 13 possuem superior completo e dos 02 restantes, 01 possui superior incompleto e o outro é pós-graduado. Em relação ao tempo de exercício da profissão, 04 possuem entre menos de 01 e até 04 anos de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 experiência, e 11 possuem mais de 04 anos de exercício, sendo que destes a maioria (07) já possuem 10 anos ou mais. Podemos apontar, portanto, que a maioria dos participantes já possui experiência no ensino de língua inglesa. Os professores foram também questionados acerca da utilização do material didático e de materiais autênticos após o levantamento dos dados obtivemos os seguintes resultados: Em todas Na as aulas maioria Em algumas Não das aulas aulas utiliza Professores atuantes em - 28,6% 57,0% 14,4% - 62,5 % 37,5 % - escolas públicas Professores atuantes em instituições particulares Tabela 02: Utilização do material didático No que tange a utilização de materiais autênticos, as respostas obtidas constam na tabela a seguir: Em todas Na as aulas maioria Em algumas Não das aulas aulas utiliza Professores atuantes em - 28,6% 71,4% - - 12,5% 87,5% - escolas públicas Professores atuantes em instituições particulares Tabela 03: Utilização de materiais autênticos Podemos inferir, com o levantamento desses dados, que a utilização dos materiais didáticos pela grande maioria dos professores de instituições particulares somada a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 freqüência menor de utilização de materiais autênticos colaboram com a mecanização do trabalho destes profissionais e que a abordagem da cultura em sala de aula pode se limitar ao que está inserido no livro. Quanto aos professores de escolas públicas, a não utilização do material didático se deve ao fato de as escolas não disporem desse material. A utilização de materiais autênticos é conseqüência, justamente, dessa falta do material didático que faz com que os professores elaborem o material a ser utilizado em sala de aula por conta própria. Quando questionados sobre a origem dos materiais autênticos, a grande maioria (69%) dos professores respondeu que os materiais eram originados dos Estados Unidos e Inglaterra, dois participantes responderam que não sabiam qual a origem desses materiais. Podemos inferir, que, embora muitos admitam utilizar materiais autênticos em sala, músicas, filmes (mais citados), mal sabem a origem e, quando sabem, refletem a difusão da cultura norte-americana no país através da língua. No âmbito subjetivo, os professores foram questionados acerca da importância da língua inglesa no mundo. A maioria dos professores falou sobre a relevância do idioma no mundo globalizado, relatando acerca do alcance da nossa voz quando temos a habilidade de comunicação na língua inglesa, utilizando expressões como “portas abertas” e “língua de prestígio”, bem como sobre a importância do idioma para os negócios no mundo atual globalizado. Os participantes também foram questionados sobre a relevância do ensino de cultura e como esta é trabalhada em sala de aula e apenas 01 professor de escola pública e 01 de instituições particulares responderam que a cultura deve ser trabalhada em sala de aula de forma crítica comparando a cultura estrangeira com a materna, dessa forma, entendem que língua como cultura (vide Tabela 01) é a relação existente entre elas. O que nos mostra que os professores entrevistados ainda não possuem essa noção ao ainda não pesquisaram a respeito do assunto, podemos inferir que tal fato pode ser fruto da mecanização do trabalho desses profissionais. CONCLUSÃO Apesar das dificuldades apresentadas pelos professores de escolas públicas, podemos concluir que a falta de consciência crítica acerca de como ensinar cultura em sala de aula não é um problema apenas dessa categoria de professores. Mesmo sendo os entrevistados professores com tempo de experiência considerável e elevado nível de graduação, poucos se mostraram criticamente conscientes sobre o tema pesquisado. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Como afirma Siqueira (2005), a mecanização do trabalho do professor, através do uso, quase que obrigatório, do material didático torna-os profissionais acríticos, independente de estes serem de escolas públicas ou de instituições particulares. Diante dos dados levantados, foi possível constatar que há muito que se fazer para que a cultura em sala seja trabalhada de forma a motivar os alunos a refletirem sobre o seu lugar no mundo. REFERÊNCIAS ASSIS-PETERSON, Ana Antônia de; COX, Maria Inês Pagliarini, Inglês em tempos de globalização: para além de bem e mal. In: Calidoscópio Vol. 5, n. 1, p. 5-14, jan/abr 2007. Disponível em: http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/pdfs_calidoscopio/vol5n1/art 01_ana_ines.pdf Acesso em dezembro de 2011. BROCK, Maria Paula Seibel; REIS, Kelly Cristina, A inter-relação cultura e língua para professores de língua inglesa. In: Perspectiva. Vol. 34, 2010. Disponível em: http://www.uricer.edu.br/new/site/pdfs/perspectiva/128_139.pdf Acesso em Janeiro de 2012. CRYSTAL, David, A revolução da linguagem. Jorge Zahar Ed., 2005. KRAMSCH, Claire, A inter-relação cultura e língua para professores de língua inglesa. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 1996. LEFFA, Vilson Jose, O ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional. Contexturas, São Paulo, v. 4, n. 4, p. 13-24, 1999. MAXWELL, Leila Janice Mendes, Como está a questão da cultura no ensino de língua estrangeira (inglês) frente aos parâmetros curriculares nacionais? – Uberlândia, 2002. RAHE, Marta Banducci. O “sotaque norte-americano” na sala de aula de língua inglesa: o que pensam quatro professores de uma escola pública em Campo Grande-MS. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Disponível em: http://www.abralin.org/abralin11_cdrom/artigos/Marta_Rahe.PDF Acesso em agosto de 2011. SANTOS, Sandro Martins de Almeida. O papel dos Estados Unidos na difusão do inglês no Brasil (1937 – 2006). Universidade Federal Fluminense. 2007. Disponível em: http://www.usembassyprograms.org.br/bdfdr/bitstream/123456789/42/1/Dissertacao_Sand roAlmeidaSantos.pdf Acesso em dezembro de 2011. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 SIQUEIRA, Sávio. O desenvolvimento da consciência cultural crítica como forma de combate à suposta alienação do professor brasileiro de inglês. In: Revista Inventário. 4. ed., jul/2005. Disponível em: http://www.inventario.ufba.br/04/04ssiqueira.htm. Acesso em dezembro de 2011. TERRA, Márcia Regina, O papel de letramentos em L1 nas práticas de letramento em L2: analisando as interações em eventos de transletramento na aula de inglês. In: 4º Seminário de Pesquisas em Lingüística Aplicada (SePLA), 2008, Taubaté-SP. 4º SePLA A Lingüística Aplicada na Contemporaneidae, 2008. p. 1-12. Sites http://www.thedailybeast.com/newsweek/2005/03/07/not-the-queen-s-english.html Acesso em dezembro de 2011. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Atendimento Educacional Especializado na inclusão de alunos com deficiência intelectual: desafios e possibilidades Rosemeire da Silva Oliveira56 RESUMO: As discussões acerca da educação especial são frutos de muitas inquietações, leituras e debates teóricos sobre a inclusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Considerando a importância desta temática, a pesquisa apresentada neste texto buscou investigar e analisar a inclusão de um aluno com deficiência intelectual na rede regular de ensino do município de Feira de Santana. O aluno observado frequentava o Atendimento Educacional Especializado (AEE), e, portanto, consideramos necessário analisar seus avanços e dificuldades, assim como, a relação entre as professoras que atuam no AEE e na sala de aula comum. Utilizamos como metodologia o estudo de caso, através de observações in loco e de realização de entrevistas com as professoras e familiares do estudante. Com base nestes instrumentos, o caso foi analisado e posteriormente foi construído um plano de AEE, com vistas a contribuir para a aprendizagem e autonomia de alunos acompanhados em Sala de Recursos Multifuncionais. As observações feitas, tanto do comportamento, como as dificuldades da área de linguagem (leitura e escrita) e na área matemática (concentração e conservação), subsidiaram a construção de atividades relacionadas com raciocínio lógico, bem como com as outras áreas. Como resultados da pesquisa, acreditamos que as atividades problematizadas deverão ser desenvolvidas pelos professores de AEE e sala de aula comum. Ademais, cremos que a inclusão é possível, desde que no âmbito das políticas públicas tomemos uma atitude de respeito à diversidade e acreditemos no potencial desses sujeitos. Palavras-chave: Conselho Escolar. Política Pública. Currículo. Introdução O desafio de incluir alunos com deficiência em classes comuns de ensino, tem sido tema bastante discutido na atualidade. Tal desafio, atrelado a recorrência da discussão no âmbito acadêmico brasileiro, impulsionaram a realização da pesquisa relatada no presente texto. Sabemos que as proposições advindas desta inclusão invadem o currículo escolar com todas as suas nuances, o que nos possibilita repensar a prática pedagógica de diferentes professores e assim criarmos estratégias e possibilidades para favorecer as condições de acesso a aprendizagem de diferentes estudantes. No trato da temática elencada apresentaremos inicialmente os Marcos históricos e legais na inclusão de alunos com deficiência intelectual. Nessa seção discutiremos a importância da temática, bem como os subsídios legais capazes de nortear a prática docente em atendimento às necessidades de estudantes com deficiência. Em seguida, falaremos sobre O AEE para o aluno com deficiência intelectual na Sala de Recursos Multifuncionais: o desafio de pensar o currículo aberto às diferenças. 56 Pedagoga pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista em Educação Especial (UEFS) e em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Coordenadora Pedagógica da Divisão de Ensino Especial da Secretaria de Educação do Município de Feira de Santana – BA. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Com o texto esperamos inserir as discussões sobre inclusão de alunos com deficiência intelectual no campo curricular e assim favorecer esse sempre importante debate. Marcos históricos e legais na inclusão de alunos com deficiência intelectual Ao longo da história do Brasil, a organização do atendimento escolar para o deficiente intelectual, foi sempre pautada no atendimento clínico, com a ocorrência de poucas ofertas de atendimento para as pessoas com deficiência intelectual na educação. Esse fato era decorrente do modo como a deficiência mental era definida. Para Jannuzzi (1992), tanto na prática como nos discursos dos profissionais da área, as expectativas sociais de cada época eram restritas não só mostrando a preocupação de tornar possível a vida das pessoas com deficiência dentro das comunidades, como patenteando a segregação imposta a elas. Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIFIS), desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Uma deficiência mental é uma variação importante no desenvolvimento intelectual. Ela pode originar certas limitações em diversas capacidades da pessoa. Os fatores ambientais, no entanto, podem afectar o grau do desempenho individual em diferentes domínios da vida (Pimentel, apud CIFIS/OMS, 2003 p.195). Desta forma ressalta que o conceito e a caracterização da pessoa com deficiência intelectual pode ser alterado pelos fatores ambientais ou pelas atividades que será desenvolvida para estes indivíduos. Para tanto, o conceito de deficiência intelectual implica “[...] habilidades adaptativas, considerando-as como ajustamento entre as capacidades dos indivíduos e as estruturas e expectativas do meio em que vivem, aprendem, trabalham e se aprazem.” (MANTOAN, 1998, p.01). Seguindo a trajetória de luta pela inclusão de pessoas que historicamente tiveram os seus direitos negados ou negligenciados, destacamos a importância dos mecanismos legais na garantia dos direitos de todas as pessoas. A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), documento elaborado em 1994, resultante da Conferência Mundial de Educação Especial realizada em SalamancaEspanha, passou a ser um marco na área de educação especial, concebendo o princípio da “normalização” como a garantia de que cada pessoa é única, porém, dotada de direitos que são comuns a toda uma sociedade. Assim a perspectiva inclusiva recebeu, a partir dessa visão, uma conotação diferente, onde o acesso e a permanência desses alunos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 fossem de fato garantidos. Segundo Carvalho (1997. p. 58), “a Declaração de Salamanca é, também, um reflexo das ideias de que a escola deve levar à emancipação do ser humano”. Como o Brasil foi signatário deste documento, as discussões sobre inclusão precisaram ser amparadas pela base legal da educação no país. Deste modo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996, p.180) a educação especial passa a ser vista como “modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos que apresentem necessidades especiais”. Esta lei afirma, de maneira mais enfática, o direito à educação pública e gratuita de pessoas com necessidades especiais (CARVALHO, 1997). Sendo assim, se fez necessário mudanças significativas nos ambientes escolares, para que as escolas incluíssem todos os alunos, principalmente aqueles com deficiência. Outro documento importante e atual é a Política Nacional de Educação na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que preconizou como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: 1. transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; 2. Atendimento Educacional Especializado (AEE); 3. formação de professores para o AEE e demais profissionais da educação para inclusão escolar; 4. participação das famílias e da comunidade; 5. acessibilidade nos espaços escolares e urbanísticos e 6. implementação das políticas públicas. Dessa forma, a educação inclusiva preconizada na resolução CNE/CEB nº13 2009 (BRASIL, 2009) embasa uma nova concepção de educação especial centrada na mudança das práticas educacionais e sociais para a garantia do direito pleno acesso e participação das pessoas com deficiência nos espaços comuns de aprendizagem. Neste sentido, para que a inclusão aconteça nesses espaços é preciso que os professores e profissionais da educação tenham atitudes inclusivas e de responsabilidade com seus alunos. Entretanto, neste contexto de inclusão, abordar a temática do Déficit Intelectual no espaço da sala de aula regular tem sido um desafio constante. Embora a inclusão de alunos com deficiência seja preconizada pela citada Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que, em seu artigo 205, “elege como um dos princípios para o ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 escola”, o grande desafio hoje é conseguir efetivar a permanência desses alunos em sala e principalmente dos alunos com deficiência intelectual. As barreiras da pessoa com Déficit Intelectual diferem muito das barreiras encontradas nas demais deficiências, essas barreiras abrangem a forma como a escola tem lidado com o saber em geral, o que reflete na construção do saber escolar. Deste modo, a inclusão de pessoas com deficiência intelectual exige da escola mudanças profundas que envolvem uma transformação na estrutura pedagógica e na maneira de pensar dos educadores. Isto exige uma formação que possibilite o acesso ao conhecimento dos aspectos da construção sócio-histórica da pessoa com deficiência intelectual, de modo que os profissionais da educação possam compreender, e até ampliar, a maneira de conceber esta deficiência e de definir suas práticas curriculares. É urgente compreender que as pessoas com deficiência intelectual possuem um processo de conhecimento muito subjetivo, que influencia na compreensão do conteúdo abordado em sala de aula. No Atendimento Educacional Especializado (2007, p.23) o docente deve permitir que o aluno com deficiência intelectual saia de uma posição de “não saber”, ou de “recusa de saber” para se apropriar de um saber que lhe é próprio, ou melhor, que ele tem consciência de que o construiu. As atividades realizadas com os alunos com deficiência intelectual devem provocar nesses situações desafiadoras, motivacionais e de atenção, despertando nele o interesse e ao mesmo tempo respeitando seus limites e o tempo de raciocínio. Nesse texto consideramos nossas inquietações pessoais, em especial da busca de respostas aos desafios enfrentados no dia a dia de sala de aula com alunos com deficiência intelectual, visto que os professores não os aceitam ou muitas vezes os deixam a margem na sala de aula. Ao longo da pesquisa fizemos o acompanhamento de um aluno com deficiência intelectual na sala de aula e no atendimento educacional especializado, tivemos a oportunidade de participar de uma experiência muito gratificante, pois, pudemos observar a dinâmica dos atendimentos, bem como a sua participação em sala de aula, a socialização entre os colegas e as professoras, o desempenho nas atividades de escrita, leitura, brincadeira, jogos, trabalho de artes – pintura, desenho e colagem. Podemos afirmar que as atividades no curso de AEE têm proporcionado vivência de sala de aula e nos atendimentos em salas de recursos multifuncionais a todos os profissionais da educação, para que consigam incluir e manter a permanência dos alunos com deficiência nas salas de aulas. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Por acreditamos na eficácia da proposta educacional inclusiva, intentamos discutir a importância do AEE para o aluno com deficiência intelectual e possivelmente pensar em mudanças nas práticas curriculares e na forma de lidar com as diferenças no espaço escolar. O AEE para o aluno com deficiência intelectual na Sala de Recursos Multifuncionais: o desafio de pensar o currículo aberto às diferenças De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) as Salas de Recursos Multifuncionais se configuram como espaços de Atendimento Educacional Especializado, nas escolas públicas de educação básica. Elas são constituídas de mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade, equipamentos específicos e de informática. Nesses espaços acontecem o Atendimento Educacional Especializado – AEE, que funciona como atendimento especial que “[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades especificas.” (RAPOLI apud SEESP/MEC, 2008 p. 17). Assim a educação inclusiva vem quebrar as barreiras da segregação, possibilitando que o aluno com deficiência possa ter o direito de estudar na escola regular, tendo acesso ao atendimento educacional de acordo com as suas necessidades. As salas de recursos multifuncionais atendem aos alunos no contra turno ao seu horário de estudo, podendo esse aluno estar matriculado na mesma escola ou em escolas do entorno. Nesses atendimentos se utiliza recursos de comunicação aumentativa e alternativa, além de jogos pedagógicos, software, uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Braille e outros equipamentos e recursos didáticos – pedagógicos e específicos a cada área da deficiência. Essas salas atendem os alunos público alvo da educação especial, conforme Decreto N. 6. 571/2008. Alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades/superdotação. A matrícula desses alunos do AEE está atrelada a sua matrícula na rede regular de ensino. As atribuições do professor de AEE são oferecidas com atendimento que é complementar e suplementar na formação do aluno com conhecimento e recursos específicos de cada deficiência. Por considerar a importância do AEE, é relevante destacar a necessidade do investimento na formação do profissional que atua na sala de recursos. Nesse sentido, há que se destacar a parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e Universidades de todo Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 o Brasil. Os cursos oferecidos, em especial os que se referem ao AEE, alcançam notável importância no cenário educacional brasileiro, já que conseguem atingir considerável número de professores que em suas práticas são desafiados a acompanhar alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação e assim oferecer apoio aos professores de sala comum. Acreditamos que a natureza dos recursos oferecidos pelo AEE descritos nessa seção, possui papel relevante ao pensarmos no currículo aberto às diferenças, afinal as práticas desenvolvidas nas escolas não são inocentes ou despretensiosas. Nesse estudo entendemos que “o próprio corpo do conhecimento escolar – o que se inclui e o que se exclui, o que é importante e o que não é – também serve a um propósito ideológico” (APPLE, 2006, p. 96). Dessa forma, há que se (re) pensar as práticas curriculares desenvolvidas em diferentes escolas, pois é preciso entender a diferença não como elemento estigmatizador de diferentes alunos, mas como possibilitador de significativas aprendizagens. Considerações Finais Como vimos no decorrer deste trabalho a inclusão de alunos com deficiência intelectual, é viável desde que a escola e os profissionais que atuam na educação possam enfrentar os desafios. Também faz-se importante considerar que suas demandas sejam atendidas. Assim, em caráter conclusivo, é preciso destacar alguns pontos fundamentados e apresentados no estudo. Entre os aspectos a serem elencados para a inclusão dos alunos com deficiência intelectual, ressaltamos a formação continuada de professores. Segundo Pimenta e Lima (2010,p.36) “A formação do professor, por sua vez, se dará pela observação e tentativa de reprodução dessa prática modelar: como um aprendiz que aprende o saber acumulado.” Com base na afirmação destas autoras, concordamos que a formação de professor deve ser contínua mas, atrelada a condições de trabalho e material didático pedagógico, favorecendo no aluno o desenvolvimento intelectual e autonomia. De acordo com Ferreira (2006, p. 80) “No fazer pedagógico, professor e aluno produzem-se intelectualmente. O essencial na ação pedagógica é a própria relação que irá se estabelecer entre ambos e que pressupõe a construção de uma autonomia própria.” Os professores que atuam com os alunos com deficiência intelectual aprendem e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ensinam, pois, nessa relação de aprendizagem todos conseguem partilhar de alguma forma o conhecimento. Com o estudo reafirmamos que as potencialidades de alunos com deficiência necessitam ser trabalhadas, dando-lhes possibilidades de acesso e permanência em classes comuns de ensino, tal como argumentamos no cerne do debate educacional inclusivo. Endossamos a importância do estudo e assim esperamos contribuir a reflexão de diferentes professores e ressignificação de práticas curriculares que se pretendem inclusivas. Referências APPLE, Michael W. Ideologia e Currículo. Trad. Vinícius Figueira. – 3 ed. – Porto Alegre: Artmed, 2006. BATISTA, Cristina A. Mota; MANTOAN, Maria Teresa Egler. Educação inclusiva : atendimento educacional especializado para a deficiência mental. Brasília: MEC, SEESP, 2006. Disponível:portal.mec.gov.br/seesp/arquivo/txt/defmental.txt. Acesso em: 18 de setembro de 2011. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. ________. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. ________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: 2008. ________. Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 013/2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> Acesso em 30 de outubro de 2010. CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: WMA, 1997. CASTRO, Antonilma Santos Almeida. O atendimento educacional para a pessoa com deficiência mental na perspectiva da educação inclusiva: visão do contexto brasileiro. In: Organizadores. SANTOS, Marilda C.; Gonçalves, Isa Maria C.; RIBEIRO, Solange Lucas. Educação inclusiva em foco. Feira de Santana. Ed. Universidade Estadual de Feira de Santana, 2006. FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). Formação Continuada e Gestão da Educação. São Paulo: Cortez, 2006. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. JANNUZZI, G. de M. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. Campinas/SP: Editores Associados, 1992. LÜDKE, Menga, ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Educação Escolar de deficientes mentais: problemas para a pesquisa e o desenvolvimento. Caderno CEDES.1998, vol.19. MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: Historias e políticas públicas- 2ª Ed. – São Paulo: Cortez, 1999. ORGANIZAÇAO MUNDIAL DE SAÚDE. Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 2003. Classificação Internacional de PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2010. PIMENTEL, Susana Couto. O currículo para a pessoa com deficiência mental na escola regular. In: CD de Anais do Seminário Encontros com a Inclusão: “Currículo e práticas pedagógicas numa educação para todos”. Valença - BA, 2009. RAPOLI, Edilene Aparecida. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Universidade Federal do Ceará, 2010. SANTANA, Ana Lucia. Inclusão de alunos com deficiência em escolas normais. 2009, Disponível em: http://www.infoescola.com/psicologia/deficiencia-mental/. Acesso em: 11 de setembro de 2011. SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: LDB Trajetória, limites e perspectivas – 9ª Edição – Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2004. (Coleção educação contemporânea). UNESCO. Declaração de Salamanca e linha da ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: Coordenadoria Nacional do Ministério da Justiça para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Salas de recursos multifuncionais e redes de apoio: parcerias necessárias a favor da inclusão escolar Sayonara Freitas de C. Moreira57 RESUMO: Ao longo da história grupos organizados vêm lutando para que haja uma modificação na sociedade de modo que contemple à diversidade humana. Nesse contexto, encontram-se os movimentos das pessoas com deficiências que deram origem a vários documentos importantes e necessários para regulamentar algumas ações em prol da garantia de direitos assegurados legalmente. Essas ações começaram a gerar mudanças maiores em vários países fazendo surgir programas relacionados à educação, à saúde e ao transporte que favorecessem a acessibilidade dessas pessoas, independente de ter deficiência ou não, a fim de contribuir com a inclusão social. No caso do Brasil, a Sala de Recursos Multifuncionais é mais um investimento dentro dessa proposta de inclusão, constituindo-se em um espaço que oferece Atendimento Educacional Especializado (AEE) a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, a fim de diminuir as barreiras encontradas por eles e contribuir com a inclusão na escola comum. Na oferta desse serviço o estabelecimento de parcerias é fundamental, uma vez que, esse serviço não se concretiza de forma isolada, mas com uma equipe multidisciplinar. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e refletir as contribuições e a importância das redes de apoio no processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais na escola regular, assim como na sociedade a partir da experiência vivenciada na Sala de Recursos Multifuncionais. Tal experiência vem proporcionando um confronto entre a teoria e a prática e tem servido para repensar algumas questões acerca das dificuldades e possibilidades de forma a contribuir com a inclusão de educandos com necessidades especiais na escola regular. Palavras-chave: Rede de apoio. Inclusão escolar. Sala de recursos multifuncionais. A partir da década de 1990, intensifica-se o debate acerca da inclusão escolar de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação. O discurso em favor da educação inclusiva, em âmbito mundial, veio a partir do reconhecimento ao direito de que todos os alunos devem estudar juntos, participando do processo de aprendizagem sem discriminação. No Brasil, dentre outras normatizações, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) surge da necessidade de organizar ações que, de fato, seja efetivado o direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que diz que “educação é direito de todos (...)” (artigo 205), bem como para concretizar o que diz em outros documentos também surgidos de movimentos sociais em prol dessa causa: a inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação na escola regular. Nessa perspectiva, em 2007, é criado o Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais que tem dentre outros objetivos “assegurar o pleno acesso dos 57 Escola Municipal José Tavares Carneiro, email: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 estudantes público alvo da educação especial no ensino regular em igualdade de condições com os demais estudantes”. De acordo com o Manual de Orientação: Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (BRASIL, 2007) são enviados para as escolas regulares de ensino, materiais e equipamentos para a implantação de um novo espaço dentro de algumas destas, chamado de Sala de Recursos Multifuncionais para oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE), pela professora com especialização nesta área a fim de, como rege o artigo 2º da Resolução nº 4/2009, “(...) complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem”. Ainda segundo a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, em seu parágrafo único, “consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso no currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços”. As redes de apoio apresentam-se nesse processo de inclusão também como um meio que viabilizará acessibilidade aos alunos com “deficiência ou mobilidade reduzida” a escola regular. Assim, inseridas no contexto nacional, as escolas do município de Feira de Santana-BA, em 2007, começam a receber recursos para implantação das Salas de Recursos Multifuncionais. Dessa forma, inicialmente foi criada uma sala e a partir daí outras salas foram instaladas, chegando em 2010, com dezenove. Atualmente estão em funcionamento no município vinte e seis Salas de Recursos Multifuncionais. Histórico: Um pouco da realidade encontrada Dentre as escolas municipais que possuem Sala de Recursos Multifuncionais encontra-se a Escola Municipal José Tavares Carneiro, localizada no distrito de Maria Quitéria. Essa unidade escolar conta com aproximadamente oitocentos alunos matriculados, distribuídos entre o Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 com um olhar voltado a educação do campo. A maioria dos alunos da escola mora em localidades mais distantes e utilizam o transporte escolar para chegarem até aula. No que tange a Sala de Recursos Multifuncionais, a estrutura encontrada na Escola Municipal José Tavares Carneiro não foi a esperada, apesar de alguns equipamentos destinados à Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) tipo I (constituídas de microcomputadores, monitores, fones de ouvido e microfones, scanner, impressora laser, teclado e colméia, mouse e acionador de pressão, laptop, materiais e jogos pedagógicos acessíveis, software para comunicação alternativa, lupas manuais e lupa eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras, armário, quadro melânico), terem chegado desde 2009. Segundo a gestora desta unidade escolar, desde esse período que a escola esperava por um profissional que prestasse o serviço de AEE que a referida sala se propõe. O espaço reservado para o funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais era um pequeno depósito da escola, porém em 2011, com a chegada da professora de AEE nesta instituição de ensino, todos (equipe gestora, alunos, professora de AEE) se uniram com o propósito de tornar esse espaço funcional. Quanto aos computadores da SRM esses não funcionam, pois a rede de energia não suporta a sobrecarga, apesar dos encaminhamentos dados pela direção da escola, a situação continua. A mesma dificuldade é encontrada pelas famílias de pessoas com necessidades especiais em relação a outros serviços como assistência médica, transporte, apoio referente a situações emocionais, econômicas e sociais que são imprescindíveis aos avanços da maioria dos casos. Contudo, apesar das dificuldades enfrentadas, a Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal José Tavares Carneiro está funcionando dentro do que é disponibilizado no momento. Porém, no decorrer do trabalho foi-se percebendo que o apoio de outros profissionais seria necessário para o progresso na evolução dos casos. Além disso, muitas pessoas eram encaminhadas de forma equivocada para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) pelas escolas regulares, achando que a Sala de Recursos Multifuncionais seria o lugar apropriado para resolver problema de ordem emocional e social, assim como questões de falta de limite na escola, agressividade, abandono escolar e outros. Tais questões continuam a acontecer, mesmo com a sensibilização e apresentação da proposta desenvolvida na Sala de Recursos Multifuncionais (para alunos, professores, coordenadores e diretores de todas as escolas do entorno) que ocorreu antes da abertura para funcionamento ao público alvo. A partir desse contexto, surge a preocupação de buscar parcerias para encaminhar situações Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 imprescindíveis para o andamento de cada caso atendido na Sala de Recursos Multifuncionais que por si só não dá conta de resolvê-las. Incluir exige unidade: proposta desafiadora Concretizar a inclusão de alunos com deficiência nas escolas de ensino regular é uma proposta desafiadora porque é algo que exige mudanças que compete não só a educação como também se faz necessária a formação de uma rede pública que apoie e sustente esta política inclusiva, tornando-se um compromisso do Estado. (PAULON; FREITAS; PINHO, 2007) Pensar em uma rede de apoio é levar em consideração o que diz a Lei Orgânica da Saúde 8080/90, no seu artigo 3º, para garantir a inclusão: A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (...). (BRASIL, 1990) Na educação, assim como na saúde,os pontos abordados pela referida lei, quando cumpridos, contribuem para o desenvolvimento satisfatório do aluno, seja ele com necessidade especial ou não. Porém, as barreiras encontradas nos atendimentos ocorridos na Sala de Recursos Multifuncionais são geradas pela precariedade do direito que deveria ser assegurado a todo cidadão, principalmente e prioritariamente às pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Todavia, não dá para esperar que o clamor de uma classe seja ouvido em curto prazo, portanto cabe fazer o que está ao alcance das mãos. Nesse sentido, a Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal José Tavares Carneiro lança uma proposta que tem dentre outros objetivos, buscar parcerias que ajudem as pessoas com deficiência no que se refere a sua melhoria de vida e aos seus familiares diretos, momentos de informação sobre diversos temas (deficiência, preconceito, leis e direitos conquistados e outros), descontração e apoio emocional na luta diária de quem sabe o que é conviver numa sociedade preconceituosa. Dessa forma, o primeiro passo da professora de AEE foi conhecer grupos já existentes na comunidade local – Distrito de Maria Quitéria – que tivessem uma equipe Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 multidisciplinar, a começar pelo posto de saúde, o qual se mostrou receptivo com a apresentação do trabalho desenvolvido pela profissional de AEE. Apesar das dificuldades enfrentadas nos setores aliados, a partir do primeiro contato estabelecido em busca de parceiros que se juntassem em prol da inclusão de pessoas com necessidade especial na escola regular, concretizavam-se as ações e surtiam-se efeitos positivos para os alunos e os profissionais envolvidos. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, o projeto parecia bem sucedido. Para tanto, foi imprescindível manter a comunição com os outros profissionais (psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, educadora física, fisioterapeuta, psicopedagoga) necessários ao aluno que frequenta o AEE, que atuam em instituições governamentais ou não governamentais a fim de fazer valer o que diz o artigo 2º da Resolução nº 4/2009, já citada, no que se refere à utilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que suprimam as barreiras que dificultam a plena participação da pessoa com necessidade especial na sociedade e no desenvolvimento de sua aprendizagem. A parceria com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), foi de grande importância no desenvolvimento da proposta da Sala de Recursos Multifuncionais, pois essa equipe tem dado apoio ao grupo de pais dos alunos com deficiência que estudam na escola regular. Esse trabalho desenvolvido pela Sala de Recursos Multifuncionais em parceria com o NASF foi dado o nome de Grupo Terapêutico para Pais do AEE, o qual se desenvolve uma vez por mês, um momento de encontro com os pais para compartilhar experiências e informações sobre temas que eles acham necessários, assim como para se divertirem e cuidarem da autoestima. Tal proposta abrangeu a família dos alunos da Sala de Recursos Multifuncionais como um todo, por perceber que os pais biológicos ou responsáveis (avós, pais adotivos, tios e outros) dessas pessoas estavam cansadas da luta e muitas delas doentes emocionalmente, como foi possível constatar com a fala de um dos familiares: “Antes tudo era mais difícil, depois que conheci vocês, sei que não estou mais sozinha”. (avó de um aluno com Deficiência Intelectual da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal José Tavares Carneiro). Da mesma forma, muitos jovens que não precisam de Atendimento Educacional Especializado (AEE) são encaminhados pelas escolas para Sala de Recursos Multifuncionais por apresentarem um comportamento agressivo ou depressivo, pois se pensa que este é o lugar indicado para esse atendimento. Dessa demanda, foi formado Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 também o Grupo Terapêutico para Jovens da Escola Municipal José Tavares Carneiro, que acontece uma vez por mês, com parceria com o NASF para abrir um espaço de discussão sobre questões peculiares ao período da adolescência, muita delas sugeridas pelos próprios jovens, como: questões de gênero, sexualidade, gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível, drogas, projeto de vida, profissões, alcoolismo. O trabalho também tem tido sucesso entre os jovens, pois muitos deles têm gostado dos encontros, buscando saber sempre sobre quando será o próximo. Além disso, tem sido notada pela escola a mudança de comportamento desses alunos. Vale ressaltar que, apesar de estarmos falando da experiência vivida na sala de recursos multifuncionais e, que esta complementa ou suplementa a formação do aluno com necessidade especial, incluir aqueles que batem à porta e que por algum motivo se sentem excluídos, é favorecer a inclusão de todos que não se sentem parte desse espaço escolar ou que, nesse momento, precisa de auxílio para que as suas diferenças, sejam respeitados. Segundo o documento subsidiário à política de inclusão (2007, p. 46 ), a rede de apoio à educação inclusiva tem o objetivo de (...) ampliar a atenção integral à saúde do aluno com necessidades educacionais especiais; assessorar às escolas e às unidades de saúde e reabilitação; formar profissionais de saúde e da educação para apoiar a escola inclusiva; assessorar a comunidade escolar na identificação dos recursos da saúde e da educação existentes na comunidade e orientar quanto à utilização destes recursos; informar sobre a legislação referente a atenção integral ao aluno com necessidades educacionais especiais e sobre o direito à educação e sensibilizar a comunidade escolar para o convívio com as diferenças. Ainda segundo o documento citado acima, o mesmo sugere que uma equipe interdisciplinar poderá ser formada por profissionais da educação especial, pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, conselheiros tutelares, agentes comunitários e outros a depender da necessidade do contexto da comunidade que atua. No município de Feira de Santana a intenção do trabalho interdisciplinar poderá contar com o apoio de alguns programas federais e órgãos com o objetivo também de elaborar propostas que auxiliem a escola e a família dos alunos com necessidades educacionais especiais, a saber: 1. Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) - O grupo é composto por uma nutricionista, uma psicóloga, uma assistente social, uma educadora física e uma Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 fisioterapeuta. O objetivo dos profissionais no NASF é “apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família” (BRASIL, 2010). 2. Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - é uma instituição pública do estado que se encontra em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial de famílias. O CRAS atua dando a possibilidade das famílias terem acesso aos direitos socioassistenciais. 3. Programa de Acessibilidade ao Cidadão Especial (PACE) - Sistema de Transporte para Deficientes que tem o objetivo de transportar pessoas com deficiência física. 4. Outras organizações não governamental também são vistas como parceiras por fazerem parte da luta e construção da história das pessoas com necessidade especial no município de Feira de Santana como: a Associação de Pais e Amigos dos excepcionais (Apae), CROMOSSOMOS 21 (ONG para auxílio de pessoas com síndrome de down), Associação Feirense de Amigos dos Deficientes Auditivos (AFADA). Além disso, visa-se estabelecer ações intersetoriais entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do município no sentido de agilizar encaminhamentos médicos (consultas com neurologistas, exames...) das pessoas com necessidades educacionais especiais a fim de adiantar relatórios médicos tanto para andamento do Benefício de Prestação Continuada quanto para investimentos pedagógicos na Sala de Recursos Multifuncionais e orientação de professores que atendem os alunos com necessidades educacionais especiais. Diante do que foi exposto, compreende-se que o trabalho interdisciplinar é imprescindível para o bom desempenho das atividades das Salas de Recursos Multifuncionais, assim como, para a inclusão social, de modo particular, para as pessoas com necessidade especial. Seu relato é significativo, entretanto acredito no que concerne a temática desta subseção, faz necessário inserir as vozes de alguns autores que discutem tal temática. Considerações Finais A experiência desenvolvida na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) da Escola Municipal José Tavares Carneiro, distrito de Maria Quitéria, com a formação de redes de apoio, aproxima educação de saúde pela via da sensibilização e organização de diversos setores da política social unidos para um fim inclusivo. Todavia, é imprescindível que tal Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 parceria aconteça de forma ampla para facilitar o atendimento tanto na SRM quanto nos demais atendimentos encaminhados pelos profissionais de saúde, trocando informações entre si para compreender melhor o aluno que é acompanhado pela SRM e, assim, contribuir com a sua inclusão na escola e na sociedade. O objetivo norteador do trabalho realizado na Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal José Tavares Carneiro é, por fim, trabalhar para que as pessoas com deficiência deixem de viver da caridade e da assistência por não ter renda e serviços públicos adequados para garantir uma vida digna (Neri, 2003), ao mesmo tempo que abre a oportunidade de, através da escrita desse texto, refletir sobre o auxílio e a importância das redes de apoio no processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais na escola regular, assim como na sociedade a partir da experiência vivenciada na Sala de Recursos Multifuncionais. Referências BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1998. ______. Diário Oficial da União. Lei nº 8080/90. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o financiamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Brasília DF, 19 de setembro de 1990. ______. Ministério da Educação. Resolução Nº 4/2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília DF, de 2 de outubro de 2009. ______. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. ______. Ministério da Educação. Manual de Orientação: Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, de 2010. NERI, M. Retratos da deficiência no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2003. PAULON, Simone Mainieri; FREITAS, Lia Beatriz de Lucca; PINHO, Gerson Smiech. Documento Subsidiário à Política de Inclusão. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007. CRAS: Centro de Referência de Assistência http://www.mds.gov.br. Acesso em: 30 de junho de 2012. Social. Disponível em: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Capacitação em Educação Física Escolar Inclusiva Sirley Lima Barreto M. da Silva58 [email protected] Márcia Raimunda de Jesus59 [email protected] RESUMO: A inclusão na escola, de forma responsável e competente, deve ser fomentada e fortalecida por todos envolvidos nas práticas pedagógicas desenvolvidas por essa instituição. No que se refere a educação física, alguns elementos devem ser contemplados, tais como a segurança no exercício das atividades a serem realizadas e proporcionar ao mesmo tempo a inclusão educacional. Outros itens observados são: as condições do ambiente onde as atividades são realizadas (piso, iluminação, sonorização), materiais (textura, tamanho, peso, tempo de uso) e vestimentas de acordo as atividades realizadas. Assim, o professor de Educação Física deve possibilitar ao aluno com necessidades educacionais especiais, atividades que garantam e desenvolvam seu autoconhecimento, proporcionando a realização dos movimentos de maneira consciente. Este projeto de extensão foi desenvolvido no Departamento de Educação do Campus XI – Serrinha, em parceria com o Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - CAPENE e sua equipe docente, no mês de maio do ano de 2012, com carga horária de trinta horas. A construção deste projeto aconteceu porque entendemos que momentos de discussão e troca de conhecimentos/experiências são indispensáveis para melhorar e fortalecer o processo de inclusão nas escolas. O projeto teve como objetivo apresentar as leis que garantem o acesso das pessoas com deficiência nas atividades físicas desenvolvidas na escola; conhecer as deficiências mais comuns; reconhecer a importância dos jogos no processo de socialização; trocar experiências acerca do processo de inclusão. O público alvo do projeto foi discentes do Departamento, docentes da comunidade, pais e pessoas interessadas. A metodologia de execução do curso foi realização de oficinas, palestras, vivências, elaboração de jogos. O referencial teórico se compôs de autores diversos, entre eles, Vago (2002) e Bracht (199). A avaliação do curso foi processual, de acordo com a participação dos alunos e a qualidade das discussões. O curso contou com a participação final em média de 80 alunos. Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Inclusão Educacional; Necessidades Educativas Especiais. [...] existe um lugar onde termina o mundo e começa a fantasia. Com um pé no chão e outro no céu, é assim que se entra nessa terra. Toda criança tem o direito de viajar para o país encantado que sua fantasia criar: teatro, literatura, jogos, brincadeiras, circo… Toda criança precisa desse espaço mágico para viver. É como se aí, nessa terra do tudo, do nada, o ar fosse mais leve e ela pudesse, então, se preparar para vida. Criança não pode trabalhar de sol a sol na rua. Criança tem que viver no mundo da lua. Mauro Campello A inclusão na escola deve ser fomentada e fortalecida por todos envolvidos nas práticas pedagógicas da instituição. Trabalhar na perspectiva da inclusão escolar é um desafio, pois requer transformar toda dinâmica da escola, alterando a concepção que os sujeitos tem de inclusão, valorizando o currículo enquanto experiências individuais de 58 Graduada em Educação Física/ UEFS; Pós-Graduanda em Pilates/WPOS [email protected] Graduada em Pedagogia/UNEB; Especialista em Educação Especial/UEFS; Especialista em AEE/UNESP. [email protected] 59 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 cada aluno construídas no espaço externo à escola, ou seja, uma concepção de currículo que definirá a ação de educar, transformando historicamente a concepção com a qual o professor já convive há bastante tempo. Referente à Educação Física alguns elementos devem ser contemplados, para execução de exercícios com participação de alunos com necessidades educativas especiais, de qualquer ordem. Entretanto, um fator primordial para conseguir bons resultados é a segurança na execução das atividades; outros itens observados são as condições do ambiente onde os exercícios serão realizados (piso, iluminação, sonorização), materiais (textura, tamanho, peso, tempo de uso) e vestimentas. Assim, o professor de Educação Física deve possibilitar ao aluno com necessidades educacionais especiais, atividades que contribuam para o seu autoconhecimento, proporcionando a realização dos movimentos de maneira consciente e prazerosa. Afinal, atividades físicas não devem ser feitas com o sentido da punição ou castigo. Das exposições acima, nasceu este projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Educação do Campus XI/UNEB – Serrinha, em parceria com o Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – CAPENE, com participação de uma equipe docente, realizado no mês de maio do ano de 2012, com carga horária de trinta horas, tendo como público alvo qualquer interessado, de pais a alunos do magistério, sem exclusão de nenhum interessado. A compreensão do conceito de educação especial é fundamental para direcionar as atividades desenvolvidas, para que os participantes não considerem o aluno com deficiência ou necessidade educativa especial como “coitado” ou incapacitado, inapto. Assim, nos apoderamos do conceito expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 em seu Artigo 58 que faz a apresenta a seguinte concepção: “Por educação especial, para os efeitos desta Lei, é a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores 60 de necessidades especiais”. A partir do conceito expresso, compreendemos que sendo “modalidade” de educação, ela atravessa todos os níveis; não se resume a um espaço, escola ou grau de ensino. As atividades desenvolvidas no projeto visaram dotar o professor de referenciais para o exercício das mesmas. 60 Esta terminologia já se encontra em desuso. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Outro documento importante na elaboração desta proposta foram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que traz subsídios para os profissionais, propondo a inclusão dos temas transversais nas aulas, que são Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e Orientação para Trabalho e Consumo, o professor deve estimular uma reflexão, e assim contribuir para uma visão crítica da educação física dentro do meio social, possibilitando que os alunos sejam capazes de: Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando características, físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por características, pessoais, físicas, sexuais ou sociais. O objetivo desta ação foi promover espaços de discussões e reflexões teóricopráticas sobre atividades físicas, adaptadas ou desenvolvidas pelo docente. Outro objetivo significativo, foi a apresentação das leis que norteiam o acesso das pessoas com deficiência nas atividades físicas desenvolvidas na escola; conhecer as deficiências mais comuns; reconhecer a importância dos jogos no processo de socialização; trocar experiências acerca do processo de inclusão. O Conteúdo ministrado no curso, contou com a participação de diversos profissionais do CAPENE. Alguns dos assuntos abordados: Jogos, ludicidade, lazer; Dança (expressão corporal), Artes, Esportes, Mídias Interativas, Ginástica, Capoeira, Luta: autocontrole e respeito ao outro. A metodologia de execução do curso foi através de ciclos de oficinas, palestras, vivências, elaboração de jogos, com a participação de convidados com experiência, tendo em sala de aula alunos com necessidades educacionais especiais, seguida por sala de conversa sobre suas dificuldades e avanços na aprendizagem do aluno, além de momentos direcionados a prática com a participação de todos. O referencial teórico se compôs de autores diversos, dentre eles, Vago (2002); Bracht (1999); Ceccon (1993); Fonseca (1991) dentre outros, incluindo os documentos legislativos oficiais. A avaliação do curso foi processual, de acordo com a disposição em participar dos jogos, brincadeiras, vídeos games interativos. Avaliamos também itens mensuráveis como pontualidade, assiduidade, qualidade das discussões dos alunos e escrita da proposta final. O curso finalizou com uma média de 80 alunos certificados. Considerações finais Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Consideramos que para os professores é necessário o desenvolvimento de uma prática educacional que contemple em seu bojo o sujeito em sua singularidade, no sentido de ampliar a capacidade do mesmo. Nas rodas de conversa, o professor relata sua dificuldade em participar na educação continuada por falta de cursos que esteja direcionados a atividade física adaptada e a construção de momentos/espaços de diálogos buscando superar os entraves na ação pedagógica para com a criança com deficiência. Neste sentido, novas propostas estão sendo construídas para contemplar essas solicitações. Este trabalho se propôs a observar às possibilidades de se trabalhar a educação inclusiva nas aulas de educação física, partindo do princípio que a escola deve estar disposta a receber e, se transformar realmente em um espaço inclusivo e não integrativo, pois não basta somente à escola aceitar, se seus atores e até comunidades escolares ainda não estiverem preparadas para esta tarefa. Os professores tem recebido apoio, mas ainda incipiente. Referências CECCON, Claudius (Org.). A Escola da Vida e Vida na Escola. Petrópolis, Ed. vozes, 1993, 95p. FONSECA, Vitor da. Educação Especial. Porto Alegre, Editora Artes Médicas,1991. 127p. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96. Senado Federal. _______Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Fundamental.1997. 126p. KUNZ, Elenor. Didática da Educação Física. Ed. Unijuí, 2006.-160 (Coleção Educação Física). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E O DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL SOBRE O ESPORTE NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIMENTANDO UMA DIDÁTICA PARA A SALA DE AULA Welington Araújo Silva RESUMO: A didática histórico-crítica preconiza, para uma aprendizagem significativa dos conteúdos escolares, cinco momentos pedagógicos: a) prática social inicial; b) problematização; c) instrumentalização; d) catarse e e) prática social final. O presente trabalho analisa, à luz da base epistemológica que sustenta a didática considerada, os limites e as possibilidades da didática histórico-crítica na apropriação do conteúdo esporte no curso de graduação em educação física da universidade estadual de Feira de Santana, objetivando uma formação humana em perspectiva emancipatória. Desenvolvemos o estudo de caso tomando como unidade-caso estudantes do primeiro semestre do curso no período 2010.2 e 2011.1. Consideramos fundamental a apropriação dos conhecimentos, não exclusivamente, mas essencialmente científicos como fator de desenvolvimento de sujeitos emancipados, mesmo reconhecendo os limites desse processo emancipatório no conjunto das mediações presentes no sociometabolismo do capital. Ao realizarmos nossa investigação partimos da compreensão de que o esporte é um fenômeno cultural complexo e contraditório que aparece, na consciência alienada do educando, como uma prática social resumida nas suas questões técnicas e/ou táticas, não permitindo que o mesmo apreenda, nas suas relações cotidianas, o esporte como produto e processo das relações capitalistas que transforma o mesmo em mais uma mercadoria. Palavras-chave: didática histórico-crítica, esporte, formação humana Introdução O presente trabalho é fruto do desenvolvimento de uma pesquisa junto aos educandos e educandas do curso de graduação em educação física da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia. A mesma ainda se encontra em andamento, portanto, os elementos aqui apresentados devem ser analisados levando em consideração os seus aspectos embrionários. O objetivo desta pesquisa é analisar a importância da didática histórico-crítica no desenvolvimento conceitual sobre o esporte. Sabedor da importância que o mesmo tem para os estudantes de educação física e a sua influência no tocante a opção dos mesmos em tornar-se professor, compreendemos que o entendimento do esporte em uma perspectiva sócio-histórica permite a ultrapassagem de uma compreensão um tanto quanto sincrética desde fenômeno social, geralmente reduzida aos seus aspectos técnicos e táticos, para uma compreensão mais sintética, muito mais rica em determinações objetivas, permitindo sínteses superadoras cada vez mais ricas. O nosso trabalho assume como opção epistemológica a tradição do pensamento marxista, apoiando-se no materialismo histórico e dialético como teoria e método de análise da sociedade. Entendemos que o marxismo é a concepção fundamental para a compreensão do século XXI, onde se ampliam as contradições entre capital e trabalho, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 materializadas nas novas formas de extração da mais-valia, pela utilização de novas técnicas e tecnologias na produção de sua mediação fundamental – a mercadoria – e na subsunção dos processos de formação humana ao limite da produção, reprodução e ampliação do capital. Para fazer frente a este sistema metabólico de relação social é fundamental que os estudantes se apropriem dos conhecimentos não exclusivamente mas, essencialmente, científicos. Esse é um dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e com base nele desenvolvemos o nosso trabalho, buscando evidenciar as formas qualitativas de desenvolvimento conceitual sobre o esporte na medida em que confrontamos o conhecimento inicial dos educandos e educandas, àqueles com os quais chegam quando acessam a Universidade com o conhecimento historicamente desenvolvido em relação ao esporte. Lecionando a disciplina Análise Histórica da Educação Física, Esporte e Lazer, componente obrigatório que se apresenta aos ingressos do curso de graduação em educação física da UEFS já no primeiro semestre, consideramos essencial o despertar para outra forma de compreensão dos fatos, dos fenômenos e das coisas que permeiam esta área do conhecimento. Nesse caso, elevar suas consciências à um outro patamar de entendimento do conceito sobre esporte é tarefa imprescindível para quem inicia o curso, na medida em que esse processo obriga uma dinâmica didática-pedagógica que articule o conhecimento específico aos aspectos mais gerais que influenciam a gênese e o desenvolvimento do fenômeno esportivo. O ensino do conteúdo esporte, portanto, está diretamente relacionado aos aspectos da aprendizagem e desenvolvimento dos educandos, configurando “(...) uma relação de cumplicidade mútua (...), destacando-se que, no início, o primeiro tem a incumbência de provocar os demais” (SILVA, 2008, p. 119). Segundo Kostiuk (apud SILVA, 2008, p. 120), [...] o processo de reflexão e discussão em sala de aula, não poderia ser outro que não o que parte da prática social do educando e educador na direção de estabelecer um diálogo que possibilite que o movimento ensino-aprendizagem vá da síncrese, uma visão caótica do todo à síntese, uma rica totalidade de determinadas e inúmeras relações, mediada pela análise. Garantindo assim, a nosso ver, uma forma segura tanto para a condução da prática pedagógica como para a apropriação e a objetivação de novos conhecimentos. Nesse sentido, não se trata de ensinar uma determinada modalidade esportiva ou explorar as capacidades atlética dos educandos e educandas que chegam à Universidade Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 para realizar a formação em educação física. Mas, sim, reconhecendo que o esporte é produto e processo das relações sociais sempre complexas e contraditórias e que tem a sua gênese no interior do desenvolvimento da sociedade capitalista, reconhecer a capacidade dos estudantes de, partindo da sua compreensão sincrética sobre o fenômeno esportivo, de se apropriarem de novas determinações e sínteses que permitam que o mesmo alcancem um grau de desenvolvimento analítico sempre e cada vez mais rico em determinações sociais e históricas. Desenvolvimento Diante do exposto e seguindo as características da didática histórico-crítica, partimos daquilo que os educandos e educandas presentes na aula sabem sobre esporte, entendendo, junto com Gasparin, que “Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social imediata a respeito do conteúdo curricular proposto” (2002, p. 15). Nesse sentido, o ponto de partida para o estudo do conceito sobre esporte será a compreensão que os próprios educandos do primeiro semestre do curso de educação física da UEFS têm sobre o esporte. Solicitamos, portanto, que eles e elas, individualmente, pensem, reflitam por algum instante sobre o esporte e respondam, por escrito, a pergunta: o que é esporte? Apresentamos, abaixo, o que os educandos dos semestres 2010.2 e 2011.1, desenvolveram como resposta à questão. Estas dez foram escolhidas de forma aleatória para compor o desenvolvimento do trabalho. 1) É uma atividade corporal praticada em diferentes modalidades com características e objetivos diferentes, contendo elementos como o jogo, a competição, diversão, rendimento, etc. 2) São atividades físicas regidas por regras das modalidades esportivas, como ginástica, karatê, futebol. 3) É uma atividade que envolve corpo e mente e tem alguma finalidade, seja o lazer ou saúde, de forma competitiva ou não. A palavra esporte lembra atividade física. 4) É a prática de exercícios físicos, tanto na prática de esporte, quanto em academias, caminhada, dança, lutas, entre outros. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 5) É o corpo em movimento pela prática de atividades, onde, na educação infantil, caracteriza-se pelo uso do lúdico. 6) São práticas de jogos com regras e competição individual e equipe. Faz lembrar competição, vitórias e perdas, diversão, emoção, torcida. 7) É toda atividade física relacionada com movimentos corporais que pode-se obter em várias modalidades. 8) É toda atividade que envolve uma ou mais pessoas com regras prédeterminadas, praticada para fins de competição e ou lazer. 9) É a prática de atividade física com propósito de competição, seja por grupos ou individualmente. Atividades como vôlei, natação, basquete, corridas (maratona), olimpíadas, futebol, entre outros. 10) É o ato de praticar exercício, o ato de exercitar-se no qual é planejada, com conjunto de preceitos para ser praticado. Logo que a palavra esporte é anunciada vem logo na memória a atividade física. Feito isso, solicitamos que os educandos e educandas se reunissem em grupos e que fizessem uma discussão sobre o que cada um conceituou, podendo, se acharem necessário, retirar ou colocar alguns elementos que considerassem importantes dos seus próprios conceitos construídos individualmente na fase anterior. “Esse é o momento da contextualização do conteúdo a ser estudado, buscando despertar a consciência crítica sobre o que ocorre na sociedade em relação (...)” ao esporte. Ainda segundo Gasparin (2002, p. 29), “É a vivência individual e coletiva do conteúdo social que passa a ser reconstruída pelo aluno de forma sistematizada”. A pedagogia histórico crítica demanda para o segundo momento metodológico a problematização do conteúdo. “A problematização representa o momento do processo em que essa prática social é posta em questão, analisada, interrogada, levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado e as exigências sociais de aplicação desse conhecimento” (GASPARIN, 2002, p. 36). Inicialmente explicitamos aos educandos que existem diferentes explicações teóricas sobre um mesmo fenômeno social e que estaríamos fazendo a opção por uma determinada base teórica-filosófica para dar conta de problematizar o fenômeno esportivo e que esta base tem como matriz principal o materialismo histórico dialético, “(...) que parte de uma visão de mundo e de homem comprometida com a transformação da Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 realidade social, buscando a humanização do homem. (SILVA, 2008, p. 1250), colocando a prática pedagógica da educação física comprometida com a (...) afirmação dos interesses de classe das camadas populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos – a emancipação – negando a dominação e submissão do homem pelo homem (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 40). Para tanto, é necessário que neste momento da problematização os educandos compreendam e “(...) se conscientizem de que problematizar significa questionar a realidade, pôr em dúvidas certezas [...] pôr em dúvida o cotidiano” (GASPARIN, 2002, p. 47). Definimos então das respostas elencadas acima as respostas sobre o esporte como atividade física, o esporte como jogo, o esporte e sua relação com a competição e o lazer e o esporte e sua relação com as regras institucionalizadas. Perguntas problematizadoras foram sendo feitas aos educandos a partir dos elementos citados no parágrafo anterior. Por exemplo: não estamos confundindo esporte com atividade física? Se atividade física tem um conceito no campo da educação física distinto do esporte, confundir um com o outro não significaria anular aspectos centrais de diferenciação desses fenômenos? Se esporte é jogo, todo jogo é esporte? Se esporte é lazer, os jogadores então quando jogam e treinam, não estão trabalhando? Quando praticamos futebol com os amigos, as regras institucionalizadas são necessárias de serem obedecidas tal como foram criadas? Essas foram algumas perguntas levantadas tomando como referência o que foi desenvolvido pelos educandos e educandas na parte inicial do trabalho. Evidente que durante as discussões, outras questões, perguntas, poderão ser desenvolvidas, sempre objetivando desenvolver nos estudantes o gosto pelo debate, reflexão, análise e, principalmente, busca pelas respostas, mesmo que essas ainda se encontrem nivelada pelo senso comum, pois não se trata de negá-lo mas, sobretudo, incorporá-lo com vista à sua superação. Inicia-se, portanto, o processo da instrumentalização. Esse terceiro passo do método realiza-se nos atos docentes e discentes necessários para a construção do conhecimento científico. Os educando e o educador agem no sentido da efetiva elaboração interpessoal da aprendizagem, através da apresentação sistemática do conteúdo por parte do professor e por Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 meio da ação intencional dos alunso de se apropriarem desse conhecimento. (GASPARIN, 2002, p. 51). Aqui se faz necessário o conhecimento que desconstrua a confusão inicial sobre o conteúdo trabalhado e as categorias evidenciadas nas respostas sobre o mesmo. Aqui iremos, portanto, através de explicações científicas, desconstruir as confusões demonstrando as particularidades de fenômenos como atividade física, lazer, jogo, entre outros que não podem ser confundidos com o esporte. Muito embora as dimensões esportivas guardem aspectos destes elementos, eles não sãos as mesmas coisas e precisam ser conceituados de formas distintas, evidenciado o seu caráter singular em contextos gerais e particulares no interior do conhecimento científico em busca da análise do fenômeno estudado. Chegamos, portanto, àquela fase que caracteriza a expressão mais elaborada de entendimento sobre a prática social, evidenciada aqui na busca pelo conceito sobre o esporte, a catarse. Se, na fase anterior, a análise era uma operação mental fundamental, aqui a operação fundamental é a síntese. A catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático a que o educando chegou, marcando sua nova posição em relação ao conteúdo e à forma de sua construção social e sua reconstrução na escola. É a expressão teórica dessa postura mental do aluno que evidencia a elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais elevado de compreensão. Significa, outrossim, a conclusão, o resumo que ele faz do conteúdo aprendido recentemente. É o novo ponto teórico de chegada; a manifestação do novo conceito adquirido. (GASPARIN, 2002, p. 128). Nesta fase, devolvemos para os educandos e educandas as suas primeiras conceituações sobre o esporte, solicitando, mais uma vez, que os mesmos retirasse, acrescentassem ou reconstruíssem os conceitos que eles mesmos formularam no início dos trabalho pedagógicos. Dessa forma, após todo esse processo de mediação, apresentamos alguns conceitos elaborados pelos educandos e educandas. a) esporte é uma atividade de prática que atravessa os séculos. As práticas esportivas vem desde a antiguidade, mas tomou caráter mais sólido na idade média, onde quem o praticava era a nobreza. b) O esporte é um fenômeno sociocultural e político, portanto, apto a transcender limites positivos e negativos. Em se tratando de Brasil e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 não perdendo de vista a ideologia capitalista que circunscreve o esporte. c) Esporte é a manifestação da cultura humana, baseada em jogos e competições que tem como objetivo exaltar os vencedores. d) Esporte é o fenômeno de manifestação do movimento corporal de caráter cultural, composto por regras e marcado pelo aspecto competitivo. e) É uma prática que visa o rendimento, o Record ou apenas a diversão, o prazer. São regidos por regras técnicas estabelecidas por uma associação ou confederação, onde os competidores assumem uma postura submissa a tais regras. No esporte de rendimento todas as determinações devem ser seguidas, enquanto no chamado esporte de fim de semana não necessariamente seguem-se todas as regras. Muito embora os níveis das respostas ainda se encontrem com problemas conceituais dignos de novas problematizações, é evidente as mudanças conceituais e o reconhecimento de novas determinações no processo de compreensão do esporte por parte dos educandos e educandas. Retornamos ao ponto de chegada, que para a pedagogia histórico-crítica, é o retorno à prática social. Professor e alunos modificaram-se intelectualmente e qualitativamente em relação a suas concepções sobre o conteúdo que reconstruíram, passando de um estágio de menor compreensão científica a uma fase de maior clareza e compreensão dessa mesma concepção dentro da totalidade. Há, portanto, um novo posicionamento perante a prática social do conteúdo que foi adquirido (GASPARIN, 2002, p. 143-144). À guisa de conclusão Finalizando este texto de um trabalho ainda inconcluso, pois os procedimentos continuarão em semestres subseqüentes na tentativa de aprofundarmos e identificarmos novas mediações no desenvolvimento desta metodologia, bem como nos apropriamos com profundidade da teoria pedagógica histórico crítica e da sua fundamentação epistemológica, evidenciamos a importância de se garantir, no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e educandas, um ensino que se paute pelos procedimentos científicos e contribua para a ampliação do nível de consciência para o Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 enfrentamento teórico/prático dos desafios que nos são impostos cotidianamente pelo metabolismo do capital, sempre com a intenção de superá-lo. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Referências BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. Ijuí: Unijuí, 2005. BRITO, Silvia Helena Andrade de. et. all (Org). A organização do trabalho didático na história da educação. Campinas,SP: Autores Associados, 2010. COLETIVO DE AUTORES Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo, Cortez, 1992. GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas,SP: Autores Associados, 2002. MARTINS, Lígia Márcia (Org). Sociedade, educação e subjetividade: reflexões temáticas à luz da psicologia sócio-histórica. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, 2008. SILVA, Nilma Renildes da. O social na perspectiva sócio-histórica e uma didática para a sala de aula. In: MARTINS, Lígia Márcia (Org). Sociedade, educação e subjetividade: reflexões temáticas à luz da psicologia sócio-histórica. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, 2008. p. 119-144. SILVA, Welington Araújo. O esporte enquanto elemento educacional. http://www.efdeportes.com/efd79/esporte.htm Acessado em 01 de setembro de 2011. SILVA, Welington Araújo O progresso tecnológico e os desafios para a organização didático pedagógico do ensino do esporte na educação física escolar. http://www.efdeportes.com/efd145/o-progresso-tecnologico-na-educacao-fisica.htm Acessado em 01 de setembro de 2011. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 EIXO 3 – POLÍTICAS DE CURRÍCULO Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Proposta curricular: Uma experiência construída ao som de muitas vozes Flávia Andrade Brito61 Joelma dos Santos Ramos Rocha62 Sayonara Freitas de Carvalho Moreira63 RESUMO: O currículo escolar tem um papel preponderante na organização do processo educacional. A construção do currículo na escola sempre foi algo imposto por um grupo menor que era pensado e padronizado para todos. Isso sempre causava situações de insatisfação por não favorecer a quem não era ouvido. Com a discussão atual de respeito à diversidade, as vozes que antes eram sufocadas, hoje ressoam em alto e bom tom em prol da igualdade de todos. A instituição escolar vem ganhando autonomia e liberdade de opção para uma renovação curricular, ou seja, pensar uma proposta educacional específica para as instituições escolares, buscando assegurar a todas as crianças conhecimentos básicos comuns, permeando com a responsabilidade de contemplar a diversidade. Para isso, é necessário também pensar em flexibilização curricular para garantir que todos os sujeitos tenham vozes ativas no processo de conhecimento e tenham espaço para se desenvolverem de acordo com suas potencialidades. Nesse sentido, presente estudo se caracteriza como resultado de uma experiência em construção da Proposta Curricular no município de Feira de Santana/BA, no que se refere a educação especial. A ação é desenvolvida pelo grupo denominado Grupo de Elaboração da Proposta Curricular do Município de Feira de Santana (Gcef). O Gcef desenvolve suas ações desde o ano de 2010, numa proposta que se define com os professores da rede municipal de ensino e não para eles. No presente texto, delimitamos nosso olhar para as proposições relativas à educação de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação partindo da experiência vivenciada no Gcefinho de educação especial (grupo específico destinado a discutir questões voltadas às disciplinas e temas que envolvem o currículo). As ações do Gcefinho objetivam construir a proposta curricular do ensino fundamental de Feira de Santana/BA, tomando por base a transversalidade da modalidade educação especial, bem como as políticas e práticas educacionais vigentes no âmbito municipal e nacional. A partir do objetivo elencado, o Gcefinho de Educação Especial foi formado com 15 professoras que atuam em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) do próprio município. A primeira etapa de elaboração da proposta ocorreu em 2011. O I módulo totalizou a carga horária de 50 horas. Destas, 32 horas foram em caráter presencial e 18 na modalidade de atividades à distância. A partir das atividades e registros foi possível identificar os principais desafios, possibilidades e qual a atual realidade para a realização/elaboração da proposta curricular da rede municipal de Feira de Santana no âmbito da Educação Especial. Palavras – chave: Currículo. Inclusão. Educação inclusiva. A proposta de inclusão envolve a todos os alunos que de uma forma ou de outra tem sido segregado do processo escolar. Isso envolve uma reflexão sobre a proposta de educação inclusiva no que diz respeito à própria ressignificação da escola e suas ações pedagógicas. É importante dizer que não se trata de construir outro currículo, mas pensar em um currículo que se flexibilize a todos, que garanta uma aprendizagem significativa, proporcionando uma capacidade crítica, reflexiva e argumentativa aos alunos que ali 61 Centro de Educação Básica da UEFS [email protected] 62 Escola Municipal Antonio Brandão de Souza [email protected] 63 Escola Municipal José Tavares Carneiro [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 estão inseridos, independente se apresentam necessidades especiais ou não, oferecendo possibilidades para que o mesmo tenha sucesso escolar. O referido trabalho foi escrito por acreditar que no âmbito da educação de pessoas com deficiência, as discussões curriculares são conteúdos imprescindíveis ao analisar a escola e a atenção dada às particularidades de diferentes estudantes no desenvolvimento de intervenções pedagógicas que não os discriminem ou mesmo inviabilizem suas necessidades. As reflexões acima podem se caracterizar como resultado de uma experiência em construção no que se refere à elaboração de uma proposta curricular do município de Feira de Santana. A proposta realiza-se sob a coordenação de professores convidados da própria rede e coordenadores da Secretaria da Educação, que por sua vez, elaboram grupos de trabalho com outros professores da rede municipal de ensino para problematizar o currículo e suas dimensões nos diferentes segmentos do ensino fundamental. No presente texto, delimitamos nosso olhar para as proposições relativas à educação de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008), por relatarmos ações específicas do Grupo responsável por discutir o currículo e a modalidade educação especial. Currículo: A experiência de uma construção coletiva A prática homogeneizante ainda é um dos principais pontos que dificulta a inclusão escolar. Segundo Doziart (2009, p. 44) “a prática, ou o desenvolvimento das atividades em sala de aula, tem se apresentado cada vez mais vazia, em vista de se adotarem pontos de partida equivocados, por desconsiderarem o sujeito na sua inteireza”. Esta homogeneização do ensino é um dos conteúdos problematizados pelo grupo constituído por professores que objetivam construir a proposta curricular do ensino fundamental, tomando por base a transversalidade da modalidade educação especial, bem como as políticas e práticas educacionais vigentes no âmbito municipal e nacional. A partir do objetivo elencado, o grupo foi formado por uma coordenadora e 15 professoras que atuam em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) do próprio município. A primeira etapa de elaboração da proposta ocorreu em 2011, se configurando em um momento de formação em que foram trilhados os primeiros passos. O I módulo totalizou a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 carga horária de 50 horas. Destas, 32 horas foram em caráter presencial e 18 na modalidade de atividades à distância. Dos encontros e estudos sobre o currículo na perspectiva da inclusão de estudantes com deficiência realizou-se o I e o II Ciclo de Debates: Ser professor de Sala de Recursos Multifuncionais: possibilidades, desafios e contradições, que ocorreram em 2011 e 2012, respectivamente. Nestes Ciclos, professores decidiram sobre a necessidade de discussão acerca das condições legais para o desenvolvimento de suas atividades no Atendimento Educacional Especializado (AEE) no âmbito da política municipal e nacional. Além disso, foram analisados Programas de Educação Especial de outros municípios versando sobre questões de fundo curricular. Para discutir conteúdos sobre formação docente, política educacional, currículo e inclusão de estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, considerados eixos da formação para elaboração da proposta, foi necessário fundamentar teoricamente as discussões, estudos e atividades. Nesse sentido, a bibliografia básica que respaldou as discussões foi criteriosamente escolhida, a fim de proporcionar aos professores a leitura de textos atuais, de teor curricular e, sobretudo de articulação com a práxis. Na primeira etapa do trabalho, priorizamos a realização de encontros para discutir os conteúdos curriculares subjacentes à proposta inclusiva. Assim, foram trabalhados capítulos de livro e artigos abordando os temas que coletivamente delineamos: Políticas para a educação especial (GARCIA, 2006); Globalização e Políticas Educacionais (PEREIRA, 2006); Formação de professores (FREITAS, 2007); Avaliação e inclusão na escola (BEYER, 2005); Ressignificação do currículo (DORZIAT, 2009); Currículo e inclusão (CARVALHO, 2008); Avaliação e currículo no cotidiano escolar (OLIVEIRA; PACHECO, 2005). O estudo destes temas possibilitou-nos discutir e também avaliar as propostas oficiais no encaminhamento a inclusão de estudantes com deficiência em classes comuns de ensino. Nesse sentido, foram/são imprescindíveis as contribuições de LOPES e MACEDO (2005, p. 12) ao considerarem [...] o quanto se fazem necessários a reflexão e o debate em torno das questões curriculares sem estabelecer dicotomias entre pensamento e prática. Especialmente, visando desconstruir as verdades de um conhecimento que, com o rótulo de oficial, desconsidera muitas vezes tanto a prática quanto o pensamento curricular. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A fim de registrar as atividades sintetizadoras das práticas docentes, sem perder a riqueza dos momentos e ainda garantindo a originalidade de cada autor do texto, criamos o momento para a leitura do “Vozes que não se calam”. Nessa oportunidade, o professor socializava seus registros e interpretações sobre o encontro anterior de forma bem pessoal. Desse momento resultaram importantes textos em forma de poesia, repente, paródia e descrição. Da subjetividade implícita na discussão e elaboração de uma proposta curricular, foi necessário sistematizar atividades a fim de identificar com mais legitimidade o que pensam e o que fazem professores no apoio a estudantes com deficiência em classes comuns de ensino. A partir das atividades e registros foi possível identificar os principais desafios, possibilidades e qual a atual realidade para a realização/elaboração da proposta curricular da rede municipal no âmbito da Educação Especial. Com base nas informações coletadas foram destacados pelos professores aspectos que necessitam compor a Proposta Curricular: A importância do registro no acompanhamento ao desenvolvimento de estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação; A presença do professor assistente, sobretudo em classes que possuam estudantes com deficiência; Adequação de número de estudantes da turma à quantidade de estudantes com deficiência matriculados e/ou especificidades/tipos de deficiência; Formação para o trabalho com estudantes com deficiência não apenas para o professor, mas para toda comunidade escolar (gestores, coordenadores, porteiros, merendeiros, secretários, auxiliares de serviço gerais, pais, etc.); Orientações sobre o atendimento domiciliar; Pressupostos que validem a necessidade da equipe multidisciplinar; Orientações e encaminhamentos para estabelecimento de diagnósticos de estudantes com deficiência; Atendimento preferencial de estudantes com deficiência na área da saúde; Indicações sobre transporte escolar para garantir o deslocamento dos estudantes; Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Especificidades de estudantes do campo que não conseguem receber Atendimento Educacional Especializado (AEE) no turno oposto ao da escolarização devido às longas distâncias; Dilatação do tempo para realização de atividades por estudantes com deficiência que necessitarem deste mecanismo; Avaliação de estudantes com deficiência (terminalidade); O papel do professor de SRM no trato das questões pedagógicas; Dos aspectos elencados, podemos extrair a complexidade em se elaborar uma proposta curricular que abarque questões tão densas. Pensar a diferença não como elemento definidor e estigmatizante na demarcação de diferentes pessoas, mas como a rica possibilidade do direito de ser diferente, é ainda um de nossos grandes desafios. Conclusões preliminares da experiência: à procura de outras vozes Em 2012, foi formado um subgrupo para sistematização da proposta. Esse grupo, formado por 03 professoras e a coordenadora tem se reunido semanalmente para discussão e escrita preliminar. Na tentativa de visibilizar outras vozes, no início de 2012, foi realizada a Escuta Formativa da Modalidade Educação Especial, etapa assim denominada por se constituir em um momento da proposta de elaboração específico para escuta das vozes de professores, diretores, coordenadores das escolas comuns e profissionais das salas de recursos. Há ainda a previsão de realização do I Encontro de Escuta de Movimentos Sociais – Educação Especial, no qual serão ouvidas as falas de militantes, pessoas com deficiência, instituições especializadas e pessoas envolvidas com a temática em apreço. Além disso, professoras da sala comum que tenham experiências na inclusão de estudantes com deficiência também deverão participar das discussões estabelecidas. É importante destacar que as proposições em torno da educação especial são entendidas como aspecto transversal e toda a discussão remetida pelo grupo é problematizada na Proposta Curricular geral que sintetiza outras discussões relativas às diversas áreas do conhecimento e a outros temas como etnia, educação ambiental, educação de jovens e adultos, educação do campo, entre outros. Dessa forma, após escrita da versão preliminar da proposta será realizado o I Fórum para escuta e discussão da proposta curricular a fim de acrescentar contribuições ao documento. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Por ora desejamos acrescer outras vozes e unir esforços na construção da Proposta Curricular do Município, especialmente que possamos avançar nas formas de respeitar às diferenças e dessa relação abstrairmos novas e importantes aprendizagens. Referências BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008. DORZIAT, Ana. O outro da educação: pensando a surdez com base nos temas identidade/diferença, currículo e inclusão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. – (Coleção Educação Inclusiva) LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth (Orgs.). Currículo: debates contemporâneos. – 2. ed. – São Paulo: Cortez, 2005. – (Série cultura, memória e currículo, v. 2) Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 PROPOSTA CURRICULAR DE MATEMÁTICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA: UMA ESCRITA INICIAL Jacqueline Pereira lemos (SME/FSA) RESUMO: Este trabalho objetiva divulgar a experiência de elaboração do documento da proposta curricular da rede municipal de Feira de Santana para o ensino fundamental de Matemática de nove anos, que se encontra na fase inicial de observações e considerações acerca da prática escolar desenvolvida na rede, além de uma busca por uma fundamentação teórica que parte do pressuposto de que se ter uma compreensão do que representa a matemática é condição primordial na maneira de ver a matemática e a educação e, da interpretação que fazemos da mesma num processo de globalização como uma das características da atualidade. A proposta curricular de matemática para o município de Feira de Santana tem como função fornecer uma orientação e direção aos professores com uma estrutura que aponte para o desenvolvimento contínuo da matemática em todos os anos. Para tanto, algumas discussões teóricas sobre currículo vêm sendo realizadas no GCEF( grupo de elaboração da proposta curricular de Feira de Santana) objetivando fundamentar as reflexões teóricos práticas sobre o tema, além de estudos teóricos voltados para o ensino e aprendizagem da matemática, pautado em Ubiratan D’Ambrosio, Ole Skovsmose, Gimeno Sacristán, Lucia Moysés entre outros pesquisadores visando a composição do grupo de estudo e escrita da proposta curricular de Matemática denominado Gcefinho de Matemática para que então as discussões teóricos práticas sejam aprofundadas coletivamente e o documento oficial possa ser sistematizado e implementado a partir das diferentes realidades presentes na rede. PALAVRAS – CHAVE: Currículo, ensino e aprendizagem. matemática INTRODUÇÃO O presente trabalho visa apresentar algumas considerações teóricas resultante do aceite ao convite para participar do projeto de elaboração da proposta curricular do município de Feira de Santana como coordenadora da área de Matemática e, em particular de algumas inquietações acerca do ensino de matemática, diretamente relacionadas ao currículo escolar, observadas na prática como professora deste município. Ao conhecer o projeto de elaboração da proposta curricular do município de Feira de Santana-BA, percebi neste, a oportunidade de “aprender”, através da interação com novos colegas, com novas e intensas leituras, discussões e reflexões, numa via de mão dupla, poder contribuir na promoção de mudanças no processo educacional do nosso município, no que tange ao ensino e aprendizagem em matemática, através da elaboração da proposta curricular de matemática, como forma de subsidiar o trabalho Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 pedagógico do professor, na forma de um currículo pensado, construído e implementado por “todos” os professores que integram a educação municipal. CURRÍCULO E MATEMÁTICA: caminhos... Mudanças ocorridas no processo sócio, político, econômico e cultural e num movimento natural na forma de ver a educação e, em particular a educação matemática têm promovido mudanças lentas, mas constantes no ensino e aprendizagem em matemática. Assim, comungamos da interpretação feita por Ubiratan D’Ambrosio quando escreve: Vejo educação como uma estratégia de estímulo ao desenvolvimento individual e coletivo gerada por esses mesmos grupos culturais, com a finalidade de se manterem como tais e de avançarem na satisfação de necessidades de sobrevivência e de transcendência (2010.p.08). Neste contexto, ter uma compreensão do que representa a matemática é condição primordial na maneira de ver a matemática e a educação, e da interpretação que fazemos destas, num processo de globalização como uma das características da atualidade. As convicções sobre o que significa saber e fazer matemática, e sobre como os alunos chegam a dar sentido à matemática, tem impacto significativo em como o professor aborda o ensino de matemática. Articular uma visão do ensino de matemática com base na noção de que o ensino de qualidade e significativo é uma concepção da matemática para todas as crianças e não para algumas, tornou-se imprescindível visto às fortes influências que, direta ou indiretamente, têm tido a educação matemática no saber e fazer matemática. Perpassa por essa compreensão o princípio que: Um currículo é muito mais do que uma coleção de atividades: ele deve ser coerente, enfocar as idéias matemáticas importantes e ser bem articulado ao longo das séries e ciclos (NCTM, 2000 apud VAN DE WALE, 2009,p.21). A coerência aqui é entendida no sentido de se construir um ensino em torno de “idéias importantes“, tanto no currículo, quanto no ensino diário em sala de aula, onde os alunos sejam capazes de ver a matemática como um todo integrado e não uma lista de peças e fatos isolados, mas como um empreendimento da humanidade. Vejo a disciplina matemática como uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para entender, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 para manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural (D’ AMBROSIO,2010, p. 07) Desta forma, a proposta curricular de matemática para o município de Feira de Santana tem como função fornecer uma orientação aos professores com uma estrutura que enfatize o desenvolvimento contínuo da matemática em todos os anos, numa perspectiva de que possa ser um instrumento útil na prática pedagógica do professor. Nesse sentido, em consonância com as Indagações Curriculares torna-se fundamental na construção do documento curricular possibilitar que todos os envolvidos se questionem e busquem novas possibilidades sobre currículo: O que é?Para que serve?A quem se destina? Como se constrói? Como se implementa. O currículo deve ater-se ainda às necessidades do ambiente, contextos e indivíduos, O currículo não pode ser entendido à margem do contexto no qual se configura e tampouco independentemente das condições em que se desenvolve; é um objeto social e histórico e sua peculiaridade dentro de um sistema educativo é um importante traço substancial. Estudos academicistas ou discussões teóricas que não incorporem o contexto real o qual se configura e desenvolve levam à incompreensão da própria realidade que se quer explicar (SACRISTÁN, 2000,p.107). Sob esse olhar, teoria e prática devem existir numa relação dialética, em que o professor equipado de uma teoria possa desenvolver práticas pedagógicas intentando atingir os resultados desejados, respaldados por uma proposta curricular elaborada conjuntamente, e que possa ajudá-lo a organizar o conhecimento, numa perspectiva de atender aos anseios de toda a comunidade escolar. Ensino e Aprendizagem em Matemática: estudos iniciais Por que estudar Matemática na escola? Por vezes nos deparamos com esse questionamento em algum momento da nossa prática escolar. Cremos que esse questionamento decorre muitas vezes da forma como é visto o ensino e a aprendizagem em matemática nas nossas escolas, sendo para muitos alunos uma experiência difícil e desestimulante. E porque as coisas são assim? O que é possível fazer para mudar essa realidade, se os alunos aprendem matemática na escola para serem educados para a vida fora dela? De fato, o grande desafio é apresentar uma proposta relacionada a problemas de hoje e ao interesse dos alunos, compreendendo que o conhecimento Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 matemático deve ser abordado respeitando a cultura e a diversidade da sala de aula, buscando desmistificar a matemática como um fenômeno resultante do pensamento e totalmente alheio à realidade sócio cultural da qual o homem sempre esteve inserido, com vistas a que o professor seja capaz de conduzir um currículo dinâmico, com idéias matemáticas importantes e bem articuladas ao longo dos anos. Esses pontos, nos remetem à questões relacionadas com um currículo critico, que como coloca Skovsmose (2008, p.19) ligam-se ao seguinte: 1- A aplicabilidade do assunto: quem o usa? Onde é usado? Que tipos de qualificação são desenvolvidos na Educação Matemática? 2- Os interesses por detrás do assunto: que interesses formadores de conhecimento estão conectados a esse assunto? 3- Os pressupostos por detrás do assunto: que questões e que problemas geraram os conceitos e os resultados na matemática? Que contextos têm promovido e controlado o desenvolvimento? 4- As funções do assunto: que possíveis funções sociais poderia ter esse assunto? Essa questão não se remete primariamente às aplicações possíveis, mas a função implícita de uma educação matemática nas atitudes relacionadas a questões tecnológicas, nas atitudes dos estudantes em relação suas próprias capacidades etc. 5- As limitações do assunto: em quais áreas e em relação a que questões esse assunto não tem qualquer relevância? Desta forma, devemos estar empenhados em pensar o que devemos ensinar e no como ensinar, numa tentativa de garantir nos alunos sua própria capacidade de pensar, de fazer perguntas coerentes, de serem sujeitos da sua aprendizagem no processo escolar e também fora dele. A matemática, surgida na Antiguidade por necessidade da vida cotidiana, converteu-se em um imenso sistema de variadas e extensas disciplinas. Como as demais ciências, reflete as leis sociais e serve de poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e domínio da natureza.[...]. Em sua origem, a matemática constitui-se a partir de uma coleção de regras isoladas, decorrentes de experiências e diretamente conectadas com a vida diária. (PCNs, 1998) Nesta perspectiva, o estudo através da resolução de problemas tem se mostrado eficaz no processo de ensino e aprendizagem em matemática, não como forma de aplicar matemática, mas como forma de ampliar o conhecimento matemático que o aluno já possui. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Resolver problemas não é apenas uma meta da aprendizagem matemática, mas também um modo importante de fazê-la. A resolução de problemas é uma parte integrante de toda a aprendizagem matemática e, portanto, não deve ser apenas uma parte isolada do programa de matemática (NCTM,2000 apud VAN DE WALE, 2009, p. 57). O processo de investigação possibilitado pela resolução de problemas permite estudar matemática de maneira reflexiva, dinâmica e contextualizada, próximo do fazer cotidiano do aluno. A própria História da Matemática mostra que ela foi construída como resposta a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, motivadas por problemas de ordem prática ( divisão de terras, cálculo de créditos), por problemas vinculados a outras ciências(Física, Astronomia), bem como por problemas relacionados a investigações internas à própria Matemática(PCNS,1998). A história da matemática nos mostra que os avanços matemáticos ocorreram quase sempre como forma de resolver um problema, sendo assim, como explica Moysés (2010,p.67), se professor e aluno defrontam-se com sentenças, regras e símbolos matemáticos sem que nenhum deles consiga dar sentido e significado a tal simbologia, então a escola continua a negar ao aluno – especialmente àquele que freqüenta a escola pública – uma das formas essenciais de ler, interpretar e explicar o mundo. Para Van de Walle (2009, p.21) para promover uma educação matemática de qualidade, os professores devem: (1)compreender profundamente a matemática que estão ensinando; (2)compreender como a criança aprende matemática, incluindo uma consciência aguda do desenvolvimento matemático individual de seus próprios alunos; e (3) selecionar tarefas e estratégias educativas para enriquecer a aprendizagem. È fundamental compreender o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem como gerenciador, como facilitador, num processo de interação com o aluno com vistas à produção do conhecimento matemático. Para D’Ambrosio, a aprendizagem é entendida como a capacidade de explicar, de apreender e compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. Para o autor ainda, “aprender não é o mero domínio de técnicas, de habilidades, nem a memorização de algumas explicações teóricas”. (D’Ambrosio,2010,p.119) Sob esse olhar, o conhecimento e a sua forma de abordagem interferem diretamente na forma como o aluno aprende. Há conhecimentos que possibilitam maior desenvolvimento, assim como há métodos que favorecem o aluno pensar, que o desafiam ir mais além, possibilitar que as pessoas sejam capazes de problematizar situações e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 resolver problemas faz parte do mundo em que vivemos, da sociedade globalizada da qual fazemos parte. A escola como parte integrante dessa sociedade não pode e nem deve deixar de fazer uso dessa estratégia como forma de possibilitar aos alunos o desejo por questionar, por saber o porquê as coisas são como são. O estudo através da resolução de problemas tem se mostrado eficaz no processo de ensino e aprendizagem em matemática, não como forma de aplicar matemática, mas como forma de ampliar o conhecimento matemático que os aluno já possui. Para tanto, faz-se necessário ao professor a seleção adequada dos problemas, sendo acessível ao aluno no sentido de sentir-se apto a fazer perguntas, elaborar estratégias de resolução, mas que ao mesmo tempo supunham um desafio que possibilite a exposição de idéias, o argumento; fomentando assim, o trabalho em grupo, a comunicação de idéias. O certo nessa atividade de resolução de problemas é que todos os envolvidos tornam-se sujeitos integrantes do processo ensino e aprendizagem em matemática, possibilitando uma formação mais geral do aluno e, não uma aprendizagem de certos conteúdos específicos, totalmente dissociados e sem sentido. CONSIDERAÇÕES FINAIS Visando construir a proposta curricular de matemática à luz de saberes do professor relativos à pesquisa, como forma de possibilitar o diálogo entre teoria e prática, entraremos em detalhes em estudos baseados em abordagens de resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática, TICs, jogos, como possíveis tópicos do currículo. Para tanto, estudos relativos ao currículo vêm sendo realizados no GCEF (grupo de elaboração da proposta curricular de Feira de Santana), objetivando fundamentar as reflexões teórico prática sobre o tema, além de estudos teóricos voltados para o ensino e aprendizagem da matemática, visando a composição do grupo de estudo e escrita da proposta curricular de Matemática, denominado Gcefinho de Matemática, para que então, as discussões teórico prática sejam aprofundadas coletivamente, e o documento oficial possa ser sistematizado e implementado a partir das diferentes realidades presentes na rede. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 REFERÊNCIAS D’AMBROSIO, UBRATAN, Educação matemática: Da teoria à prática. Campinas,SP. papirus, 1996. SACRISTÁN, GIMENO. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto alegre: Artes Médicas, 2000. MOYSÉS, LUCIA. Aplicações de Vygotsky à educação matemática. Campinas SP. Papirus, 1997. VAN DE WALE, JONH. A Matemática no ensino fundamental: formação de professores aplicação em sala de aula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Indagações sobre currículo. Brasília: MEC Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A elaboração da proposta curricular sob o olhar docente: tempos e espaços de valorização e reconstrução dos saberes Katty Lirane Haywanon Santos Maia64 RESUMO: A sociedade da qual fazemos parte, está em constante mutação e a cada dia exige de nós, educadores/educadoras, uma formação inicial e contínua. Há de se considerar, porém, que, dentre algumas situações enfrentadas pelos docentes, como por exemplo, a sobrecarga de trabalho, muitas vezes, não permite tempo e espaço para o investimento na formação em serviço. Diante dessas considerações, quando o professor/professora tem garantido momentos de auto formação, estudos e discussões dentro da escola, nos momentos de atividade complementar (AC) e também fora dela, percebe-se que se abre um leque de possibilidades para uma reflexão da práxis pedagógica; permite um pensar a escola de forma que provoque inquietações/transformações através do contato com diversos teóricos que discutem os temas que fazem parte do cotidiano do professor/professora. Nesta perspectiva, este trabalho trata de um relato de experiência sobre o tempo e espaço privilegiado de auto formação, com estudos sobre o tema currículo e suas implicações na formação do sujeito que está na escola. Neste caminho, objetiva-se apresentar de forma breve, a experiência vivenciada no Grupo de Elaboração da Proposta Curricular do Ensino Fundamental (Gcef), do subgrupo de Ensino Fundamental - anos iniciais, da rede municipal de Feira de Santana – BA. A garantia desse momento privilegiado de estudo, fundamentado em Tardif (2002), Arroyo (2011), Freire (1996), Silva (2011), Barzano e Araújo (2011), surgiu a partir do projeto desenvolvido por um grupo de professores da Secretaria de Educação do Município, que propôs a construção da proposta curricular e, para que esta fosse legitimada, profissionais da educação de toda a rede receberam o convite de assumir a coordenação das áreas especificas tendo o desafio de deixar a sala de aula por um período, a fim de estudar, compartilhar experiências, saberes e por fim elaborar a proposta curricular. Este trabalho está em andamento, mas já é possível vislumbrar a urgente necessidade da rede municipal iniciar uma efetiva política pública de formação contínua e em serviço, dentro e fora da escola para todos os professores/professoras. Palavras-chave: Formação contínua. Currículo. Escola. A condição docente (des) prestigiada nesses novos tempos Assumir o papel de professor/professora nesses novos tempos tem sido um desafio constante. Entender que o país em que vivemos necessita de uma educação pública gratuita e de qualidade é um discurso garantido pela lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases. O título IV que trata da Organização da Educação Nacional, explicita o dever do docente: Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. (BRANDÃO, 2007) 64 Pedagoga e especialista em Psicopedagogia clínica, hospitalar e institucional. Professora da Escola Municipal Noide Cerqueira, atualmente atuando como Coordenadora do Ensino Fundamental anos inicias na Secretária Municipal de Educação no Grupo de Elaboração da Proposta Curricular. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Mas como operacionalizar mudanças reais e significativas se ainda não há de fato uma política de formação continua no nosso município? Como ter um novo professor/professora para atender as novas metas educacionais, sem que haja preparo para novos conhecimentos e competências sejam adquiridas? Logo, investir na formação não é uma decisão meramente pessoal, mas um dever legal do docente. Brandão (2007, p.55) lembra-nos que cabe a cada estabelecimento de ensino, criar condições para que este momento de formação aconteça; logo o que se percebe então é que há uma isenção de responsabilidades, nem o estado, nem o município tem ações constantes, consistentes voltadas para formação continuada. As escolas, muitas vezes precarizadas, não dispõem de recursos necessários e a carga horária cumprida pelo professor é só para garantir a ministração de aulas e correções. Este relato de experiência objetiva apresentar de que forma ocorreu a minha entrada enquanto professora do Ensino Fundamental das séries iniciais no Grupo de Currículo do Ensino Fundamental (Gcef) e o que esse tempo e espaço garantido de estudo vêm contribuindo para minha atividade docente. Ter contato com referenciais teóricos, dedicação de tempo de estudo e de produção, ter garantido espaços de trocas de experiências, debates, discussões que muitas vezes a escola, em seu lócus, não consegue promover é algo de muito valor para o profissional da educação que busca tempo e espaço para investir em sua formação. Investir em momentos de estudos é proporcionar tempos de reflexão e quiçá de ressignificação da prática pedagógica. Arroyo (2011, p. 116) nos chama atenção afirmando que, ainda hoje, “os únicos reconhecidos como capazes de produzir teoria pedagógica e conhecimentos válidos são pequenos coletivos distantes da prática cotidiana.” Portanto o professor muitas vezes, não é visto, como sujeitos que também estão ali, no chão da sala produzindo conhecimento com outros diferentes sujeitos. Nessa tessitura, o projeto de Elaboração da Proposta Curricular do município de Feira de Santana percebe o professor/professora como principal ator deste processo educativo. Trabalho docente: reconhecer autorias positivas Historicamente, a profissão do professor deixou de ser a profissão das elites, como nos lembra Souza: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A profissão do professor vem deixando de ser, em sua trajetória histórica, profissão das elites. Despossuída de sua principal característica, que foi a autonomia de cátedra, passa por um processo de proletarização. (Souza, 2011, p.180) É preciso exercer o direito da greve para garantir direitos mínimos de sobrevivência, de condições de trabalho, de tempos e espaços para a formação continuada e em serviço, e até mesmo de uma proposta curricular que oriente a rede, a fim de atender o que a própria lei maior da educação determina: escola gratuita e de qualidade para todos e todas. Assim, com a universalização do ensino fundamental, assegurado pela constituição, uma multiplicidade de perfis adentrou à escola, sem que a sociedade atentasse para a formação do professor que enfrentaria estes novos desafios. Segundo Souza (2011, p. 186) “a formação inicial e formação em serviço cedem lugar para o que se nomeia por “formação contínua” e a busca da informação se estabelece como parte integrante desse processo”, subentende-se que o professor/professora é responsável pela sua auto formação, e que deve buscar incessantemente qualificação profissional a fim de atender a complexidade da sua sala de aula. É mister a necessidade de um novo professor/professora para atender a sociedade do conhecimento. No caso especifico de nosso município, esta agrava-se quando vemos a segunda maior cidade da Bahia, sem uma proposta curricular que oriente o trabalho pedagógico da rede. Mas quem escreverá tal proposta? Deverá vir de cima para baixo? Estaria o professor/professor da rede apto para desenvolver tal empreitada? Não seriam necessários especialistas ou até mesmo consultorias de outros estados para ajudar na construção da proposta curricular? Como aponta Tardif (2002, p.213) “o professor possui competências, regras, recursos que são incorporados ao seu trabalho, mas sem que ele tenha, necessariamente, consciência explicita disso.” Diante dessas considerações é preciso pensar que muitas mudanças ocorreram dentro e fora da escola, mas o tempo de trabalho do professor aumentou e dentro dessa lógica, o tempo de pensar a escola, o tempo de qualificação não veio no mesmo ritmo. Nesse sentido é que a elaboração da proposta curricular permitiu uma ação-reflexão não só mais a partir da minha sala de aula, mas de toda uma rede. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Direito ao conhecimento em tempos de pouco tempo Inicialmente, parto da reflexão que atuando por quarenta horas dentro da sala de aula do Ensino Fundamental das séries inicias, é difícil para um professor/professora se constituir como um sujeito que investe na sua auto formação e na qualificação de seu trabalho. Envolto em planejamentos, correções, atividades extras, o próprio cotidiano escolar não favorece o tempo e o espaço para pensar a escola coletivamente. A escola não deve estar descolada de sua realidade, é preciso vê-la com seus problemas, reconhecer os sujeitos que a compõe, a comunidade em torno. Isso implica concordar com Silva (2010, p.15 ) quando afirma que: O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. Construir a proposta curricular da rede é um momento singular, pois se tem a oportunidade de vislumbrar de que forma a escola poderá contribuir no desenvolvimento do sujeito. Logo o desafio de cada escola será o de colaborar na construção da proposta curricular da rede, e em seguida, em suas escolas, elaborar a própria proposta parafraseando Arroyo (2011 p.145) ao ressaltar que ”as experiências vividas carregam seus significados, suas luminosidades porque têm sujeitos, autores” No município de Feira de Santana, além de todos os desafios já elencados, a ausência de uma proposta curricular que orientasse a prática da escola em que trabalhava, também gerou em mim angústias e inquietações. Entretanto, a participação em uma reunião promovida pela Secretaria de Educação, na qual foi apresentado o Projeto para Elaboração da Proposta Curricular, percebi que a preocupação não era só minha, mas de uma coletividade. Isso implica dizer que muitos professores buscavam mudanças efetivas, queriam ser partícipes das transformações que o município tanto necessitava. Alguns professores e professoras se pronunciara (des)acreditando do momento e do processo de construção da proposta curricular. Tal reação não se da à toa, é preciso entender o contexto de luta, cansaço e descaso que muitos professores enfrentam no seu dia a dia, como alerta Souza (2011, p. 185) “Assiste-se nas escolas brasileiras, a Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 professores altamente desmotivados diante de verdadeiras avalanches de novas estruturações, que buscam, mas nem sempre, conseguem compreender.” É preciso salientar que em meio a este contexto, existem os professores que insistem, persistem, acreditam e recusam-se a cruzar os braços, descobrem que podem entrar também na luta de outra forma. O conhecimento é uma arma poderosa de transformação. E como docente, percebi nesse momento o direito a experimentar uma formação continuada, o direito e o dever de pensar a minha prática, a aprender e conhecer as intencionalidades sócio político educativas que até então desconhecia. Os saberes valorizados no espaço de trabalho A escola é um palco legitimado onde saberes atualizados e acumulados pela humanidade são socializados numa troca interativa professor e aluno. Assim, dentro do espaço da escola vão se construindo sentimentos de pertencimento. A entrada no grupo ocorreu após uma breve entrevista, onde aceitei o convite de forma voluntária, atendendo ao apelo/solicitação da coordenação geral do Grupo. Essa entrada apontou outros caminhos para os saberes construídos na sala de aula e que estas experiências seriam validadas e consideradas na elaboração da proposta curricular. Desde então, durante todo o processo de inserção no grupo tive que conviver com a dificuldade/aflição da liberação da sala de aula por não ter quem me substituísse e ao mesmo tempo com o enorme desejo de colaborar com a construção da proposta curricular. É um momento histórico para a educação do município, pois afinal, o professor/professora foi/era visto como protagonista desta construção que já nascia democrática. Mas, para garantir minha permanência no Grupo tive que contar como única alternativa com a presença de um estagiário para assumir a minha função. Contudo, mesmo ausente do ambiente escolar, não deixei de manter contato com a colega a fim de orientá-la na prática pedagógica. Quando cheguei ao Grupo em julho de 2011, ele já possuía uma dinâmica própria e contava com doze colegas de áreas especificas, onde cada componente deve frequentar as reuniões dentro de sua carga horária, sendo às terças e quartas, reuniões gerais onde se discute a pauta da semana e os demais dias para estudos de acordo com a área de conhecimento. No decorrer de um ano, muitas atividades foram propostas e realizadas pelo grupo tais como: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Discussão e socialização de experiências educacionais com colegas que estavam atuando em escola da sede e do campo; Pesquisa de propostas curriculares de outros estados e municípios; Conhecer/estudar/discutir teóricos da área de currículo tais como: SILVA (2008), ARROYO (2011), SACRISTÁN (2000), MOREIRA (2008); Estudo de documentos oficiais: a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos; O currículo e avaliação; O currículo e planejamento; Currículo e diversidade, Currículo e cultura; ( disponibilizados no site do MEC) Organização de eventos para os professores denominado de Escuta Formativa; Aplicação de questionário para conhecer/reconhecer a rede municipal; Incentivo e valorização da produção escrita. Esse tempo/espaço para o estudo foi de fundamental importância. Por dezenove anos, estive no chão da sala de aula, envolta naquela dinâmica própria na qual era difícil refletir sobre minha pratica pedagógica e repensá-la baseado em estudos. Esse repensar era constante, mas, na maioria das vezes, a partir das experiências vivenciadas. Poucas vezes tive a oportunidade de participar de grupos de estudos e as ocasiões em que participei, quando elegíamos o tema que atendia a necessidade daquele aluno real, os informes, eventos, preenchimento de relatórios, correções, boletins, reuniões de pais tudo isso ocupava o tempo/ espaço do grupo e tudo então se perdia. O movimento de sair para participar de uma formação é um outro desafio, já que na maioria das vezes não há quem nos substitua. Enquanto parte da coordenação do Ensino, demos continuidade ao que propunha o projeto: formar subgrupos que denominamos Gcefinhos, formados por outros professores convidados da rede. Diferente do Gcef que se reúne todos os dias, o Gcefinho reúne-se uma vez por semana e desenvolve as mesmas atividades com o olhar delimitado para os anos iniciais do ensino fundamental. Todavia um dos entraves deste trabalho está em conquistar professores/professoras que desejem compor estes subgrupos. Todos os profissionais que foram convidados negaram a participação. Cada um justifica a sua não participação pela demanda de trabalho; a não liberação do diretor da escola; o não reconhecimento financeiro; a falta de credibilidade no processo, alegando que este tipo de trabalho dificilmente conclui-se porque há uma descontinuidade administrativa. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Por uma política de formação continuada... A construção da proposta curricular ainda está em andamento. Como professora elenco algumas reflexões que aprendi ao vivenciar esse tempo no Gcef. Pude, através das leituras, compreender as intencionalidades de um currículo traçando um paralelo com minha prática, entendendo o que Arroyo (2011) diz sobre o conhecimento acumulado na história e organizado nos currículos tem luminosidades porque é uma produção de sujeitos, de autores; o dever que temos enquanto cidadãos em representar e lutar por uma escola pública laica, gratuita e de qualidade; em reconhecer os direitos que temos enquanto profissionais da educação; o de lutar, juntos, para termos tempo e espaço para uma formação continuada que qualifique nossa prática pedagógica; o de perder o temor de escrever/expor sobre os saberes docentes, temos muito a dizer... Nesta perspectiva, se não passamos por uma formação continua nosso trabalho pedagógico empobrece. O conhecimento que poderíamos construir dentro do espaço escolar é secundarizado e assim, pouco a pouco vamos perdendo o olhar crítico e não somos mais instigados a refletir, agir e propor mudanças no local onde estamos. Assim Arroyo (2011) nos provoca afirmando que ao invés de sermos libertos pelo conhecimento, viramos verdadeiros escravos das demandas do mercado. Como pode o professor provocar transformações profundas dentro do ambiente escolar se muitas vezes ele nem consegue desenvolver um sentimento de pertencimento pelo ambiente em que está? Como pode o professor ensinar melhor, se nem há tempo para que possa rever/aprender/(re)aprender ? Não bastam formações aligeiradas onde se apresenta um determinado conhecimento de forma tão superficial, nem também especializações sem fim, onde acabamos não nos especializando em nada. É necessário, ter políticas públicas de formação continua, em serviço, voltadas para as reais necessidades de professores, concomitantemente de nossos alunos. É preciso ainda parar de ver o professor apenas como aquele que dá aula, o responsável por todos os problemas educacionais e um arcabouço de políticas públicas que invistam num professor pesquisador, que pense em sua escola, em sua sala de aula, em seu aluno, sem perder, porém, o contato com as demais escolas que pertencem a uma mesma rede. Mapear a pluralidade de iniciativas que ocorrem nas escolas e através de grupos de estudos, trocar experiências com outros espaços, promoverá uma possível mudança mais Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 significativa. Consequentemente teremos uma qualidade de trabalho e de vida melhor para todos os envolvidos no processo. Mesmo vivendo este processo de formação ímpar no Grupo de currículo do Ensino Fundamental, gostaria de vivenciar tempos/programas de estudo dentro da escola, mas tempos de estudos significativos, que desse conta da necessidade real do aluno/aluna. Às vezes investe-se em formações externas que nem sempre atendem de fato, ao que é urgente para a escola. Concordo com Apple (2008 p. 41) quando ele afirma que Enquanto não levarmos a sério a intensidade do envolvimento da educação com o mundo real das alternantes e desiguais relações de poder, estaremos vivendo em um mundo divorciado da realidade. As teorias,diretrizes e práticas envolvidas na educação não são técnicas. Dentro desta perspectiva, espero brevemente voltar ao chão da sala de aula, carregando em mim, muito conhecimento (re)construído, saberes pedagógicos não mais tão descolados da realidade. Quero materializar os momentos vividos de estudo em atividades docentes coerentes com a realidade do aluno e o mais importante: não deixar de pensar na escola realizando um exercício diário de vê-la como um espaço vivo, sempre permitido espaço para um autoquestionamento sobre as condições presentes, a fim de atuar com responsabilidade. Muitas vidas estarão sob nossa responsabilidade e não podemos deixar de nos engajar neste contínuo questionamento. Parte da argumentação aqui desenvolvida busca escrutinar a necessidade da formação continuada como um direito garantido por lei. Logo, estado e município precisam operacionalizar estratégias para que a escola tenha condições não só de criar um ambiente de estudo mas que este professor/professora possa tomar parte de formações que lhes garantam a fundamentação teórica e um acompanhamento da prática e não formações aceleradas, como afirma Araújo, Pereira e Jesus (2012) ao falar das políticas de formação aligeiradas, promovidas e referendadas pelo Ministério da Educação. Por fim, aprendi que muito do que me fiz enquanto docente tem raízes em minha história de vida e que, através da minha trajetória pré-profissional e profissional foi e é possível ter um olhar privilegiado sobre esse momento que considero único, sendo possível perceber a potencialidade do professor/professora do Ensino Fundamental na elaboração do documento de identidade do município de Feira de Santana, e ter a mesma Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 certeza de Freire (1996, p.29): “onde há vida, há inacabamento. Mas só entre homens e mulheres o inacabamento se tornou consciente.” REFERÊNCIAS ARAUJO, Maria de Lourdes H. S. GRILO, Jaqueline P. de S. JESUS, Wilson P. Trajetórias, (re)construções e desenvolvimento profissional de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. In: BARZANO, Marco A. L. ARAUJO, Maria de Lourdes Haywanon S. (orgs.) Formação de professores: retalhos de saberes. UEFS Editora. 2011 ARROYO, Miguel G. Currículo: território em disputa. Petropólis. RJ. Vozes. 2011. BRANDÃO, Carlos Fonseca. LDB passo a passo: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) comentada e interpretada, artigo por artigo. 3° edição. Atual. São Paulo. Editora Avercamp. 2007. MOREIRA, Antonio Flavio. SILVA, Tomaz Tadeu.(orgs.) Currículo, cultura e sociedade. Tradução de Maria Aparecida Baptista. 10.ed. São Paulo. Cortez. 2008. SOUZA, Neusa Maria Marques de. Profissão Professor: Revisitando o lugar, a função e o papel do professor enquanto profissional de ensino. In: SILVA, Antonia. LARANJEIRA, Denise. CAVALCANTE, Ludmila O. H. (orgs.) Educação e pluralidade sociocultural: instituições, sujeitos e políticas públicas. UEFS Editora. 2011. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petropólis, RJ. Vozes. 2002. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O currículo e a escola: instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações étnicorraciais positivas 65 Maria Cristina de Jesus Sampaio – PPGE-UEFS . RESUMO: Este trabalho aborda o seguinte tema: O currículo e a escola: instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações étnicorraciais positivas, embasado em ideias e discussões de importantes teóricos do debate educacional tais como Elizabeth Macedo, Michael Foucault, Nilma L. Gomes, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, T.T.Silva e outros pesquisadores que tratam da temática do currículo e das relações étnicorraciais. No transcurso do texto será dada ênfase a conceitos e concepções como escola, currículo e diversidade, perpassando por uma breve contextualização e, discorrendo entre outros aspectos, sobre o papel da Escola enquanto instrumento preponderante nos processos de negação e exclusão de sujeitos dos diversos grupos não hegemônicos, culturalmente desvalorizados, e paradoxalmente, também espaço de formulação da emancipação humana. A abordagem dessa temática no contexto da sociedade brasileira, onde o currículo e a escola sempre estiveram a serviço dos grupos opressores, parte do exercício da suspeita sugerido por Foucault, em uma prática daquilo que ele chama de “pensamento nômade” que pode ser traduzido como uma busca inquietante por aquilo que ainda não foi pensado, um questionar-se permanentemente a respeito das certezas prontas do universo educacional. Em suma, esse artigo insta-nos à inquietação e ao comprometimento de repensarmos a educação como um todo, bem como a escola e seu currículo, compreendendo os mesmos enquanto poderosos instrumentos de transformação social. Palavras chave: escola; currículo; e relações étnicorraciais. 1. Início da Viagem: uma introdução ao tema A presente produção em forma de artigo, sob o tema: O currículo e a escola: instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações étnicorraciais positivas, é parte integrante do trabalho de investigação desenvolvido junto ao Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS; em uma pesquisa do tipo qualitativa que tem por objeto: o currículo (vivido) e as práticas pedagógicas em três escolas municipais da Matinha dos Pretos, a partir das determinações da Lei Federal nº 10.639/2003, em (co)relação com o seu contexto cultural. Maria Cristina de Jesus Sampaio – Licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Educação- UEFS; Estudante do Programa de Pós-graduação - Mestrado em Educação – UEFS. Endereço eletrônico: [email protected] 65 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Este mesmo artigo está estruturado em três subtítulos, mais as considerações finais. Sua escrita parte de uma breve introdução, seguida da contextualização do tema conforme a história do país, perpassando no subtítulo seguinte por alguns conceitos fundamentais para essa discussão, tais como: escola, currículo, diversidade e relações étnicorraciais, estabelecendo diálogo entre estes conceitos e os teóricos do debate contemporâneo, em análises e reflexões sobre o tema proposto; concluindo com algumas considerações finais. Sendo seu objetivo: fomentar a discussão sobre o currículo e a escola no que se refere à promoção da educação para a diversidade cultural e pluralidade étnicorracial, no contexto social brasileiro. Este exercício teórico se fundamenta precisamente em ideias e discussões de: Elizabeth Macedo, Michael Foucault, Nilma L. Gomes, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, T.T.Silva e outros pesquisadores, presentes no debate educacional, que tratam da temática do currículo e da educação para as relações étnicorraciais. Fazendo alusão a Michael Foucault, (teórico de pensamento transversal, e da desconstrução de dogmas e certezas prontas no momento de se pensar sobre educação) este nos insta a pensar a escola e seu currículo desde o pressuposto da suspeita e de questionamentos lógicos e reflexivos em prol da desconstrução de “verdades” engessadas. Conforme Rago (2008, p.254). [...] a produção filosófica de Foucault, quando deslocada para pensar a educação, pode agir como veneno contra ervas daninhas, tornando o pensamento novo possível [...] Numa atitude completamente avessa a qualquer tipo de certeza pronta. A filosofia foucaultiana como exercício da suspeita sugere um olhar para além do óbvio, esmiuçando bases e estruturas, e essa quando aplicada à educação deverá ser como lentes de aumento no processo de reflexão sobre seus fundamentos, o papel da escola e o currículo. Embora inicie essa produção fazendo alusão a Foucault, grande filósofo contemporâneo, não ousaria dizer que esse é um trabalho desde uma perspectiva foucaultiana, embora pretenda aqui dialogar com algumas das proposições que logrei absorver em contatos recentes com trabalhos de sua inquietante obra que nos convida ao pensamento nômade - “um pensamento nômade é aquele que não tem caminhos definidos de antemão, mas segue ao léu, segundo o fluxo dos acontecimentos, fazendo descortinar perspectivas novas, muitas vezes insuspeitadas” (RAGO, 2008, p.255). Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Quando penso em currículo nesta discussão, saliento que é preciso compreender o mesmo (currículo) em seu sentido extenso, numa dimensão que inclua as diversas relações travadas no espaço escolar, principalmente em se pensando este, como instrumento de emancipação humana, fundamental na construção das identidades individuais e coletivas, e na efetivação de uma proposta de educação para as relações étnicorraciais positivas, no contexto da diversidade. O currículo conforme Moreira (2008, p.19) “é o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional responsáveis por sua elaboração”. Portanto neste ato de construir e viver o currículo é fundamental considerarmos sua função junto à escola enquanto esse poderoso instrumento de transformação social. Durante este processo de pensar o currículo, também entendo o mesmo como ato vivido por todos que participam do fazer escolar. Sendo esta uma concepção de currículo que coaduna com as ideias de Macedo (2006) ao expressar o termo (currículo) em seu sentido mais amplo, buscando com esse conceito traduzir a diversidade de experiências que compõe o processo educativo, e que consequentemente podem ser entendidas como currículo para além de sua estrutura formal: Historicamente, poderíamos dizer que começamos a falar em currículo formal e currículo em ação como forma de contraposição à noção burocratizada das teorizações tradicionais do campo que acentuavam os documentos legais e as políticas institucionais como foco dos estudos em currículo. (MACEDO, 2006, p.100) A proposição de Macedo, de currículo como ato vivido com uma finalidade social, política e cultural dialoga também com a concepção do currículo como prática, expressa por Forquin (1993, p.167), segundo ele “a cultura da escola não seria, nesse sentido, algo a ser ensinado, mas a produção simbólica e material que se dá no seio da escola”. É importante lembrar que no território da escola se travam as mesmas relações vividas na sociedade de modo geral, portanto é imprescindível que o seu currículo seja (re)pensado e (re)construído a partir da ideia de respeito à diversidade étnica e cultural que caracteriza os sujeitos praticantes da escola, bem como, leve em consideração as diferentes concepções e pontos de vistas que permeiam o processo de produção de conhecimentos. 2. Passeando pelo contexto da educação nacional Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Discutir o currículo e a escola como instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações étnicorraciais positivas no Brasil, em qualquer uma das suas unidades da federação, ou município, nos remete a pensar a historia do nosso país, onde por mais de cinco séculos opera um processo perverso de discriminação, negação e exclusão de uma parcela da população composta por indígenas, negros e ou afrodescendentes. Modelo de sociedade onde a escola, suas concepções pedagógicas e seu currículo contribuíram para concretização do projeto colonizador e para a constituição efetiva, do Estado-Nação brasileiro, a partir de um mito fundador, e de uma narrativa oficial que tem na escola seu principal veículo de disseminação e inculcação das “verdades” oficiais. Logo, penso que cabe aqui uma primeira definição de escola, que pode ser desde a perspectiva estruturalista de Pierre Bourdieu (1982), segundo esse autor a escola perpetua as desigualdades sociais à medida que ignora no âmbito dos conteúdos que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre crianças de diferentes classes sociais. De fato, até princípios do nosso século XXI, a escola, e a história desde a perspectiva da narrativa oficial, desconsideraram os grupos não hegemônicos, principalmente os homens e mulheres negros, que sempre estiveram representados através de identidades negativas, coisificadas, ou simplesmente como meros escravos, “peças de inventário”, seres sem história, sem cultura, sem vontade política e nem subjetividade. A sociedade brasileira junto com sua escola de pleno acordo com essa narrativa oficial atuou sempre em consequência com a ideologia contida no discurso fundacional colonizador e o neocolonizador. O projeto nacional de fins do século XIX e início do século XX, não incluía negros analfabetos e sem posses em seu esboço de nação. Este em linhas gerais baseava-se no modelo europeu, e pretendia diluir de maneira progressiva as marcas da presença negroafricana na composição gentílica do Brasil, atingindo o aspirado ideal de “branqueamento”, através de políticas de incentivo à imigração europeia com o objetivo de “limpar” e “expurgar” racialmente o povo brasileiro. Não obstante, a presença e permanência de negros e afrodescendentes na formação do povo brasileiro são bastante significativas desde o período escravista Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 permanecendo em ascensão até nossos dias, quando segundo dados do último censo 2010 IBGE 66 chega a 50,07% da população incluindo negros e afrodescendentes. Dados tão significativos em relação ao quantitativo dessa população não revelam o que sempre significou ser negro (a) na sociedade brasileira, com ênfase especial para o território da escola. Durante todo o século XX o mito da democracia racial camuflou a real situação de exclusão, racismo e discriminação vivenciados cotidianamente por homens, mulheres e crianças negros no Brasil em diferentes âmbitos sociais, inclusive na escola, tornando assim mais difícil o combate às injustiças para com determinados grupos étnicos. A escola enquanto espaço de produção e reprodução caminha unida à cultura dominante e ao modelo social hegemônico conforme as teorias de Bourdieu (1982), para esse autor o sistema escolar é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois legitima as desigualdades sociais e sanciona a herança cultural. Ela é território fértil em experiências de interação e conflito, é lócus de inesgotáveis acertos, equívocos, preconceitos e discriminações, podendo também ser definida como espaço ambíguo de afirmações e negações, dentro de um modelo homogêneo que desconsidera a diversidade e as diferenças individuais dos sujeitos que a integram. Essa negação das individualidades e homogeneização dos sujeitos a partir de uma concepção de homem e sociedade determinada pela perspectiva da classe hegemônica reflete-se no currículo proposto para os diferentes níveis da educação nacional, que por séculos desconsiderou qualquer perspectiva de história, língua, literatura, artes e religião que não se fundasse na concepção eurocêntrica aqui imposta desde o início do processo de colonização, atendendo ao modelo civilizatório trazido pelos jesuítas. 3. Algumas concepções e ideias sobre escola, currículo e relações étnicorraciais no Brasil O sistema educacional brasileiro desde a perspectiva da escola tradicional, (do período jesuítico até a república velha na segunda metade do século XX) em parceria 66 - De acordo com o IBGE, os primeiros resultados definitivos do censo 2010, divulgados em novembro do mesmo ano, apontaram uma população total de 190.749.191 pessoas, sendo 96,7 milhões que se declararam pretos (negros) e pardos – o equivalente a 50,7% da população geral. http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 com a elite da sociedade brasileira foi habilidoso em manter as margens todo aquele que não se enquadrava no ideal de “homem bem nascido”, dotado de “capital cultural” indivíduo apto a desfrutar do seleto status de cidadão brasileiro com direitos básicos garantidos tais como: educação, trabalho, moradia digna, cultura e identidade. Isso desde o prisma da homogeneidade entre os considerados como “bem nascidos” Posteriormente, durante o que pode ser considerado como um processo de reformulação da sociedade nacional, a Constituição Federal de 1988 serviu como o marco para inúmeras mudanças. Em seu texto em voga, entre outros tópicos de suma importância, o artigo 5° I, “declara que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a Lei”. Ao leitor pode parecer ingênua a alusão a esse artigo da Constituição Federal no contexto de uma sociedade que historicamente em seus aspectos legais sempre manteve uma postura permissiva diante da discriminação e do racismo infligidos a negros, afrodescendentes e indígenas, porém, vale lembrar que essa é a Lei suprema do país, e que a mesma deve ser observada e utilizada como instrumento de respaldo legal para proposições e resoluções de temas sob quaisquer aspectos. Ainda fazendo referência a esse documento, cabe destacar outros artigos que merecem consideração, como por exemplo: o 206 I, 210, 215, 216 e 242 I, que tratam de aspectos relativos à cultura e educação, com ênfase para elementos da história, cultura e identidade de grupos não hegemônicos como negros e indígenas. Outro documento legal muito significativo nesse contexto de pseudotransformações é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9394/1996 - que em seus artigos 26, 26A e 79B, “assegura o direito a igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às historias e culturas que compõe a nação brasileira, além do direito ao acesso a diferentes aspectos da cultura nacional a todos os brasileiros” (BRASIL, 1996). Entretanto, a consideração e aplicação dessas determinações acima, no contexto social e educacional da atualidade, ainda ocorre de maneira lenta e gradual, estando condicionadas pelos interesses e desinteresses políticos. Portanto cabe a educação e a escola através de seu currículo formarem os cidadãos no papel de intelectuais comprometidos com a transformação social. É urgente e necessária a discussão sobre o papel da educação na sociedade contemporânea. De acordo com as Diretrizes Curriculares para aplicação da Lei Federal nº 10.639/03 que altera a LDBEN 9394/96 e determina mudanças no currículo da educação básica a nível nacional: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo e é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano na sua integridade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias [...] A educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre caminhos para ampliação da cidadania de um povo. (BRASIL, 2004, p.7) Neste sentido, é importante entender que a escola deve se constituir como território para elaboração e materialização desse processo sugerido pelas DCNS/2004. Embora, durante os cinco séculos de nossa história, a escola e seu currículo tenham permanentemente desconsiderado a possibilidade de conteúdos e atividades que realmente pudessem contribuir para construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A mesma, enquanto instituição assumiu historicamente uma postura política, onde se mostrou incapaz de promover o respeito às identidades dos diferentes sujeitos e respeitar a pluralidade étnica e cultural que compõe a nossa sociedade. Em sua trajetória esteve desinteressada em promover uma imagem positiva do ser humano negro ou indígena. A sociedade brasileira, diante desse panorama e pressionada por organizações desde a sociedade civil, grupos de militância e pelo próprio contexto de mudanças mundiais e avanços nas discussões a nível global sobre direitos humanos, cidadania plena, diversidade, identidades, novos paradigmas curriculares e educação, viu-se obrigada a tomar algumas medidas em prol de mudanças nesse respeito, entre outras ações o governo federal sancionou em março de 2003 a já referida Lei Federal nº 10.639/2003, uma política curricular em caráter de ação afirmativa, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica nacional, a fim de promover relações étnicorraciais positivas nos diferentes espaços da sociedade, principalmente na escola. Portanto, ao pensar o currículo desde este contexto geral, sugere aqui algumas discussões em torno das concepções de currículo no contexto da educação para diversidade e relações étnicorraciais. De acordo com Silva (1999, p.101) pode-se entender currículo a partir da seguinte perspectiva: O texto curricular, entendido aqui de forma ampla – livro didático e paradidático, as lições orais, as orientações curriculares oficiais, os rituais escolares, as datas comemorativas, está recheado de narrativas nacionais, étnicas e raciais. Esse autor afirma que o currículo é sem dúvida entre outras coisas “um texto racial”, ou seja, uma narrativa étnicorracial que tem objetivos e finalidades determinantes Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 para as relações entre os diferentes grupos étnicos que convivem sob a mesma estrutura sociocultural. Ele afirma: O currículo não está simplesmente envolvido com a transmissão de fatos e conhecimentos objetivos. O currículo é um local onde, ativamente, se reproduzem e se criam significados sociais. (idem p.55) Assim, o currículo também pode ser entendido elemento de poder que pode contribuir por um lado para o empoderamento dos sujeitos historicamente discriminados, e por outro lado, para a promoção de relações étnicorraciais positivas no espaço da escola e na sociedade de modo geral. A proposta desse artigo, quando inicialmente insto à desconstrução de “verdades” estabelecidas e suspeita das certezas prontas, parte da concepção de uma proposta de currículo como ato emancipatório, desde a perspectiva do respeito à diversidade e às identidades dos sujeitos que vivem esse currículo no contexto da escola e para além da escola. Trata-se de uma proposta educativa capaz da transformação social pensada por Gramsci (1995) via instrumentalização e empoderamento dos grupos subalternos através da (in)formação, ou da capacitação para libertação do oprimido de Paulo Freire. Nesse processo de suspeita das verdades da escola e do sistema educativo, é imprescindível escutar as vozes dos que nunca foram ouvidos, dos antagonistas da nossa história da educação, entre eles os oprimidos da história nacional: índios, negros e pobres; seria interessante no processo de construção de qualquer proposta curricular, considerarmos as palavras de Freire: Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo o sentido da libertação? Libertação a que não chegaram por acaso, mas pela práxis da busca. Pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos será um ato de amor com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando essa se revista da falsa generosidade... (FREIRE, 1987, p.17) Paulo Freire, como grande educador que era, quando propõe uma relação dialógica entre escola, proposta educativa e sujeito “oprimido”, está propondo a formação teórica e política desse sujeito, através de um processo emancipatório por meio de uma pedagogia forjada (currículo) com ele e não para ele. Considero essas proposições de Freire como sendo alguns dos fundamentos básicos do pensamento nômade sobre o currículo e a escola como instrumentos no processo de educação para a diversidade e relações étnicorraciais no Brasil. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Freire enquanto educador sempre pautou seu trabalho a partir de uma leitura ampliada da realidade precisa, considerando as experiências dos sujeitos da educação nas mais diversas situações sociológicas, o seu fazer pedagógico dava-se sempre mediante estudos dos modos de vida, linguagens, hábitos e costumes dos envolvidos no processo dialético que é educar. Sendo sua práxis uma expressão de respeito à diversidade, cultura e identidade dos educandos, seus pares no processo dialógico que para ele era a educação. Essa concepção de diversidade implícita na práxis de Freire é um dos conceitos fundamentais no debate contemporâneo sobre currículo e educação para as relações étnicorraciais no Brasil, (GOMES, 2008) apresenta uma definição para o termo em seu artigo intitulado: Diversidade e Currículo; ela nos diz que do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças, algo que faz parte do acontecer humano. A diversidade faz parte dos processos de socialização, de humanização e desumanização [...] Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas artísticas, científicas, representações do mundo, experiências de sociabilidade e de aprendizagem. (idem 2008) Portanto, a escola não pode ficar alheia à demanda por um currículo que dê conta da diversidade que se lhe apresenta, já não é mais concebível a concepção de escola e currículo desde o paradigma da homogeneidade atendendo aos projetos e determinações dos grupos hegemônicos. A escola na sociedade brasileira já não pode configurar-se como tal, desconsiderando a riqueza presente no dialogo entre diferentes culturas, padrões sociais e cosmovisão de mundo. Movida pelas discussões e mudanças no contexto mundial e nacional, a escola pública na atualidade (séc. XXI) ainda que de forma tímida, tem-se mostrado “sensível” ao debate da diversidade e das relações étnicorraciais, porém o fato é que ainda não se há alcançado uma verdadeira mudança de paradigmas no que concerne ao papel da escola e do currículo em relação à educação para as relações étnicorraciais. 4. Considerações finais dessa Caminhada Compreendendo o currículo como “território em que se travam ferozes competições em torno dos significados” (Moreira, 2008); considero que o contexto nacional brasileiro e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 seu sistema educacional, repleto de certezas prontas, ainda constituem-se como um grande desafio ao processo de (re)definição do papel da escola e de(re)elaboração do currículo como lócus de valorização dos sujeitos e reconhecimento de sua diversidade social, étnica e cultural. Em suma, esse artigo sugere a inquietação e a busca permanente no sentido de se compreender a escola e o currículo como ferramentas para mudanças profundas, conforme proposto anteriormente nas ideias dos teóricos aqui mencionados, com destaque para Freire, quando nos diz que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e ou aprendidos implica tanto esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só outra dessas coisas. (FREIRE, 1996, p.98) No papel de educadora em processo de descortinamento dos dogmas da educação, concordo com o caráter dialético da mesma e de seus pares (a escola e o currículo), porém, acredito nas possibilidades de desconstrução da velha escola excludente e reprodutora, aquela que Bourdieu afirma perpetuar as desigualdades sociais. Prefiro crer em uma escola democrática e heterogênea, aberta ao diálogo com as diferentes culturas e identidades, rumo à emancipação crítica dos sujeitos e à sua instrumentalização para uma vida digna. REFERÊNCIAS BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. Les héritiers: les étudiants et la culture. Paris: Les Éditions de Minuit, 1964. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado Federal/Centro Gráfico, 1988. _________________, Ministério da Educação. LEI nº 9.394, LDB. Leis Diretrizes Curriculares Nacionais. 20 de dezembro de 1996. _________________, Ministério da Educação. Lei n° 10.639 de 09 de janeiro de 2003. __________________, Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. DCNs - Brasília-DF: Outubro de 2004. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 FORQUIN, Claude. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. GOMES, Nilma Lino. Diversidade cultural, currículo e questão racial: desafios da prática pedagógica. In. ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lúcia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto. (Orgs.). Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2006. GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 9ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. FERREIRA, Ricardo Franklin. Afrodescendente: identidade em construção / FERREIRA, Ricardo Franklin – São Paulo: EDUC; Rio de Janeiro: Pallas, 2004. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. _____________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa / FREIRE, Paulo. São Paulo: Paz e Terra, 1996. GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: Diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica, 2008. MACEDO, Elizabeth. Currículo: Política, Cultura e Poder. Revista Currículo sem Fronteiras, v.6, n.2, pp.98-113, Jul/Dez 2006. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Indagações sobre currículo e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. RAGO, Margareth. Figuras de Foucault. Org. RAGO, Margareth e NETO, Alfredo Veiga. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica 2008. SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo e identidade social: territórios contestados. In SILVA, T. T. (Org.). Alienígenas na Sala de Aula. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 190-207. ______________________. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo/ T. T. SILVA. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. ______________________. Currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular/ T. T. SILVA. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. VEIGA NETO, Alfredo José da, Foucault e a educação, 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica 2007. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Experiências iniciais na proposição de políticas Curriculares: perspectivas para o trabalho com a Língua Espanhola no Currículo Ensino Fundamental de Feira De Santana Profa. Esp. Patrícia Mara dos Santos Machado67 RESUMO: A necessidade de se estabelecer comunicação com os mais variados povos é de fundamental importância no mundo globalizado. E no Brasil, país membro do MERCOSUL, a aquisição da Língua Espanhola vem abrindo trilhas e ganhando espaços significativos. Este trabalho objetiva divulgar as experiências da coordenação específica de Língua Espanhola na construção da Proposta Curricular do Ensino Fundamental de Feira de Santana, trabalho este que vem se desenvolvendo através de leituras sobre currículo na perspectiva de inclusão de todos os povos historicamente esquecidos pela sociedade, trazendo esta discussão para que todas as professoras e professores possam estar representados, uma vez que se trata de um documento de identidade. Através das leituras já citadas, buscamos levantar pontos até então pouco abordados, uma vez que estes vão alicerçar os nossos trabalhos que tem como objetivo maior, alcançar a todos os alunos e alunas, professoras e professores da rede, em uma perspectiva de inclusão de todos os sujeitos e objetos da educação pública do nosso município. Assim, destacamos a importância da formação de grupos de estudos denominados "GCEFINHOS" para que todos os aspectos da educação possam ser discutidos e avaliados pelos docentes do município, com o objetivo se construir um currículo justo, igualitário e que possa contemplar todas e todos os envolvidos no processo. Desta forma, visamos socializar as experiências embrionárias da coordenação, por meio deste relato onde vislumbramos a necessidade de descrever a nossa trajetória de quase um ano na construção do documento que se encontra em processo de andamento. Como resultados iniciais, pudemos perceber a importância dos professores discutirem a temática currículo, fazendo visibilizar suas vozes na construção da Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município. Palavras chave: Currículo; Língua Espanhola; Inclusão. Em suma, depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais olhar para o currículo com mesma inocência de antes. O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 2010, p. 150). A discussão em torno das questões curriculares expressam inquietações e provocações que nos levam a pensar sobre: o que é currículo? A quem se destina? Como é constituído? Quais conhecimentos são privilegiados? Nesse âmbito, evidencia-se a polissemia que caracteriza o debate sobre o assunto. Muitas vezes há a simplificação de que o currículo se refere meramente ao elenco de disciplinas de um curso ou ao rol de conteúdos trabalhados em sala de aula. É preciso insistir no debate que supere os fundamentos do modelo produtivo, estruturado por um conhecimento científico baseado na relação causa/efeito, que compreenda o currículo e suas múltiplas relações, na constituição de novos espaços de trabalho e aprendizagem. 67 Especialista em Ecologia e Turismo e em Língua Espanhola, professora da Secretaria Municipal de Educação do Município de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia; [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Assim, compreendemos que a importância do currículo está atrelada a todas as práticas escolares, sendo estas inclusivas ou não, mas que podem influenciar na organização da sociedade e consequentemente da educação “(...) o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 7-8). Desta maneira, as discussões acerca do currículo conseguem abranger muitas questões relacionadas aos conhecimentos escolares, em especial ao ensino de línguas como elemento de inclusão, aos procedimentos e às relações sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos são ensinados e aprendidos, em que as transformações acontecem; espaço em que valores e identidades são construídos. O debate estabelecido no presente trabalho parte da compreensão de que na construção da nossa proposta curricular é imprescindível a discussão acerca das concepções de currículo, e da importância do ensino da Língua Espanhola, além da perspectiva que dá sustentação a essa proposta. A problemática anunciada neste texto nos leva a reflexão de que a inclusão social de fato, só acontece quando principiada por uma educação de qualidade para todos, com o ensino de linguagens como direito de todo cidadão. É importante salientar que a garantia de políticas de inclusão devem referendar políticas voltadas para a educação, respeitando as diversidades étnicas, para que as vozes de muitos indivíduos e grupos sociais que foram silenciadas ao longo dessa desigualdade social/racial e histórica, por serem consideradas indignas de entrarem em sala de aula, possam ser respeitadas, reconhecidas, ensinadas e aprendidas. Assim, dentro do contexto de educação e globalização, observamos a necessidade da aquisição da Língua Espanhola como língua estrangeira, junto com a necessidade de se comunicar e do advento do MERCOSUL e da proximidade dos países hispânicos. Todos estes fatores caracterizam o resultado de uma etapa da experiência da construção da proposta curricular do nosso município. LÍNGUA E CULTURA NO CURRÍCULO ESCOLAR: PASSOS PARA A INCLUSÃO SOCIAL A língua é um importante instrumento de manifestação cultural de um povo, uma vez que caracteriza e marca o homem, cumprindo papel essencial como formadora da consciência e organizadora do pensamento. “A língua é produzida socialmente. Sua Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 produção e reprodução é fato cotidiano, localizado no tempo e no espaço da vida dos homens: uma questão dentro da vida e da morte, do prazer e do sofrer. Numa sociedade como a brasileira – que, por sua dinâmica econômica e política, divide e individualiza as pessoas, isola-as em grupos, distribui a miséria entre a maioria e concentra os privilégios nas mãos de poucos -, a língua não poderia deixar de ser, entre outras coisas, também a expressão dessa mesma situação.” (GERALDI, 2004.p.14) Assim podemos ver que alguns grupos sociais mais privilegiados, ou seja, da classe dominante, se apropriam da língua, obtendo status social utilizando-a aumentar a distância dos grupos sociais desprestigiados ou os das classes dominadas, excluíndo, quando devia incluir e excluíndo para demarcar território. O que todos precisam saber é que “(...) Toda variedade linguística é também o resultado de um processo histórico próprio, com suas vicissitudes e peripécias particulares” (BAGNO 1999, p.48). Segundo dados recentes, o espanhol é um dos idiomas mais falados no mundo. Além dos 400 milhões de habitantes nos vinte e um países em que o idioma é oficial, cerca de 100 milhões de pessoas no mundo falam espanhol, e as relações geográficas e comerciais do Brasil com países de língua espanhola, aproximam a mesma do nosso convívio. Sabemos que na legislação brasileira atual, é obrigatória a inclusão de uma língua estrangeira no currículo, a partir do 6º ano, sendo que uma segunda língua estrangeira deve ser obrigatoriamente incluída na parte diversificada do currículo. Cabe a cada comunidade escolar escolher que língua selecionar como optativa, tendo também por base, fatores históricos, fatores relativos às próprias comunidades e fatores relativos à tradição (BRASIL, 1988). CONSIDERAÇÕES INICIAIS: PASSOS PARA A ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO INCLUSIVO A aquisição da linguagem escrita foi um importante passo na evolução da linguagem humana que passou a conviver com esta, incorporando-a ao seu viver e transformando sua cultura. A educação está imersa na cultura da humanidade e particularmente no momento histórico em que se situa por isso, não se pode discutir as questões pedagógicas, e por sua vez as questões curriculares sem que as referências culturais não estejam presentes (MOREIRA; CANDAU, 2003). A importância de se implantar o ensino da Língua Espanhola no currículo de ensino fundamental de Feira de Santana se dá pela necessidade de inclusão social, uma vez que Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 língua é cultura e sendo assim, é mister que todos possam alcançar esses conhecimentos, desenvolvendo-se como cidadãos atuantes. Acreditamos que, a elaboração da nossa Proposta deverá se dar juntamente com os professores para atender às suas necessidades e as dos educandos. E, como documento de identidade (SILVA, 1999), deve fazer ecoar as vozes de todos os envolvidos no processo de educação, principalmente daquelas vozes que foram silenciadas a partir das práticas sociais desiguais construídas historicamente, na negação das diferentes culturas. Assim, é de suma importância que o GCEF - Grupo de Elaboração do Currículo do Ensino Fundamental de Feira de Santana continue realizando reuniões e escutas formativascom todos os professores da rede- para que as discussões acerca de temas curriculares sejam sistematizadas de forma a ouvir todos os envolvidos no processo de educação do nosso município. “Não devemos esquecer que o currículo não é uma realidade abstrata à margem do sistema educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja” (SACRISTÁN, 2000, p. 15), porque o currículo deve refletir a escola, e nele, espera-se que estejam contidos todos os anseios da comunidade, assim como a construção da identidade dos envolvidos no processo educativo. Assim, “a cultura é um jogo de poder” (SILVA, 2010 p. 134) e esse poder, estando em mãos que discriminam cidadãos, pode ser uma arma poderosa para negar a existência dos que por alguma razão, não se enquadra aos padrões estabelecidos pela cultura dominante, ou constituir ameaça a sua existência. A relevância de se discutir essa temática no currículo escolar vem da necessidade e da importância da valorização de todos os povos e culturas que compõe a plural população do nosso país. Destarte, [...] as diretrizes curriculares de cada um desses coletivos destacam que os currículos deverão incorporar essas lutas, dar centralidade às suas culturas e à formação de suas identidades culturais. Essa diversidade de movimentos sociais e culturais tem afirmado os direitos coletivos e a cultura como um dos direitos coletivos, politizando a cultura.” (ARROYO, 2011, p. 346). CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS: A IMPORTÂNCIA DE TODAS AS VOZES Ressaltamos que se faz importante dar continuidade às discussões sobre currículo e em relação à inclusão e ao trabalho que pode ser feito em relação com a disciplina Língua Espanhola e das diversas culturas que transitam em torno da referida língua. Assim, estudar um idioma é ampliar os horizontes pela oportunidade de conhecer o Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 “outro” e sua cultura e ao mesmo tempo reconhecer a si mesmo, desenvolvendo uma maior consciência da própria língua materna dentro desse processo de aprendizagem, porque esta irá contribuir para o processo de formação integral do aluno, representando muito mais do que uma mera aquisição de formas e estruturas linguísticas. A criação do Gcefinho específico de Língua Espanhola será mais uma grande ferramenta para que possamos ouvir os professores e discutir a implantação do trabalho com a Língua Espanhola no currículo do nosso município, quais conhecimentos devem ser privilegiados, e outros assuntos importantes em relação à referida língua, e das diversas culturas que transitam em torno desta. Destarte, todas as discussões que vem sendo feitas, servirão de base para a escrita do documento, contribuindo para a construção de práticas curriculares que possam atingir a todas e todos, dentro do contexto multicultural de Feira de Santana, e assim possam representar as vozes de todas e todos aqueles que estão inseridos (as) na nossa realidade educacional. REFERÊNCIA ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. BARALO, Marta. La aquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros, 1999. BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira 5ª a 8ª série. Brasília: MEC/SEF, 1988. BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 11.161 de 05 de agosto de 2005 FERNANDES, Gretel Eres e CALLEGARI, Marília Vasques. Estratégias motivacionais para aulas de espanhol. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – São Paulo: Paz e Terra, 1996. SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução Ernani F. da F. Rosa - 3. Ed.- Porto Alegre: Artmed, 2000. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Respeito às diferenças identitárias no Currículo Escolar do Ensino Fundamental de Feira de Santana. Profa. Esp. Patrícia Mara dos Santos Machado68 Profa. Esp. Katty Lirane Haywanon Santos Maia69 RESUMO: A necessidade de se promover o respeito às diferenças com os mais variados povos é de fundamental importância no mundo globalizado. Em Feira de Santana-Ba, município que recebe os mais diversos contingentes humanos, isto não pode ser uma utopia. Este trabalho objetiva divulgar algumas experiências de sala de aula da zona urbana (bairros periféricos) de duas professoras da rede municipal do Ensino Fundamental da referida cidade. Primando pela socialização do espaço escolar, temos como proposta criar debates sobre racismo, discriminação, exclusão social e outros assuntos pertinentes, trabalho este que vem se desenvolvendo através de leituras sobre currículo na perspectiva de inclusão de todos os povos historicamente esquecidos pela sociedade, trazendo esta discussão para que todas as alunas e alunos possam estar representados e sintam-se respeitados, uma vez que se trata de uma busca da valorização de suas identidades. Através das leituras já citadas, e outras mais, buscamos levantar pontos até então pouco abordados, uma vez que estes vão alicerçar os nossos trabalhos que tem como objetivo maior, alcançar a todos os alunos e alunas, professoras e professores da escola pública, em uma perspectiva de inclusão de todos os sujeitos e objetos da educação do nosso município, objetivando a construção de um currículo mais justo e humanizado. Desta forma, visamos socializar as experiências embrionárias da nossa docência, por meio deste relato onde vislumbramos a necessidade de descrever a nossa trajetória escolar na construção da Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município de Feira de Santana, documento que se encontra em processo de andamento. Como resultados iniciais pudemos perceber a importância dos professores discutirem a temática no currículo, fazendo visibilizar todas as vozes que já foram caladas na construção do nossa Proposta Pedagógica do Município. Palavras-chave: Diferenças, Proposta Curricular, Ensino Fundamental. Temos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza, temos o direito a igualdade quando a diferença nos inferioriza. Boaventura de Souza Santos Sabemos que o ser humano é diferente dos outros animais. Sabe-se também que a espécie humana é dotada de uma variedade de sentimentos nem sempre positivos. Muitas vezes o sentimento de superioridade se sobressai mais em determinado grupo, gerando o etnocentrismo, que Laraia (2007) considera "um fenômeno universal". E ainda considera que "(...) É comum a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão. As autodenominações de diferentes grupos refletem esse ponto de vista." (LARAIA 2007, p. 73) Assim, cada povo se considera superior a outros, criando então uma espécie de "literatura" em torno da sua supremacia. 68 "Tais crenças contém o germe do racismo, da intolerância, e, Especialista em Ecologia e Turismo e em Língua Espanhola, professora da Secretaria Municipal de Educação do Município de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia; [email protected] 69 Especialista em Psicopedagogia e professora da Secretaria Municipal de Educação de Feira de [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 frequentemente, são utilizadas para justificar a violência praticada contra os outros" (LARAIA, 2007, p. 73) Todos os grupos humanos tem uma língua, e esta é o principal instrumento de representação de um povo. E é através da língua, seja ela falada, escrita, em libras ou braile, que o ser humano se apropria da sua própria cultura, que ele vivencia o processo do aprender. Sabe-se que geralmente toda criança tem capacidade de aprender, e todo ser humano está em constante processo de aprendizagem. Processo este que está além das ciências, e até mesmo da antropologia. Porém o ser humano ainda não aprendeu a respeitar e reconhecer o outro como tal. Disto, (GOMES. 2004, p. 105) diz que “(...) É um desafio que se coloca historicamente para a humanidade, e que não podemos recusar.” Por isso, grande parte das diferenças entre os homens pode ser justificada também pela falta de oportunidades de muitos indivíduos alcançarem a educação escolar, porque é necessário que o poder público oportunize a todas as pessoas, disponibilizando uma educação de qualidade, investindo assim nos afrodescendentes, indígenas e todos os sujeitos excluídos para que estes sejam integrados na sociedade não como subalternos, mas como cidadãos completos na garantia de seus direitos. Tal garantia está escrito no DCN para a Educação das Relações Étnico Raciais, que defende, com a lei 10.639/2003, a obrigatoriedade em todos os sistemas de educação, o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todo território brasileiro. Assim, é mister que se invista em práticas curriculares tendo a escola como um espaço de formação onde as diferenças possam ser respeitadas, evitando-se que estas possam ser motivo para qualquer tipo de discriminação. Mas, infelizmente, temos consciência de que mesmo quando tais práticas sejam adotadas, não se poderá garantir de imediato, os direitos dos povos discriminados, e nem uma educação de qualidade, porque mudar posturas já cristalizadas em nome de outro modelo de sociedade não é nada fácil, ainda mais quando essas novas posturas “beneficiarão” pessoas que historicamente foram marginalizadas no meio social. Elaborar e praticar um trabalho pedagógico voltado para a diversidade não é tarefa fácil para nenhum educador/a. Mas espera-se que este/a assuma uma postura atuante no combate ao racismo e outras discriminações no ambiente escolar. Esta postura pode e deve ser fortalecida através da construção de um currículo inclusivo, criado com a participação de todos os envolvidos no processo escolar, para que a escola possa ser transformada em um espaço de desenvolvimento e satisfação para todos. Mas então o que vem a ser currículo? Existem várias concepções acerca da Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 palavra currículo, mas compreendemos que melhor que conceituar é compreender que nele, no currículo, pode estar contido ou não, todas as políticas que envolvem o processo de educação, as influências teóricas que o alicerçam, os aspectos históricos, culturais e socioeconômicos dos sujeitos envolvidos, assim como as práticas pedagógicas que se deseja alcançar, experiências propostas e toda uma gama de assuntos que se pretende privilegiar para que na unidade escolar seja garantido o acesso e a permanência de todos os que desejem compartilhar o ambiente. “A abordagem digna das semelhanças e diferenças deveria ser o eixo norteador de todo currículo escolar, da competência pedagógica, da escolha do material didático, dos filmes, brinquedos, atividades a serem desenvolvidas em todas as escolas, sobretudo na escola pública brasileira” (GOMES. 2004, p. 104 e 105). Nessa perspectiva, compreende-se que o currículo não é um elemento metafísico e atemporal, ele apresenta uma história, que se vincula à formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação, “(...) o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 7-8). Assim, as discussões acerca do currículo englobam, em variadas medidas, questões relacionadas aos conhecimentos escolares, aos procedimentos e às relações sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos são ensinados e aprendidos, em que as transformações acontecem; espaço em que valores e identidades são construídos. Essa relação de identidade, como afirma Nilma Lino Gomes, “não se constrói só a partir das relações estabelecidas entre os semelhantes, mas, também, entre os semelhantes e os diferentes” (GOMES. 2004, p. 102). O debate estabelecido no presente trabalho parte da compreensão de que na construção de uma proposta curricular é imprescindível a discussão acerca do respeito às diferenças identitárias, onde nenhuma etnia possa ser considerada superior à outra. Por isso, no âmbito do currículo, no presente texto, delimitamos nosso olhar para as questões que se referem às concepções docentes acerca dos efeitos da discriminação racial, exclusão social e preconceitos. Assim, pensamos nas diferentes vozes que vêm consolidando uma proposta curricular pensada por ações coletivas, conformada a partir daqueles que compõem a nossa rede de ensino e naqueles que serão contemplados nesta proposta. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Conhecimento e cultura: as vozes presentes no currículo escolar A relação entre escola e cultura é inerente a todo processo educativo. A educação está imersa na cultura da humanidade e particularmente no momento histórico em que se situa. Por isso, não se pode discutir as questões pedagógicas, e por sua vez as questões curriculares sem que as referências culturais não estejam presentes (MOREIRA; CANDAU, 2003). Porém, como destaca Sacristán (2000), não é fácil ordenar num esquema e num único discurso coerente com todas as funções e formas que parcialmente o currículo adota, segundo as tradições de cada sistema educativo, de cada orientação filosófica, social e pedagógica, pois são múltiplas e contraditórias as tradições que se sucederam e se misturaram nos fenômenos educativos. “Não devemos esquecer que o currículo não é uma realidade abstrata à margem do sistema educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja” (SACRISTÁN, 2000, p. 15). “A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo e é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano na sua integralidade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias. Assim a educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo” (DCN, p. 7). E, para que se possa garantir à todos esses direitos, é necessário e urgente que haja uma (Re)avaliação dos currículos escolares para a perspectiva da promoção de uma educação mais significativa “no que diz respeito às relações étnico raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto é, não apenas direito ao estudo, mas `a formação para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática,” (DCN, p. 10) para que as vozes desses muitos indivíduos que foram silenciadas ao longo dessa desigualdade social/racial e histórica, hoje possam ser ouvidas e não mais consideradas indignas de entrarem na sala de aula. Que o reconhecimento, o respeito à essa etnia possam ser garantidos, ensinados e aprendidos por, todos levando em conta a valorização da história pessoal e coletiva do grupo étnico. Neste sentido, referenciado por alguns autores da área e pela experiência de nossa própria prática, buscaremos, neste texto, relatar de forma ainda que breve, situações Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 vivenciadas em sala de aula de uma escola da periferia do município de Feira de Santana. Buscamos através de simples estratégias vivenciadas em sala de aula, incluir aquele sujeito aprendente que se sente excluído do processo sócio educativo. No ano de 2010 recebemos para cursar o 5° ano, uma aluna, que já havia repetido quase todas as séries pelas quais passava. Logo, já sofria com a distorção idade/ano. Negra, com idade avançada e com deficiência. O tipo da deficiência não será especificado por não haver a especificidade de um laudo médico. Mas, algumas características a afastavam dos colegas. Não falava com clareza, não tinha controle salivar, tinha dificuldade em correr e pular. Aparentemente parecia ter rigidez na musculatura. A princípio, a turma realmente a excluiu, mas fomos desenvolvendo em sala de aula, diferentes estratégias onde as crianças teriam que desenvolver atividades recreativas necessitando do apoio uma das outras. Organizamos acolhidas onde, a aluna, com a nossa ajuda, brincava de forca, adivinhas e contação de histórias. Como a mesma não apresentava dificuldade cognitiva, e foi possível constatar através de atividades diagnósticas, preparamos atividades diferenciadas, sendo que, com o mesmo conteúdo trabalhado com a turma. O que nos tornam iguais é o simples fato de sermos diferentes. Foi a constatação a qual chegamos após assistir ao longo dos meses, a turma interagindo com a aluna. A prova de que as crianças haviam incluído a aluna é que, durante um período de estágio, onde duas professoras de uma instituição de nível superior pública, ao propor uma dinâmica informou a turma que a aluna, não participaria porque ela não saberia o que fazer. Neste momento, a turma recusou-se também a participa argumentando que a aluna era tão capaz quanto eles. Dessa forma, compreendemos que, pensar a elaboração de uma proposta curricular nessas bases não é uma tarefa fácil, pois irá requerer uma nova postura, conforme salientam Moreira e Candau (2003, p. 157), serão necessários “(...) novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, estratégias e novas formas de avaliação. Será necessário que o docente se disponha e se capacite a reformular o currículo e a prática docente com base nas perspectivas, necessidades e identidades de classes e grupos subalternizados” (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 157). Acreditamos que, a elaboração da nossa Proposta deverá se dar juntamente com os professores para atender às suas necessidades e as dos educandos. E, como documento de identidade (SILVA, 1999), deve fazer ecoar as vozes de todos os envolvidos no processo de educação, principalmente daquelas vozes que foram Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 silenciadas a partir das práticas sociais desiguais construídas historicamente, na negação das diferentes culturas. Segundo Silva (2010 p. 134), “a cultura é um jogo de poder” e esse poder, estando em mãos que discriminam cidadãos, pode ser uma arma poderosa para negar a existência dos que por alguma razão, não se enquadra aos padrões estabelecidos pela cultura dominante, ou constituir ameaça a sua existência. A relevância de se discutir essa temática no currículo escolar vem da necessidade e da importância da valorização de todos os povos e culturas que compõe a plural população do nosso país. Dessa forma, [...] as diretrizes curriculares de cada um desses coletivos destacam que os currículos deverão incorporar essas lutas, dar centralidade às suas culturas e à formação de suas identidades culturais. Essa diversidade de movimentos sociais e culturais tem afirmado os direitos coletivos e a cultura como um dos direitos coletivos, politizando a cultura” (ARROYO, 2011, p. 346). Essa mudança na mentalidade do nosso povo que começou a ganhar uma forma mais consistente a partir do final do século XX, e ecoou com muita força nas relações sociais e raciais, obrigando o poder público a oficializar leis, dentro e fora da educação, de maneira a contemplar todas as etnias que compõem a diversidade cultural da nossa nação. Com muita luta, muitas etnias e culturas que historicamente vinham sendo negadas, continuam vigilantes a exigir de autoridades, que estas políticas públicas criadas como forma de minimizar as discriminações e exclusões não se torne meramente apenas papel escrito e obsoleto, guardados nos porões do descaso e do esquecimento. Atrelada a essa discussão, concebemos o conhecimento escolar como uma construção específica da esfera educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola, ele tem características próprias que o distinguem de outras formas de conhecimento (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 22). O currículo, nessa perspectiva, constitui um dispositivo em que se concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas socialmente construídos e os conhecimentos escolares. Os conhecimentos escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente produzidos nos chamados “âmbitos de referência dos currículos” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 22). A própria escola constitui local em que determinados saberes são também elaborados, ensinados e aprendidos. Numa perspectiva crítica do currículo “A educação e o currículo não atuam, nessa visão, apenas como correias transmissoras de uma cultura produzida em um outro local, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 por outros agentes, mas são partes integrantes e ativas de um processo de produção e criação de sentidos, de significações, de sujeitos.” (MOREIRA; SILVA, 2001, p. 26-27). Considerações provisórias: dando seguimento ao processo de construção É importante destacar que as proposições em torno do currículo, considerando o respeito às diferenças identitárias no ensino fundamental sintetiza outras discussões que dizem respeito principalmente às diversas culturas e os conhecimentos provenientes destas. Vale destacar que, no momento de análise dos dados apresentados pelo grupo de professores, foi possível perceber que não existe uma concepção única a respeito de cultura e de conhecimento; existem muitas e todas elas parecem refletir o cuidado e o respeito para com as alteridades, porque para que a convivência com o outro seja harmônica, é necessário que enxerguemos o “outro” como um ser de direitos, como “nós”, pois, (...) parece atraente, pelo menos não para poucos, imaginar o ato de educar como uma colocação, à disposição do outro, de tudo aquilo que o possibilite ser distinto do que é, em algum aspecto. (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 137). Dessa forma, os dados coletados nessa fase servirão para que possamos pensar em uma proposta alicerçada no “chão da escola”, formada pelas vozes daqueles que estão na nossa realidade educacional. Por ora, desejamos envidar esforços na construção da Proposta Curricular do Município, para a partir daí, contribuir na construção de práticas curriculares que respeitem as diferentes culturas que compõem o cenário brasileiro. REFERÊNCIAS ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. GOMES, Nilma Lino. Educação cidadã, etnia e raça: o trato pedagógico da diversidade. In: CAVALLEIRO, Eliane. (org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo Selo Negro, 2001. GOMES, Nilma Lino. Práticas pedagógicas e questão racial: O tratamento é igual para todos? In: DINIZ, Margareth e VASCONCELOS, Renata Nunes. (org) Pluralidade cultural e inclusão na formação de professoras e professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial, educação indígena, educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Formato editorial, 2004. FIGUEIREDO, Otto Vinícius. O ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 indígena enquanto política de ação afirmativa. In: Marco Antônio Leandro Barzano e Maria de Lourdes Haywanon Santos Araújo (org). Formação de professores: retalhos de saberes. Feira de Santana: UEFS Editora, 2011. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – São Paulo: Paz e Terra, 1996. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 21. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução Ernani F. da F. Rosa - 3. Ed.- Porto Alegre: Artmed, 2000. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Conselho escolar e os desafios na consecução de políticas públicas: a experiência do município de Feira de Santana Rejane Brito Barbosa70 RESUMO: O presente texto tem por objetivo apresentar resultado de experiência sobre a implementação do Conselho Escolar e suas contribuições no âmbito das políticas públicas, bem como das consequentes práticas curriculares. Tomando a acepção do termo de conselhos de educação como mecanismos de gestão participativa, os conselhos escolares se constituem uma possibilidade de expressar a representação coletiva das organizações escolares com e na elaboração de normas educacionais e decisões democráticas. Nesse sentido, apesar da regulamentação legal da qual decorre a obrigatoriedade de criação de Conselhos Escolares, um número expressivo de unidades escolares não consegue fazer valer as determinações vigentes. No que diz respeito ao município de Feira de Santana, a participação em Encontros Nacionais específicos sobre o tema, promovidos pelo Ministério da Educação, tem possibilitado a construção da experiência como coordenadora pedagógica responsável pela representação do município e, por conseguinte, pela implementação das ações emanadas por esses eventos. Contudo, esta participação circunscreve-se no cerne das políticas nacionais e municipais e, portanto, não é de fórum pessoal, mas deve ser problematizada no contexto macro de operacionalização das determinações legais. Com base nesse pressuposto, a partir da experiência compartilhada foi possível identificar que apesar do hiato entre as políticas e práticas desenvolvidas no que concerne à instituição de Conselhos Escolares em nosso município, iniciativas locais começam a denotar a amplitude e importância desta proposta. Com o texto, esperamos apresentar os principais desafios na consecução desta política pública, algo que sob nosso ponto de vista também diz respeito a implicações de práticas curriculares, visto que dessa organização decorrem a estruturação do corpo escolar com suas nuances, características e práticas pedagógicas. Palavras-chave: Conselho Escolar. Política Pública. Currículo. Introdução As discussões curriculares inserem-se nos debates mais atuais atrelados a necessidade de se discutir as proposições e organizações escolares em atendimento à estudantes e o desenvolvimento de suas aprendizagens com qualidade. Nesse sentido, compreendemos que essa é um temática importante, em especial, se considerarmos o contexto das políticas públicas e a decorrente organização do Estado mantenedor da educação pública, gratuita e laica. Nas variadas formas de se abordar o tema currículo, entendemos que os aspectos político, social, econômico e cultural não devem ser negligenciados ou silenciados, mas evidenciados nas discussões voltadas à equiparação de oportunidades a todos os estudantes matriculados em unidades escolares de todo o país. Na ótica do presente texto, a implementação do Conselho Escolar, diz respeito a implicações de práticas curriculares, visto que dessa organização decorrem a estruturação do corpo escolar com suas nuances, características e práticas pedagógicas. 70 Pedagoga pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista em Supervisão Escolar Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Coordenadora Pedagógica da rede municipal de Feira de Santana – BA. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Diante dessas considerações iniciais, acreditamos ser oportuno o objetivo de apresentar resultado de experiência sobre a implementação do Conselho Escolar no município de Feira de Santana/BA e suas contribuições no âmbito das políticas públicas, bem como das consequentes práticas curriculares. Para fins de organização do nosso texto iniciamos apresentando o suporte legal e a fundamentação teórica na qual nos apoiamos no desenvolvimento da experiência compartilhada. Nessa seção denominada Currículo e políticas públicas: aproximações sobre o Conselho Escolar discorremos sobre a concepção curricular adotada no texto, ao tempo em que nos permitimos dialogar com importantes autores e legislações. Em seguida, na seção Dos mecanismos legais à prática construída: a experiência de uma coordenadora pedagógica adentramos a experiência propriamente dita a fim de oportunizar o conhecimento das ações desenvolvidas como coordenadora pedagógica responsável pela implementação das ações emanadas pelo Conselho Escolar em nosso município. A partir dos aspectos levantados, intentamos apresentar nossas Considerações Finais sobre a experiência e assim contribuir para a reflexão e (re) dimensionamento de práticas curriculares. Currículo e políticas públicas: aproximações sobre o Conselho Escolar No âmbito das políticas públicas brasileiras, considerável produção teórica incide sobre a necessária avaliação e acompanhamento das estratégias e programas governamentais na organização da escola e sua articulação com a comunidade na qual encontra-se inserida. Esse não é um tema novo e insistentemente tem sido abordado por autores que consideram o fato de que: No Brasil, embora não tenhamos sequer tido como realidade o Estado Social, considerando-se que a intervenção estatal delineou-se em consonância com o padrão excludente de desenvolvimento econômico, beneficiando cada vez mais segmentos menores da população, ganha espaço no debate nacional, em especial nas políticas governamentais em realização, alternativas pautadas na perspectiva neoliberal, que apontam novos modos de organização e oferta de serviços sociais e, consequentemente, educacionais. (SOUZA, 2002, p.25). Há que se reconhecer, portanto, as interferências do ideário neoliberal nas propostas governamentais brasileiras, em especial do Banco Mundial que desempenha papel de “estrategista de modelo neoliberal de desenvolvimento e também articulador da interação econômica entre as nações, inclusive, para a negociação de sua dívida externa” (FONSECA, 2007, p. 46). Também consideramos oportuna a constatação de que embora Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 sejam reconhecidos os efeitos desse ideário em países como o nosso, em cada país esses efeitos se desdobram de acordo com as características e condições políticas, econômicas, sociais e culturais locais (OLIVEIRA, 2007). Pautando-se nesse entendimento alertamos para o fato de que em nosso município, a implementação da política pública só pode ser concebida neste contexto macro das responsabilidades estatais, acrescido das características locais deste mesmo município. Nas articulações que fazemos em nosso texto, tomamos a concepção de Conselhos Escolares como órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões políticopedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Ao considerar a complexidade e amplitude desta ação, consideramos importante apresentar sua relação com o currículo escolar. Nesse sentido, são valiosas as contribuições de Sacristán (2000, p.17) ao afirmar que: [...] a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Por isso, querer reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática técnica de instrumentar o currículo supõe uma redução que desconsidera os conflitos de interesses que estão presentes no mesmo. O currículo em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar. Nesse texto, portanto, esperamos não circunscrever o currículo a mera dimensão técnica, mas esperamos abordá-lo com suas relações, e os conflitos de interesses que bem nos fala Sacristán. Esperamos, então abordar o Conselho Escolar e suas ações, como algo também imbricado de valores e jogos de poder e que como tal, interfere nas práticas curriculares desenvolvidas em diferentes escolas. Ao articularmos nossa experiência a tema de tão grande relevância e de profícuos significados como o currículo, convém apresentar as determinações legais que respaldam o desenvolvimento de nossa experiência. As ações emanadas pelos Conselhos Escolares estão subsidiadas pelos documentos legais existentes. A Constituição Federal Brasileira de 1988 no Artigo 206, Inciso VI, estabelece a gestão democrática do ensino público (BRASIL, 1998). De forma bem acintosa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, no artigo 14, Inciso II, assegura a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). Com efeito, os Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 documentos do Ministério da Educação sobre Conselhos Escolares (BRASIL, 2004; 2006) apresentam orientações sobre a elaboração e organização de suas proposições. Diante do respaldo legal apresentado e das ações que temos realizado no âmbito do município de Feira de Santana, desejamos compartilhar um pouco de nossa trajetória, e assim contribuir a discussão curricular no cerne das políticas públicas, tal como faremos a seguir. Dos mecanismos legais à prática construída: a experiência de uma coordenadora pedagógica Discussões antes incipientes, como participação, democracia, descentralização, responsabilidade coletiva, autonomia, etc, aparecem hoje no nosso dia-a-dia quase como imperativos. Contudo, não basta, a força discursiva, se não houver efetivas mudanças como flexibilização das normas, por vezes rígidas, o que implica aumentar o grau de autonomia dos educadores, dos gestores, das escolas. É necessário também, de forma correlacionada, dar voz aos sujeitos, às pessoas que efetivamente fazem a escola em suas ações cotidianas. No trabalho realizado como coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana – BA (SME) percebemos a carência de mecanismos e ações com posturas democráticas, por parte da Secretaria de Educação, bem como das instituições escolares, o que tem impossibilitado articulações e trabalhos conjuntos com vistas a promover espaços democráticos na escola. As vezes, nos parece que a promulgação de legislações como a Constituição Federal de 1988, a lei nº 9394 de 1996 e a Lei Municipal nº 1902 de 09 de maio de 1997, bastaram para garantir a composição e o sucesso dos conselhos nas unidades escolares, mas infelizmente, nossa realidade não tem sido esta. Temos muito ainda que caminhar na perspectiva de participação e integração entre escola e comunidade, com o objetivo de garantir melhorias na qualidade da educação que é oferecida em nosso município. É nesse contexto, e com a oportunidade de em 2009/2012, garantirmos a nossa participação no Encontro Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares sob a responsabilidade da Secretaria da Educação Básica, do Ministério da Educação (SEB/MEC) e em seguida no Curso de Extensão “Formação Continuada a Distância em Conselhos Escolares”, sob a égide da Universidade de Brasília (UNB), que conseguimos dar passos mais largos, seguros e planejarmos ações democraticamente discutidas no Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 âmbito da Secretaria Municipal de Educação com o propósito de realizarmos o I Seminário de Implantação e Fortalecimento dos Conselhos Escolares de Feira de Santana, onde na oportunidade discutimos sobre as políticas públicas municipais e a realidade das unidades escolares, além de apresentarmos dados sobre o funcionamento dos conselhos escolares, pensando que se trata de um colegiado fundamental para a gestão democrática. Considerações Finais Com base na experiência relatada, entendemos que nossas ações circunscrevemse no cerne das políticas nacionais e municipais e, portanto, não é de fórum pessoal, mas devem ser problematizadas no contexto macro de operacionalização das determinações legais. Consideramos ainda que a partir da experiência compartilhada foi possível identificar que apesar do hiato entre as políticas e práticas desenvolvidas no que concerne à instituição de Conselhos Escolares em nosso município, iniciativas locais começam a denotar a amplitude e importância desta proposta. Com o texto, esperamos ter apresentado os principais desafios na consecução desta política pública, algo que sob nosso ponto de vista também diz respeito a implicações de práticas curriculares, visto que dessa organização decorrem a estruturação do corpo escolar com suas nuances, características e práticas pedagógicas. Ademais, esperamos ter contribuído para o desafio de inserir as discussões curriculares no campo das políticas públicas, aspectos para nós imbricados e de grande importância para toda e qualquer proposta curricular. Num último intento, consideramos a importância em desenvolver estudos e pesquisas nessa área e assim contribuir à prática pedagógica de diferentes professores, que por meio de ações inevitavelmente coletivas como as apresentadas em nosso texto, poderão ressignificar suas próprias experiências e lançar-se ao desafio de fortalecer seus próprios projetos e ações pedagógicas. Referências BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. ________. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1998. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 ________.Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da cidadania/ elaboração Ignez Pinto Navarro... [ et al.] – Brasília: MEC,SEB,2004. ________.Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Conselho Escolar e a valorização dos trabalhadores em educação. Brasília, DF, 2006. FONSECA, Marília. O Banco Mundial e a gestão da educação brasileira. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão Democrática da Educação: desafios contemporâneos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p. 46-63. OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade: uma análise histórica. Educ. Soc. [online]. V. 28, n.100, p. 661690, 2007. SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Trad. Ernani Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. SOUZA, Sandra M. Zákia L. Possíveis impactos da avaliação externa no currículo escolar. In: ROSA, Dalva E. Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo de. (org.). In: Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 23-38. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e práticas curriculares: descortinando ações da gestão democrática Rejane Brito Barbosa71 RESUMO: Na esteira de ações governamentais o Ministério da Educação (MEC) institui o PDE como instrumento capaz de fortalecer a gestão escolar democrática, assegurando condições técnicas e financeiras para que as escolas desenvolvam planos de ação com vistas a envolver toda a comunidade escolar na elaboração, implementação e acompanhamento de estratégias capazes de contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. Com base no exposto, o presente texto objetiva compartilhar minha experiência desenvolvida como coordenadora pedagógica no órgão gestor deste programa, no município de Feira de Santana-BA. Para tanto, reconhece-se a importância e implicações do PDE na atual conjuntura política, econômica, social e educacional do município, ao tempo em que se considera sua relação com as práticas curriculares desenvolvidas nas escolas municipais da rede de ensino. É, portanto a oportunidade de relatar, descortinar uma rica experiência, bem como os desafios e as possibilidades no desenvolvimento de ações inevitavelmente coletivas. Segundo orientações oficiais, no âmbito do programa, o plano deve ser elaborado com a participação da comunidade escolar e enviado para a Secretaria Municipal da Educação (SME), que é responsável pela análise e aprovação do plano. Em decorrência desta aprovação, este é enviado para validação do MEC que, depois da análise, solicita o pagamento dos recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cabe à escola a execução do plano, que segundo as orientações e esclarecimentos da SME, monitora e avalia o desenvolvimento de suas ações. Com base na experiência relatada foi possível identificar a importância em articular e apoiar os gestores escolares no desenvolvimento do PDE e ainda a percepção de suas interferências nas práticas curriculares (re) construídas em cada contexto escolar. Espera-se proporcionar a oportunidade para discutir aspectos da gestão democrática no âmbito das políticas e práticas curriculares e assim possibilitar novas e importantes aprendizagens. Palavras-chave: PDE. Práticas Curriculares. Gestão Democrática. Introdução O presente texto tem por objetivo compartilhar experiência desenvolvida como coordenadora pedagógica na gestão do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), no município de Feira de Santana-BA. Para tanto, consideramos importante apresentar a temática a qual nos propomos a discutir. O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o Ministério da Educação (MEC) repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. Segundo informações oficiais em 2012, o PDE Escola contemplará 13.347 escolas cujo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2009 foi igual ou inferior à média nacional (4,4 nos Anos Iniciais e 3,7 nos Anos Finais) e que não tenham sido priorizadas pelo programa entre 2008 e 2010 (BRASIL, 2012). 71 Pedagoga pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista em Supervisão Escolar Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO). Coordenadora Pedagógica da rede municipal de Feira de Santana – BA. E-mail: [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Ainda na esteira de determinações governamentais, o PDE Interativo foi desenvolvido com base na metodologia do PDE Escola, e a partir de 2012, todas as escolas públicas do país poderão utilizá-lo – mesmo aquelas que não foram priorizadas pelo PDE Escola, ou seja, que não receberão recursos federais desse programa (BRASIL, 2012). A par dessas informações, as quais consideramos importantes para o entendimento das tessituras que faremos no presente texto, discutiremos as concepções curriculares e de gestão democrática que subsidiam nossas discussões na seção intitulada Currículo e gestão democrática: faces do PDE. Em seguida daremos visibilidade às Vozes dos educadores: a experiência do município de Feira de Santana e então realizarmos nossas Considerações Finais. A seguir apresentamos alguns de nossos referenciais teóricos, na tentativa de elucidar a importância da experiência compartilhada. . Currículo e gestão democrática: faces do PDE Nos caminhos percorridos em nosso texto, é importante apresentar a definição de currículo que subsidia nossas considerações. Nesse sentido acreditamos que o currículo: [...] é uma prática de poder, mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se portanto, de um discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e o recria. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 41). Nessas relações construídas com a (de) formação de identidades no espaço escolar, as práticas instituídas se processam num determinado contexto político e econômico, em que são possibilitadas (ou não) formas de garantir as condições para aprendizagem de diferentes estudantes. Reconhecendo a amplitude do tema currículo, já que entendemos que este “não é um elemento transcendental e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; SILVA, 2005, p. 8), salientamos a importância em considerar as formas organizativas da gestão democrática nas escolas de nosso município. No desenvolvimento desta audaciosa tarefa: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Sabe-se que a escola não se encontra arbitrariamente desvinculada, e sim integrada a uma política educacional que lhe fornece direções. Através da gestão da educação coloca em prática, concretiza, diretrizes emanadas pelas políticas que, ao fornecerem o norte, estabelecem parâmetros de ação e, de forma dominante, determinam o tipo de mulher e de homem que devem ser formados. Todavia, a gestão da educação não só coloca em prática as diretrizes emanadas, como também interpreta e subsidia as políticas públicas na trama conturbada das relações econômicas, políticas e sociais globais que atravessamos e que se refletem no espaço escolar. (FERREIRA, 2004, p.296-29). Com base na afirmação, fica nítida a relação entre as políticas educacionais e as práticas curriculares. Por isso endossamos o debate apresentando um pouco de nossa experiência como gestora responsável pela implementação do PDE em nosso município. Para tanto, reconhecemos a importância e implicações do PDE na atual conjuntura política, econômica, social e educacional do município, ao tempo em que consideramos sua relação com as práticas curriculares desenvolvidas nas escolas municipais da rede de ensino. Sabemos que ainda há muito a fazer, afinal a palavra democracia traduz a ideia de liberdade e igualdade política [...] a meta é a libertação humana total que abrange, além do aspecto político, os aspectos econômico, social e cultural em sue conjunto. (SAVIANI, 2006, p.152). Nosso trabalho é sem dúvida desafiador, especialmente se considerarmos a conjuntura política e o universo escolar de nosso município que segundo dados do Inep (2010) conta com 35.209 estudantes do ensino fundamental, 1277 docentes: 1.277, distribuídos em 172 escolas. Diante dos nossos desafios, optamos em apresentar um pouco de nossa experiência por meio das vozes de colegas da própria rede que representam os desdobramentos do PDE em nosso município, tal como faremos a seguir. Vozes dos educadores: a experiência do município de Feira de Santana Na delimitação de nosso percurso, alguns dados são importantes para conhecimento de nossa experiência. As escolas priorizadas pelo MEC Início em 2005 - sem repasse financeiro; Em 2007 – o MEC seleciona 27 escolas; Em 2009 – 61 escolas priorizadas; Em 2011 – 32 escolas priorizadas. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 As ações encaminhadas em nossa gestão demandam encontros com os gestores das escolas para orientações e formações específicas sobre o PDE. Dos encontros realizados, e da assistência prestada em nossa atuação, é possível identificar algumas vozes importantes passíveis de nossas reflexões: “Quando o PDE chegou na escola causou um movimento incomum, mas assim que conhecemos todo o processo tivemos a impressão de termos conseguido tirar um raio x da nossa escola”. (Coordenadora Pedagógica). “Achei um passo importante para a autonomia da escola”. ( Membro do Conselho Escolar). “Mexer com dinheiro é complicado, mas em nossa escola a participação de todos foi fundamental”. (Dirigente escolar). “Achei um ótimo exercício para gestão democrática”. (Professora do 3º ano do Ensino Fundamental). “Com a chegada do PDE na escola percebemos que o trabalho coletivo demanda um exercício pleno da cidadania”. (Professora do 5º ano do Ensino Fundamental). As falas dos educadores revelam as impressões pessoais e também interferências do PDE na organização e gestão das escolas. O conhecimento da escola, a que uma das professoras denomina de raio x da escola, é passo importante para se desvelar o currículo que é praticado nessas unidades. A riqueza deste trabalho reside justamente no fato de possibilitar novos olhares para o que parecia comum, igual. É a possibilidade de ver a escola com outras lentes e assim investir em ações coletivas para melhoria de seus aspectos físicos, didáticos e pedagógicos, já que suas ações trazem implicações para a escola como um todo. Considerações Finais Com base na experiência relatada foi possível identificar a importância em articular e apoiar os gestores escolares no desenvolvimento do PDE e ainda a percepção de suas interferências nas práticas curriculares (re) construídas em cada contexto escolar. Acreditamos na relevância da experiência e esperamos problematizá-la nesse e em outros fóruns acadêmicos. Entendemos que discutir o currículo escolar que se efetiva nas escolas de nosso município é uma oportunidade ímpar para visualização da escola em todas as suas dimensões, em especial dos investimentos financeiros que se repercutem e se repaginam Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 nas práticas desenvolvidas por diferentes professores. Em nossas considerações, adiantam-se nossos inúmeros desafios. (Re) pensar o currículo e a organização do Plano de Desenvolvimento da Escola, é sobremaneira, uma nova forma de se contribuir a aprendizagem de diferentes estudantes. Eis, então, mais um de nossos incontáveis desafios! Referências BRASIL. Ministério da Educação. Resolução FNDE, nº22, de 22 de junho de 2012. ________.Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Escola. Disponível em [email protected]. Acesso em 05 de agosto de 2012. FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão democrática da educação: ressignificando conceitos e possibilidades. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR; Márcia Ângela da S. (Orgs.) Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2004. p. 295-316. INEP. Censo Escolar da Educação Básica. Disponível em http://www.inep.gov.br/basica-censo-escola-matricula. Acesso em 05 de agosto de 2012. LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de Currículo. São Paulo: Cortez, 2011. MOREIRA, Antonio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu da (Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005. SAVIANI, Demerval. Política e educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação do ensino. (6 ed.) – Campinas, SP: Autores Associados, 2006. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Feira de Santana: Reflexões sobre possíveis impactos no currículo escolar da educação básica Giovanna Marget Menezes Cardoso Rosana Fernandes Falcão Selma Mendes Souza Mascarenhas RESUMO: Na perspectiva de estabelecer políticas públicas para a educação do município de Feira de Santana que garanta a sua autonomia e identidade, foi elaborado, em 2007, o I Plano Municipal de Educação - PME. O PME, Lei nº 3.326, de 05 de junho de 2012, estabelece objetivos, diretrizes e metas para a educação municipal, nos seus diversos níveis, segmentos e modalidades para os próximos dez anos. Vale destacar que, a experiência de elaboração do plano foi significativa, constituindo um marco na história da educação feirense por ter reunido os atores sociais dos mais diversos segmentos, como alunos, pais, profissionais da educação e representantes da sociedade civil e organizada, etc. Assim, acreditamos que o PME constitui-se como um dispositivo de mudanças significativas na educação no município de Feira de Santana, principalmente no que tange o currículo escolar. Nesse viés, este artigo objetiva analisar o PME, compreendendo o impacto das propostas do documento no currículo da educação básica, em especial no ensino fundamental da rede pública municipal. É uma pesquisa sustentada na abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico e narrativo. A fundamentação teórica foi construída à luz de autores/teóricos, como: Beltrán (2000); Althusser (1985); Bourdieu (1985); Sacristán (2000); Jomtier (1990); Bujes (2001); Antunes (1995); Gadotti (2001); Backer (1993); Freire (1969); Martis (2007); Moreira (2006): Bernstein (1996); Silva (2005); Mainardes (2010); Romão (1993) e documentos legais como LDB 9394/96. Como resultado da pesquisa evidencia-se que o PME constitui-se num documento que define os rumos da educação pública e privada do município, uma verdadeira aula de democracia e cidadania, bem como possibilitar que o currículo e as propostas pedagógicas da educação básica corroborem para a formação do sujeito pleno, por meio das propostas contidas no documento. Vale ressaltar a importância dos atores sociais para acompanhar e cobrar que as mudanças propostas de fato se efetivem, saindo do papel. Palavras-chave: Plano Municipal de Educação; Currículo; Educação Básica Conversas iniciais... Na perspectiva de estabelecer políticas públicas para a educação do município de Feira de Santana que garanta a sua autonomia e identidade, foi elaborado, em 2007 o Plano Municipal de Educação – PME, um documento que não se constitui num plano do Sistema Municipal de Ensino, mas em um plano de educação do município. O I Plano Municipal de Educação do município de Feira de Santana/BA, Lei nº 3.326, de 05 de junho de 2012, estabelece objetivos, diretrizes e metas para a educação municipal, nos seus diversos níveis, segmentos e modalidades para os próximos dez anos. Um marco na história da educação feirense que reuniu os atores sociais dos mais diversos segmentos, Licenciada em Pedagogia, Especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Educação e em Supervisão escolar, Professora de Educação Básica da rede pública municipal, coordenadora de Sistema da SEC de Feira de Santana-Ba. Licenciada em Pedagogia, Especialista em Gestão Escolar e em Psicopedagogia, Coordenadora de Sistema da SEC de Feira de Santana - BA, e-mail: [email protected]. Licenciada em Pedagogia, Especialista em Alfabetização e em Coordenação Pedagógica, Coordenadora Pedagógica da rede estadual de ensino, Coordenadora de Sistema da SEC de Feira de Santana BA, e-mail: [email protected]. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 como alunos, pais, profissionais da educação e representantes da sociedade civil e organizada, etc., para traçar os rumos da educação do município. São diretrizes que pretendem reverter a situação atual da educação no município, que apresenta, segundo levantamento diagnóstico, práticas escolares excludentes, muitas vezes valendo-se de discursos democráticos, propostas pedagógicas desarticuladas que se constituem apenas em instrumentos burocráticos, completamente desprovidos de cunho político. O que para Althusser (1985) pode se tratar de uma estratégia da classe dominante para reforçar a falsa ideia de que a escola, aparelho ideológico de estado, é neutra, ou seja, destituída de qualquer ideologia. Nessa perspectiva, Bourdieu (1987), enfatizam que o Aparelho Ideológico Escolar é violento e, mediante forças simbólicas, através da doutrinação, força as pessoas a pensarem e agirem de determinada forma, sem perceberem que, com isso, legitimam a ordem vigente. Dessa forma, a burguesia vai reproduzindo a sua ideologia e atingindo um número maior de pessoas, já que todos os sujeitos buscam a escola, acreditando no seu poder de mobilidade social. Dessa forma, o PME pode constituir-se como um importante dispositivo de mudanças significativas na educação no município de Feira de Santana-BA, principalmente no que tange o currículo escolar, considerando que o documento aponta os caminhos, traçados coletivamente, que o município deve trilhar na efetivação de uma educação que responda as especificidades da comunidade feirense, com possibilidade de se recriar o espaço escolar, reconstruir o saber enquanto dispositivo de emancipação. Ainda, não podemos desconsiderar que é através do currículo, conforme preconiza Lima (2006, p. 39), que se estabelece a relação de controle e poder, “constrói um modelo de identidade padrão para homens e mulheres”. Coadunando com as reflexões de Menezes e Araújo (2007, p. 34) ao afirmarem que é pelo currículo que “[...] se define o tipo de sociedade e de cidadão que se quer construir, o que a escola faz para quem faz ou deixa de fazer”. Nesse viés, analisar o PME, na perspectiva de compreender o impacto das propostas do documento no currículo da educação básica, em especial no ensino fundamental do sistema público municipal, torna-se imprescindível, compreendendo que este documento norteará a implantação de políticas públicas educacionais que influenciarão diretamente na elaboração e implementação de propostas curriculares para as unidades escolares. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Esta pesquisa está sustentada na abordagem qualitativa, de caráter bibliográfico e narrativo, cuja fundamentação teórica é construída à luz de autores/teóricos, como: Gadotti (2001), que destaca o papel da escola pública e analisa as perspectivas atuais para a educação, considerando as transformações ocorridas na sociedade; Althusser (1985); Bourdieu (1987); Freire (1969), que aponta o papel do educador, ressaltadando a importância do compromisso político deste; Sacristán (2000); e documentos legais como LDB 9394/96, dentre outros. Em direção oposta aos sentidos atribuídos a escola pelas classes dominantes, compreendemos que o PME constitui-se em um instrumento a favor do currículo e de propostas pedagógicas para a educação básica que corroborem para a formação do sujeito pleno, um processo educativo que esteja direcionado ao desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia do homem. O princípio democrático na elaboração do Plano Municipal de Educação Reconhecer o valor democrático da educação, princípio estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, significa, dentre outros aspectos a considerar, participar ativamente da elaboração das diretrizes, objetivos e metas para a educação nas instâncias federal, estadual e municipal, tendo em vista um cotidiano escolar adequado às reais necessidades e interesses do educando. (...) a democracia é concebida, sobretudo, como um regime político, pois, sendo o governo do povo, pelo povo e para o povo, que o exerce direta e indiretamente, expressa um estilo de vida política e se converte numa filosofia de vida que se institucionaliza politicamente no Estado, como forma de convivência social. (CARVALHO, 2006,p.178) Nesse contexto, o Plano Nacional de Educação-PNE (2001), estabelece a obrigatoriedade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios elaborarem os Planos Decenais, com base no Plano Nacional: [...] planejamento conjunto do governo com a sociedade civil, com vigência para 10 anos, que apresenta um diagnóstico e estabelece diretrizes, objetivos e metas Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 para a educação no município, nas instâncias pública e privada (MEC- Documento Norteador para Elaboração de Plano Municipal de Educação,2005) A elaboração do Plano Municipal de Educação de Feira de Santana-PME, Lei nº 3.326, de 05 de junho de 2012, representa um importante passo na incorporação do princípio democrático para a educação do município, um instrumento a favor da promoção de reestruturações na cultura, na prática pedagógica e nas políticas vivenciadas em escolas. Fruto de processos de discussões e decisões coletivas, envolvendo representantes da sociedade civil e organizada, o PME em articulação com o artigo 206 da Constituição brasileira e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, artigos 14 e 15, aponta para a necessidade de participação dos diversos segmentos da escola na proposta educacional, bem como para a importância da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das unidades de ensino. Para Bobbio (2000, p.22) o estado democrático requer “um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados”. Ao expressar uma política educacional para todos os níveis, etapas e modalidades de educação e ensino, o PME configura-se no reconhecimento legal sobre a necessidade de desenvolver propostas educativas que atendam as peculiaridades do município, entendendo este como um documento que oferece relevantes e consistentes contribuições para a definição das políticas educacionais e curriculares das unidades de ensino, nas instâncias públicas e privada do município de Feira de Santana. Dessa forma, aproximando-se das ideias de Beltrán (2000), a escola pode formar democratas, um processo educativo direcionado para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da autonomia do homem, uma concepção de educação que desenvolva a formação para a cidadania ativa. Só assim, a tão almejada democracia, pode se efetivar na prática, assegurando às minorias políticas a possibilidade de garantir aos cidadãos seus direitos fundamentais como a liberdade de expressão e de religião e a oportunidade de organizar e participar plenamente na vida política, econômica e cultural da sociedade. Coadunando com Freire (1969, p. 128), “uma educação só é verdadeiramente humanista se (...) esforça-se no sentido da desocultação da realidade”. Desocultação na qual o homem existencialize sua real vocação: a de transformar a realidade”. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 O processo de elaboração do PME Em 2007, após dois anos de preparação, concluí-se a etapa de elaboração do primeiro Plano Municipal de Educação de Feira de Santana. Tecido por discussões e tomada de decisões coletivas, o processo vivenciado na elaboração do PME constituí-se em um exercício do valor democrático na educação, desencadeando a necessidade de lutar pela construcão de uma educação municipal também democrática. Na expectativa de estabelecer práticas que revertam à exclusão que se instalou na educação municipal, desenvolveram-se estudos, discussões e planejamentos, que desencadearam dentre outros, os seguintes procedimentos: Pesquisa histórica, geográfica e sócio-econômica da cidade de Feira de Santana; Levantamento estatístico referente á oferta dos diferentes níveis e modalidades de ensino e informações sobre movimento escolar; Escuta à comunidade escolar realizada por amostragem em instituições de ensino, públicas e privadas; Criação de uma Comissão de Apoio, com representantes das esferas pública e privada, em todos os níveis e modalidades de ensino, nos diversos segmentos da educação do município; Realização da I Conferência Municipal de Educação organizada em duas etapas: Mini-Conferências, para definição de objetivos, diretrizes e metas; e Plenária Final para aprovação do documento, com a participação de cerca de quinhentas pessoas (professores, pais, alunos, representantes da sociedade civil e organizada, todos com direito a voz e voto); Organização do documento preliminar pela Comissão Coordenadora de Elaboração; Entrega oficial do documento final ao Poder Executivo, em 2008; Revisão e atualização dos dados contidos no documento do PME, realizada por uma Comissão Técnica de Revisão e Atualização do Plano Municipal de Educação (PME) em 2011, criada pela Câmara Municipal em setembro de 2011. Vencida essa etapa, em junho de 2012, o PME foi finalmente homologado pelo Executivo e publicado, assim, a cidade de Feira de Santana pôde ter, pela primeira vez na Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 história da educação, um Plano Municipal que já nasceu com a necessidade de atualização. O que se deve, sobretudo, pela distância temporal entre a sua elaboração e aprovação, ressaltando que a Comissão Técnica de Revisão e Atualização do Plano Municipal de Educação não tinha autonomia para modificar as propostas aprovadas em plenária, se atendo apenas à atualização de dados estatístico, análise do diagnóstico e adequações conceituais. Dessa forma, como consta no próprio documento, a sua revisão se dará após a aprovação do Plano Nacional de Educação, ainda em processo de tramitação, garantindo assim a necessária articulação com o mesmo, e, principalmente, o princípio da democracia, onde todos os segmentos da sociedade feirense serão convidados a atualizar o PME. Tendo como resultado final um documento que representa os anseios da comunidade para a educação feirense, o PME representa, sobretudo, o exercício do princípio democrático, no qual governo e sociedade foram convidados a estabelecer um diálogo sobre a educação no município, despindo-se de qualquer forma de preconceito e/ou discriminação, aceitando as diferenças para que estas nos possibilitassem a igualdade e equidade de direitos assegurada em uma lei municipal de educação. Destacando que o referido documento preconiza as diretrizes para a educação no município de Feira de Santana, sendo referência para a implementação de políticas públicas, como propostas curriculares, formação de professores, programas e projetos educacionais, dentre outros, sempre em consonância também com a Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96, o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Plano Municipal de educação e currículo Compreender a relação existente entre políticas públicas e currículo é fundamental quando se tenta analisar o possível impacto do Plano Municipal de Educação (PME) de Feira de Santana no currículo escolar da Educação Básica. Como diz Sacristán (2000) “Não devemos esquecer que o currículo não é uma realidade abstrata à margem do sistema educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja.” (p.15). Ao contrário, o currículo concretiza os fins sociais e culturais atribuídos à escola num dado momento histórico e social. Dessa forma, as políticas elaboradas e implementadas em cada Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 contexto pretendem também, e talvez principalmente, através do currículo provocar mudanças na sociedade que correspondam aos ideais dos seus atores. Desse modo, “Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado”. (SACRISTÁN, 2000, p.17). O Plano Municipal de Educação de Feira de Santana enquanto construção coletiva e democrática de políticas públicas para a educação reflete os anseios da sociedade feirense no atual contexto histórico e social, cuja maior característica é a quebra de paradigmas e grandes transformações de toda ordem e em escala global. Uma sociedade que já compreendeu a importância que a educação representa para a sobrevivência nesse mundo cada vez mais globalizado e dinâmico. Nesse viés, Gadotti (2000), analisando às grandes mudanças tanto no campo socioeconômico e político quanto no da cultura, da ciência e da tecnologia, ocorridas nas duas últimas décadas do século XX, nos traz uma importante reflexão: Ainda não se tem idéia clara do que deverá representar, para todos nós, a globalização capitalista da economia, das comunicações e da cultura. As transformações tecnológicas tornaram possível o surgimento da era da informação. É um tempo de expectativas, de perplexidade e da crise de concepções e paradigmas não apenas porque inicia-se um novo milênio – época de balanço e de reflexão, época em que o imaginário parece ter um peso maior. (...) É um momento novo e rico de possibilidades. Por isso, não se pode falar do futuro da educação sem certa dose de cautela. (...) A perplexidade e a crise de paradigmas não podem se constituir num álibi para o imobilismo. (p. 1) Ainda, Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para navegar nesse mar do conhecimento, superando a visão utilitarista de só oferecer informações “úteis” para a competitividade, para obter resultados. Deve oferecer uma formação geral na direção de uma educação integral. (ibidem, p.8) Toda e qualquer política pública que se pretenda eficiente não pode perder essas reflexões de vista. Vivenciamos hoje um momento muito importante, estamos no olho do furacão das transformações que estão ocorrendo com ou apesar de nossos ideais e esforços. Configurar o novo papel para a escola é, certamente, o nosso grande desafio. Desse modo, Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 As consequências para a escola e para a educação em geral são enormes: ensinar a pensar; saber comunicar-se; saber pesquisar; ter raciocínio lógico; fazer sínteses e elaborações teóricas; saber organizar o seu próprio trabalho; ter disciplina para o trabalho; ser independente e autônomo; saber articular o conhecimento com a prática; ser aprendiz autônomo e a distância. Neste contexto de impregnação do conhecimento, cabe à escola: amar o conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e de contentamento cultural; selecionar e rever criticamente a informação; formular hipóteses; ser criativa e inventiva (inovar); ser provocadora de mensagens e não pura receptora; produzir, construir e reconstruir conhecimento elaborado. E mais: numa perspectiva emancipadora da educação, a escola tem que fazer tudo isso em favor dos excluídos, não discriminando o pobre. Ela não pode distribuir poder, mas pode construir e reconstruir conhecimentos, saber, que é poder. (GADOTTI, 2000, p. 8) Nesse sentido, implementar o Plano Municipal de Educação significa, nesse novo contexto, implementar um novo currículo, resultado de diversas forças e fatores que influenciaram em sua construção e coerente com as novas demandas emergentes para a educação. O PME de Feira de Santana aborda de maneira bastante real e transparente a situação da educação no município, desnudando seus problemas, apontados causas, mas também soluções. Seus objetivos e metas remetem o tempo todo à necessidade de se rever a realidade, o contexto em que a educação está acontecendo, especialmente no Ensino Fundamental, principal foco de atuação do Sistema Municipal de Ensino. E praticamente todas as análises ali realizadas nos remetem direta ou indiretamente ao currículo escolar desenvolvido nas escolas públicas. Destacando a ideia de educação pública enquanto “educação popular’, conforme preconiza Gadotti (2000) A expressão “escola pública popular” foi por mim cunhada, em 1986, preparando um curso para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sobre as lutas populares por educação pública de qualidade para todos. Tratava-se de estudar a concepção de uma escola emergente, resultante da participação popular em diferentes níveis e formas (...) Ao nosso ver, a escola pública popular deve caracterizar-se pela sua autonomia e capacidade de definir o seu projeto. Depois de 1986, a evolução concreta das práticas político-pedagógicas de construção da escola pública popular levou-nos a utilizar diversas expressões para designar esse movimento, dentre elas escola pública popular autônoma e escola cidadã (p.277-278). As discussões do Plano Municipal de Educação realizadas coletivamente no momento de sua elaboração e expressas no documento final, de uma forma ou de outra, contemplam todos esses aspectos sinalizados até aqui. As análises feitas e as propostas apresentadas transitam por questões diversas, como: infraestrutura das escolas, formação de professores, práticas pedagógicas, recursos didáticos, apoio pedagógico, etc., sempre tendo como foco a melhoria da qualidade da educação promovida na rede Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 pública de ensino, caracterizada pela elevação da aprendizagem pedagógica que, por sua vez, está intrinsecamente relacionada com a contextualização escolar em que esta acontece. Nesse sentido, estava claro para os participantes da elaboração do PME (professores, alunos, pais, representantes de órgão públicos e privados, etc.) que a melhoria da qualidade da educação na Educação Básica em Feira de Santana se vinculava essencialmente à melhoria das condições nas quais a aprendizagem pedagógica é produzida. Segundo Sacristán (2000), Os processos de aprendizagem dependem de fatores externos e internos escolares, anteriores e simultâneos a tal processo. Circunstância que explica por que as funções da educação escolarizada são mais amplas que as expressadas em qualquer currículo, por amplo que este pretenda ser: reprodução, seleção, hierarquização, controle, etc. O currículo, às vezes, as reflete explicitamente, mas também estão nas condições dentro das quais ele se desenvolve. (p.90) A construção do currículo, como afirma Sacristán (2000), não pode ser entendida separadamente das condições reais de seu contexto e desenvolvimento, portanto, compreender o currículo num sistema educativo requer ficar atendo às práticas políticas e administrativas que se expressam em seu desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, materiais, dotação de professores e, por fim, à bagagem de ideias e significados que lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos de transformação. Considerando as reflexões supracitadas, urge uma re-significação do currículo e consequentemente da escola na perspectiva de se reinventar. [...] propondo um espaço de reinvenção das narrativas que formam identidades homogêneas, colocando em destaque o debate sobre novas formas de inclusão de sujeitos sociais com representação minoritária como, por exemplo, os negros, as mulheres, os homossexuais, as crianças, as crianças e os adultos com necessidades especiais etc.(LIRA, 2008, p.4) Para Freire (1969, p. 124-125). “o homem é um ser da práxis [e por isso] não pode reduzir-se a um mero expectador da realidade... Sua vocação ontológica (...) é a do sujeito que opera e transforma o mundo”. Assim, o PME de Feira de Santana, ao trazer de forma tão transparente os grandes problemas por que passa o sistema municipal de ensino, visíveis a partir de uma simples análise dos péssimos indicadores educacionais que o mesmo vem acumulando nos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 últimos anos, mas também apresentado objetivos e metas tão ousados, se constitui num instrumento fundamental para uma guinada nos rumos da nossa educação. Considerações in-conclusivas... É na escola que aprendemos a ser o cidadão que obedece às leis do estado e aos patrões, bem como respeita e acata o sistema capitalista e as injustiças sociais, demonstrando acima de tudo que temos amor à Pátria. Na escola também aprendemos a ler, escrever, contar, desenhar, e principalmente, a não questionar... Esse modelo de escola ainda tão presente em algumas escolas do sistema municipal de ensino de Feira de Santana precisa ser superado. O I Plano Municipal de Educação, lei maior da educação nessa cidade, nasce com esse grande desafio, não só pelo seu valor legal, mas, principalmente, pela força transformadora que possui, por ser anuncio da vontade coletiva, por expressar a voz da comunidade civil e organizada representada na definição de cada objetivo, diretriz e meta expressa nesse documento. Foram anos de espera, desde a sua elaboração até a aprovação, agora o momento é de encontrar eco nos discursos de renomados educadores e teóricos da educação contemporânea, e lutar para que as conquistas presentes nesse documento sejam uma realidade em cada escola do município, compreendendo que o papel da escola vai muito além da formação do indivíduo para o trabalho, respaldado pela teoria tecnicista, ou para a sobrevivência. A luta é por uma escola para todas e para todos cidadãos feirenses, dessa forma, não pode ser apenas um instrumento para preparar mão de obra para o mercado de trabalho ou para dar acesso à universidade, ela deve ter por finalidade a formação humana, formando seus membros para a vida social e política, para o trabalho, para o desenvolvimento de suas habilidades. O momento atual impõe a necessidade de lutar pela construcão de uma escola comprometida com os ideais democráticos que vise desencadear práticas que revertam à exclusão que se instalou no sistema educacional. Garantir a inclusão de todos e de todas no processo educativo é um direito legal previsto na Constituição Federal/1988 e regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, e no Plano Municipal de Educação, nº 3.326, de 05 de junho de 2012, que precisa ser assegurado na prática. Implantar um projeto de educação que assuma esse compromisso é condição Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 para a garantia de uma educação comprometida com uma sociedade verdadeiramente humanitária. Está mais do que evidente que não se faz educação de qualidade apenas com boa vontade e compromisso ético com a profissão. É preciso muito mais que isso, a começar por condições dignas de trabalho e real valorização dos profissionais que fazem a educação efetivamente acontecer. Como diz Gadotti (2000) devemos ser felizes na escola uma vez que lá passamos tanto tempo de nossas vidas. Dessa forma, a felicidade na escola deixa de ser uma questão de opção metodológica ou ideológica, e passa a ser uma obrigação essencial dela, pois o mundo de hoje é ‘favorável à satisfação’ e a escola também pode sê-lo. Referências ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado: notas sobre aparelhos ideológicos de Estado, Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002b. BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1987. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Documento norteador para elaboração de Plano Municipal de Educação – PME / elaboração Clodoaldo José de Almeida Souza. – Brasília : Secretaria de Educação Básica, 2005. BRASIL, Ministério da Educação e Desporto. Plano Nacional de Educação. Lei n.10.172, de 9 de janeiro de 2001. CARVALHO, Kildare Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Teoria do Estado e da Constituição. Direito Constitucional Positivo. 12 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 178. GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Disponível: http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf, Acesso: 15 de julho de 2012. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 FREIRE, Paulo. O papel da educação na humanização. Revista Paz e Terra. Rio de Janeiro, ano IV, n.09, p. 123-132, out. 1969. LIMA, E. S. Educação contextualizada no semi-árido: reconstruindo saberes, tecendo sonhos. In: RESAB. Educação e convivência no campo: analisando saídas e propondo direções. Disponível: contextualizada2008. blogspot.com. Acesso: 23 de julho de 2012. LIRA, Aliandra Cristina Mesomo.Sociedade, escola, currículo e multiculturalismo: algumas reflexões. Disponível: www.revistavoos.com.br/seer/index.php/voos/article. Acesso: 23 de julho de 2012. MENEZES, A. C.; ARAÚJO, L. Currículo, contextualizaçao e complexidade: espaço de interlocução de diferentes saberes. In: RESAB. Currículo, Contextualização e complexidade: elementos para se pensar a escola no semi-árido. Juzeiro .Selo Editorial na Educação Infantil. Texto apresentado no Seminário Nacional de educação propondo direções. Juazeiro: Selo Editorial RESAB, 2006.p. 35-48. SACRISTAN, Gimeno J.O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre, Artmed, 3ª edição, 2000 Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 EDUCAÇÃO INTEGRAL E CURRÍCULO Suzana Alves de Santana Ramos72 Eidy Caroline França de Oliveira Silva73 RESUMO: O tempo de permanência do aluno na escola é tema de inúmeras discussões e pesquisas, principalmente, quando o assunto é a necessidade da educação escolar em tempo integral. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) contempla esta modalidade de ensino, por reconhecê-la como um dos pilares para o pleno desenvolvimento dos alunos. Entendendo o currículo como ferramenta para materialização de uma proposta de educação, o presente artigo tem como objetivo discutir a diversificação do currículo para as Escolas de Tempo Integral, numa perspectiva de Educação Integral. A disponibilização das atividades curriculares deve constituir um processo capaz de entrelaçar as diferentes áreas do conhecimento, a fim de responder a uma multiplicidade de exigências do indivíduo e do contexto em que ele vive, dialogando com seus interesses, conhecimentos e valores. Neste sentido, a pesquisa bibliográfica realizada se propôs a investigar a relação existente entre a expansão do tempo escolar e atividades diversificadas e articuladas, partindo do seguinte questionamento: Escola de Tempo Integral é sinônimo de Educação Integral? Na tentativa de alcançar o objetivo e responder a questão levantada, buscou-se fundamentação em teóricos conceituados na área tais como: Sacristán (2000), Gallo (2002), Teixeira (2007), Saviani (2008), entre outros. Assim, é importante destacar que a Educação Integral não se confunde com horário, tempo ou jornada integral, e sendo um conceito polissêmico, visa assumir o currículo numa perspectiva integradora e diversificada, de modo a proporcionar aos estudantes uma formação completa. Palavras-chave: Tempo Integral; Educação Integral; Currículo Diversificado. 1 INTRODUÇÃO O tempo de permanência do aluno na escola é tema de inúmeras discussões, e pesquisas entre alguns especialistas em educação. A construção de centros como a Escola Parque, na Bahia, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro e, mais tarde, os Centros de Aprendizagem e Integração de Cursos (CAICs), em âmbito nacional foram ações importantes na tentativa de implantar a Educação Integral no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) trata, em seu artigo 34, da importância e necessidade da educação escolar em tempo integral como uma das bases para o pleno desenvolvimento dos alunos. Entretanto, deixa a critério dos sistemas de ensino as decisões de como deve ser feita a ampliação gradativa do tempo de permanência do aluno na escola. 72 Coordenadora do Programa Mais Educação na Secretaria Municipal de Educação do município de Feira de Santana – BA. [email protected] 73 Pedagoga e Técnica da Secretaria Municipal de Feira de Santana – BA. [email protected] Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 As propostas de Educação Integral, que visam garantir uma maior permanência do aluno na escola, caracterizam-se, principalmente, pela realização de atividades extracurriculares, ou seja, atividades que vão além do currículo obrigatório. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo discutir a diversificação do currículo para as Escolas de Tempo Integral, numa perspectiva de Educação Integral. O currículo é a ferramenta que torna possível a materialização de qualquer proposta educacional. Ele é parte significativa dos processos pedagógicos que interagem no cotidiano das instituições escolares. Pensar em currículo é pensar no que se pretende ensinar e nos motivos que levaram a escolha de determinados conteúdos em detrimento a outros. Quando o assunto é Educação Integral esta reflexão toma uma dimensão maior, pois envolve a formação completa do indivíduo, na qual as atividades “extracurriculares” ganham novo significado e passam a ser vistas como oportunidade de aprendizam e desenvolvimento de outros aspectos que compõem o sujeito. Dentro da perspectiva da expansão do tempo escolar e de atividades diversificadas e articuladas surge o seguinte questionamento: Escola de Tempo Integral é sinônimo de Educação Integral? Para tentar responder a esta indagação, o texto que se apresenta fará uma breve abordagem a respeito da concepção de Educação Integral, das teorias do currículo bem como da relação deste com a sociedade contemporânea e da diversificação curricular com a Educação Integral. Ressaltando que o caráter permanente da Educação Integral visa à formação do ser humano para a vida. 2 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL No Brasil, as diversas experiências sobre a expansão da jornada diária nas escolas nos remetem à necessidade de reflexões sobre a concepção de educação e as possibilidades didáticas quanto à atuação do professor. O tempo aparece como uma variável relevante, mas não garante, por si só, transformações que possibilitem a formação humana em todas as suas facetas. Essa reflexão sobre a ampliação do tempo escolar refere-se ao tipo de instituição de educação básica de que a sociedade precisa, bem como, qual o seu papel formativo no processo democrático. Em diversos países, inclusive no Brasil, configura-se a ideia de educação integral associada à ampliação da jornada escolar. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Segundo Gallo (2002), durante o século XIX, a civilização deparou-se com uma necessidade utópica fundamental: a aspiração do homem livre, o que fundamentou filosófica, política, social e epistemologicamente o conceito e a prática da educação integral, como um processo de formação humana, em que o homem se faz plenamente humano. Para Coelho (2004), tempo integral na escola pressupõe a adoção de uma concepção de educação integral que vá além de atividades pedagógicas, mobilizando diversos recursos intelectuais para a construção de uma sociedade democrática e mais justa, por meio da formação de indivíduos responsáveis e partícipes. Não se entende educação integral como um processo pré-estabelecido, culminando, dentro de um prazo, na finalização ou conclusão de um determinado grau de ensino. Seu caráter é permanente, envolvendo todas as necessidades formativas que dêem condições de sobrevivência às pessoas na sociedade. Diante disto, se faz necessário o estabelecimento de políticas públicas na área educacional que contemplem essa realidade e priorizem o planejamento estratégico, a otimização dos recursos existentes e investimentos necessários. A adoção destas políticas gera implicações nas atividades pedagógicas, principalmente, no que concerne ao currículo que deverá ter suas matrizes ampliadas. No Brasil, o movimento da Educação Integral ganhou força a partir da década de 1930, com a proposta de construção de um novo modelo de educação alternativo para “reformulação interna da escola, de modo que ela pudesse fornecer a cada indivíduo uma educação integral que capacitasse a viver como cidadão” (PARO, 1988, p. 190). Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros74, originou uma nova concepção de educação. Tinha como personagem principal o professor Anísio Teixeira 75, o articulador das bases filosóficas e políticas da renovação escolar que pleiteavam a reconstrução educacional no Brasil, organizando a escola como representação da sociedade (SAVIANI, 2008). 74 O Manifesto dos Pioneiros representou [...] uma tomada de posição ideológica em fase do problema educacional. Reivindicando uma ação firme e objetiva do estado, no sentido de assegurar escola para todos, contestando a educação como privilegio de classe, sem, contudo, recusar a contribuição da iniciativa particular, de cujo controle não deve o estado abrir mão... (ROMANELLI, 1991, p.147). 75 Anísio Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 na Bahia. Estudou em colégios de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro. Diplomou-se em 1922 e em 1924 tornou-se inspetor-geral do Ensino na Bahia. Viajando pela Europa e Estados Unidos em 1925, observou os sistemas de ensino. Em 1928, ingressou na Universidade, em Nova York, onde obteve o título de mestre e conheceu o educador John Dewey. Durante este período comungou com as idéias de Dewey. De volta ao Brasil, criou, no Rio de Janeiro, 1931 e 1935 uma rede municipal de ensino da escola primária à universidade. Em 1936 regressou à Bahia. Criou a Escola Parque, em Salvador, que se tornou um centro pioneiro de educação integral. Morreu no Rio de Janeiro em março de 1971. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Segundo Chaves (2002), as idéias pedagógicas defendidas e aplicadas por Teixeira ao longo da história da educação do Brasil, fundamentavam-se nos princípios da teoria de Dewey (1952 – 1979), as quais defendiam a universalização da escola pública, laica e gratuita, e, uma educação livre de privilégios que valorizava o ser humano, considerando a educação o único meio realmente efetivo para educar o homem como um todo. Anísio Teixeira (2007) entendia a educação escolar como um instrumento que produz a democracia, considerando a mesma como ferramenta de justiça social e de correção das desigualdades provenientes da posição e da riqueza, pois acreditava que a escola possibilita a integração do país na civilização letrada. Por essa razão, reforçava que a escola eficaz seria de tempo integral para estudantes e professores. Para Anísio Teixeira (2007), a escola de tempo integral prepara o educando para o trabalho, integra-o socialmente através do conhecimento mais completo do meio em que vive, forma atitudes e hábitos de convivência social, desenvolve o gosto artístico e de vida sadia, bem como trabalha a iniciação técnica, de acordo com interesses e aptidões do estudante, facilitando futuras escolhas de uma atividade profissional (EBOLI, 2000). Para Coelho (2004), educação integral é uma concepção geral de educação que não se confunde com o horário integral, o tempo integral ou a jornada integral, vai além de atividades pedagógicas, culminando com uma formação mais completa, na qual o “educador é alguém que proporciona condições para que o educando se eduque” (PARO, 2007. p. 18). Segundo Gonçalves (2006), o conceito mais tradicional que define a educação integral é aquele articulado ao processo educativo que assume a pessoa em sua totalidade. Ou seja, compreende o indivíduo em sua condição multidimensional, considerando que suas necessidades para o pleno desenvolvimento não comportam somente a dimensão cognitiva, mas também as dimensões corpórea, social, cultural, psicológica, afetiva, econômica, ética, estética, entre outras, sem desconsiderar o contexto de múltiplas relações em que esse indivíduo está inserido. Da mesma forma, Cavaliere (2002) defende a educação integral como aquela que tem, por princípio basilar, a predisposição de, ao acolher os educandos em sua multidimensionalidade, comprometer-se em propor ações que contribuam para o desenvolvimento equitativo de todas as suas dimensões. Nessa perspectiva, a educação integral deve ser capaz de responder a uma multiplicidade de exigências, ao mesmo tempo em que deve objetivar a construção de Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 relações na direção do aperfeiçoamento humano. Essa concepção aponta para a necessidade de articulações entre diferentes contextos educacionais, nos quais as aprendizagens são assumidas como uma construção em redes, que se estendem para além das disciplinas escolares, constituindo, assim, um currículo necessário à vida. No contexto educacional brasileiro contemporâneo, o conceito de educação integral apresenta-se, de tal forma, polissêmico sendo impossível entendê-lo por uma única vertente. Segundo Guará (2009), tal conceito define-se a partir de quatro diferentes perspectivas. A primeira delas refere-se à educação integral como formação integral, na qual o sujeito é considerado como mais importante. Um sujeito que deve equilibrar diversos aspectos. Assim, o sujeito estaria articulado ao desenvolvimento humano, como exposto anteriormente. A segunda perspectiva entende a educação integral como articulação entre as disciplinas curriculares e os conhecimentos em abordagens interdisciplinares e transdisciplinares, ou seja, enfatiza que as práticas educacionais, sobretudo as escolares, devem se abrir ao diálogo com as experiências e os conteúdos transversais. Uma terceira perspectiva compreende a educação integral como articulação da escola com outros espaços comunitários, onde, em parceria, as diferentes instituições podem compor projetos educacionais que compreendam o turno e o contraturno escolar. De um modo geral, essa combinação considera o conhecimento como educação formal e educação não-formal, sendo que a primeira tem a primazia sobre a segunda. Finalmente, a quarta perspectiva que tem sido mais usual nestes últimos anos e interpreta a educação integral como ampliação e/ou expansão do tempo de permanência do indivíduo no contexto escolar, focando suas atividades para um melhor rendimento escolar. O conceito de educação integral não descarta nenhuma dessas perspectivas. Porém, é necessário olhar para as experiências que tais perspectivas fundamentam, e reconhecer em cada uma, o que podem oferecer para o desenvolvimento integral dos indivíduos que a elas estão agregados. 3 RELACIONANDO CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INTEGRAL O entendimento a respeito da Educação Integral em sua amplitude, não se resume ao aumento da jornada escolar. Tratar deste tema é tratar da criação de novos espaços e Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 tempos voltados para o desenvolvimento integral dos estudantes, valorizando suas experiências de vida, e para a formação humana multidimensional que considere as diferentes manifestações de conhecimentos e aprendizagens. Vivemos na sociedade da informação e “as novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento” (GADOTTI, 2000, p.7). Nesse contexto, esta modalidade de educação precisa dar relevância as redes de aprendizagem que acontecem nos vários espaços e nos diferentes níveis sociais. O conhecimento está aí para todos, por isso uma educação voltada para o futuro, precisa ser emancipadora e estar a favor das classes menos privilegiadas. Educar integralmente é garantir os direitos e oportunizar a inclusão. “A escola está desafiada a mudar a lógica da construção do conhecimento, pois a aprendizagem agora ocupa toda a nossa vida” (GADOTTI, 2000, p. 9). Corroborando com pensamento citado, pode-se inferir que a escola precisa ter uma concepção de currículo que contemple essa nova realidade. Não cabe mais a figura do professor detentor do saber e do aluno receptáculo aberto para o depósito dos conhecimentos selecionados pela escola. Para falar de currículo é interessante fazer uma breve abordagem sobre as teorias do currículo apresentadas por Silva (2010). Inicialmente o autor apresenta as teorias tradicionais que concebem o currículo escolar com funcionamento similar ao de uma empresa comercial ou industrial, num processo de racionalização de resultados que são medidos cuidadosa e rigorosamente. Assim, a prática pedagógica responderia a questionamentos a respeito do currículo, ensino, instrução e avaliação. Esse currículo se propõe a ser neutro e técnico. Ao contrário do que preconizam as teorias tradicionais, as teorias críticas buscavam a superação do imobilismo e viam o currículo como local de (re)produção de significados sociais. Destacavam também o conceito de currículo oculto como aquele que é composto pelos todos os aspectos que fazem parte do ambiente escolar e de forma implícita colaboram para aprendizagens sociais. Silva (2010) ao abordar as teorias pós-críticas do currículo afirma que estas evidenciavam necessidade de fazer conexões entre saber, multiculturalismo, identidade, etnia, sexualidade, poder, gênero e subjetividade. Assim, confirma que o currículo longe de ser neutro e desinteressado, tem caráter formativo. E diante desta percepção, não dá para pensar numa concepção de currículo para educação integral que desconsidere as particularidades dos sujeitos. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Conhecer as diferentes teorias que perpassam pelo currículo escolar, possibilita a reflexão a sobre a complexidade inerente ao tema. E a nova configuração social resultante do avanço das tecnologias da informação e comunicação, coloca o ser humano no contexto da interatividade e a escola frente a um novo desafio que é proporcionar “a sala de aula interativa” (SILVA 2006) numa perspectiva de “currículo em rede” (DIAS; LEITE, 2010). Um currículo em rede se transforma com as necessidades, possui várias formas de conexão de conhecimentos e significados e tem uma perspectiva intercultural. A escola deve romper com os paradigmas que não possibilitam a interação e que são insuficientes para a realidade contemporânea, de modo a proporcionar um currículo para Educação Integral que consiga formar indivíduos críticos, (inter)ativos, que desenvolvam saberes integrados e interconectados. Enfim, a diversificação curricular exigida nesta modalidade não se restringe ampliação de componentes curriculares, ou seja, a incorporação de artes, música e dança, entre outros. Ela tem relação estreita com a concepção de desenvolvimento humano, de currículo, de ensino aprendizagem e, principalmente, de Educação Integral que se pretende adotar. 4 DIVERSIFICAÇÃO CURRICULAR E EDUCAÇÃO INTEGRAL O ato de diversificar o currículo está diretamente relacionado à pesquisa de novas formas de proporcionar a aprendizagem. Esse contexto, remete, conforme Coelho (2004), a indagações sobre a relação conteúdo-forma referentes as diversas áreas do conhecimento: a Matemática, a Língua Portuguesa, as Ciências Naturais, os Estudos Sociais, bem como a Educação Artística, Educação Sexual, a Saúde, o Meio Ambiente, os Esportes em geral. Isso exige uma capacitação do professor! O assunto não é novo, e sempre foi abordado na relação direta com a qualificação do professor em sua formação inicial e continuada. Os problemas que surgem da inadequação entre conteúdo e forma em qualquer área do conhecimento precisam ser enfrentados nos diversos espaços educativos, formais e não-formais. A busca de superação das dificuldades, de eliminação de barreiras, do questionamento dos erros precisa ser alvo de trabalho e pesquisa constante por parte do docente e daqueles que com eles trabalham. Não podemos nos esquecer de que o dilema nos procedimentos para efetivar a seleção e organização dos conteúdos e métodos é vivido pelo professor na sala de aula e também nas atividades diversificadas. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Se, por um lado, assumir o currículo como uma construção cultural e social demanda considerar e analisar os contextos (social, político, econômico, cultural e pedagógico) concretos que lhe molda; por outro lado, entendê-lo como uma forma de organizar uma diversidade de práticas educativas no cotidiano educacional supõe a compreensão de que diferentes ações, vários atores, múltiplas concepções, diversos saberes / fazeres intervêm em sua configuração, no interior de certas condições concretas estabelecidas por interações culturais, sociais e institucionais. Tal organização contribui para a visualização do processo de construção do currículo como práxis (SACRISTÁN, 2000), ou seja, uma atividade teórico-prática que apresenta uma face ideal (teórica) e uma face material (prática) ajustada a objetivos que intencionam a transformação da realidade. O currículo deve ser assumido como um processo de construção capaz de entrelaçar as diferentes áreas do conhecimento a fim de responder a uma multiplicidade de exigências do indivíduo e do contexto em que se vive. Ele requer, segundo Souza (2010, p. 799), “a disponibilização de atividades curriculares que enriqueçam a vivência discente, e possibilite a inserção de novos conteúdos e linguagens”, que dialoguem com os interesses dos indivíduos, com seus conhecimentos e valores. Olhar, sentir, captar, presenciar o currículo construído no cotidiano educacional, com essa perspectiva, exige considerar que, inúmeras ações e intervenções, teorias e concepções colaboram para sua configuração e conferem-lhe significado real no momento histórico de sua materialização efetivada no cotidiano educacional. Nesse sentido, a Escola de Tempo Integral, incorporando em sua configuração, as perspectivas da Educação Integral, mediante a ampliação de permanência do aluno na escola, requer um currículo entendido como processo a ser construído no cotidiano das instituições educacionais. Este currículo deve permitir a flexibilidade das ações e atividades sem perder o sentido da unidade na construção do conhecimento, produzir uma nova dinâmica na organização do tempo do aluno na escola e ampliar as oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e emancipatórias. Para isto, é preciso modificar a rotina da escola, repensar o uso dos espaços e dos tempos, de modo a criar situações e oportunidades para a formação e o desenvolvimento dos alunos. Não se trata apenas de um aumento do que já é ofertado e da forma como é ofertado. Segundo Gonçalves (2006), é necessário um aumento quantitativo e qualitativo das ofertas. Quantitativo no que diz respeito à ampliação do tempo. Qualitativo porque essas horas não são suplementares, mas “são oportunidades em que os conteúdos Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 propostos poder ser ressignificados, revestidos de caráter exploratório, vivencial e protagonizado por todos os envolvidos na relação ensino-aprendizagem”. (GONÇALVES, 2006, p. 132). É importante destacar que, quando se afirma que aquelas atividades integram o currículo escolar, refere-se a um envolvimento que não está presente no mero anexar “aulas” de música, de capoeira, de informática ao contraturno curricular. Refere-se, sim, à possibilidade das diversas atividades – diversificadas e de sala de aula – serem tratadas como conhecimentos escolares mediadores entre sujeitos cognoscentes e objetos congnoscíveis. O principal desses objetos é a sociedade, com seu conjunto de relações e práticas, na qual estamos inseridos e atuamos. Semelhante proposta implica planejamentos integrados, de forma que o aluno perceba que qualquer uma daquelas atividades faz parte do seu “ser” humano, ou seja, constitui sua educação completa, integral. É neste contexto que a diversificação curricular se faz presente. Quando um professor associa educação integral apenas com a presença de atividades diversificadas, novamente ele retoma a fragmentação do conhecimento e das práticas escolares, como conseqüência. Ou seja, ensino é uma parte do que se realiza na escola. Todas as atividades, diversificadas ou não, representam o complexo fazer escolar, que se compartimentalizam ou são compartimentalizados pelos atores da escola. Ao observar os espaços destinados às diversas práticas também são dissociados: um território para as atividades de animação cultural, de artes, de esportes e as outras atividades da escola: O ensino é realizado na sala de aula, o desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e esportivas nos espaços das oficinas correspondentes. É essa visão confusa do professor, que não identifica a escola como espaço de produção e reprodução do conhecimento que fica por trás das suas práticas e dos seus discursos. Desta forma, o turno destinado ao trabalho em sala de aula é relacionado aos conteúdos isolados, descontextualizados e sem significado, ao invés de produção do conhecimento. Em contrapartida, o contraturno se destina a tudo que não é considerado ensino, como se estes espaços e tempos não fossem locus de conhecimento escolar sem distinção hierárquica em relação ao que recebe tratamento formal e disciplinar. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 Apesar de parecerem sinônimos e de estarem juntas na maioria das discussões, as expressões Educação Integral e Escola de Tempo Integral não possuem o mesmo significado, mas carregam consigo elementos que podem coexistir de maneira harmônica e complementar. Todavia, esta parceria não é condição sine qua non para existência de uma perspectiva de Educação Integral. Falar de Educação Integral é, sobretudo, considerar a necessidade de desenvolvimento do indivíduo de forma completa e integrada, atentando para as dimensões (cognitiva, corpórea, social, cultural, psicológica, afetiva, econômica, ética, estética, entre outras) que o compõem. E para proporcionar este desenvolvimento com qualidade a Escola de Tempo Integral seria uma alternativa, desde que esta não seja compreendida como sobreposição de disciplinas agrupadas em: componentes obrigatórios do currículo e atividades extracurriculares. Para que uma Educação Integral se efetive os atores envolvidos no processo precisam se apropriar do seu real significado. Professores precisam passar por formação continuada e as propostas pedagógicas precisam contemplar abordagens interdisciplinares, considerando as experiências dos educandos, numa perspectiva de transformação da realidade, entrelaçando diferentes saberes, repensando o uso dos espaços e tempos escolares, adotando um currículo diversificado e integrado e, principalmente, enxergando os estudantes como sujeitos de sua própria aprendizagem. A nova configuração social, nesta Era da Informação, resultante dos avanços tecnológicos e da globalização, mudou a forma de aprender e de ter acesso ao conhecimento. Assim, Educação Integral, não pode ser encarada como um modismo, ela é uma demanda oriunda deste cenário em que a escola deve ser ressignificada para cumprir sua função social. Este processo exige uma reestruturação curricular através da qual estudante potencializará sua interação com a sociedade. REFERÊNCIAS BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. CAVALIERE, A. M V. Educação integral: uma nova identidade para a escola brasileira? Educação & Sociedade. Campinas, v. 23, n. 81, p. 247-270, 2002. CHAVES, M. W. Educação integral: uma proposta de inovação pedagógica na administração escolar de Anísio Teixeira no Rio de Janeiro dos anos 30. In: Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 COELHO, L. M. C. da C. e VILLELA, A. M. (Org.) Educação Brasileira e(m) Tempo Integral. Petrópolis: Vozes, 2002. COELHO, L. M. C. da C.. Análise situacional das escolas públicas de horário integral do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO, 2004. Relatório final de pesquisa. DIAS, R. A.; LEITE, L. S. Educação a Distância: da legislação ao pedagógico. Petrópolis: Vozes, 2010. EBOLI, T. Uma experiência de educação em tempo integral. 4ª Ed. Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Rio de Janeiro: Gryphus, 2000. GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. São Paulo Perspec. [online]. v.14, n.2, p. 03-11. Abr./Jun. 2000. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S010288392000000200002&script=sci_arttext&tlng=pt%C3 %DC. Acesso em: 01 jul. 2012. GALLO, S. A educação integral numa perspectiva anarquista In: COELHO, L. M. C. da C.; CAVALIERE, A. M. V. (Org.) Educação brasileira e(m) Tempo Integral. Petrópolis: Vozes, 2002. GONÇALVES, A. S. Reflexões sobre educação integral e escola de tempo integral. 2006. IN: Cadernos CENPEC / Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Educação Integral. nº 2 (2006). São Paulo: CENPEC, 2006. GUARÁ, I. M. F. R. É imprescindível educar integralmente. IN: Cadernos CENPEC / Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Educação Integral. nº 2 (2006). São Paulo: CENPEC, 2006. GUARÁ, I. M. F. R. Educação e desenvolvimento integral: articulando saberes na escola e além da escola. IN: MAURÍCIO, Lúcia V. (org.). Educação Integral e Tempo Integral. Em Aberto, Brasília: INEP, v. 22, nº 80. 2009. PARO, V. H. (Org.). A Escola Pública de Tempo Integral: universalização do Ensino e Problemas sociais. Cadernos de Pesquisa, n. 29, p.86-99, 1988. PARO, V. H. Gestão escolar e democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2007. SACRISTÁN, J. G. O Currículo: Uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. SAVIANI, D. As Concepções pedagógicas na História da Educação Brasileira. Campinas: O espaço acadêmico da pedagogia no Brasil, 2008. Disponível em: www..histedbr.fae.unicamp.br Acesso em: 6 de janeiro 2012. SILVA, M. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2006. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096 SILVA, T. T. da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. SOUZA, D. de M.. Educação Integral em Palmas no Tocantins: Implantação e Sustentabilidade. In: DALBEN, Ângela I. L. de Freitas (et. al.). Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. TEIXEIRA, A. Educação não é privilégio. 7ª. Ed., Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007. Anais do I Encontro Regional sobre Currículo Escolar dos Territórios de Identidade do Portal do Sertão e do Território do Sisal ISSN 2357-7096
Download