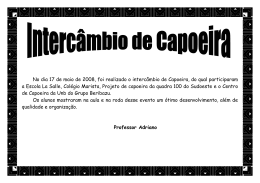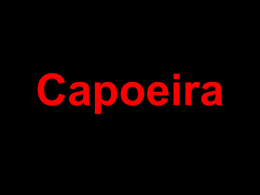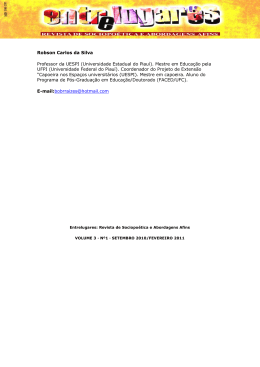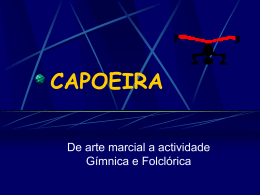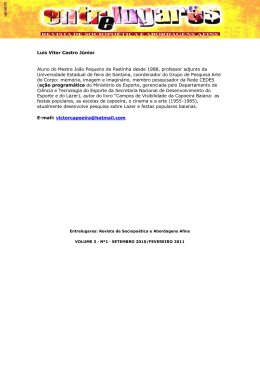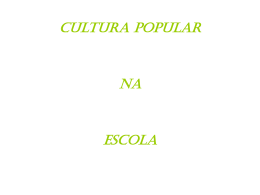A MULHER NA CAPOEIRA E A PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA AO SISTEMA RACISTA E PATRIARCAL Rafael Ferreira da Silva* (autor) Resumo Esse artigo vai tratar da forma como as mulheres se apropriaram da capoeira como ato ou movimento de resistência ao sistema racista e patriarcal. Inicia trazendo algumas informações gerais do autor Pedro Abib (2005) sobre a prática da capoeira no final do século XVIII e no século XIX no Rio de Janeiro e na Bahia, período em que se começa a ter registros. Em seguida, discorre sobre a participação da mulher na capoeira e seus significados sociais no referido período, antes de apresentar como uma mulher negra capoeirista e pesquisadora analisa a inserção do gênero feminino negro nessa arte enquanto resistência hoje. Conclui-se com a feminista Sueli Carneiro a partir das reflexões colocadas. Palavras chave: Mulher, Educação, Capoeira, Resistencia. *[email protected], Universidade Federal do Ceará. Introdução A capoeira surgiu no Brasil durante a escravidão ou veio da África com os negros? É difícil responder essa pergunta, não existem pesquisas sobre a origem da capoeira no Brasil, nem dados exatos. Mas é possível afirmar que em várias regiões do continente africano, existiram “danças de combate” como o moringue em Madagascar e danças-rituais como NGolo no sudoeste da África, semelhantes à nossa capoeira. Os negros que foram traficados da África praticavam a capoeiragem nos terreiros, nas senzalas e ruas, para lutar, se defender, jogar, brincar e dançar. Essa prática se tornou comum, sobretudo a partir do século XVIII, por escravos e livres que viviam nas cidades e no campo. A formação de grupos de capoeira no século XIX era muito comum entre os homens mas a participação das mulheres nesses grupos é pouco citada. Quase não se fala da presença das mulheres entres os capoeiristas dessa época, como se fosse uma prática exclusiva dos homens. Se engana quem pensa que as mulheres negras não sabiam jogar capoeira. Novas pesquisas vêm desmistificando a presença delas na capoeiragem. Assim hoje sabemos que as mulheres negras também praticavam capoeira, lutando pelos seus direitos, à maneira delas. Esse artigo vai tratar da forma como as mulheres se apropriaram da capoeira como ato ou movimento de resistência ao sistema racista e patriarcal. Inicia trazendo algumas informações gerais do autor Pedro Abib (2005) sobre a prática da capoeira no final do século XVIII e no século XIX no Rio de Janeiro e na Bahia, período em que se começa a ter registros. Em seguida, discorre sobre a participação da mulher na capoeira e seus significados sociais no referido período, antes de apresentar como uma mulher negra capoeirista e pesquisadora analisa a inserção do gênero feminino negro nessa arte enquanto resistência hoje. Conclui-se com a feminista Sueli Carneiro a partir das reflexões colocadas. Informações importantes sobre a capoeira como movimento de resistência dos negros e negras Para alguns, a capoeira começa na África bantu através de danças rituais. Outros vêem uma ressignificação dessas práticas no continente americano, frisando a similaridade com manifestações culturais como o mani cubano e a ladja da Martinica, com execuções de golpes parecidos aos da capoeira. É uma dança que exige desenvoltura, mas também combatividade, pela sua dimensão guerreira. Além disso, pela condição comum de malungos (companheiros de viagem) ou de descendentes de diferentes etnias africnados que fizeram a travessia da kalunga (oceano), a capoeira se fez um instrumento de luta corporal fortemente agregadora, diante das adversidades da escravidão: A capoeira surge nesse contexto, enquanto mais um elemento agregador entre as diversas etnias africanas em interação, bem como, enquanto possibilidade concreta de utilização desse ‘repertório cultural’ como um instrumento de luta contra a situação de extrema violência a qual estavam os negros escravos submetidos, e no qual o saber corporal inscrito em cada perna, braço, tronco, cabeça e pé, podia ser transformado numa arma eficaz a serviço da sua libertação (Abib, 2005, p. 135) *[email protected], Universidade Federal do Ceará. Os primeiros registros sobre capoeira datam de fichas policiais dos séculos XVIII e XIX no Rio de Janeiro e na Bahia, envolvendo sobretudo rixas entre escravos e policiais e também entre etnias rivais. A capoeira passou a fazer parte das formas de resistência de controle mais difícil por parte das elites, sendo quase tão perseguida quanto as chamadas feitiçarias (religiosidades africanas), pois sua prática violenta se constituía uma ameaça à ordem, tanto na época escravista como depois na República. Assim também sua prática era brutalmente recriminada, dava cadeia e centenas de chibatadas (Abib, 2005). Muniz Sodré traz também a visão da capoeira como “arquétipo existente no inconsciente coletivo africano que veio se aflorar e se materializar aqui no Brasil” (Sodré, 2005 :p.39). Sobretudo no Recôncavo Baiano a capoeira vem se inserir no jeito africano de ser com sua musicalidade, religiosidade e forma de ver o mundo. As mulheres têm participação direta ou indireta pois, na Bahia era comum acontecer a capoeira frente às quitandas mantidas por mulheres. Enquanto subversão aos valores dominantes, a capoeira foi e continua sendo um movimento de enfrentamento à ordem social e racial injusta que reina no país. Assim a ginga que é sua base, remete a uma coruptela do nome Njinga, que virou Nzinga, nome da rainha angolana que enfrentou os portugueses e os espanhóis durante décadas. Aí vemos a influência importante da mulher resistente como símbolo que perpassa desde os maracatus até os grupos de capoeira: O termo ginga na capoeira remete a um imaginário de conflito e negociação expresso pela ação política da rainha Jinga, no embate com os colonizadores/invasores europeus, e também aos atributos de magia, que segundo histórias da capoeira permitia que aparecesse e desaparecesse durante as batalhas que liderava em África. (Abib, 2005: p. 168). A capoeira é cada vez mais esse jogo “(...) de enfrentamento indireto, onde os sujeitos em disputa com o poder dominante, dançam, jogam e dissimulam, aguardando o momento certo para aplicar o golpe inesperado e certeiro (Abib, 2005: p. 169). Com a descriminalização da capoeira e do candomblé do Código Penal, na era Vargas, a capoeira vai aos poucos tornando-se mais legitimada e aceita, ao introduzir uma cultura mais esportiva, sobretudo na linha do Mestre Bimba, mas também mais afastada das ruas e de seu caráter violento, imperando agora mais sua dimensão lúdica e de transmissora de valores ancestrais. Caracterização das mulheres negras envolvidas na capoeira Desde sua chegada em solo brasileiro as mulheres foram excluídas na sociedade. No entanto, no período republicano, elas começam a aparecer com mais forças, organizadas e dispostas a combater o preconceito, o machismo e o racismo, de forma organizada ou não. *[email protected], Universidade Federal do Ceará. A sociedade estava preocupada, em definir o papel da mulher: “ela representava o próprio espírito de ordem ( em seu comportamento e atitudes) e de economia (função doméstica), dedicada a uma oração continua que elevaria a sua família a Deus (preocupação religiosa). Dessa forma, ser mulher era assumir qualificações próprias que a diferenciavam do homem” (Oliveira, 2009: p.140). A educação cristã era um privilegio dos ricos, excluindo as mulheres pobres e negras cada vez mais: “Esta associação, entre comportamento social ideal e o desenvolvimento biológico correspondia a um modelo de vida que era pregado tanto por segmentos da imprensa secular, como pela imprensa católica que defendia uma educação “especial” para as mulheres cristãs”( Oliveira, 2009: p.141) A capoeiragem era uma prática de desordeiros, vista pela República como crime, uma ameaça ao povo. O código penal da época condenava a capoeira e quem a praticava. Os índices de violência nas cidades eram altos devido à marginalidade, os capoeiristas eram mau vistos pela sociedade e tidos como perigosos por exporem um ‘corpo-arma’ liberto, capazes de responder com agressividade. As mulheres negras capoeiras eram temidas e vistas como valentes. Muitas mulheres aparecem como praticantes ou valentonas de ruas: “Este universo de valentia, desordem e prática de capoeira, não estava restrito ao homem; também pertencia às “mulheres valentes” protagonista do cenário descrito”( Oliveira, 2009: p.121). As mulheres que praticavam capoeira eram vistas de forma preconceituosa na sociedade machista e conservadora. Elas eram negras e pobres, viviam na periferia, zonas de perigo e prostituição, onde tinha que se defender da violência. Para isso era necessário ser valente nas ruas da cidade, portanto: “Eram essa as “mulheres de pá virada” que viviam no universo masculinizado das ruas de Salvador, território dos capoeiras” ( Oliveira, 2009: p.118). As negras não tinham medo de estar nas ruas trabalhando e disputando espaço. Pois: “eram espaços privilegiado dos homens todavia, as mulheres também os ocupavam, com suas atividades produtivas”( Oliveira, 2009 :p.118). Esse privilégio já não era mais deles, elas estavam nas ruas trabalhando, dessa forma demarcando espaço não só nas ruas, mas na sociedade. As cidades estavam crescendo, as zonas periféricas eram dominadas pelos homens, mas a presença das mulheres não passava despercebida. Elas trabalhavam para ganhar dinheiro e sustentar suas famílias como costureiras, bordadeiras, chapeleiras e domésticas. Mas também eram vendedoras. Vendiam tudo, comidas, bebidas, utensílios. Outras viviam da prostituição para se manter. Através da capoeira muitas se defendiam de seus parceiros agressivos ou clientes, no caso das prostitutas, que viviam na periferia, reduto da capoeiragem urbana: houve outras mulheres que romperam com a normatização do espaço masculinizado e que nos enfrentamentos do cotidiano da rua, viviam e sobreviviam no universo codificado pela cultura masculina, a *[email protected], Universidade Federal do Ceará. exemplo das zonas de prostituição, onde ganharam notoriedade como “ mulheres vagabundas (Oliveira; 2009: p.129). O envolvimento das mulheres na capoeira era desvalorizado, devido ao preconceito, que até hoje existe por parte da sociedade machista e racista. Primeiro, por achar que isso era coisa de homens valentões, e que elas não eram capazes de lutar. Segundo, por ser coisa de negro, cultura de preto, gente sem valor, coisas dos escravos. Esse preconceito se manteve forte por séculos, resistindo à escravidão até os dias atuais e se manifesta ainda hoje de forma camuflada. Os grupos de mulheres se tornavam mais comuns a cada dia, elas provocavam brigas, disputas e arruaças, incomodando a sociedade com seus comportamentos fora do contexto imposto pelos códigos de conduta: muitas mulheres eram presas em grupos, às vezes por estarem em luta corporal entre elas. Mas poderiam ser presas simplesmente por estarem juntas em determinada localidade, com comportamentos reprováveis pela sociedade da época e considerados crime de desrespeito à moral pública (Oliveira;2009: p.132) Registros da mulher negra capoeira na República Os negros que foram traficados da África praticavam a capoeiragem nos terreiros, nas senzalas e ruas, para brincar, se defender, jogar, dançar, se contrapor à opressão. Essa prática se tornou comum sobretudo a partir do século XVIII, por escravos e livres que viviam nas cidades e no campo. A capoeira é uma forma de resistência. As mulheres assim como os homens, se apoderaram dessa artimanha para sua própria proteção. A participação masculina na capoeira é comumente tratada nos livros. Hoje novas pesquisas vêm mostrando a mulher como protagonista dessa prática também nos séculos XIX e XX, mesmo que de forma discreta: “Alguns registros existem sobre as mulheres neste universo, como é o caso de Salomé, personagem a memória da capoeira baiana”(Oliveira:2009,p.117). Essas mulheres são cantadas em corridos e ladainhas, lembradas por Mestres como Pastinha: “Ao lembrar da capoeira das décadas de 1920 e 1930, afirmavam que Salomé “cantava no samba e jogava capoeira”. O mestre Pastinha era enfático ao salientar a bravura da valente mulher”( Oliveira, 2009: p.118). Salomé está em letras de capoeira: Adão, Adão Oi cadé Salomé Adão, Oi cadé Salomé, Adão Foi pra Ilhá de Maré Adão, Adão Oi cadê Salomé, Adão, *[email protected], Universidade Federal do Ceará. Oi cadé Salomé Adão Salomé foi passea Outras mulheres também são lembradas: “Mestre Pastinha lembra de duas mulheres que se destacam entre os valentes da capoeira do início do século XX: “Julia Fogateira” e “Maria Homem” (Oliveira, 2009: p.119). Outros registros de mulheres negras capoeiristas vão surgir, durante o século XIX, em jornais e boletins policiais. Nesse momento, elas não eram classificadas como capoeiras, mas sim, como mulheres valentes, boas de brigas. A vida familiar e as tarefas da casa faziam parte do cotidiano delas, não se admitia que elas saíssem da rotina. Assim, “as mulheres caberia uma vida integrada dentro de uma ordem que não deveria ser quebrada. Ocorrendo a quebra de imediato surgiam denúncias que condenavam o comportamento “irregular” que não se enquadrava no modelo proposto” ( Oliveira, 2009: p.143). A sociedade queria uma mulher doce, sensível e dependente do homem. Mas as mulheres negras conquistaram seu espaço com muito trabalho, inicialmente prestando serviços domésticos, vendendo sua própria produção de comidas e utensílios. Porém, mesmo nas ruas a presença delas deveria ser discreta: “dentre os espaços sociais conquistados pelas mulheres, estavam também as ruas, mas a sua presença deveria se dar de forma discreta, quase uma extensão do ambiente doméstico” (Oliveira, 2009: p.119). Assim, quando elas quebram essa discrição e se permitem usar da capoeira, elas são chamadas de briguentas e valentonas: “A notícia divulgava a prisão de algumas mulheres que brigavam nas ruas da capital federal (...) O periódico informava da prisão de Jerônima, escrava de Caetano Antônio de Lemos, autuada por transgressão de ordem pública na prática de capoeiragem”. (Oliveira, 2009: p.122). No entanto, as mulheres negras e escravas, dos séculos passados sempre resistiram à opressão do sistema colonizador e machista. A valentia era uma de suas características, para se defender dos brancos donos de escravos que queriam estuprá-las e em casa, do marido violento. Enquanto elas se submetiam passivamente como donas de casa, elas não chamavam a atenção da imprensa, mas ao se rebelarem com o corpo-arma, elas apareciam nas crônicas policiais: “muitas dessas mulheres, que em sua vida privada eram mães de família, donas de casas, mulheres da vida, enfim, pessoas comuns, tornaram-se personagens constituídas a partir das crônicas policiais jornalísticas” (Oliveira, 2009: p.123). Nesse espaço entre o doméstico e o público nos bairros reputados violentos, as mulheres valentes não hesitavam em usar a capoeira de navalha em briga com o homem: O uso da navalha foi de domínio da mulher que cortou seu adversário. A violência perpetrada revelanos o universo das ruas da cidade, especialmente no centro tradicional de Salvador, entendida por nós como a cartografia da capoeiragem; nesse período ocorreu em área considerada marginal e incivilizada. (Oliveira, 2009: p. 125). *[email protected], Universidade Federal do Ceará. O uso de armas brancas, era comum para defesa pessoal nas zonas marginalizadas das cidades: “instrumento como navalhas, facas e até mesmo cacetes eram frequentemente recursos utilizados por capoeiras e a utilização destes mesmos instrumentos por mulheres torna-se uma primeira pista para a compreensão da possível troca de experiências entre homens e mulheres na prática de capoeira” (Oliveira:2009,p.154). elas também sabiam impor respeito com suas navalhas e facas. As mulheres se envolviam desde cedo na capoeira, ao aprender com seus parceiros capoeiristas, pela necessidade de defesa, reivindicação social e ataque a grupos políticos rivais. “A convivência com os capoeiras poderia representar para elas a própria aprendizagem das habilidades com o corpo e da utilização de instrumentos de capoeiragem. Era desse modo que se formava a mulher capoeira, especialmente no uso que fazia do próprio corpo. Bem longe do modelo de comportamento feminino ideal que lhe era imposto” (Oliveira, 2009: p.160). Existem inclusive registros de participação delas nos grupos das maltas: “As mulheres também podiam atuar em grupos, assim como as maltas dos capoeiras cariocas. Foi o que aconteceu com Almerinda, Menininha e Chica que, unidas, agrediram um cidadão”( Oliveira:2009,p.126). Exemplo de mulher negra na capoeira hoje: Mestra Janjá A senhora, Rosângela Costa Araújo, a (Mestra Janja), é uma das personagens mais conhecidas no mundo da capoeiragem. É uma mulher negra, capoeirista há mais de 30 anos na Bahia e ativista no movimento social negro e feminista. Formada em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) com Título: Iê, Viva meu Mestre: a Capoeira Angola da ´escola pastiniana´ como práxis educativa, (2004). Atualmente é professora universitária da UFBA. Nesse artigo, trago Mestra Janja como exemplo, com suas opiniões a respeito da inserção da mulher no mundo da capoeira, das transformações ocorridas nessa área e dos desafios e perspectivas que a capoeira terá pela frente. Mestra Janja considera a capoeira como uma manifestação cultural afro-brasileira. Isso é muito importante para ela, uma vez que considera “fundamental não prosseguirmos pensando o Brasil sem as suas africanidades”. Assim, fica entendido que a capoeira é uma arte reveladora do jeito de ser do brasileiro, desenvolvendo formas criativas de se relacionar com realidades muitas vezes violentas. Mestra Janja destaca algumas mudanças que caracterizam as novas formas de convivências entre os grupos e principalmente, entre os mestres. Primeiro, a possibilidade de realizarem atividades conjuntas, dialogando com diferentes públicos ou mesmo com os poderes *[email protected], Universidade Federal do Ceará. públicos, ainda que não elimine antigas desconfianças, estabelecendo diferentes modelos de convivência. Segundo, a crescente presença da mulher na capoeira é também um importante fenômeno a ser apresentado e discutido. Janja afirma que, antes de chegar às rodas de capoeira, a mulher negra enfrenta caminhos diferenciados para se tornar e se fazer reconhecer capoeirista. Não é novidade para ninguém que a capoeira deixou de ser algo específico de homens, se é que algum dia o foi. Existem hoje organizações de capoeira fundadas e lideradas por mulheres, ou mesmo grupos, sobretudo no exterior, em que as mulheres constituem a maioria dos praticantes, temos como exemplo: Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola e de Tradições Educativas Banto no Brasil – INCAB, criado em São Paulo em 1995, quando Mestra Janja passou a residir em São Paulo. Ela vinha de 15 anos de trajetória dentro da capoeira em Salvador. Mestra Janja, considera a roda de capoeira o espaço de apresentação da identidade, força e competência dos grupos. Ao contrário do exercício da autonomia, as mulheres vivenciam situações diversas de opressão e violência, concreta e simbólica, levando-as à formação de vários coletivos. Nesse sentido, temos que entender a capoeira em permanente diálogo com a sociedade ao seu redor, como sendo a “pequena roda” inserida na “grande roda”, e que as lutas das mulheres na sociedade como um todo também são refeitas na capoeiragem. Os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres segundo a Mestra são: a diversidade e a construção do direito à eqüidade. Para ela esse é um desafio que a capoeira deve assumir, levando em conta que a presença feminina vai desde o desenvolvimento dos conhecimentos que definem as exigências específicas, como movimentos, toques, cantos, história e filosofia da capoeira, até a sua inquestionável capacidade de organizar e conduzir grupos, considerados sob o aspecto de organizações culturais, educacionais e políticas, tanto no interior da capoeiragem quanto nos debates com os movimentos sociais mais amplos. É assim que as mulheres buscam ser valorizadas, compondo um novo cenário. Os valores desenvolvidos na capoeira angola para Mestra Janja são importantes, porque se trata de uma prática comunitária, seus aspectos históricos e filosóficos são necessários na formação da identidade do grupo. A partir daí, valores como hierarquia, ancestralidade, cooperação, respeito às diferenças, passam a ser encarados como princípios que situam a pessoa na própria comunidade. Aqui, é importante reafirmar o caráter formador da capoeira, fazendo do ser capoeirista algo que reúne, além de habilidades corporais, musicais, uma conduta que atesta os conhecimentos orientados em seu grupo. Mestra Janja nos convida como capoeiristas a refletir e reconhecer o sentido histórico e político da capoeira para que ela não ganhe novos contornos de folclorização, ou seja reduzida por processos de simplificação. Da mesma forma, a capoeira deve manter-se atrelada ao seu passado como forma de garantir a sua permanência no quadro histórico das lutas das mulheres negras no Brasil, pela conquista da liberdade. Para ela o maior desafio da mulher *[email protected], Universidade Federal do Ceará. capoeirista é: “Desarmar-se de nacionalismos, culturalismos e demais formas de intolerância que alimentam racismos, sexismos e xenofobias. Impedir que sejam transferidas para dentro da capoeiragem as violências políticas que buscamos eliminar na “grande roda”(Araujo, 2005:p.03). Mestra Janja também gosta de compor musicas de capoeira, com letras que valorizam os negro, as mulheres e a capoeiragem: 1.Capoeira é arma forte (M. Janja) Tava andando pelo mundo À procura de amor Mas a vida foi cruel Só mostrou tristeza e dor Cada canto que passava, Tinha muito sofredor. Vi o meu irmão caído Cheio de fome, ô lambedor Roubando, matando outro Em nome do desamor Só não é do meu espanto Que este irmão seja "de cor". Cada vez que eu caia Da minha luta eu recordava Capoeira é arma forte Quando aqui não diz mais nada Apesar de tanta dor Este mundo tem valor Salve Tateto Mukumbi *[email protected], Universidade Federal do Ceará. Kaiongo que me mandou, Camará.. 2.Não fui eu que escolhi (m. Janja) Sei que vim de muito longe E que agora estou aqui Não perguntaram se eu queria Se fui eu que escolhi Invadiram nossa terra E mataram nossa gente Nos venderam como bichos Torturados ao sol quente. Seu moço eu tou com fome Seu moço eu tou com frio Mora lá no pé da serra Eu, a mãe, mulher e os "fio". Se trabalho não nos dão Voce pode observar É que à nós tá reservado perder sem poder tentar. Tudo isto, meu colega Pode dar outra lição Então não venha com mentira Me falar de abolição, camará... Algumas considerações a partir de Sueli Carneiro Sueli Carneiro é paulista, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e diretora do Geledés — Instituto da Mulher Negra, primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. Ela tem experiência em pesquisa e atuação nas áreas de raça, gênero e direitos humanos. Nesse artigo sua contribuição é sobre os movimentos de *[email protected], Universidade Federal do Ceará. mulheres negras. Os movimentos de mulheres negras ganhou força da justiça com os encaminhamentos da Constituição de 1988, que contemplou o status jurídico das mulheres no Brasil. Inicialmente foram as lutas contra a violência doméstica e sexual que estabeleceu uma mudança de paradigma em relação às questões do público e privado. A violência doméstica tida como algo da dimensão do privado alcança a esfera pública e torna-se objeto de políticas específicas. Um dos orgulhos do movimento feminista brasileiro é o fato de, desde o seu início, estar identificado com as lutas populares e com as lutas pela democratização do país. Os movimentos sociais progressistas da sociedade brasileira, como o feminismo esteve, também, por longo tempo, prisioneiro da visão eurocêntrica e universalizante das mulheres. A consequência disso foi a incapacidade de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo feminino, a despeito da identidade biológica. Dessa forma, as vozes silenciadas e os corpos estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade. As denúncias sobre essa dimensão da problemática da mulher na sociedade brasileira, que é o silêncio sobre outras formas de opressão que não somente o sexismo, trazendo à luz também o racismo vêm exigindo a reelaboração do discurso e práticas políticas do feminismo. Somente ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Devido ao racismo às questões mais amplas das mulheres encontram-se guardadas na história, pois o preconceito produziu gêneros subalternizados da identidade feminina, estigmatizando as mulheres negras, com prestígio inferior ao grupo das mulheres brancas. Por esse motivo o engajamento das mulheres negras nas lutas gerais dos movimentos populares, nos Movimentos Negros e Movimentos de Mulheres, nos planos nacional e internacional, buscando participação das mulheres negras. Existe uma problemática da violência doméstica e sexual que atinge as mulheres de todos os grupos raciais e classes sociais. Existe uma forma específica de violência que constrange o direito à imagem positiva, limita as possibilidades de encontro no mercado afetivo, inibe ou compromete o pleno exercício da sexualidade pelo peso dos estigmas seculares, cerceia o acesso ao trabalho, arrefece as aspirações e rebaixa a ‘auto-estima’. Essa é uma violência invisível que contrai saldos negativos para a subjetividade das mulheres negras, resvalando na afetividade e sexualidade. Dentre as contribuições do feminismo negro, temos a temática da saúde e dos direitos reprodutivos na agenda da luta anti-racista e o reconhecimento das diferenças étnicas e raciais nessa temática. A esterilização foi discutida durante anos na agenda política das mulheres negras que produziram campanhas contra a esterilização de mulheres em função dos altos *[email protected], Universidade Federal do Ceará. índices, fundamentalmente entre mulheres de baixa renda. As mulheres oriundas das classes populares, com baixos níveis de escolaridade, tendem a concentrar-se na prestação de serviços e nos empregos ligados à produção na indústria, as mulheres de classe média, dotadas de níveis mais elevados de educação formal, dirigem-se para os serviços de produção e de consumo coletivo. A consequência do crescente protagonismo das mulheres negras no interior do Movimento Feminista Brasileiro pode ser percebido na significativa mudança de perspectiva que a nova Plataforma Política Feminista. Pensar a contribuição do feminismo negro na luta anti-racista é trazer à tona as implicações do racismo e do sexismo que condenaram as mulheres negras a uma situação perversa e cruel de exclusão e marginalização sociais. O esforço pela afirmação de identidade e de reconhecimento social representou para o conjunto das mulheres negras, destituído de capital social, uma luta histórica que possibilitou que as ações dessas mulheres do passado e do presente pudessem ecoar de tal forma a ultrapassarem as barreiras da exclusão. O protagonismo das mulheres negras, orientado num primeiro momento pelo desejo de liberdade, pelo resgate de humanidade negada pela escravidão e, num segundo momento, pontuado pelas emergências das organizações de mulheres negras e articulações nacionais de mulheres negras, vem desenhando novos cenários e perspectivas para as mulheres negras e recobrindo as perdas históricas. Conclusões finais Consideramos que esse artigo foi apenas um incentivo inicial para uma pesquisa mais ampla sobres as mulheres negras na capoeira angola e no movimento social. Os resultados apresentados não foram tão fáceis de encontrar devido à pequena bibliografia existente. Entretanto, foi possível catalogar informações importantes da história das mulheres negras capoeiristas ditas valentes no século XIX e XX em registros de jornais e boletins policiais. No segundo momento conseguimos trazer o exemplo de uma Mestra de capoeira angola (Mestra Janja) negra e feminista com mais de 30 anos de prática. No terceiro item tivemos as considerações da pesquisadora, Sueli Carneiro, ativista do movimento de mulheres negras de São Paulo. Vemos que no decorrer da história, existe uma luta das mulheres negras desvalorizadas desde a escravidão. Hoje as mulheres negras feministas como Sueli Carneiro conseguiram colocar na agenda nacional propostas de politicas públicas para esse grande segmento populacional. É a grande roda que a Janjá cita: eliminar a violência politica, pensando nesse caso qual a contribuição que a capoeira faz para isso acontecer enquanto espaço simbólico de conquista da mulher. O fato da mulher capoeira ter conseguido sair da marginalidade desvalorizada onde se encontrava como mulher valente, para uma figura de *[email protected], Universidade Federal do Ceará. guerreira mais reconhecida, são conquistas que nos desafiam a continuar combatendo o sexismo, o racismo e a desigualdade social. Referencias bibliográficas: ABIB, Pedro. Capoeira angola: cultura popular e o jogo dos saberes na roda. Salvador: EDUFA, 2004. Africanidades(s) e afrodescendência(s) : perspectivas para formação de professores / Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto...[et al.], ( organizadores).- Vitoria, ES :EDUFES, 2012. BÂ, Hampaté A. A Tradição Viva. In: VERBO, J-KI: História Geral da África, São Paulo, Ed. Ática. 1987. Páginas 181-218. CÃMARA, Samara capoeira angola Amaral. Praticas educacionais transmitidas e reproduzidas na do Ceará: história, saberes, e ritual. Dissertação do mestrado de educação, UFC, 2010. CARNEIRO, SUELI. Mulheres em movimento. Estudos avançados 17 (49), 2003. COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo. Companhia das letras, 2003. CUNHA JÚNIOR, Henrique. Africanidades, Afrodescendência e Educação. Educação em Debate, Fortaleza: v. 23, n. 42, p. 5-15, 2001. CRUZ, Norval Batista; PETIT, Sandra Haydée. Arkhé: corpo, simbologia e ancestralidade como canais de ensinamento na educação. Fortaleza: UFC, 2008. LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. São Paulo: Selo negro Edições, 2004. MARQUES, Janote Pires. Festas de Negros em Fortaleza. Expressão gráfica, 2009. MEC. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Brasília: MEC 2005. OLIVEIRA, Josivaldo Pires e; LEAL, Luiz Augusto Pinheiro. Capoeira identidade e gênero: Ensaios sobre a história social da capoeira no Brasil. Salvador: UFBA, 2009. OLIVEIRA, Eduardo David. Cosmovisão Africana no Brasil – Elementos para uma filosofia afrodescendente. Fortaleza: LCR, 2003. OLIVEIRA, Eduardo. Filosofia da ancestralidade; corpo e mito na filosofia da educação brasileira. Curitiba:Gráfica Popular, 2007. PETIT, Sandra H. Sociopoética: potencializando a Dimensão Poética da Pesquisa. In: Registro de Pesquisas na Educação (organizadores: Kelma S.L.de Matos e José G. Vasconcelos). CE, LCR Gráfica, 2002. *[email protected], Universidade Federal do Ceará. SODRÉ, Muniz. Claros e Escuros – Identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1999. 2ª ed. SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba: corpo e mandinga. Manati, editoriais,2002. SILVA, Eusébio Lôbo da. O corpo na capoeira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2008. SILVIA, Geranilde Costa e; PETIT, Sandra Haydée. Pretagogia: referencial teóricometodológico para o ensino da história e cultura africana e dos afrodescendentes. Fortaleza: UFC, 2011. *[email protected], Universidade Federal do Ceará.
Download