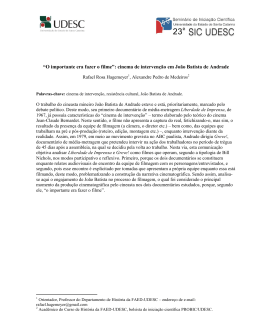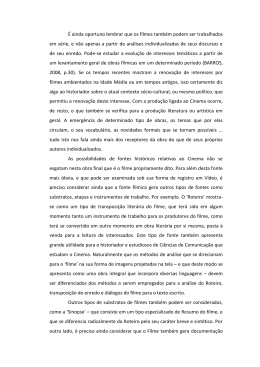DO ROTEIRO À MONTAGEM Antonio Costa. Compreender o Cinema. Rio de Janeiro, Globo, 1987. COMO SE ESCREVE UM FILME O processo de produção de um filme passa pela capacidade de domínio e controle de diversas técnicas dotadas de um maior ou menor grau de especificidade. Algumas pertencem à esfera cinematográfica em sentido restrito (filmagem, montagem), outras, embora com características precisas, são comuns ao cinema e a outras atividades artísticas ou não (cenografia, recitação, mas também recursos humanos e organização do trabalho). O roteiro, entendido como técnica de elaboração ou de pré-visualizacão de um filme (ver Giustini, 1980, 1-2) constitui o ponto de referência para o preparo de todas as ações técnico-organizativas da realização. O roteiro é um texto de tipo muito particular. Ele deve ter qualidades expressivas ou dramáticas enquanto contém os diálogos que os atores terão de dizer; além disso, tais qualidades devem ser funcionais para a compreensão de todos os aspectos psicológicos, estéticos etc., por parte de todos aqueles (dos atores aos técnicos) que podem contribuir para o sucesso da obra. Mas o roteiro deve ser também funcional: deve permitir ao produtor ter uma idéia exata sobre a oportunidade de financiar o filme e ao diretor de produção elaborar o plano de trabalho. Na base de um filme que entre num processo normal de produção (com a exclusão de tipos particulares de experiências baseadas na improvisação e de todas as produções atípicas) existe um roteiro que pode ser redigido de várias formas, mas que deve sempre conter indicações funcionais para a passagem de uma fase projetual a uma operacional. Em geral, antes de chegar ao roteiro, a elaboração de um filme passa por várias etapas, que podem ser: a. o argumento b. o tratamento c. o pré-roteiro d. o roteiro Segundo a importância e o valor operacional que são atribuídos às várias fases, o pré-roteiro (em inglês outline) pode preceder o tratamento (em inglês treatment) que às vezes pode ser abolido para passar diretamente ao roteiro (screenplay) e à decupagem técnica (shooting script) (ver Giustini, 1980 e Muscio, 1981). Tratemos agora de acompanhar estas fases tomando como referência uma preciosa documentação do trabalho de Zavattini relativo às várias fases de realização do filme Umberto D. (1952), de De Sica (Zavattini, 1953). a. O argumento Nesse caso se trata de um argumento original do próprio Zavattini (muitas vezes o argumento é constituído por uma obra literária ou teatral preexistente que, como se diz habitualmente, é adequada). O texto de Zavattini tem as dimensões de um pequeno conto. Também a forma é literária. Não há indicações técnicas nem de ambientação. Desenvolve-se, no estilo coloquial típico de Zavattini, uma linha narrativa que pode ser assim resumida: desventuras e momentos ora dramáticos, ora pateticamente cômicos da vida de um aposentado que não tem uma aposentadoria adequada para manter um nível de vida decente. Transcrevemos o início: O que é um velho? Os velhos cheiram mal, disse uma vez um rapaz. Receio que muita gente pense a mesma coisa dos velhos, embora nunca tenha dito essa frase cruel. Exagero? Quero contar-lhes a história de um velho e espero que no final não digam que eu a inventei. Chama-se Umberto D., tem setenta anos e um rosto sorridente porque ama a vida, gosta tanto dela que protesta com todas as forças contra o Governo que não quer aumentar a sua magra aposentadoria. Não se espantem se o vemos numa ordeira passeata de velhos que atravessam a cidade com cartazes nos quais está escrito: Queremos somente o necessário para viver. Mas os policiais tiveram ordens de proibir aos manifestantes de continuar e os manifestantes tentam forçar o cerco. Daí nasce um tumulto. Nada de grave, por sorte. O nosso Umberto, com as suas pernas um pouco enferrujadas, foge por uma rua transversal: quase arrependido, certamente maravilhado, por ter se atrevido a tanto. Num canto da rua encontra outros velhos que correm e com eles se refugia num portão. Dizem que tentarão outra vez. A esperança os sustenta. Trabalharam trinta anos, quarenta anos fiéis ao Estado, dobrando a espinha com a miragem de uma velhice tranqüila. Infelizmente, a velhice deles é cheia de humilhações (...) ( Zavattini, 1953, 21). b. O tratamento Neste segundo texto as pistas narrativas do argumento são desenvolvidas e aprofundadas. A forma ainda é literária, mas adquiriu uma caracterização narrativamente mais definida, mais funcional para a descrição das várias cenas em que se articulam os episódios, com atenção para a ambientação (são definidos a cidade e os locais da ação) e a definição das situações. Eis o incipit (começo) do tratamento, que dá imediatamente uma noção da diferença entre o registro da escrita e o da finalizacão: Numa bela manhã de outono, uma estranha passeata percorre as ruas de Roma. São quinhentas ou seiscentas pessoas, talvez mais, cada uma com um cachorro pela coleira, pessoas de todas as idades e condições sociais. A marcha é séria e disciplinada e os cachorros se comportam bem como os seus patrões. Despertando a curiosidade das pessoas, a passeata se dirige rumo à praça Veneza. Não se consegue entender do que se trata. Pensamos, vendo surgir ao fundo o Altar da Pátria, que se trataria de uma homenagem, porém, vira à direita e sobe a escadaria do Capitólio. Mas eis que aparece no alto da escadaria um grupo de policiais que avança decidido contra o cortejo. Todos parados. O chefe dos policiais diz que a passeata não pode subir até a praça do Capitólio. Muitos dos participantes protestam, gritam, empurram, querem continuar. Então os guardas são obrigados a detê-los pela força. Um deles sobe ao pedestal de uma estátua e começa a discursar enquanto os guardas se retiram para o alto da escadaria à espera dos acontecimen- tos. O orador nos faz saber com palavras patéticas que estas pessoas representam os proprietários de cães de toda a cidade e que vieram até aqui para protestar contra uma nova taxa sobre os cachorros (. ..) (Zavattini, 1953, 26). Nesta fase vemos que a anotação inicial sobre o cortejo de protesto é desenvolvida e, em parte, modificada: torna-se uma passeata de protesto contra uma taxa sobre cachorros. Trata-se de uma variante que prevê uma apresentação do protagonista e das suas condições de solidão e de carência econômica numa forma mais indireta e fluída, com o acréscimo de alguns elementos cômicos. Como veremos nas fases posteriores, esta variante será abandonada. Para dar outro exemplo de como um tópico do argumento é elaborado na fase de tratamento, vejamos como a frase tem o rosto sorridente porque ama a vida, gosta tanto dela que protesta etc. se transforma numa pequena cena: Umberto D. sai do refeitório com um outro velho muito mal vestido. Que lindo sol!, dizem ao chegar à rua. Umberto diz que o mundo é belo e que bastaria que lhe aumentassem um pouco a aposentadoria para ser feliz (Zavattini, 1953, 27). Eis também como a decisão de Umberto de pedir esmola, que no argumento é descrita como uma tentativa incerta e desajeitada, logo alterada por causa da chegada de uma pessoa conhecida, é focalizada numa verdadeira gag (que será mantida no filme): O velho se apóia no muro e fica ali parado por um minuto. Depois estende a mão. Passa um homem apressado. Umberto se envergonha e finge ter estendido a mão para ver se chovia. Então, o homem apressado olha para o alto, examinando o céu, continua o seu caminho (Zavattini, 1953, 36). e. O pré-roteiro Nesta fase o projeto se apresenta como a descrição das cenas com a indicação sumária do que acontece. Eis o que se tornou o incipit que já examinamos nas fases de argumento e tratamento: Passeata dos velhos aposentados na Via Nazionale. Apresentação de Umberto e do seu cachorro. A polícia dissolve a passeata por não ter autorização: perto do Palácio do Viminale. Umberto se refugia durante o esconde-esconde num portão com outro velho: o velho, ouvindo os seus problemas, aconselha um lugar onde se conseguem pequenos empréstimos(...) (Zavattini, 1953, 43). c. O roteiro Vejamos finalmente como as esquemáticas indicações do pré-roteiro são desenvolvidas no roteiro. Note-se que a partir de uma delas (Apresentação de Umberto e do seu cachorro) as anotações sobre a falta de solidariedade em relação aos velhos darão origem a uma seqüência patético-cômica. Uma rua central de Roma exterior, dia Uma passeata ordenada e pacífica per- corre uma rua central. O grupo é composto principalmente por velhos e muitos velhos. Há alguns encurvados, aleijados, outros que se cansam em acompanhar a passeata e fazem breves corridas para ficar junto dos demais. Os que seguem à frente levam grandes cartazes onde se lê: TRABALHAMOS A VIDA INTEIRA. 0S VELHOS TAMBÉM PRECISAM COMER. JUSTIÇA PARA OS APOSENTAOOS. SOMOS OS PÁRIAS DA NAÇÃO. AUMENTEM AS APOSENTADORIAS. As pessoas nas calçadas olham indiferentes os que desfilam. Alguém sorri. Alguns guardas seguem e controlam discretamente os manifestantes. Um ônibus aparece vindo da praça Veneza e com grande barulho obriga a marcha a uma rápida desarrumação. BUZINADAS DE ÔNIBUS O ônibus prossegue deixando um zunzum de protestos da passeata que se reorganiza rapidamente. PALAVRÕES, GRITOS DOS MANIFESTANTES . A passeata vira por uma rua lateral. Rua lateral exterior, dia. A marcha se dirige para uma pequena praça. Ao fundo aparece uma concentração de guardas em caminhonetes que bloqueiam a rua. A passeata prossegue em silêncio. LATIDO DO MENINO. Da calçada, um menino late em direção a um cachorro que um velho de sessenta anos, Umberto D. (um velhote muito simpático, sempre um pouco encabulado, vestido modestamente mas com dignidade), puxa pela coleira.O cão responde latindo e tentando livrar-se da coleira para correr atrás do menino. LATIDO DO CACHORRO O menino, da calçada, caminha ao lado dele, continuando a atiçá-lo com latidos. O velho, sem jeito por causa dos latidos do cachorro, olha os seus vizinhos da passeata com ar de quem pede desculpas: já que o cachorro continua a latir, Umberto D. ameaça seguir o menino, bate os pés. O menino foge, enquanto... todos os manifestantes começam a gritar em coro os seus protestos. CORO DE PROTESTOS: Au-men-to! Au-men-to! Au-men-to! Aumen-to! A-po-sen-ta-do-rias! A-po-sen-ta-do-rias! O velho se associa ao coro dos manifestantes após um instante de hesitação, como se fosse tomar coragem, mostrando assim a sua timidez (Zavattini, 1953, 52-53). Os trechos reproduzidos acima têm a forma do roteiro literário; faltam indicações técnicas sobre a subdivisão em planos, o tipo de enquadramento etc. Estas últimas indicações aparecem no que em gíria se chama decupagem técnica e cuja definição é dada, em medidas diferentes, pelo diretor e por seus colaboradores mais chegados, os que operam na fase conclusiva do projeto ou nas filmagens. Pode-se afirmar que a decupagem definitiva se realiza também por meio de um certo grau de improvisação no set e depois na montagem, quando ainda podem ser introduzidas variantes com base no material rodado. Naturalmente não se pode enunciar uma regra fixa, uma vez que o tipo de roteiro elaborado e o grau de respeito a ele varia, na fase de filmagem, em função dos diretores, cinematografias etc. Por exemplo, é sabido que Hitchcock sempre demonstrou uma espécie de indiferença (há divertidas piadas a respeito) em relação ao momento das filmagens: e isso não acontecia por ele não lhe dar a devida importância, mas porque chegava a essa fase tendo definido uma decupagem técnica tão precisa que exigia apenas a execução. E igualmente conhecido o valor que os jovens diretores da nouvelle vague atribuíam à improvisação, à construção da decupagem dia a dia, segundo as reações dos atores às situações potencializadas pelo roteiro, às ofertas imprevistas do ambiente de filmagem. Ao contrário, há tipos de produção (por exemplo filmes publicitários) em que a decupagem técnica é substituída ou integrada por um storyboard, ou seja, uma visualização gráfica mais ou menos sumária, que fornece, numa espécie de história em quadrinhos, o esboço dos elementos que entram no enquadramento. Essa solução se torna particularmente importante nos filmes que devem lançar mão de muitos efeitos especiais ou de técnicas particulares de filmagem. Nos últimos anos, graças ao emprego de técnicas eletrônicas, está tomando forma um novo modo de integração entre a pré-visualização literária de um filme, o que é o caso do roteiro, e uma pré-visualização eletrônica, análoga à dos storyboards. E um exemplo disso o processo adotado na realização de O fundo do coração (1981), de Coppola (ver Brown, 1982). Para esse filme foi usado um computador para a elaboração eletrônica dos textos (word processor), que permitia a todos os membros da equipe ter a qualquer momento o roteiro atualizado com as últimas correções e as últimas notas técnicas acrescentadas na fase de ensaios. Os ensaios, especialmente complexos e bem cuidados, antes de chegar às filmagens propriamente ditas, compreendiam: as gravações de uma espécie de trilha sonora prévia com músicas e diálogos, a elaboração de seqüências inteiras gravadas em vídeo nos locais reais de Las Vegas (e não na reconstrucão do estúdio), para permitir aos atores entrar melhor no ambiente visual das ações e para estudar os efeitos cromáticos e luminosos a serem obtidos. Tudo isso permitiu a elaboração de uma nova metodologia de produção do roteiro em que a tradicional escrita do filme é integrada a vários sistemas de prévisualizacão eletrônica que permitem chegar à fase das filmagens verdadeiras tendo-se verificado com antecedência muitos dos fatores que determinam o resultado final. Trata-se de um método que oferece numerosas vantagens durante as filmagens e também na montagem. E provável que o fracasso desse filme de Coppola junto ao público e à crítica se deva ao fato de que o grande battage publicitário, que precedeu a sua apresentação e que enfatizava o emprego de uma sofisticada tecnologia eletrônica, tenha criado expectativas equivocadas ou inadequadas para entrar no espírito de uma obra que não tem nada a ver com as produções do gênero de ficção científica às quais se associa o uso de tecnologias de vanguarda. A incompreensão desse filme deriva, paradoxalmente, daquele fenômeno de fetichismo da técnica que muitas vezes garante o sucesso de outros tipos de produção. Na verdade, é difícil que o uso de expedientes técnicos possa garantir um filme que não tenha por base um bom roteiro. Quem nos lembra isso não é um roteirista, mas um dos mais prestigiados diretores de fotografia do cinema americano dos anos 70, Michael Chapman: Ainda hoje a melhor resposta para um problema técnico é um roteiro melhor (vários autores, 1979, 89). À escrita do filme na fase de projeto corresponde uma forma de reescrita, depois que o filme assumiu a sua forma definitiva, atingiu o público e, talvez, tenha se tornado um clássico. E o que em Avant-Scène du Cinéma, a mais prestigiada e rigorosa coleção de roteiros do cinema mundial, recebe o nome de découpage après montage définitif, e que corresponde a decupagem extraída da cópia definitiva. A leitura de um roteiro decupado desse gênero, mais do que de um filme do qual se disponha de uma cópia que se possa controlar na moviola e com o aparelho de vídeo, é a forma mais agradável e segura para aprender tudo o que se precisa saber sobre a técnica de escrita analítica de um filme. Para dar exemplos dessas técnicas de escrita, apresentamos a seguir alguns trechos de roteiros extraídos de cópias definitivas. Primeiro exemplo: incipit de Crepúsculo dos deuses (1950), de Billy Wilder. Nesta transcrição, organizada por Di Ciammatteo, é adotado o método da separação em duas colunas, que é o mesmo usado habitualmente pelos roteiristas: na coluna da esquerda são dadas todas as indicações relativas à parte visual, na da direita as relativas à trilha sonora (diálogos, voz em off, música etc.). Na coluna da esquerda são indicados entre parênteses, depois do número progressivo de planos, os dados técnicos, utilizando abreviaturas que, em geral, são explicadas em notas, enquanto as palavras em itálico evidenciam dados relativos a efeitos óticos (por exemplo as transições) ou os movimentos de câmera (panorâmicas, travellings etc.). Fade-in(clareamento progressivo da tela) Uma calçada. Impressos por cima os dizeres: Um filme Paramount. A câmera recua até mostrar uma tabuleta com a indicação: SUNSET BOULEVARD. Continua o movimento de recuo, sobre o asfalto da rua. Sucedem-se os créditos sobre impressos (passam os créditos) (Sob os créditos, segue o mesmo plano de abertura do filme.) Panorâmica vertical para o alto, até enquadrar todo o Sunset Boulevard. Duas motos vêm rumo à câmera, seguidas de três automóveis da polícia. (Música. Sirene. Ronco de motores.) VOZ DE GILLIS: Sim, é o Sunset Boulevard, em Los Angeles, Califórnia. São cinco da manhã. Eis a polícia com os jornalistas. Panorâniica rapidíssima para seguir o cortejo que passa mais adiante. Fusão: 2 (PG) Sunset Boulevard. As motos e os carros da polícia vêm em direção câmera.(Música. Sirene. Ronco de motores.) Voz de Gillis: Numa destas grandes mansões foi cometido um assassinato. As últimas edições dos jornais se ocuparão disso.(Música. Sirene. Ronco de motores.) Fusão: 3 (PG) Sunset Boulevard. Os dois motociclistas entram em campo e viram numa rua lateral. Voz de Gillis: Vocês ouvirão falar na rádio, verão na TV os detalhes. Há uma estrela do cinema mudo na história...uma das mais famosas. 4 (PG do alto) Exterior da mansão de Norma Desmond. Entram em campo os dois motociclistas e param. Seguem os carros da polícia. Descem os agentes, os jornalistas, os fotógrafos. Em grupo se dirigem para a entrada da casa e sobem a escadinha que conduz à piscina. (A câmera segue os que vão atrás).(Música. Sirene. Ronco de motores.) VOZ DE GILLIS: Antes que a notícia chegue até vocês trabalhada e alterada, antes que os jornalistas de Hollywood metam as mãos no caso, talvez não lhes desagrade saber como ocorreram, realmente, os fatos. É assim? Então, eis o momento justo. Na piscina da mansão onde vive a estrela bóia o cadáver de um jovem com duas balas na espinha e uma no estômago. 5 (PG) Policiais, jornalistas e fotógrafos (que batem fotos) em volta da piscina onde flutua o cadáver. (Música.) Voz de Gillis: Não é uma pessoa importante, posso assegurar-lhes. Trata-se de um roteirista de cinema que tinha no ativo alguns filmes de segundo plano. 6 (PG Câmera baixa) O cadáver de Gillis na piscina, enquadrado por baixo. No fundo, vistos através da água, os policiais e os jornalistas. São vistos de relance os relâmpagos das vacublitz. (Música.) Voz de Gillis: Pobre coitado. Sempre quis uma piscina. Bom, afinal conseguiu...mas pagou caro demais. Passa-se para a recordação. Vamos dar um passo atrás. (Acaba a música.) Fusão: 7 (PG do alto) Hollywood. Ivar Street até Hollywood Boulevard. Animação. VOZ DE GILLIS: A história toda começou há seis meses. (Wilder, 1952, 17-19) Segundo exemplo: uma cena, para ser exato a oitava de um cult movie contemporâneo, No correr do tempo (1976), de Wim Wenders, numa transcrição que adota um critério diferente da precedente, adequada às técnicas de escrita hoje em uso nos roteiros. Na margem do Elba. Exterior dia. 1. Bruno, da janelinha, é focalizado de perto, enquanto se ensaboa com o pincel, olhando no espelho retrovisor externo que está em primeiro plano. Inesperadamente, ouve alguma coisa e volta-se para trás, saindo um pouco da janelinha. A câmera se ergue até a metade da grua para enquadrar, completamente, a parte da frente do caminhão e a estrada, atrás, onde está entrando em campo o carro de Robert. Continua em panorâmica seguindo o Volks, que acaba no rio com um grande esguicho de água. O automóvel flutua na água. 2. Plano próximo frontal: Bruno permanece admirado, ainda segurando o pincel de barba. Vira-se para o rio, torna a olhar para a câmera. 3. Plano total do automóvel que flutua no rio. 4. A câmera na mão enquadra de perto, lateralmente, Robert que, no Volks, agitase furiosamente contra o volante, enquanto a água começa a entrar no carro. 2a. Bruno não consegue conter uma grande risada. 4a. Robert abre a capota do Volks, enquanto a água continua a subir. Apanha a jaqueta e a coloca fora da capota. 2b. Bruno voltou a ficar sério. 5. Robert empurra a valise para fora. A câmera na mão se move para o alto até chegar a um plano próximo. Robert sai pela capota. 2c. Bruno se prepara para descer do caminhão. 6. Plano frontal: pela direita do caminhão, Bruno, à esquerda do campo, olha no chão os seus apetrechos de barba que caíram enquanto ele descia. 7. Geral do rio: no centro, o automóvel em cujo teto Robert subiu. 6a. Fechada a janela do caminhão, Bruno recolhe os seus apetrechos de barba e os apóia sobre o pára-choque. 7a. Robert salta na água com a valise e começa a andar rumo à margem. 8. Plano de meio-conjunto frontal de Bruno com uma toalha nas costas. A câmera o focaliza, com um travelling lateral até chegar a um plano próximo, enquanto ele se dirige para a margem do Elba, rindo. Com a toalha tira o creme de barba que ainda tem no rosto. 9. Plano de conjunto de Robert que nada rumo à margem empurrando a valise para a frente. 10. Primeiro plano de Bruno, que o observa sorridente e curioso. 9a. De conjunto a próximo: Robert atinge a margem, sai da água, sacode a valise e, todo molhado, prossegue. Entrou água no ouvido, por isso ele dobra a cabeça e com um dedo tenta tirá-la. lOa. Bruno o examina da cabeça aos pés. 11. Meio-conjunto, depois panorâmica, até plano próximo: Robert alcança Bruno na margem. A câmera enquadra os dois enquanto se olham no rosto e caem na risada. Robert faz um gesto indicando os sapatos. ROBERT: Estão ensopados, hã! Robert se vira para o carro que está afundando de vez. Lentamente os dois, seguidos pelo carrinho, se dirigem para o caminhão. Robert repete: R0BERT: Estão ensopados!! Chegando em frente do caminhão, os dois param, Robert se apóia com as costas voltadas para o caminhão. Bruno faz uma pirueta e cai na risada outra vez, enquanto Robert o observa irritado (...) (Wenders, 1979, 22-23). A transcrição de um filme ou de uma parte dele feita com critérios análogos aos roteiros acima apresentados constitui um excelente exercício para entender as regras de composição de uma obra ou a peculiaridade do estilo de um autor. A difusão do uso do vídeo torna esse tipo de análise relativamente simples e elimina a obrigatoriedade de utilizar a moviola. Mesmo devendo ter sempre em conta que a qualidade da imagem é diferente da projeção numa grande tela (mas isso vale também para a moviola), o exercício permite a qualquer pessoa reconstituir o processo de elaboração e construção das seqüências de um filme. O PLANO Consideremos um breve fragmento de filme. A cena é a seguinte: um homem e uma mulher viajam de carro. Ele é Philip Marlowe, o detetive saído da fantasia de Raymond Chandler e que neste caso tem o rosto de Humphrey Bogart. Ela é Vivien Regan Sternwood, interpretada por Lauren Bacall. O filme é À beira do abismo (1946), de Howard Hawks. A cena não é muito longa: o tempo necessário para ela dizer Acho que estou apaixonada por você e para que ele repita em seguida Acho que estou apaixonado por você. Raymonde Bellour, um crítico francês que dedicou a esse segmento uma minuciosa análise, nota maliciosamente, antes de revelar-nos que o cena está articulada em doze planos, que qualquer espectador, mesmo atento, será capaz de jurar com segurança que o segmento consiste num longo plano sustentado pelo diálogo; e, na melhor dos hipóteses, em três ou quatro planos (Bellour, 1979, 126). E o resultado típico da chamada decupagem clássico que tende a produzir, mesmo com extrema fragmentação dos planos e graças à integração da trilha sonora, uma impressão de unidade e continuidade da cena (que na realidade é constituída por uma seqüência de planos com ângulos e composição variados). Aqui o crítico se preocupou em enumerar exatamente as variações de ângulo e de escala porque estava decidido a demonstrar que a impressão de evidência provocada pelo cinema de Hawks e celebrada nos anos 50 por Rivette com a fórmula A evidência é o signo da genialidade de Howard Hawks (ver Grignaffini, 1984, 139) é na realidade o resultado de um procedimento de montagem rigorosamente codificado. Mas antes de ser uma exigência do crítico ou do espectador que quer entender os mecanismos da linguagem fílmica, a definição exata do plano é uma exigência de todos aqueles que participam da elaboração e da execução daquilo que no parágrafo precedente definimos como decupagem técnica. Cada enquadramento é o resultado de uma série de escolhas relativas: a. aos elementos pró-fílmicos, isto é, à cena e aos atores predispostos a serem filmados, a serem incluídos ou excluídos: b. às modalidades técnicas da filmagem, isto é, às diversas possibilidades de rendimento cinematográfico dos elementos pró-fílmicos. Naturalmente tais escolhas são complementares: por exemplo, a opção de incluir somente o rosto de um ator comporta a modalidade técnica de filmagem com distância aproximada (ou de um procedimento equivalente como o uso de uma teleobjetiva que, em escala semelhante, produzirá uma qualidade diferente da imagem). Na terminologia corrente, isto é, na adotada em roteiros, nas descrições analíticas, em geral se faz uma distinção entre o campo de filmagem que define a porção de espaço enquadrado e o plano cinematográfico, que é habitualmente definido em relação à proporção que a figura humana é enquadrada. Não se trata, porém, de uma distinção rigorosa por não ser rigidamente definida nem respeitada. Mesmo assim, apresentamos uma lista com abreviaturas, definições e indicações dos termos ingleses e franceses correspondentes aos principais tipos de campos e planos. PG: Plano geral ou simplesmente geral. Define-se em relação à cena, enquadrada na sua totalidade. Se a cena é o pátio de um prédio, o exterior de uma fábrica ou o interior de um centro desportivo ou uma sala de estar. PG é o enquadramento que capta estes espaços no seu conjunto. Pode-se considerar equivalente ao plano de conjunto (PC). Inglês: Extreme long shot ou Long shot. Francês: Plan densemble ou Plan général. PMC: Plano de meio-conjunto. Alguns o definem quantificando a distância da figura humana filmada entre mais ou menos trinta metros e a figura inteira; outros, como um enquadramento que dá destaque à figura humana, sem isolá-la do ambiente. Expressões equivalentes: meio plano geral ou meio geral. Inglês: Medium long shot. Francês: Demi-ensemble. PM: Plano médio. O parâmetro da figura inteira que surge no enquadramento é utilizado para definir outras nomenclaturas, mais ou menos equivalentes, do tipo plano próximo. Inglês: Ful lenght shot (FLS) ou medium shot (MS). Francês: Plan moyen (PM). PA: Plano americano. A figura humana é filmada, aproximadamente, dos joelhos para cima. Inglês: Mediam shot. Francês: Plan américain. PP: Primeiro plano. A figura humana é enquadrada de meio busto para cima. Alguns usam um valor intermediário entre o PA e o PP. Inglês: Close up. Francês: Premier plan. PPP: Primeiríssimo plano. Enquadramento apenas do rosto. Inglês: Extreme dose ap. Francês: Gros plan ou Très gros plan. Detalhe. Alguns autores o relacionam a objetos ou à figura humana. Quando referido à figura humana, diz respeito a somente uma parte do rosto ou do corpo (boca, olhos, mãos etc.); quando a coisas, diz respeito a um objeto isolado ou parte dele ocupando todo o espaço da tela. Inglês: Detail shot, insert. Francês: Insert, détail. Além das escalas de planos que examinamos nas principais variantes em uso, a imagem é definida por outras características ligadas às modalidades técnicas de filmagem. Vejamos as principais. Ângulo de filmagem. Define o ângulo pelo qual o sujeito é filmado. A filmagem pode ser frontal em relação ao eixo horizontal e vertical do sujeito filmado; ou o ângulo pode ser considerado de cima para baixo ou da direita para a esquerda. Luminosidade e foco. Ambos dizem respeito às qualidades propriamente fotográficas da imagem e dependem de elementos pró-fílmicos (o tipo de iluminação adotado) e também de elementos propriamente fílmicos (tipos de objetivas, aberturas de diafragma, tipo de filme etc.). Por exemplo, no que concerne ao foco, a possibilidade de manter em foco todos os elementos do enquadramento é facilitada pela introdução do filme pancromático e de objetivas especiais. Enquanto a luminosidade depende da relação entre a abertura do diafragma e o comprimento focal da objetiva, como bem sabe todo apaixonado pela fotografia, e diz respeito ao rendimento dos contrastes de luz (definição) e à distribuição dos valores luminosos e cromáticos sobre os volumes e as superfícies (tonalidade). Em todo caso, esses valores são o resultado da interação entre as condições de luz produzidas a nível fílmico e as técnicas de filmagem adotadas. As objetivas. Como a escala de planos, variam notavelmente as potencialidades do espaço e da relação entre figura e fundo, segundo a objetiva usada, ou mais exatamente do seu comprimento focal. Por exemplo, os focos curtos (18/20 mm para a 35mm e 10/18 mm para a l6mm) colocam a personagem contra o fundo, alargam o espaço, aceleram deslocamentos, à custa de deformações marginais (as verticais se curvam nos bordos da imagem. Os focos longos (50/135 mm para a 35 mm e 30/75 mm para a 16 mm) esmagam a perspectiva, restringem o espaço, achatam tudo o que se encontra a distância, reduzem o ritmo dos deslocamentos (Pinel, 1981, 26-27). O plano e o valor expressivo de cada uma dessas características do enquadramento dependem do contexto, isto é, da relação de recíproca funcionalidade que se estabelece com os outros elementos do enquadramento e os outros elementos da expressão fílmica (por exemplo, o som). Vamos partir daquela que é a qualificação primária do plano em relação ao contexto: trata-se da qualificação objetiva ou subjetiva da imagem. Convencionalmente, todo espectador está habituado a considerar aquilo que o filme lhe mostra como um conjunto de planos colhidos objetivamente pela câmera e segundo uma lógica que respeita as regras da narração para imagens e que aceita um certo grau de deformação ou de estilização devidas à subjetividade do narrador. Junto a esse tipo de planos, há outros, contextualizados de tal modo que podem ser interpretados como imagens vistas, recordadas ou imaginadas por uma determinada personagem. É claro que um flou ou um ângulo particularmente deformante adquirirão significados e funções diferentes se forem contextualizados como planos objetivos ou subjetivos. Um flou num primeiro plano contextualizado como objetivo é apenas um expediente de enfatização lírica ou dramática escolhido pelo diretor. Um plano insistentemente fora de foco, se contextualizado como subjetivo, pode adquirir significado. em relação à personagem. Um expediente deste tipo é usado por Murnau em A última gargalhada (1924) para indicar a embriaguez do protagonista depois de uma festa. Simétrico é o significado, se bem que oposto à contextualização, do flou numa célebre seqüência de Hamlet (1948), de Laurence Olivier, a da aparição do espectro do pai. Antes que ela aconteça, algumas visíveis e insistentes ausências de foco num primeiríssimo plano de Hamlet nos fazem participantes da iminente aparição do espectro. Uma série de rápidas personagens de foco a fora de foco do plano produzem um efeito de pulsação da imagem que transmite um estado físico e psicológico da personagem. Os dois planos nos transmitem o estado de espírito subjetivo da personagem: o de Murnau qualificado como subjetivo, o de Olivier como objetivo. Considerações análogas podem ser feitas para os ângulos de filmagem. O ângulo de baixo para cima é usualmente um expediente que aumenta e enfatiza a personagem; pelo contrário. O de cima para baixo pode tornar-se uma indicação de fraqueza, opressão etc. Se colocados como subjetivos numa troca campocontracampo entre duas personagens, indicam, respectivamente, um sentimento de domínio e de sujeição. Eichenbaum, no âmbito das pesquisas dos formalistas russos sobre as relações entre linguagem visual e verbal, considerava um procedimento desse tipo a realização visual da metáfora olhar alguém de cima para baixo (ver Krainski, 1971, 50-51). Pode surgir um contexto que inverta o significado e venha a transgredir esse princípio ligado a uma simbologia bastante elementar do alto e do baixo. Em Monstros (1932), de Tod Browning, nas seqüências finais em que os pequenos monstros decidiram unir-se e vingar-se da bela Cleópatra que traiu e tentou matar um deles, os insistentes planos subjetivos do alto exprimem um sentimento de terror por essa forca misteriosa e irresistível que parece emergir do subsolo e está para destruir a protagonista. Neste caso, olhar de cima para baixo não exprime domínio mas, através de um singular efeito de estranhamento, medo pelo desconhecido, pelo diverso. Até agora falamos do plano como de um elemento estático, considerando-o virtualmente fixo. Tudo isso é uma abstração necessária para o estudo e a definição de um fenômeno, como são abstrações os enquadramentos de um filme reproduzidos num livro. Cada plano é na realidade um elemento dinâmico; e não só porque, como acabamos de ver, está sempre em interação com outros planos, que, contextualizandoa, determinam variações de usos e significados. Existe um dinamismo interno do plano que diz respeito tanto ao material pró-fílmico (os movimentos dos atores ou de outros componentes da cena) quanto ao seu rendimento cinematográfico, uma vez que a organização dos materiais plásticos (composição) pode gerar efeitos dinâmicos, exatamente como acontece na pintura ou na fotografia. Dito de outra maneira, o plano define, literalmente circunscreve, elementos dinâmicos, ou seja, em movimento, e, através de seus valores de composição (equilíbrio entre cheios e vazios, dominância de linhas verticais, horizontais ou oblíquas etc.), produz ou acentua valores dinâmicos. Por fim, existe um dinamismo do plano ligado ao seu movimento: plano em movimento. Ele se opõe ao plano fixo que é obtido mantendo imóvel a câmera enquanto dura cada tomada. O enquadramento fixo, por sua vez, não deve ser confundido com o stop frame (fotograma fixo), que é um efeito especial que se obtém ao fazer a cópia do filme, e desempenha funções análogas às de outras trucagens codificadas como sinais de pontuação ou marcas enunciativas. Portanto, uma cena pode ser filmada segundo três modalidades fundamentais (que aqui consideramos separadamente, mesmo sendo intuitivo que podem ser combinadas entre si): 1. Plano fixo É aquele usado, por necessidade, pelo cinema primitivo, o de Méliès, por exemplo, obrigado a adotar um ponto de vista único, a distância fixa, o que Sadoul chamava o ponto de vista do senhor na platéia (Sadoul, 1947-48, 401-409). 2. Seqüência de planos variados quanto à escala, ângulo de filmagem etc. Nesse caso, a filmagem é efetuada deslocando várias vezes a câmera, mas o espectador só vê os efeitos de tais deslocamentos. Esse conjunto de variações pode ser mantido claramente visível por causa das consideráveis diferenças dos parâmetros dos diversos planos e do forte escandimento rítmico (como acontece no cinema soviético dos anos 20). Pelo contrário, as variações, mesmo quando freqüentes, podem ser quase anuladas pela rigorosa funcionalidade das funções ao desenvolvimento da ação e pelo papel hegemônico que a continuidade da trilha sonora desempenha em relação à descontinuidade dos planos (é, como já recordamos, o efeito da decupagem clássica). 3. Plano em movimento A cena é filmada movendo a câmera seja para focalizar melhor e em fases sucessivas os diversos elementos que compõem a cena, seja para produzir efeitos de intensificação expressiva. OS MOVIMENTOS DE CÂMERA Por influência da publicidade cinematográfica francesa e em seguida ao sucesso obtido pelo termo plano-seqüência introduzido por Bazin, existe a tendência, também entre nós, de reservar o termo enquadramento para definir os parâmetros espaciais (escala, ângulo etc.) e deixar o termo plano para definir os relativos à duração e ao movimento (plano travelling, por exemplo). Portanto, é conveniente esclarecer que nem sempre e não necessariamente um plano em movimento é um plano-seqüência. De fato, podemos encontrar movimentos mais ou menos longos tanto numa cena desenvolvida segundo os critérios da decupagem clássica, quanto em determinadas passagens de tipo descritivo, lírico ou dramático da narração. Vejamos agora analiticamente os movimentos de câmera mais comuns que constituem, com exceção do zoom (ver mais adiante), a base técnica do plano em movimento. Panorâmica Trata-se de um movimento giratório da câmera que pode ser horizontal (panorâmica horizontal à direita ou à esquerda; se a rotação for completa: panorâmica de 360°); vertical (de cima para baixo ou vice-versa); oblíqua. Travelling (carrinho) A câmera é colocada sobre um suporte móvel (normalmente um carrinho que corre sobre trilhos, mas também um veículo com pneus, camera car, ou sistemas análogos), executa um movimento para frente, para trás, para a direita, para a esquerda ou oblíquo; se é um movimento relativo a uma tomada do alto se fala de travelling aéreo; se acompanha o movimento de uma personagem, um animal, um veículo, se fala de travelling para acompanhar; se o movimento da câmera precede a tomada, se fala de travelling para preceder; o termo inglês travelling é hoje o mais difundido e não necessita de especificações nem provoca dúvidas quanto ao método usado para obter o movimento. O travelling pode ser simulado através do emprego do zoom, isto é, de uma objetiva com foco variável que permite efeitos de aproximação a distanciamento do elemento enquadrado, obtendo variações da escala e de todos os outros parâmetros do enquadramento. Com o zoom se pode obter a passagem, no tempo desejado, de um plano geral a um detalhe ou vice-versa, sem precisar mover a câmera. Dolly ou grua A câmera, colocada na extremidade de um braço móvel sustentado por uma plataforma munida de rodas ou ajustável num veículo, pode executar movimentos muito fluidos de baixo para cima (e vice-versa) e associar a esses outros movimentos do tipo daqueles anteriormente descritos. A diferença entre dolly e grua está na maior complexidade e capacidade de elevação da câmera que tem a segunda em relação à primeira. Câmera na mão Trata-se de movimentos obtidos através de deslocamentos do operador que manobra a câmera sem a ajuda do instrumental corrente (cavalete munido de um suporte para fixar a câmera, o carrinho etc.): método de filmagem que se tornou possível graças à introdução de aparelhos leves e levados do cinema direto para o cinema narrativo. Steadycam A câmera fixada ao corpo do operador mediante uma armação e, ao mesmo tempo, perfeitamente isolada dele por um sistema de amortecedores, adquire o máximo de mobilidade própria das câmeras portáteis e o máximo de fluidez, já que os deslocamentos não dependem mais do controle manual da câmera por parte do operador. Esse último procedimento descrito nos oferece uma pista excelente para abordar o complexo problema da natureza, do uso e do significado dos movimentos de câmera, em relação ao caráter analógico ou convencional desses importantes elementos da significação fílmica. O problema é o seguinte: aquilo a que chamamos os movimentos da câmera e que são deslocamentos do ponto de visão em relação à cena filmada, são reproduções dos movimentos e das trajetórias do olhar de um virtual observador ou são movimentos e trajetórias convencionais, que, mesmo apresentando semelhanças parciais com os da vida cotidiana e da visão comum, têm características que os tornam mais próximos da arbitrariedade dos signos lingüísticos do que da analogia dos signos icônicos? Por exemplo, a abertura angular do campo visual humano é de cerca de 180º, enquanto uma objetiva com foco médio não supera os 40º. Isso não impediu que se estabilizasse uma convenção, partilhada e aceita, segundo a qual o emprego de uma objetiva com foco médio simula modalidades de visão comum, em relação à qual o uso da grande angular, isto é, de uma objetiva que está mais próxima da abertura angular do campo visual do olho humano é percebido como modalidade de visão extraordinária, adequado para destacar ou enfatizar, graças às distorções de perspectiva, o caráter espetacular de uma cena. O chamado efeito de câmera na mão é o resultado de uma modalidade de filma- gem em que os sobressaltos e as irregularidades de deslocamento se tornaram a marca de uma participação que se pode definir como física, envolvente, no evento filmado, mesmo que se trate de efeitos que não têm correspondência nas modalidades de visão ordinária da vida cotidiana, onde um homem que caminha continua a manter a capacidade de variar de forma fluida e regular o seu campo visual. E em relação à precedente convenção das panorâmicas e dos travellings fluidos do cinema feito nos estúdios que, nos anos 60, o uso da câmera na mão produz efeitos extraordinários, mas se trata sempre de uma nova convenção, com características transgressoras em relação a uma precedente. Uma outra observação, aparentemente paradoxal, concerne à extraordinária fluidez dos movimentos da steadycam, graças à qual o olho da câmera se torna uma coisa só com o corpo do operador e, depurado de qualquer resíduo de efeitos ligados às manobras mecânicas e manuais do operador, parece ter atingido a perfeita simulação do olho humano. Convém observar que o modo pelo qual foi usado e percebido esse procedimento parece conduzir a uma direção oposta. Ele foi usado até agora para a simulação de modalidades de visão extraordinária, chegando quase a uma performance tecnológica bastante próxima dos efeitos especiais (aos quais é às vezes assimilado), tanto é assim que alguns operadores, justamente por causa desse efeito induzido, limitam o seu uso ou o eliminam. Os casos em que os movimentos de câmera são considerados como diegeticamente plausíveis, isto é, são apresentados como o ponto de vista de uma personagem que capta a cena segundo a trajetória de um seu movimento no espaço, têm uma importância marginal (ou limitada aos casos dos planos subjetivos) em relação às funções e aos significados daqueles movimentos que não têm nenhuma outra motivação além da funcionalidade narrativa e a eficácia expressiva. Pasolini, no período dos primeiros passos da semiótica cinematográfica, isto é, por volta da metade dos anos 60, elaborou uma tipologia das possíveis relações entre movimentos da câmera e movimentos das personagens ou objetos enquadrados. São três os principais tipos de relação que ele identificou, chamando-os os modos da qualificação fílmica. Em analogia com os modos verbais, Pasolini distingue entre qualificação ativa e passiva. Ocorre a qualificação ativa quando é a câmera que se move ou prevalece. Nesse caso, a câmera age e o sujeito sofre. Ela prevalece nos filmes do gênero lírico-subjetivo que Pasolini fazia coincidir com as tendências mais significativas do cinema novo dos anos 60. Temos a qualificação passiva quando a câmera está parada e não é percebida, enquanto se move o objeto da realidade. Nesse caso é a personagem que age e a máquina se limita a sofrer (registrar) a sua ação. Ela prevalece nos filmes de tendência realista, uma vez que implica confiança por parte do diretor na objetividade do real (Pasolini, 1972, 219-20). Apesar do seu esquematismo esta classificacão tem o mérito de sublinhar o valor lírico-subjetivo (isto é, expressivo) dos movimentos de câmera (no segundo e no terceiro caso, os movimentos, se existem, não são captados pelo espectador). Seria um erro considerar que fusões entre os elementos em jogo numa cena, obtidas através de movimentos de câmera em vez da justaposição de planos variados no ângulo, escala etc., sejam mais naturais ou pertinentes às modalidades de visão ordinária na vida cotidiana. Já observamos que o ordinário e o extraordinário nas modalidades de visão simuladas pelo cinema estão sempre relacionados com a convenção comunicativa dominante e com o efeito obtido em relação ao contexto. Por exemplo, a fragmentação dos planos utilizada segundo um critério capaz de torná-la quase imperceptível, utilizada na chamada decupagem clássica, torna-se uma modalidade comum de visão em relação à qual a filmagem em continuidade de um filme inteiro, realizada por Hitchcock em Festim diabólico (1948), constitui uma evidente infração, adquirindo assim um caráter extraordinário. Nesse filme, Hitchcock realizou um verdadeiro tour de force de direção e estilo, propondo-se a rodar um filme inteiro num único plano-seqüência. Há somente um breve segmento inicial que tem a função de prólogo e que é constituído por um movimento composto de travelling para trás e panorâmica que nos faz ver um ângulo de rua enquadrado de cima para baixo do terraço de um prédio, parando depois para filmar a janela do apartamento em cujo interior se desenrolará toda a ação. Quanto ao resto, o filme é realizado sem cortes aparentes, fazendo coincidir a duração da narração fílmica e duração da ação (ver Bettetini, i979, 29). Nesse caso, os, contínuos e complexos movimentos de câmera necessários para variar ângulos e pontos de vista no desenvolvimento dramático da estória e para ocultar os cortes (inevitáveis a cada troca de bobina), em vez de produzir uma impressão de naturalidade ou de adequação às modalidades de visão ordinária, produzem o efeito oposto. Não é uma casualidade que o filme não tenha agradado a Bazin, ou seja, aquele que teorizou pela primeira vez o plano-seqüência, o qual achou que Hitchcock havia usado um expediente artificial para conseguir enquadramentos de tipo tradicional. Segundo Chabrol e Rohmer, esse filme de Hitchcock assinalava o definitivo afastamento da concepção tradicional do enquadramento, baseada principalmente sobre valores de composição, e à qual tinham permanecido ligados tanto Eisenstein quanto Welles (Chabrol e Rohmer, 1957, 98-99). Sem entrar no mérito da questão, usamos essa divergência de opiniões para sublinhar a variedade de significados assumidos ou atribuíveis aos movimentos de câmera, independentemente da técnica com que são produzidos e das finalidades com que foram introduzidos. É evidente que o emprego de grua e dolly no musical como se codificou a partir dos anos 30 (pensemos em particular em Busby Berkeley) tem a função de dinamizar o espaço e de oferecer não só pontos de vista espetaculares, mas também, digamos assim, o espetáculo do deslocamento ascendente da perspectiva em relação às mais complexas e estonteantes figurações da coreografia. Mas não se pode ignorar que movimentos desse tipo constituem uma espécie de forma simbólica da fantasia do vôo, da perda do peso corpóreo, de uma espacialidade que é a do sonho e do desejo. Encontramos o mesmo movimento de grua em contextos e com funções bem diferentes. Eis dois exemplos muito distantes do musical. No início de Arroz amargo (1949), de De Santis, um amplo movimento de grua parte do primeiro plano de um cronista de rádio e nos leva a descobrir progressivamente o vasto cenário de uma estação em que se estão concentrando as colhedoras de arroz prestes a partir: é um procedimento típico do cinema de De Santis que se configura como enfatização ideológica e dilatação espetacular da relação entre o indivíduo e a coletividade (ver Lizzani, 1978, 58-59). No final de Mamma Rosa (1962), de P. P. Pasolini, um movimento triplo de dolly sobre o corpo sem vida de Ettore estendido no leito da cadeia assume, inclusive pela analogia com a estrutura de composição do célebre Cristo morto, de Andréa Mantegna, uma clara função ritual, segundo uma declaração do próprio Pasolini (ver Magrelli, 1977, 54). A mais complexa orquestração de movimentos de câmera se registra exatamente no âmbito do cinema novo dos anos 60: entre os vários exemplos possíveis examinemos o do húngaro Jancsó, do qual já recordamos Os sem esperança (l964), Csillagok Katonak (1967) e Csed és Kialtás (1968). Nesses filmes, o movimento horizontal e contínuo, quase obsessivo, raramente interrompido por movimentos verticais, como notou G. Buttafava, parece nascer de uma adequação, e não de uma sobreposição artificial, às condições ambientais, à própria natureza da paisagem húngara, achatada, com intermináveis horizontes circulares. Contudo, como observa o mesmo crítico, as complexas figurações desenhadas pelos intermináveis planos-seqüência de Jancsó tornam-se quase uma metáfora da dimensão inalcançável do sentido evanescente, um símbolo de futilidade: A extrema mobilidade da câmera, com seus ritmos circulares que retornam e se respondem incessantemente, cria não verossimilhança ou, pelo menos, ausência de verossimilhança: os olhos do espectador não fazem outra coisa senão transcorrer no espaço e nos volumes que o povoam sem poder parar e conquistá-los, para associá-los a um significado ou a um código de referências precisas.(Buttafava, 1974,66.) Essa incursão no cinema dos anos 60 em que se registrou uma espécie de exasperação dos movimentos de câmera (ainda mais evidentes nos epígonos dos anos 70), não nos deve fazer esquecer que também na chamada decupagem Clássica podem ser encontrados movimentos de câmera extremamente complexos, mas caracterizados por um rigoroso equilíbrio entre a exigência narrativa (introduzir imediatamente elementos narrativos claramente reconhecíveis em relação ao gênero a que pertence o filme) e a função simbólica (que nunca é sobreposta artificialmente à ação, mas é por ela determinada). Um exemplo pode ser dado por um clássico dos filmes do gênero noir de produção Universal, assinado por Siodmak, Espelhos dalma (1946). A seqüência de abertura é sustentada por uma complexa combinação de movimentos diferentes (panorâmicas e travellings) que nos apresenta em seguida: uma paisagem urbana noturna, com as luzes dos edifícios que emergem do fundo escuro, colhida por um amplo movimento lateral que nos leva até uma janela aberta com uma cortina que se move lentamente com o vento: a câmera penetra além da janela até enquadrar em primeírissimo plano um relógio (são 10 para as 11): a seguir, a câmera retrocede em relação ao relógio e entra por uma porta em outra peça muito desar- rumada e com uma lâmpada caída no chão: com um travelling para frente, o enquadramento nos faz perceber uma rachadura de um espelho que parece uma espécie de hieróglifo; um outro movimento de volta (travelling para trás) determina uma ampliação do campo visual que nos permite discernir um cadáver com um punhal cravado na espinha. Do ponto de vista narrativo, esse segmento nos dá as informações fundamentais que determinam o clima de um bom policial (romance ou filme): foi cometido um crime, a hora do crime (o relógio), a arma do crime (punhal), o local (apartamento de um edifício numa metrópole). Do ponto de vista iconográfico, o segmento apresenta: visão noturna de paisagem urbana sugestiva e misteriosa que contextualiza elementos figurativos, enfatizados por uma atmosfera luminosa densa e com fortes contrastes, como a cortina movida pelo vento, o relógio, o espelho rachado, a lâmpada derrubada. São esses elementos que atribuem ao andamento aparentemente descritivo dos movimentos analisados uma função de índice (ver Hamon, 1972, 143 e 150-51) e se tornam, portanto, marcas do gênero; o complexo movimento que os põe em evidência tem de fato uma conclusão somente com a descoberta do cadáver. Do ponto de vista iconológico, o movimento labiríntico da câmera produz quase em filigrana uma enigmática geometria que não apenas apela para o hieróglifo da rachadura do espelho, mas também os hieróglifos das manchas de Rorschach, utilizadas como se sabe nos testes psicológicos, e que são colocadas como motivo gráfico de fundo dos créditos iniciais, mas que terão também um papel importante na ação (um psiquiatra irá usá-las para caracterizar a personalidade patológica de uma das gêmeas indiciadas no crime). Considerações à parte devem ser feitas para o chamado travelling ótico, isto é, o movimento de câmera simulado através do zoom. Há diretores que o preferem ao travelling propriamente dito: um desses é Rohmer, o qual declarou: Quando alguém fala ou se concentra, acho mais natural restringir-lhe o campo do que me aproximar dele; ou quando nos concentramos num quadro, um objeto que o ator olha com atenção, acho que o movimento do zoom esteja mais próximo ao olho humano (ver Mancini, 1983, 17). Outros diretores recusam ou limitam muito o seu uso, considerando o resultado mais artificial e visível do que o conseguido pelo travelling com câmera móvel, ou seja, pelas mesmas razões por que o zoom teve um grande sucesso no âmbito do cinema novo dos anos 60 como marca da subjetividade do autor e como procedimento transgressor em relação à sintaxe comedida e composta da decupagem clássica. A FOTOGRAFIA Giuseppe Rotunno, diretor de fotografia em filmes de Visconti (O Leopardo, 1963 etc.), de Fellini (Amarcord, 1973 ,etc.), de Altman (Popeye, 1981) e de Bob Fosse (O show deve continuar, 1979) declarou numa entrevista: (...) Sem querer tirar nada à literatura, é preciso dizer que é fácil escrever uma alvorada lívida, mas como traduzi-la em imagens? (Consiglio e Ferzetti, 1983, 155). Aí está em poucas palavras o trabalho do diretor de fotografia: ele deve procurar ou produzir aquelas condições de luz que, combinadas com as técnicas de filmagem e de cópia, criem os resultados fotográficos previstos pelo roteiro ou exigidos pelo diretor; ele deve fazer com que, retomando o exemplo de Rotunno, a expressão alvorada lívida se torne um fato plástico, adquira uma realidade em termos de luz. Naturalmente, a própria expressão alvorada lívida pode se tornar banal ou sublime numa poesia ou num romance, dependendo do contexto em que aparece; o mesmo acontece com o seu equivalente cinematográfico que, mesmo se for realizado de maneira irrepreensível (para não ser confundida com a alvorada radiosa ou com uma aurora de róseos dedos), poderá adquirir valores ou significados diversos se aparecer num filme de M. Carné dos anos 30 ou de Fellini dos anos 50. O trabalho do diretor de fotografia se desenrola, como já foi dito com muita eficácia, no limite entre a certeza da técnica e as possibilidades da criação (Consiglio e Ferzetti, 1983, 11). Por um lado, ele é o depositário de uma tradição técnica e de mestria às quais o diretor recorre para realizar as suas idéias; por outro lado, ele é chamado a participar diretamente no processo criativo e portanto a viver o risco da experimentação e a aventura da inovação. Atualmente, a tarefa do diretor de fotografia consiste em preparar e coordenar a iluminação das cenas a serem filmadas, iluminação que é feita por meio de refletores e superfícies refletoras e que pode ser orientada de várias maneiras (de cima, de baixo, com corte etc.) e distribuída em muitas outras formas (direta, difusa etc.). A relação entre luz natural, iluminação artificial (muito mais usada do que o público imagina, mesmo nas tomadas externas) e técnicas de filmagem e cópia é o que produz a qualidade fotográfica da imagem e é o que o diretor de fotografia deve estar em condições de coordenar da melhor maneira. Como disse Luciano Tovoli (diretor de fotografia, entre outros, de O passageiro: profissão repórter, 1973, de Antonioni): A operação mais complexa e interessante está em recriar a luz, ou melhor, em partir da luz natural para inventar uma luz completamente abstrata, que seja funcional à situação do filme, e esta é uma das tarefas do diretor de fotografia (Consiglio e Ferzetti, 1983, 203). As características fotográficas de um filme só podem ser o resultado de um conjunto de competências diversas: acontece que muitas vezes é o próprio diretor de fotografia que tem a função de coordená-las e sobretudo de controlar os resultados segundo os efeitos desejados, que são previamente estabelecidos e discutidos com o diretor. Nesse sentido, pode-se considerar o diretor de fotografia o mais íntimo colaborador do diretor. Os níveis da divisão do trabalho e das competências podem variar segundo o local e o período: houve momentos na história do cinema (ou determinados tipos de produção) em que o diretor só se ocupava da direção dos atores, enquanto ao diretor de fotografia competia toda (ou quase) a parte visual. Atualmente, em Hollywood, é taxativamente excluído dos acordos contratuais que o diretor de fotografia possa ocupar-se da filmagem propriamente dita, possa como se diz na gíria, sentar na máquina, tarefa que cabe ao operador de câmera (disso se lamentam freqüentemente os diretores europeus chamados a trabalhar em Hollywood). Mas além desses problemas aqui nos interessa a função que a competência do diretor de fotografia desenvolve na produção do texto fílmico. Infelizmente, trata-se de uma função desvalorizada por muito tempo. Por exemplo, enquanto estiveram na moda as teorias da montagem soberana, críticos e teóricos se preocuparam bem pouco com os aspectos estritamente fotográficos do filme; ainda hoje acontece de encontrar, em recensões de jornais, a fotografia definida como moldura figurativa do filme. Por muito tempo, as pessoas se limitaram a valorizar a função do diretor de fotografia só em relação à obra de um diretor com o qual se tivesse estabelecido uma situação particular de colaboração. Daí o seu destino de serem sempre citados em dupla: Billy Bitzer com Griffith, Edouard Tissé com Eisenstein, G. R. Aldo com Visconti, Segundo de Chomõn com Pastrone, Ben Reynolds com Stroheim, Gregg Toland com O. Welles, Anatolij Golovnja com Pudovkin etc. Não é um acaso, portanto, que na definição dessa colaboração, muitas vezes tenham sido privilegiadas as anedotas (conhecidas por todo bom cinéfilo) destinadas a demonstrar o caráter fortuito e em geral puramente técnico das contribuições do fotógrafo e, ao contrário, a necessidade expressiva que eles adquirem na linguagem artística do autor. Por exemplo, assim é o episódio da descoberta casual do fechamento e abertura com íris por parte de B. Bitzer, que se tornariam importantes elementos da sintaxe fílmica griffithiana. É semelhante o sentido de um outro episódio igualmente célebre: o das filmagens extemporâneas feitas por Tissé no porto de Odessa em uma manhã de névoa muito densa e que foram depois recuperadas por Eisenstein no momento da montagem para realizar a sinfonia fúnebre pela morte de Vakulincuk no filme O encouraçado Potemkin (1925). Hoje, a situação está completamente mudada. Há inclusive quem fale de um novo estrelismo dos diretores de fotografia (McGilligan, 1979), que é, aliás, paralelo ao dos técnicos de efeitos especiais, cujas funções tendem a integrar-se. Por volta da metade dos anos 70, impôs-se um tipo de produção em que imensos investimentos, tanto de capitais quanto de recursos criativos, são combinados para obter a mais alta qualidade técnica da imagem, e se tornaram fatores essenciais para o sucesso econômico dos filmes. Para Contatos imediatos do 3º grau (1977), de Spielberg, trabalhou uma equipe de onze diretores de fotografia, incluindo alguns dos mais prestigiados nomes do setor (John Alonzo, Lazlo Kovacs, Fraker, Slocombe etc.) sob a direção de V. Zsigmond. A importância cada vez maior que adquiriram as novas tecnologias no processo criativo (steadycam, Panaflex, objetivas ultra-sensíveis etc.) e a dedicação crescente exigida ao diretor de fotografia nas experimentações na fronteira entre cinema tradicional e eletrônica estão contribuindo para relativizar a distinção dos papéis. Parece que hoje são freqüentes em Hollywood os casos (absolutamente impensáveis na fase áurea) de um Wexler, que dirige fragmentos inteiros de American Graffiti (1973), de George Lucas, ou de um B. Butler, que inventa as seqüências inteiras de Grease: nos tempos da brilhantina (1978) (McGilligan, 1979, 24). Apesar deste novo estrelismo dos cinematographers, que na realidade, é um estrelismo da técnica do qual se beneficiaram também grandes diretores como Vittorio Storaro e Giuseppe Rotunno, é difícil encontrar na filmografia deles elementos de continuidade e de unidade da mesma forma em que se encontram nos de um diretor. Muito mais do que o diretor-autor, o diretor de fotografia vive as contradições da instituição cinematográfica cuja continuidade certamente é assegurada pela capacidade de produzir inovações (para as quais a contribuição do técnico é determinante), mas também de absorvê-las e institucionalizá-las ao longo de todo o seu ciclo de vitalidade expressiva e econômica. O diretor de fotografia se encontra portanto na condição de participar diretamente dos processos criativos e inovadores e, ao mesmo tempo, de ser o meio da sua normalização em trabalhos convencionais. Para dar alguns exemplos italianos, na filmografia de Alfio Contini podemos encontrar filmes como Aquele que sabe viver (1962), de Dino Risi, ou Zabriskie Point (1970), de Antonioni, mas também Geppo il folle (1978), de Adriano Celentano, e O megero domado (1980), de Castellano e Pipolo. Assim Tovoli pode assinar a fotografia de O passageiro: profissão repórter (1975), de Antonioni, e, logo a seguir, de Il Papocchio (1980), de R. Arbore. Um diretor de fotografia pode, portanto, ser chamado a dar uma contribuição determinante em obras de grande empenho técnico e estético (é o caso dos filmes de Antonioni), pode dar a sua contribuição para definir um standard figurativo qualitativamente alto no âmbito de um cinema de gênero (é o caso de Aquele que sabe viver), mas pode igualmente ser chamado para garantir a correta maquetização fílmica de motivos espetaculares (e podem não passar disso, mas podem também desencadear processos imprevisíveis). E a contribuicão determinante de um diretor de fotografia que pode tornar viável e importante uma estréia na direção: esta foi certamente a função de Tonino Delli Colli nos primeiros filmes de Pasolini. Enquanto nos primeiros anos do cinema um pioneiro como Méliès era responsável absoluto por todos os aspectos, incluindo os fotográficos, e as suas extraordinárias invenções figurativas, hoje são raros os casos de diretores que cuidam pessoalmente da fotografia: entre as exceções recordemos Ermano Olmi. Com A árvore dos tamancos (1978), do qual se responsabilizou também pela fotografia, roteiro e montagem, Olmi nos deu a medida exata dos resultados que pode produzir um controle unitário e direto de todos os componentes de uma obra. Mas, excluindo esses casos e aqueles de ligações particularmente longas (além das já citadas, podemos recordar ainda a colaboração entre Sven Nykvist e Bergman, J. Alcott e S. Kubrik), a unidade e a coerência do trabalho do diretor de fotografia podem ser medidas pela dimensão da obra, segundo um modelo que o cinema tomou à literatura e à pintura e que melhor se adapta ao trabalho do diretor. Lee Garmes, por exemplo, pode ser considerado o inventor de um tipo de preto e branco com fortes contrastes, obtido com um uso sistemático da iluminação direta que, muito mais do que a obra de um único diretor, define o clima figurativo do cinema americano dos primeiros anos 30, e que aproxima filmes diversos entre si como a trilogia de Sternberg (Marrocos, 1930; Desonrada, 1931; O expresso de Xangai, 1932), Ruas da cidade (1931), de Rouben Mamoulian, e Scarface (1932), de Howard Hawks. Poucos, mesmo entre aqueles que escreveram páginas memoráveis sobre o rosto de Greta Garbo, deram o justo destaque à arte de William Daniels, o diretor de fotografia que a estrela impunha aos seus diretores. Certamente foi Daniels quem garantiu uma continuidade interpretativa aos valores expressivos da figura de Garbo, independentemente dos papéis representados, mas também um clima figurativo especial que aproxima os seus filmes, embora dirigidos por diferentes diretores. Uma particularidade que muitos notaram, atribuindo-a sempre à carismática presença cênica da estrela, esquecendo do complexo e delicado trabalho de Daniels. A técnica do low-key-lighting, isto é, da iluminação por baixo adotada nos Estados Unidos por influência dos operadores alemães e do cinema expressionista, e o uso que dela fez principalmente Arthur Edeson, contribuíram para a formação do inconfundível clima figurativo do cinema americano do início dos anos 40, de A relíquia macabra (1941), de John Huston, até Casablanca (1942), de Michael Curtiz; e que se trate de dois filmes fotografados por Edeson é um dado certamente menos divulgado mas não menos importante que o rosto de Humphrey Bogart, ao qual habitualmente associamos os dois títulos. Da mesma forma, se poderá reconhecer a importância decisiva que operadores como M. Terzano e A. Gallea imprimiram à controvertida fase do cinema italiano dos anos 30 e que define o espírito de uma época bem melhor do que (eventuais) personalidades de diretores. Ou se poderá distinguir nitidamente nos filmes fotografados no pós-guerra por Carlo Montuori, apesar das diferenças notáveis que existem entre uma obra-prima consagrada como Ladrões de bicicleta (1948), de De Sica, e o desventurado Meu filho professor (1946), de Castellani, a presença de uma nuança crepuscular que tanta importância teve na formação da imagem neo-realista. As caracterizações figurativas que encontramos disseminadas em filmes de valor e importância desiguais são o resultado de um trabalho direto sobre aquela que é a matéria por excelência da expressão do filme, a luz. Por isso elas estão destinadas a incidir em profundidade no imaginário do espectador, de forma diferente mas não menos importante de quanto possa incidir o estilo de um diretor ou a máscara de um ídolo. A história do cinema não é somente a história de obras-primas capazes de representar sozinhas as tendências em curso num determinado período. Certamente, é verdade que, pelo uso da profundidade de campo e pelo rendimento plástico dos interiores (elementos ligados ao emprego de novas objetivas, novas técnicas de iluminação etc.), a colaboração entre G. Toland e Orson Welles em Cidadão Kane (1941) produziu uma verdadeira revolução figurativa, como a considerou Bazin. Mas existe também a necessidade de entender como antes, contemporaneamente e depois de Cidadão Kane, se imponham em filmes de qualidade diferente algumas características estruturais da imagem que definem a linguagem comum de uma época do cinema. É importante estabelecer as diferenças (qualitativas) entre o filme de estréia de Welles e, por exemplo, o de Huston (A relíquia macabra, 1941), mas não é menos importante prestar atenção a algumas analogias entre a fotografia de Toland para o primeiro e a de Edeson para o segundo (tomadas freqüentes de baixo para cima, prolongamento dos tetos, que surgem no enquadramento pelo ângulo das tomadas e pelo tipo de iluminação etc.). Assim, sem dúvida será útil estudar a ruptura das convenções fotográficas do cinema italiano produzida pelo modo em que Aldo Tonti, sob a direção de Visconti, filmou Clara Calamai em Obsessão (1943), destruindo literalmente a imagem precedente, limpa e afetada, da estrela; será igualmente importante entender quanto das técnicas e das convenções fotográficas do cinema dos anos 30 sobrevive no neo-realismo. Nestor Almendros, que Truffaut considerava o mais importante cameraman em operação no mundo e que, quando jovem, tinha estudado fotografia no Centro Sperimentale di Roma, recorda, em seu livro de memórias, que no início dos anos 50, entre os operadores do neo-realismo, somente G. R. Aldo atraía o interesse dos jovens estudantes de fotografia. Eles consideravam que o novo movimento, tão importante pelas temáticas, pelas intenções programáticas, pelos argumentos tratados etc., não tivesse provocado uma renovação semelhante na fotografia, ainda ligada às convenções do cinema precedente (Almendros, 1980, 3-4). A circulação, a permanência e o esgotamento de procedimentos e técnicas, o uso e as funções que podem assumir as inovações ou a recuperação de estilos fotográficos, nem sempre ocorrem segundo os ritmos e a lógica que regulam a evolução de outros aspectos mais aparatosos e conhecidos da instituição cinematográfica. Encontramos a comprovação disso na cor, outro aspecto da expressão fílmica que tem íntimas relações com o setor fotográfico, tanto pelas diversas modalidades de iluminacão da cena que a filmagem em cores implica, quanto por todos os outros problemas técnicos conexos (sensibilidade do filme, revelação, cópia etc.). A introdução da cor nas formas que ainda hoje são habituais (final dos anos 30 e início dos 40, mas o primeiro filme italiano em cores, Totò a colori, é de 1952), esperada e saudada como um expediente que aperfeiçoava o realismo da produção cinematográfica, não determinou mudanças consideráveis e imediatas em nível global da linguagem cinematográfica. Por um lado, registrou-se uma forte resistência, superior à que fora oposta ao cinema sonoro, por parte dos diretores, especialmente atentos aos valores estéticos, que viam limites e obstáculos numa técnica considerada como expediente espetacular e ainda não perfeitamente controlável. Por outro lado, ocorreu uma espécie de convencão tácita segundo a qual determinados gêneros (filmes épico-históricos, musical, western, etc.) passaram a ser rodados de preferência em cores, enquanto outros (filmes noir, dramas psicológicos etc.) permaneceram por mais tempo fiéis ao preto e branco. Somente nos anos 60 se atinge uma difusão generalizada da cor, para o que contribuiu certamente a progressiva melhoria das técnicas, que convenceu os diretores que tinham resistido por muito tempo a adotar essa alternativa: Antonioni, por exemplo, empregou-a somente com Deserto vermelho (1965). enquanto Dreyer nunca rodou um filme em cores. A convivência do colorido e do preto e branco no cinema dos anos 40 e 50 demonstra o caráter convencional das duas técnicas: convém registrar a preferência do preto e branco para os filmes de gênero realista. Ainda mais evidente é o caráter convencional da cor e a amplitude de funções e significados que ela pode assumir naqueles filmes que, com diferentes motivações expressivas e estilísticas, utilizam a alternância de seqüências coloridas e em preto e branco. Os exemplos não faltam .Nuit et brouillard (1955), de Resnais, é baseado na contraposição entre a filmagem em cores nos locais dos campos de extermínio nazistas revisitados no presente e o preto e branco das seqüências montadas com materiais de época. Nesse caso, a alternativa tem uma função de marca temporal, mas também busca produzir um efeito de contraponto entre a pasteurizada irrealidade das luzes e das cores desses lugares transformados em museus e a obsessiva e inquietante realidade documentada de modo assombroso pelo preto e branco. Em Nós que nos amávamos tanto (1974), de Ettore Scola, o preto e branco constitui uma marca temporal (é reservado a todas as cenas que decorrem no passado), e igualmente um expediente para acentuar o sentimento de nostalgia pelos tempos difíceis mas ricos de ideais e de tensão moral. No cinema contemporâneo se registra uma significativa retomada do uso do preto e branco, depois de um período de abandono quase completo; entre os exemplos que podem ser dados, recordamos A última sessão de cinema (1971) e Lua de papel (1973), de Bogdanovich, onde prevalece a intenção de uma reprodução perfeita de técnicas fotográficas do cinema das décadas passadas, Manhattan (1979), Stardust memories (1980), Broadway Danny Rose (1983), de Woody Allen, em que um preto e branco muito elegante e sofisticado (devido à arte de Gordon Willis) torna-se uma marca acrescentada, mas essencial, do estilo humorístico particular do cômico nova-iorquino. A esses podem ser acrescentados muitos outros casos interessantes por razões diferentes: O touro indomável (1980), de Martin Scorsese (fotografia Chapman), O homem-elefante (1980), de David Lynch (fotografia de Freddy Francis), além de alguns dos mais significativos de Wim Wenders (Alice na cidade, 1974, No correr do tempo, 1976, O estado das coisas, 1982). A conquista da cor muitas vezes induziu diversos diretores a confrontarem-se com a pintura, correndo o perigo de cair nos efeitos artificiais do tableau vivant, do quadro animado. Embora não faltem diretores de cinema e diretores de fotografia que tenham estudado e assimilado os valores cromáticos e luminosos de obras de pintura, os resultados que podem ser obtidos no campo cinematográfico dependem da capacidade de reelaboração em função das possibilidades expressivas do cinema e da coerência estilística do texto. Citações explícitas ou evidentes sugestões pictóricas podem ser identificadas no uso da cor, da luz e na composição dos enquadramentos de filmes de Pasolini (A ricota, 1963, Os contos de Canterbury, 1972, etc.), Bergman (Gritos e sussurros, 1972), Antonioni (Deserto vermelho, 1965), Stanley Kubrick (2001: uma odisséia no espaço, 1968, Barry Lyndon, 1975), René Allio, (Moi, Pierre Riviére. . ., 1976), ou Wim Wenders (Paris, Texas, 1984). Trata-se de estabelecer, caso por caso, a função que assume no texto a referência pictórica. Por exemplo, as freqüentes citações da pintura maneirista no cinema de Pasolini têm relações precisas com a poética de um autor que havia assumido os excessos, os preciosismos e as deformações plásticas e cromáticas típicas do maneirismo pictórico como componentes essenciais do seu estilo. Enquanto que em filmes históricos como Barry Lyndon ou Moi, Pierre Rivière são respectivamente a pintura do século XVIII inglês ou do século XIX francês que constituem as fontes para recriar com coerência de tonalidades cromáticas e de atmosfera luminosa as imagens de uma época passada. A capacidade de tornar cinematográficas sugestões pictóricas compete ao diretor de fotografia, mesmo que seja a estrutura geral do texto fílmico, de responsabilidade do diretor, a definir o seu valor e significado. OS EFEITOS ESPECIAIS Parece que o termo efeitos especiais (special effects em inglês, e abreviado SPEFX) tenha surgido pela primeira vez nos créditos de um filme em What price glory (1926), de Raoul Walsh (Brosnan, 1976, 9). Mesmo se tratando de um termo que existe há muitas décadas, ele se tornou realmente popular só nos últimos anos. A volta do sucesso do gênero ficção científica, a partir de Guerra nas estrelas (1977), de George Lucas, e Contatos imediatos do 3º grau (1977), de Steven Spielberg, sem esquecer 2001: uma odisséia no espaço (1968), de Stanley Kubrick, demonstrou a importância que podia ter para o êxito do filme o uso de uma tecnologia cada vez mais sofisticada na produção de trucagens. Deve-se destacar que caiu em desuso o antiquado termo trucagens, que evoca os tempos de Méliès e as maravilhas fúteis e surpreendentes oferecidas aos espectadores das feiras, passando a ter maior sucesso o futurista efeitos especiais, mais adequado para se referir à alta tecnologia. Mas trucagens e efeitos especiais serão a mesma coisa? E dizem respeito somente ao cinema de ficcão científica? Que relações existem entre a evolução da tecnologia das trucagens e a linguagem cinematográfica? Se para começar a orientar-nos consultamos um glossário cinematográfico, por exemplo o de Grazzini, no verbete trucagem lemos que uma distinção entre trucagens e efeitos especiais não está codificada, se bem que acrescenta o autor esses últimos exijam um sistema mais complexo de fantasia e das inovações tecnológicas (Grazzini, 1982). Se tentarmos aprofundar os nossos conhecimentos, encontraremos autores como Metz que nem sequer colocam o problema e usam ambos os termos (Metz, 1972, 269-293) ou outros, como Farassino, que propõem sutis distinções: Trucagem e efeitos especiais não são noções homólogas porque se colocam em dois niveís diversos da existência do filme: a trucagem é o que produz o efeito especial; a trucagem existe mas não se vê; o efeito especial, ao contrário, como o espetáculo, é visto e dava ser visto. Se a trucagem não pode fazer o espetáculo, o efeito especial é espetáculo por excelência e deixa indecifrável a relação com o que existe, com a realidade (Farassino, 1980, 201). Se consultarmos um texto americano, como por exemplo o já citado Brosnan, encontraremos indicações de tipo diferente, baseadas sobre uma atenção mais precisa aos dados empíricos relativos às modalidades de produção de um filme, mesmo que sejam menos sistemáticas no plano teórico. Brosnan separa, com base também numa distinção verificada nos créditos, os efeitos especiais (special effects) dos efeitos fotográficos especiais (special photographic effects). Os primeiros são propriamente efeitos físicos e mecânicos e, acrescenta Brosnan, há casos em que o trabalho de um especialista de efeitos não tem nada a ver com as trucagens e a ilusão, como quando explode realmente um edifício ou manda realmente um trem ponte abaixo (Brosnan, 1976, 9). Basta essa observação para tornar absolutamente inadequada a costumeira definição de efeitos especiais como procedimentos através dos quais são obtidas imagens cinematográficas alteradas ou ilusórias a respeito da realidade objetiva ou ao resultado das filmagens (Vários autores, 1976, 217). A partir dessas primeiras verificações, nos demos conta de que o problema é complexo e as opiniões, muitas vezes, contraditórias. Tratemos agora de esclarecer as idéias, primeiro a nível lexical. É difícil estabelecer uma distinção entre trucagens e efeitos especiais. Talvez seja útil destacar a conotação diferente que os dois termos apresentam e as mudanças da ordem estrutural da instituição cinematográfica e que a nível lingüístico são confirmadas pela preferência em usar o segundo termo e não o primeiro. O termo trucagens tem uma conotação negativa: remete-nos para uma época remota do cinema ou evoca certas necessidades nem sempre gloriosas nem divulgáveis da fábrica de ilusões, como aquela de Alan Ladd que, embora tenha representado Shane em Os brutos também amam (1953), um dos heróis mais puros e míticos do gênero western, era obrigado a representar sobre invisíveis banquinhos para ocultar a sua baixa estatura. O termo efeitos especiais revelou-se mais adequado ao papel cada vez mais importante que as técnicas de filmagem e de manipulação da imagem assumiram no cinema contemporâneo, sobretudo depois que os investimentos em tecnologia começaram a consumir uma boa parte do orçamento total de um filme e desde que as tradicionais técnicas cinematográficas foram integradas ou substituídas pelas eletrônicas. A classificação das trucagens feita por Metz constitui ainda hoje um ótimo ponto de partida para o estudo deste aspecto, por longo tempo negligenciado a nível teórico, da expressão fílmica. No campo da produção, Metz distingue os truques prófílmicos das trucagens cinematográficas. Convencionando que a pró-fílmico atribui-se o significado de tudo o que é colocado diante da câmera para que ela o tome, Metz define como pró-fílmicos aqueles truques que intervêm antes do ato de filmar: por exemplo, a substituição do ator por um figurante ou por um manequim, ou o uso de expedientes como alçapões, engenhos para fazer um ator voar etc. (Metz, 1972, 274-76). Correspondem, grosso modo, ao que Brosnan define como efeitos físicos ou mecânicos. As trucagens cinematográficas pertencem ao ato de filmar e, não como os precedentes, ao que é filmado. Elas são produzidas durante as filmagens (trucagem de câmera) ou em laboratórios destinados à cópia (trucagem de cópia) e podem ter diversos graus de especificidade. É o caso do flou, isto é, uma tomada fora de foco com um procedimento que o cinema tem em comum com a fotografia; ou então o efeito de aceleração ou de lentidão que são obtidos diminuindo ou aumentando o número de fotogramas por segundo em relação à freqüência (24 por segundo) utilizada na fase de projeção (um procedimento que é específico do cinema) (Metz, 1972, 276-77). A distinção proposta por Metz deverá ser complementada por algumas observações. O nível pró-fílmico e o cinematográfico de realização da trucagem não são nitidamente separáveis: é óbvio que o sucesso do uso do figurante ou do manequim exige uma série de estratagemas na fase de filmagem (por exemplo, o uso de ritmo acelerado para tornar mais difícil a percepção da trucagem). Portanto, mesmo quando a trucagem é feita a nível pró-fílmico, existe uma intervenção propriamente cinematográfica destinada a ocultar (leve aceleracão e escolha de planos particulares, no caso do uso de um figurante) ou a tornar mais visível (uso de ritmo lento numa explosão) os detalhes do que se produz a nível pró-fílmico. As atuais técnicas de produção dos efeitos especiais tornam em muitos casos difícil ou até impossível a distinção entre pró-fílmico e cinematográfico. Dois exemplos serão suficientes para esclarecer essas afirmações. Nos filmes de ficção científica, os vôos das astronaves são filmados usando uma câmera especial, a Dykstraflex, que é montada sobre um braço desdobrável cujos movimentos são programados por um computador: é o movimento da câmera em relação à miniatura da astronave, que permanece parada, a produzir a ilusão do vôo espacial. Nesse caso, o efeito final será constituído por uma perfeita simulação (ver mais adiante) de uma astronave em vôo, combinando um truque prófílmico (modelo da astronave em miniatura) com uma complexa modalidade de filmagem. Considerações análogas podem ser feitas pelo Zoptic, o procedimento elaborado por Zoran Perisic e utilizado com grande sucesso em Super-homem (1978), de Clive Donner, que permite simular a visão de um homem ou de um objeto em vôo mediante o emprego de um projetor (que projeta o fundo paisagístico) e uma câmera (que filma o homem ou o objeto imóveis sobre o fundo com paisagem projetado): ambas são dotadas de zoom sincronizado, por meio dos quais o projetor retifica o ângulo do visual da paisagem que parece afastar-se, enquanto a câmera obtém o efeito de aproximação (e portanto a ilusão de vôo rasante) do homem e do objeto, que na realidade estão parados. A seguir, Metz propõe uma classificação das trucagens segundo a maneira pela qual elas são percebidas pelo espectador (regimes perceptivos da trucagem). Identifica três tipos: trucagens imperceptíveis, trucagens invisíveis mas perceptíveis, trucagens visíveis. São imperceptíveis aquelas trucagens que funcionam somente com a condição de que o espectador não se dê conta de nada: por exemplo, o uso de um figurante para substituir um ator. Esse tipo de trucagem é sempre compatível com a convenção, típica da maioria dos filmes atuais, de um grau mínimo de realismo médio, isto é, do que se costuma definir um filme realista (Metz, 1972, 278). São invisíveis mas perceptíveis as trucagens a respeito das quais o espectador não sabe onde estão e em que ponto do texto fílmico intervenham, mas percebe a sua existência (como na trucagem do homem invisível): não pode ser colocado em dúvida e constitui mesmo um dos pontos de interesse do filme (Metz, 1972, 278). Existem ainda as trucagens visíveis, aquelas que são não apenas claramente identificadas como tais (é o caso do flou, do ritmo acelerado, do ritmo lento, da sobre-impressão, da fusão). Elas são apresentadas e percebidas como manipulações explícitas da imagem e desenvolvem principalmente a função de procedimentos retóricos que Metz chama de marcas de enunciação, ou seja, modalidades particulares de enunciação fílmica. Para explicitar o que diz Metz, podemos citar o uso do ritmo acelerado no filme A ricota (1963), de Pasolini, em que o protagonista Stracci é mostrado, por meio do ritmo acelerado, enquanto devora alimentos numa velocidade incrível. Nesse caso, o ritmo acelerado tem a mesma função que, na literatura ou na linguagem falada, desempenha a figura retórica da hipérbole, que, como nos diz o dicionário, consiste em usar palavras exageradas para exprimir um conceito além dos limites do verossímil (Marchese, 1978, 130). Assim, aceita-se o efeito com sua dimensão artificial explícita e que, nesse caso, tem uma função cômico-grotesca. Essas últimas considerações levam-nos a enfrentar o problema da relação entre trucagem e linguagem, que é central no trabalho de Metz e deveria ser central para todo historiador e teórico da linguagem cinematográfica. Trata-se de compreender as modalidades de passagem da trucagem enquanto pequena maravilha ao mesmo tempo fútil e estonteante para efetivo procedimento gramatical e sintático. É o que aconteceu com a fusão, procedimento que consiste na progressiva dissolução de uma imagem que se dilui até desaparecer, enquanto, através de uma sobre-impressão, se forma o perfil de uma imagem posterior. lnicialmente ela foi introduzida como trucagem de transformação, isto é, como procedimento ótico para obter extraordinárias metamorfoses das personagens (um homem numa mulher, um velho num jovem etc.). Posteriormente, foi codificada como procedimento enunciativo para marcar a mutação espacial ou temporal da cena ou para sublinhar relações de similaridade ou de continuidade entre uma cena e outra ou para indicar uma passagem da esfera da realidade à do sonho ou da lembrança. Um procedimento antes usado (e retirado do espetáculo) literalmente (mutação mágica da realidade) transformou-se num procedimento gramatical, retórico. Em diferentes níveis da linguagem cinematográfica, como diz Metz, o mesmo efeito pode ser incluído pelo espectador na ordem da diégese (isto é, na ordem dos eventos narrativos) ou na ordem da enunciação (isto é, dos procedimentos discursivos, retóricos, que podem dizer respeito a eventos originários, comuns). No primeiro caso, podemos acrescentar, o efeito especial simula um evento extraordinário; no segundo, um procedimento mental. Esclarecido isso, podemos acrescentar uma outra série de considerações. Muitas vezes, é exatamente o problema dos efeitos especiais que evidencia os limites de qualquer teoria do cinema direta ou indiretamente apoiada na idéia de reprodução. Se, ao contrário, partimos de uma teoria baseada na idéia de simulação, trucagens ou efeitos especiais que poderão ser integrados organicamente numa teoria da linguagem cinematográfica, e não mais tratados à parte ou ignorados e banidos. Como na análise lingüística da narração se faz uma distinção entre o plano da enunciação e o do enunciado ou, em outras palavras, entre o do discurso e o da história (ver Metz, 1977, 85-90), no cinema distinguiremos entre um plano da visão e outro do visto, isto é, entre o modo pelo qual um evento nos é mostrado (modalidade de visão) e o próprio evento (o que pertence à estória, ou ao campo dos eventos narrados). Façamos agora uma pequena consideração lexical: o uso de termo efeitos especiais pressupõe, pelo menos conceitual e implicitamente na consciência dos falantes, uma contraposição com um termo antitético como efeitos ordinários. Isso significa que existe na consciência dos produtores e dos fruidores de textos fílmicos a idéia de que a representação (simulação) de certos eventos pode ocorrer mediante um procedimento ordinário ou extraordinário em relação à natureza do evento e à modalidade de visualização. A qualidade de ordinário ou extraordinário pode referir-se tanto aos eventos quanto às modalidades de visão. Como fazem os estudiosos dos gêneros literários ou cinematográficos como o fantástico, a ficção científica ou o horror (ver Prédal, 1970; Todorov, 1970), podemos chamar de ordinários os eventos que entram no âmbito das leis naturais conhecidas e das possibilidades técnico-científicas que são patrimônio comum da humanidade; extraordinários os que transgridem umas e outras ou ambas. Em geral, os efeitos especiais foram usados exatamente para tornar representáveis eventos deste tipo. Contudo, será necessário destacar que os limites entre ordinário e extraordinário foram sendo modificados em conseqüência do progresso técnico-científico. O vôo espacial, evento extraordinário tanto em Viagem à Lua (1902), de Méliès, quanto em Destino à Lua (1950), de lrving Pichel, já o é um pouco menos em No assombroso mundo da Lua (1967), de Robert Altman, que apareceu nas vésperas do primeiro desembarque na Lua, e já não o é com os freqüentes vôos das naves espaciais. Contudo, mesmo nos filmes de ficção científica, continuam a ser usados efeitos especiais para representar eventos que não são mais extraordinários no sentido acima referido, não apenas pela razão óbvia de ser mais econômico simular os vôos com miniaturas em vez de realizá-los e filmá-los, mas também porque a sua simulação permite oferecer modalidades de visão muito mais sugestivas. Basta confrontar as tomadas de um vôo (real) da nave espacial do programa Shuttle com aqueles que se vêem nos filmes da série Guerra nas estrelas para entender a diferença. Portanto, diremos que os efeitos especiais podem simular eventos ordinários e extraordinários apresentados por sua vez através da simulação de modalidades de visão ordinárias e extraordinárias. Naturalmente, os limites entre modalidade de visão ordinária ou extraordinária também são móveis e variam com a variação da competência visual do espectador. Um critério para definir o extraordinário e o ordinário nesse campo pode ser o da compatibilidade com o código das expectativas do espectador, ou seja, com aqueles que são os seus hábitos perceptivos e que podem coincidir com as convenções de representação realista, mas também com aqueles que se estabilizaram nos gêneros não realistas. O emprego da steadycam, pelo menos até o seu uso não se generalizar, podia oferecer a simulação de modalidades de visão extraordinária inclusive de eventos ordinários por exemplo, poderíamos recordar as tomadas com a steadycam da corrida de triciclo da pequeno Danny através dos corredores no Overlook Hotel de O iluminado (1980), de S. Kubrick: nesse caso o evento é ordinário; é a modalidade de visão extraordinária que produz um enfoque especial destinado a aumentar o clima de terror do filme. Resumindo tudo num esquema simples, os efeitos especiais podem ser destinados à produção de eventos ou de modalidades de visão que poderão encontrarse em quatro relações possíveis: modalidade de visão evento ordinária ordinário extraordinária ordinário ordinária extraordinário extraordinária extraordinário Exemplos do primeiro caso (ordinária/ordinário) podem ser escolhidos entre quaisquer filmes de gênero não fantástico (um western ou um melodrama), em que a presença de efeitos especiais de vários tipos quanto à modalidade de produção e de fruição não resulta incompatível com o que caracteriza um filme realista (é suficiente pensar no último western ou no último melodrama do período clássico visto na televisão). Porém, devemos acrescentar que nesse caso pode ser incluído o mais atípico, inquietante e perturbador dos filmes de terror: Monstros (1932), de Tod Browning (os monstros que o filme coloca em cena não são resultado do trabalho de técnicas de efeitos especiais). Exemplos do segundo caso (extraordinária/ordinário) dizem respeito aos filmes realistas quanto ao gênero de parentesco (baseados sobre eventos que são compatíveis com o conjunto dos nossos conhecimentos técnicos, científicos e históricos), que apresentam, graças ao emprego dos efeitos especiais, modalidades de visão que excedem tanto a nossa experiência cotidiana quanto a experiência cinematográfica precedente: podemos citar os excessos de realismo nos efeitos de laceracão da carne provocada por projéteis nos western de Peckinpah (resultado de uma combinação de sofisticados e aperfeiçoados efeitos pró- fílmicos ou físico-mecânicos com aqueles propriamente cinematográficos do flou e do ritmo lento); ou então o conjunto de efeitos especiais utilizados em Apocalypse now (1979), de Coppola, no que concerne ao gênero bélico, ou em O fundo do coração (1981), do mesmo autor, no que diz respeito à comédia musical. Exemplos do terceiro caso (ordinária/extraordinário) poderão ser escolhidos entre aqueles filmes que, mesmo pondo em cena eventos que excedem os nossos atuais conhecimentos técnico-científicos, captam o interesse do espectador através do plot e não excedem no emprego dos efeitos especiais as convenções típicas de um filme realista: um exemplo no campo da ficção científica pode ser representado por Jogos de guerra (1983), de John Badham e, no campo do gênero horror, por aqueles filmes que, mesmo abordando fenômenos sobre os quais não é possível dar uma explicação natural, não utilizam elementos que transgridem as convenções visuais do cinema realista médio. O último caso (extraordinária/extraordinário) encontra uma ampla exemplificação no cinema de ficção científica e no horror film contemporâneo: desde 2001: uma odisséia no espaço (1968), de Kubrick, até Blade Runner: caçador de andróides (1982), de Ridley Scott, de Guerra nas estrelas (1977), de Lucas, até O enigma do outro mundo (1982), de John Carpenter. O último filme citado, confrontado com O monstro do Ártico (1951), de Nyby e Hawks, do qual constitui o remake, pode oferecer um excelente exemplo de diversas modalidades de visão a respeito de um evento do mesmo tipo, mas também de uma estética do excesso de visibilidade que se afirmou no cinema contemporâneo de ficção científica e de terror (ver vários autores, 1983a). Essa tipologia oferece certamente a vantagem de integrar num único esquema filmagens que por convenção são consideradas normais por produtores e fruidores, e também aquelas que são o resultado de efeitos especiais (produzidos de modo diferente e em diversos níveis). Ela é aplicável tanto ao cinema realista quanto ao fantástico. Em relação às tradicionais tipologias do fantástico, oferece a vantagem de integrar os aspectos temáticos com os técnico-lingüísticos. Por exemplo, a tipologia do fantástico proposta por Prédal (1970) quanto à relação ordinário e extraordinário toma em consideração somente aspectos temáticos. De fato ela prevê três casos: a) aparecimento de um elemento extraordinário num mundo ordinário; b) aparecimento de um elemento ordinário num mundo extraordinário; c) análise de elementos extraordinários num mundo extraordinário (ver Prédal, 1970, 8-9; Costa, 1980, 129-35). Ao contrário, a tipologia que ilustramos acima não só define as relações entre aspectos técnico-lingüísticos (modalidade de visão) e temáticos (os classificados por Prédal), mas define também o papel dos efeitos especiais em filmes que tematicamente não pertencem ao gênero fantástico. Isso explica inclusive o fenômeno muitas vezes observado do envelhecimento precoce de filmes fantásticos ou de ficção científica, devido não tanto ao envelhecimento das suas temáticas, quanto da base técnica que no meio-tempo entrou no uso comum, perdeu o seu caráter extraordinário e foi até assimilada em formas expressivas distantes do fantástico. Nesse caso, modalidades de visão extraordinárias são progressivamente assimiladas na consciência dos espectadores na esfera do cotidiano. O fenômeno é do mesmo tipo daquele que observamos a propósito da dissolvência cruzada que, de truque de transformação, passou a ser um procedimento normal de pontuação. Não se deve esquecer que, mesmo quando um efeito ótico foi, como diz Metz, gramaticalizado, tornou-se um procedimento enunciativo como qualquer outro, ele conserva alguma coisa do fascínio primitivo de evento mágico. Mesmo depois de se tornar simplesmente um sinal de pontuação, a fusão conserva qualquer coisa da fusão substancial, da transmutação mágica, da eficácia mística (Metz, 1977, 255). Todorov, num sugestivo ensaio sobre a literatura fantástica (Todorov, 1970), sustenta que a essência do fantástico consiste na hesitação do leitor (que dura todo o tempo da leitura) entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos eventos extraordinários de que o texto o faz participar. A teoria da hesitacão de Todorov poderia ser alargada ao cinema fantástico, mas nos oferece também a pista para identificar na hesitação a propriedade fundamental dos efeitos especiais: frente a esses o prazer do espectador se nutre da incerteza de atribuir o fascínio ao extraordinário universo em que é mergulhado ou ao extraordinário mecanismo que o simula. A MONTAGEM Filming Othello (1978), o filme em que Orson Welles narra como realizou o seu precedente Otelo (1952), começa mostrando-nos o diretor na moviola enquanto dá uma pequena aula sobre montagem: Esta é uma moviola, a máquina para montar os filmes. Prestem atenção, porém, quando dizemos que estamos cuidando da edição e da montagem de um filme, na realidade não dizemos o suficiente. Os filmes não se realizam só no set: grande parte do trabalho se faz exatamente aqui, por isso uma moviola como esta é quase tão importante quanto a câmera. Aqui os filmes são salvos, às vezes resgatados do desastre massacrados. Esta é a última parada do longo percurso entre o sonho criativo de um cineasta e o público a quem o sonho é destinado (transcrição da dublagem da edição italiana). Welles levou cerca de quatro anos para concluir esse filme (de 1948 a 1952), tendo tido muitas dificuldades de produção, problemas devidos à não disponibilidade dos atores etc. Ele foi obrigado a abandonar e retomar as filmagens várias vezes, mudando continuamente os locais (de Veneza para Marrocos), porque naquela época estava rodando outros filmes como ator. Felizmente existe a montagem, nos diz Welles em Filming Othello, recordando que milagres ela pode fazer: Iago passa do pórtico de uma igreja de Torcello, uma ilha da laguna vêneta, para uma cisterna portuguesa ao largo da costa africana. Atravessou o mundo, transferindo-se de um continente a outro no meio de uma frase. No meu Otelo é uma coisa que acontece continuamente. Uma escadaria toscana e um parapeito mourisco fazem parte do que no filme é um único ambiente. Rodrigo dá um ponta- pé em Cássio, cio Mazagan, e recebe como resposta um soco em Orvieto, a mil milhas de distância. As peças do quebra-cabeça estavam separadas no e por muitas viagens de avião. Não havia nenhuma continuidade...(transcrição da dublagem da edição italiana). É curioso que esse elogio da montagem seja feito pelo diretor que talvez mais tenha influenciado as teorias de Bazin sobre o fim da montagem soberana. Por outro lado, tal elogio, centrado como sutil ironia sobre o poder de simulação desse aspecto fundamental da técnica e da linguagem do cinema, foi feito a propósito da versão fílmica de um drama shakespeariano no qual encenação e simulação têm um papel importante na intriga. Não podemos esquecer que Welles também é o autor de Verdades e mentiras (1973), um irônimo pastiche sobre as relações entre arte e falsificação. Mesmo com motivações muito pessoais, Welles define aqui a primeira, e mais elementar, função da montagem: uma função que não é ainda lingüística e expressiva, mais próxima à do truque, tanto é assim que os primeiros manuais de técnica cinematográfica indicavam a montagem como o recurso principal (ver Metz, 1972, 290). Com a montagem, como nos recorda Welles, se pode dar a ilusão de que duas porções de espaço, filmadas em locais diversos, constituem os componentes de uma cena unitária e contínua. Essa impressão de unidade (de lugar) e de continuidade (de tempo) é certamente o resultado de uma série de mecanismos usados durante a filmagem e a montagem, mas também de uma cooperação do espectador que integra as informações deduzidas dos enquadramentos individuais, ativando uma série de relações espaço-temporais sugeridas pela sua sucessão. O exemplo clássico, sobre o qual discutiram por muito tempo os teóricos do cinema, é o chamado efeito Kulechov, tirado do nome do diretor russo que o experimentou. Montando em três segmentos diferentes os mesmos planos não especialmente expressivos do ator Mozzuchin, em seqüência com os planos de: a) um prato de sopa, b) o corpo de uma mulher arrumado num caixão, c) uma menina brincando, Kulechov verificou experimentalmente os seguintes resultados: os grupos de espectadores a quem foram mostrados os três segmentos atribuíram unanimemente à idêntica imagem de Mozzuchin três expressões de significado completamente diferente: a) de fome, b) de dor, c) de alegria e serenidade. Pudovkin, que relata e comenta esta experiência com a qual ele próprio colaborou (trad. it. em Pudovkin, 1961, 125-129), fala a esse respeito de montagem construtiva, uma vez que produz significados que não estão em cada plano, mas nas relações entre os planos estabelecidas pelo diretor-montador. A definição de montagem construtiva a propósito de efeito poderia ser aceita ainda hoje, com a condição de admitir que a construção do sentido é trabalho tanto do espectador quanto do diretor. A semiótica contemporânea consideraria o efeito Kulechov como um exemplo vulgar de cooperação interpretativa (ver Eco, 1979), a relação entre o olhar do ator e vários objetos provoca no espectador um frame ou roteiro (Eco, 1979, 79-81), que prevê para a expressão do rosto significados pré-constituídos (é curioso notar que tanto a semiótica anglo-saxônica quanto a italiana tenham adotado, para estudar determinados modelos de comuni- cação e interpretação, termos cinematográficos como frame e roteiro, que no entanto não são considerados sinônimos, pois o significado cinematográfico de frame é fotograma e, por extensão, quadro, enquadramento. etc.). No período do cinema mudo, e sobretudo no âmbito do cinema soviético dos anos 20, era habitual atribuir qualquer efeito relativo à comunicação e à expressão fílmica às propriedades da montagem, com a qual se fazia coincidir o chamado específico fílmico, isto é, o elemento com o qual se identificava a especificidade do cinema. Ao mesmo tempo, a grande atenção dedicada à montagem, considerada a base estética do filme, servia para estabelecer analogias com outras formas de expressão e para dar uma legitimidade estética ao cinema. Especialmente em vários movimentos de vanguarda, do futurismo ao cubismo e ao surrealismo, havia um grande interesse pelas técnicas de colagem, mistura de conjuntos, justaposição de materiais figurativos, verbais etc., retirados dos mais diversos contextos (ver em Hauser o capítulo A era do filme, 1953, 451-484, Lawder, 1975). Consideremos inicialmente a montagem em seus aspectos operacionais e técnicos, tornando bem preciso que ela é o resultado de duas operações contextuais: a de seleção e a de combinação ou, em termos ainda mais claros, de cortar e colar. Realmente são estas as operações que cabem ao montador, sob a orientação do diretor, na mesa de montagem ou moviola. A função seletiva e combinatória da montagem, em italiano indicadas pela mesma palavra, em outras línguas são separadas. Em francês, a primeira se chama découpage e a segunda montage; em inglês, a primeira, cuttting e a segunda, editing, que define geralmente a fase da elaboração de um filme, ou montage, galicismo com o qual se define uma seqüência constituída por uma rápida sucessão de planos (montage sequence, isto é, seqüência de montagem) e que é destinado a designar a concepção de montagem típica do cinema mudo soviético (ver Reisz-Millar, 1981, 109; Katz, 1982, 820-21; Beaver, 1985, 200-209). A língua francesa dá muito claramente a idéia de que a função seletiva da montagem começa já na fase do roteiro, chamando essa última (na fase final, que prevê a articulação em enquadramento) de découpage (decupagem). Esse termo, que acabou sendo adotado por outras línguas, incluindo a nossa, remete explicitamente para a idéia de cortar, recortar, operando inclusões e exclusões: em relação à indefinida continuidade da cena, recortam-se os momentos significativos do ponto de vista narrativo e visual. (Considerações semelhantes valem para o inglês cutting script; além do mais, mesmo o termo de gíria cut! (corta!), a ordem que dá o diretor para interromper a filmagem, remete para a operação de cortar.) A seletividade da montagem que, portanto, tem início já na fase de decupagem e das filmagens é exercitada em relação à continuidade espaço-temporal. Tentemos observar as coisas mais de perto. a) Seleção em relação ao espaço Se as visões dos filmes primitivos, de Méliès, por exemplo, simulam, como já observamos, o ponto de vista do senhor na platéia, com a articulação em enquadramentos e ângulos de filmagem diferentes, a narração fílmica começou a simular o ponto de vista do narrador onisciente do romance do século XIX. Dessa forma, em relação ao continuum espacial, são selecionadas em cada situação as modalidades de visão funcionais para as exigências narrativas e expressivas. Uma vez que cada plano já é uma forma de organização de relações espaciais (entre figura e fundo, entre personagens e objetos, entre trajetórias dominantes etc.), é evidente que já essa fase, que definimos como seletiva, comporta uma contextual operação combinatória: é nesse sentido que se fala de montagem interna (no interior do plano), ainda mais evidente porque o plano não é fixo. Seleção quanto à duração Em relação à continuidade temporal de uma cena e à duração de um acontecimento ou de uma inteira ação narrada, a decupagem isola os movimentos significativos, recorrendo a elipses temporais mais ou menos marcadas. A seleção temporal concerne tanto à inteira estrutura da filme quanto às seqüências singulares. Outubro (1928), de Eisenstein, sintetiza em menos de duas horas os dez dias cruciais da Revolução de Outubro (o filme se inspirou numa reportagem jornalística de John Reed, (Os dez dias que abalaram o mundo), enquanto Gertrud (1964), de Dreyer, narra ao mesmo tempo a vida de uma mulher da juventude até a maturidade. Se examinarmos a organização das seqüências dos dois filmes, veremos que em Outubro existem elipses temporais evidentes e marcadas, tanto que se pode falar de uma espécie de destruição do tempo real de cada evento narrado e de produção de uma temporalidade abstrata, paralela a um uso simbólico dos elementos cenográficos e dos objetos e adequada às finalidades da montagem intelectual teorizada pelo diretor soviético. Pelo contrário, Gertrud é constituído por segmentos cuja duração se aproxima o mais possível da real decorrência de cada episódio (trata-se de segmentos narrativos unitários, principalmente de cenas de conversação entre as personagens da estória e que se desenvolvem em diversos momentos da vida da mulher). Esses são dois extremos opostos que exemplificam duas diversas modalidades de tratamento da duração. Contextual e complementar à operação seletiva (que tecnicamente se efetua na fase de decupagem e de filmagem) é a ação combinatória que se coloca no final do processo de produção, mesmo que um primeiro esboço da montagem seja feito cotidianamente com base nos copiões, isto é, a cópia de filme que se usa para o trabalho de montagem. Num primeiro nível, a operação de montagem tem a função de produzir uma continuidade, isto é, de unificar os pedaços de filme escolhidos para a elaboração da cópia definitiva. Tal operação não consiste somente em colar os pedaços, mas inclui a escolha de cortes (seleções) adequados para fazer com que se destaque e potencialize a impressão de continuidade espaço-temporal de cada cena que foi fragmentada durante a filmagem e decupagem. Tais ligações, codificadas na época da decupagem clássica, são de vários tipos (ligações sobre o eixo, sobre eixos paralelos, a l80º ou a 30º, sobre olhares, campo/contra-campo etc.), mas todas destinadas a obter uma equilibrada seqüência dos diferentes enquadramentos. A utilização de cortes incorretos e desarmônicos pode ser uma opção estilística: é este, por exemplo, um dos elementos mais destacados no plano técnico-estilístico de Acossado (1960), o longa-metragem de estréia de J.L. Godard, que fez sucesso inclusive pela sua ostensiva desenvoltura em relação à sintaxe fílmica mais bem comportada e respeitada. Até agora vimos os cortes de modo genérico ou entre planos no âmbito de uma mesma cena. Se observarmos as coisas um pouco mais de perto, nos encontramos frente ao problema dos cortes entre cenas ou seqüências; cortes entre planos que se referem a espaços e a lugares diversos e que podem ser utilizados segundo diferentes modalidades técnicas. O montador tem à sua disposição uma série de cortes amplamente comprovados do ponto de vista técnico e codificados no plano das funções e dos significados: eles podem ser uma simples ligação, através da qual dois planos (o último da cena A e o primeiro da cena B) se sucedem apenas por justaposição; fade out fade in (os últimos fotogramas da cena A se fundem mais ou menos lentamente contra um fundo negro ou neutro ou, se o filme é colorido, numa das tonalidades dominantes, enquanto os primeiros fotogramas da nova cena são justapostos com ou sem o efeito de fade in, isto é, aparece imediatamente nítido e em foco ou emerge gradualmente do fundo em que se dissolveu o enquadramento precedente); fusão (ao progressivo apagar do último enquadramento da cena A se sobrepõe o progressivo emergir do primeiro enquadramento da cena B, de modo tal que num determinado lapso de tempo as duas imagens se sobrepõem); outros recursos de montagem prevêem o uso de lentes com íris e filtros. Essas figuras de linguagem cinematográfica que, excetuando o caso da separação, são efeitos especiais obtidos geralmente mediante a trucka (ou impressora ótica), podem ser consideradas verdadeiros sinais de pontuação ou, mais propriamente, de macropontuação, como os define Metz, já que têm uma função semelhante aos espaços em branco entre um parágrafo e outro ou entre os vários capítulos de um livro (Metz, 1972, 245). Freqüentemente, os efeitos óticos desse tipo mantêm ou assumem, além da convencional e codificada função de sinais de pontuação, um valor e um significado mais complexos e mais difíceis de definir, tanto é assim que Metz adotou-os sob o pretexto de estudar as modalidades de percepção (regimes perceptivos) do espectador (Metz, 1972, 269-293) e para estudar as relações entre linguagem cinematográfica e os mecanismos e as configurações dos sonhos (Metz, 1977). Mais do que um fato técnico de montagem e uma forma convencional de pontuação, tais ligações podem assumir um valor particular na estrutura de cada texto fílmico. As fusões em O homem da câmera (1929), de Vertov, marcam com evidente valor simbólico uma espécie de continuidade entre a dimensão do biológico (a figura humana, os movimentos do corpo), do mecânico (a máquina, a automação) e do social (a agregação dos indivíduos nos vários espaços e momentos da vida urbana). Também no cinema hollywoodiano clássico a fusão pode adquirir valências metafóricas: em Ao cair da noite (1948), de Frank Borzage, uma fusão que relaciona a imagem do pai enforcado com a de um boneco que balança no berço do filho, além de ligar uma ocorrência procedente com o início da narração, tem a função de introduzir plasticamente a obsessão da predestinação que domina a psicologia do protagonista. Uma série de fade outs sublinha a sucessão das seqüências em Gritos e sussurros (1972), de lngmar Bergman: nesse caso, a transicão é feita de modo a determinar a formação de uma área uniforme de vermelho que é a tonalidade dominante na decoração da mansão em que são ambientadas as cenas do filme. É evidente a função de cadência métrica, de decomposição rítmica, mas também de forma simbólica que adquirem abstratas homogeneizações em que parece anularse continuamente a substância figurativa do filme. Naturalmente não são apenas os sinais de pontuação a definir os valores rítmicos de um filme, embora se possa intuir facilmente o resultado diferente que é produzido pela dominância dos cortes por separações ou por dissoluções ou por fusão etc. O ritmo é um dos efeitos produzidos pelo conjunto das operações relativas à montagem e a sua função é igualmente importante tanto no cinema não narrativo (também chamado de montagem) quanto no narrativo. Os diretores do cinema mudo valorizaram especialmente os valores rítmicos da montagem, embora com diferentes motivações. Em Griffith o ritmo é destinado a reforçar o rendimento dramático da ação. Pudokvin tende para a ilustração épico-sinfônica dos grandes acontecimentos históricos (lembremos de filmes como A mãe, 1926, ou O fim de São Petesburgo, 1927). Eisenstein tenta obter o escandimento dos mais complexos e articulados percursos da montagem intelectual teorizada e praticada por ele: pensemos em particular em certas seqüências de Outubro (1928), como a célebre seqüência dos deuses, em que uma frenética orquestração de símbolos religiosos, de um Cristo barroco até um amuleto animista, exprime a idéia de subserviência ao poder político. Valores rítmicos e prosódicos da montagem foram amplamente experimentados por todas as vanguardas: é este o motivo que une vários filmes realizados nos anos 20 e dedicados à representação do espaço urbano: Rien que les heures (1926), de Alberto Cavalcanti, Berlim, sinfonia da metrópole (1927), de Walter Ruttmann, O homem da câmera, de Dziga Vertov, À proposta de Nice (1930), de Jean Vigo. Mas o problema do ritmo é essencial também na montagem do cinema de ação, isto é, naquele em que as opções de montagem são mais diretamente destinadas às exigências narrativas: Nascimento de uma nação (1915), de Griffith, e No tempo das diligências (1939), de John Ford, oferecem excelentes exemplos de montagem alternada como procedimento narrativo cujos efeitos de suspense são garantidos e ampliados pelos valores rítmicos das seqüências. A montagem como fundamento da narrativa cinematográfica foi amplamente estudada e teorizada a partir das contribuições dos cineastas soviéticos, influenciados pelo formalismo, e por Eisenstein em particular. Num célebre ensaio de Eisensten, publicado em 1944, e intitulado Dickens Griffith e nós, são analisadas as analogias entre as técnicas de estruturação da narrativa no romancista inglês e nos procedimentos de montagem que se afirmaram no cinema a partir de Griffith (trad. it. em Eisenstein, 1964, 173-221). Embora a montagem, considerada nesse sentido, tenha sido radicalmente posta em discussão depois das contribuições de Bazin, o papel da montagem no cinema narrativo constituiu um dos temas centrais da nascente semiótica do cinema em meados dos anos 60. A grande sintagmática do filme de ficção estudada por Metz (ver Metz, 1968, 175-249) não é mais do que uma tentativa de estabelecer o código das principais formas de concatenação dos enquadramentos no interior das unidades de montagem (segmentos autônomos). Não retomaremos aqui toda a casuística examinada e classificada por Metz, mesmo porque está ligada a uma problemática relativa à aplicabilidade de modelos lingüístico-gramaticais ao estudo da linguagem fílmica que em parte foi ultrapassada. Vamos nos limitar a alguns aspectos da classificação metziana, os que nos parecem válidos ainda hoje e, sobretudo, úteis para descrever e classificar os procedimentos de montagem num filme. Metz propõe distinguir inicialmente entre os planos autônomos e os sintagmas. Os primeiros são segmentos autônomos de um filme constituídos por um só plano. O tipo principal de plano autônomo é o plano-seqüência. Ele existe quando uma cena inteira é feita num só plano; neste caso é a unidade de uma ação a conferir ao plano a sua autonomia (Metz, 1968, 182). Por sua vez, os sintagmas são segmentos autônomos formados por várias partes, ou seja, vários planos que constituem uma unidade nitidamente identificável e que são dotados de um significado autônomo. Metz distingue entre sintagmas acronológicos e sintagmas cronológicos: nos primeiros são ligados vários elementos, sem haver uma precisa denotação de relações temporais; nos cronológicos são definidas as relações temporais entre os fatos apresentados pelas imagens (Metz, 1968, 162-63). Um caso de sintagma acronológico e o sintagma paralelo: a montagem aproxima e entrelaça dois ou mais motivos sem indicar relações temporais ou espaciais precisas, mas fazendo emergir analogias ou contradições que têm valor simbólico (Metz, 1968, 183-84). É aquilo que nas tradicionais gramáticas cinematográficas se chama montagem paralela, que não se confunde com a alternada, que no esquema de Metz é um sintagma cronológico. No sintagma narrativo alternado, a montagem apresenta alternativamente duas ou mais séries de acontecimentos de maneira tal que no interior de cada série as relações temporais sejam de consecução, mas que entre as séries consideradas em bloco a relação temporal seja de simultaneidade (Metz, 1968, 186-87). O exemplo clássico a ser citado é obviamente a seqüência de Nascimento de uma nação (1915), de Griffith, construída com a alternativa de enquadramentos dos Cameron unidos por causa do cerco e os salvadores da Ku Klux Klan. A utilidade da distinção entre sintagmas acronológicos e cronológicos se evidencia confrontando outros dois tipos de montagem que são confundidos muitas vezes. É acronológico o sintagma em feixe, que é assim definido: Uma série de cenas breves representando acontecimentos que o filme dá como exemplo de uma mesma ordem de realidade, abstendo-se deliberadamente de situá-las numa relação com outras no tempo, insistindo sobre o seu suposto parentesco no interior de uma categoria de fatos. Como exemplo Metz cita entre outros o início de Uma mulher casada (1964), de Godard, no qual através de uma série de cenas ligadas entre si é expresso um significado global entendido como amor moderno (Metz, 1968, 183-84). Diversamente do sintagma em feixe, a seqüência em episódios reúne planos caracterizados por uma descontinuidade temporal, mas ordenados segundo um critério cronológico, segundo uma progressão conseqüencial. Como exemplo, Metz cita a seqüência de Cidadão Kane (1941), de Orson Welles, em que o naufrágio do casamento entre Kane e a primeira mulher é expresso através de uma série cronológica de rápidas alusões a refeições feitas em comum num clima cada vez menos afetuoso (Metz, 1968, 188-90). Sem entrar na definição dos outros tipos de sintagmas isolados por Metz, bastarão os exemplos citados para compreender a importância da lógica de implicação espaço-temporal nos procedimentos mais comuns de montagem do cinema narrativo. Mesmo tendo separado o plano-seqüência como autônomo de todos os outros tipos de sintagmas, Metz não exclui o fato de que uma análise mais profunda do plano-seqüência levaria a identificar formas de construção de imagens com funções análogas àquelas identificadas nos vários sintagmas isolados por ele. Em outros termos, Metz admite que o cinema moderno tornou desatualizada uma certa teoria e uma certa prática da montagem entendida como colagem, mas nem por isso estamos autorizados a livrar-nos da noção de montagem em sentido lato, entendida como construção de uma intelegibilidade por meio de aproximações de vários tipos, uma vez que o filme é sempre um discurso, e portanto lugar de aparição simultânea de diversos elementos atualizados (Metz, 1968, 194-95). Certamente não faltam exemplos no cinema contemporâneo de um contínuo e renovado interesse pela montagem como instrumento essencial de produção da especialidade e temporalidade próprias do texto fílmico. Neste âmbito se incluem filmes como Tüzolto utca 25 (1973), de Istvan Szabò, ou Meu tio da América (1980) e La vie est um roman (1983), de Alain Resnais. Além das integrações das técnicas tradicionais de montagem com as fornecidas pela eletrônica estão mudando progressivamente os tempos e as separações das operações técnicas da montagem. Graças à simultânea e contextual gravação em vídeo de toda tomada feita num filme e à sua codificação com um computador, o montador e o diretor podem confrontar simultaneamente em monitores a qualidade das imagens obtidas com as várias filmagens e verificar experimentalmente em tempos breves uma grande variedade de ligações, efeitos rítmicos etc. Dessa forma, as escolhas e o planejamento dos cortes e das ligações (que só posteriormente serão feitos no filme) podem se processar em tempos extremamente mais rápidos e sobretudo com modalidades de controle muito mais precisas. Esses procedimentos experimentais de F. F. Coppola já a partir de Apocalypse Now e sobretudo com O fundo do coração (ver Brown, 1982), mas amplamente difundidos no campo da televisão, encurtam as distâncias entre os procedimentos mentais e lógico-discursivos através dos quais o filme é pensado e as operações materiais através das quais ele assume sua forma definitiva. NÃO SÓ IMAGENS A operação seletiva e combinatória por meio da qual o filme, da decupagem à montagem, toma a sua forma visual pressupõe, do advento do cinema sonoro em diante, uma contextual (idealmente contemporânea, de fato defasada na sua realização técnica) operação seletiva e combinatória dos elementos sonoros: palavras, ruídos, músicas (para um amplo panorama informativo, bibliográfico e filmográfico de todos os aspectos relativos à trilha sonora, ver Comuzio, 1980). No nosso percurso do roteiro até a montagem seguimos de forma predominante o elemento visual, mesmo não tendo faltado nos diversos parágrafos referências ao som. Já ilustramos, com o exemplo de Crepúsculo dos deuses, como um roteiro se articula na dupla bitola da decupagem visual e da decupagem sonora. Quando lê um roteiro (não importa se antes ou depois), a coisa de que cada espectador sente mais a falta é de uma adequada descrição do universo sonoro do filme. As indicações são sempre muito genéricas, aproximativas ou inexistentes. Para comprová-lo basta escutar atentamente algumas vezes uma seqüência e depois tentar integrar o roteiro, extraído da cópia final segundo os critérios habituais, com todas as informações analíticas relativas ao universo sonoro (qualidade e intensidade dos ruídos, timbre de voz, grau de fusão entre música, ruídos e palavras ou a predominância de um elemento sobre os outros, intensidade e duração dos silêncios etc.). Qualquer um se dará conta de que talvez fosse impossível escrever ou ler um roteiro desse tipo, mas se poderia também identificar uma quantidade de efeitos semânticos produzidos pelo som. Existe um procedimento muito complexo para o registro sonoro do filme às vezes tão importante quanto o visual, com diversas modalidades de enquadramento do som (Villain, 1984, 87-101). O exemplo mais significativo talvez seja dado por filmes de Bresson, como Largent (1983), em que o microfone espera em vez de acompanhar e recolhe a voz das personagens em relação à sua distância: eis como pode ser posta em discussão a uniformidade do plano sonoro, que dá a impressão de continuidade, à semelhança do que acontece com a imagem em que mudanças de enquadramento e ruptura do ponto de vista são praticadas a partir de Porter e Griffith (Villain, 1984). À continuidade do plano sonoro devemos atribuir uma importante função nos efeitos de continuidade e fluidez das ligações na chamada decupagem clássica. O cinema moderno tem atribuído, graças ao desenvolvimento das técnicas de filmagem direta, uma importância maior ao som, especialmente no que diz respeito à palavra, à voz. Bazin já havia elaborado a idéia de encenação como escrita fílmica que se cumpre somente com a conquista e o domínio do som, da palavra: no tempo do cinema mudo a montagem evocava o que o realizador queria dizer, a decupagem clássica descrevia, hoje finalmente se pode dizer que o diretor escreve diretamente em cinema (Bazin, 1958, 63-92; ver também vários autores, 1975, 144). Por outro lado, é significativo notar como a implicação da voz na escrita e no texto tenha atraído a atenção do semiólogo Roland Barthes, que concluiu o seu ensaio O prazer do texto com a sugestiva descrição de um primeiro plano sonoro (e visual) em que relaciona texto literário e texto fílmico. Barthes fala do efeito de sedução e de gozo que se realiza toda vez que o cinema registre muito de perto o som da voz e faça sentir na sua materialidade e na sua sensualidade a respiração, a rocaille, a polpa dos lábios, toda uma presença do rosto humano (Barthes, 1973, 76). Naturalmente, podemos identificar nesta observação sobre o processo de produção da trilha sonora, além de uma fase paralela à do registro visual, fases paralelas às dos efeitos especiais e da montagem. Existem, ao lado dos efeitos especiais visuais, também os sonoros, com uma gama de funções muito ampla: por exemplo, a simulação do aspecto sonoro de um evento, ou a integração sonora de um efeito visual especial para acentuar-lhe o caráter de modalidade de visão extraordinária. Os efeitos especiais sonoros hoje se confundem e se integram com aquela que é genericamente chamada de música eletrônica, mas que seria melhor considerar como música produzida com o sintetizador. A esse respeito, vamos nos deter sobre uma observação de Vittorio Gelmetti, o músico que colaborou, entre outros trabalhos, na trilha sonora de Deserto vermelho: A operação do cinema ao utilizar a qualidade inaudita do som eletrônico imprime ao desenvolvimento de tais meios uma mudança decisiva (in G. e T. Aristarco, 1985, 184) A noção de qualidade inaudita introduzida por Gelmetti pode integrar aquela, já discutida, de modalidade de visão extraordinária e, segundo algumas observações do próprio Gelmetti, pode fazer-nos compreender de que modo possa ocorrer a assimilação da música e do ruído no processo de evolução e codificação da linguagem cinematográfica, além da musical (embora seja difícil, à luz das experiências da música e do cinema contemporâneos, manter a tradicional distinção entre música e ruído). Gelmetti mostra com dois exemplos como a integração da música eletrônica no contexto cinematográfico determina a codificação, graças a uma espécie de intercâmbio entre as duas linguagens, de novos significados. O primeiro exemplo concerne ao cinema de ficção científica: neste caso, a associação do som eletrônico a uma narrativa de ficção científica projeta tout court sobre a música eletrônica um significado que por si só ela não possuía e que permanecerá ligado a ela de algum modo. O segundo exemplo diz respeito a Deserto vermelho: aqui as sonoridades eletrônicas, extraídas de composições do próprio Gelmetti, ou elaboradas para a ocasião, se qualificam, na contínua ambígua passagem entre ela e outros ruídos, como sonoridades do inconsciente e como tal são recebidas pelo espectador (in G. e T. Aristarco, 1985, 184). É nesta fase de integração entre as novas modalidades de produção da imagem e do som, em que a eletrônica desempenha um papel determinante, que se estão produzindo novas configurações da linguagem cinematográfica ou, melhor dizendo, audiovisual. No campo do som, o nível de elaboração da trilha sonora, correspondente à montagem das imagens, é a mixagem, ou seja, a reunificação numa única fita magnética de todos os elementos sonoros anteriormente registrados em separado (diálogos, ruídos, música). A operação está completa somente quando a fita magnética é revertida na ótica, que é a forma adequada de registro e leitura do som atualmente em uso no cinema. Realmente, no que respeita aos mecanismos de produção de sentido do filme, montagem e mixagem são consideradas duas operações contextuais e interdependentes, que levam a cabo o processo de produção, mesmo que o papel designado aos vários componentes da obra seja muitas vezes predeterminado na fase de concepção, dependendo do gênero ou do autor. A possibilidade de basear as relações entre trilha sonora e trilha visual sobre a não sincronia, teorizada pelos diretores soviéticos no final dos anos 20 com o objetivo de não cair na reprodução pura e simples da recitação teatral e de afirmar a primazia da montagem, foi de fato amplamente utilizada mesmo por quem não pretendeu fazer disso um critério estético geral. Mesmo nos filmes mais explicitamente narrativos são muitos os momentos não sincrônicos, quer dizer aqueles nos quais a fonte de emissão do som (voz humana, música etc.) não está enquadrada enquanto presente na cena: a voz em off, amplamente usada também na découpage clássica, é o exemplo mais óbvio, para não falar da música que, excetuando os casos em que é motivada pela presença de um rádio, uma jukebox etc., é quase sempre não sincrônica. Mais importante é compreender qual dos elementos sonoros do filme se torna o elemento estruturador e o princípio organizador do texto. Poderíamos partir, para esclarecer melhor, dos casos de uma total ou parcial renúncia aos elementos sonoros, tornando-se esse o fator construtivo ou princípio dominante. Pensemos em Luzes da cidade (1931) e Tempos modernos (1936), nos quais a renúncia à palavra determina não só a estrutura narrativa mas também a organização do espaço fílmico. Em outras palavras, Chaplin quis permanecer fiel ao princípio estrutural da gag do período mudo, subordinando os únicos elementos sonoros aceitos por ele (música e ruídos) a essa opção. Outros cômicos seguirão caminhos diferentes. Stan Laurel e Oliver Hardy inventaram uma integração entre gag visual e gag verbal; e é exatamente uma espécie de curto-circuito contínuo entre o plano visual e verbal que produz o seu total, absoluto e exasperante desambientamento em qualquer lugar e situação. O filme Dois caipiras ladinos (1937) é todo construído sobre um jogo de interferências entre o plano metafórico (da palavra) e o literal (da ação). Aqui o jogo assume a forma da realização (visual) de uma metáfora (verbal). Exemplos: Stan é constrangido a fazer o que tinha dito: Se não conseguia tirar o documento, como o teu chapéu; Stan, pressentindo um engano, diz: Sinto cheiro de queimado, em seguida descobrimos que meteu o pé, que estava descoberto por causa da sola gasta, numa ponta de cigarro. Os irmãos Marx, ao contrário, privilegiaram a gag verbal, como fará mais tarde Woody Allen, o que não significa que nos filmes deles o aspecto visual não tenha importância; significa que o elemento estruturador é o verbal, enquanto é a ausência da palavra do protagonista que constitui o fator construtivo das gags mais típicas dos filmes de Jacques Tati. Para esclarecer melhor como a palavra possa se tornar o elemento estruturador de procedimentos essencialmente visuais como, por exemplo, os movimentos de câmera, citarei um segmento da cena inicial, que se desenvolve num bar, de Curva do destino (1945), de Edgar G. Ulmer. Uma canção proveniente de uma jukebox lembra ao protagonista um velho amor; é a sua voz em ali que conduz um complexo movimento de câmera que, do primeiríssimo plano do seu rosto, volta atrás até enquadrar a abstrata geometria do detalhe de uma xícara de café, para chegar depois à forma geométrica do disco que toca, antes da separação na qual começa o flashback. Desta maneira, um complexo enquadramento contextualizado visualmente como objetivo (o protagonista não acompanha com o olhar o movimento de câmera) é carregado por uma dimensão de subjetividade, graças à integração do elemento oral. Considerações semelhantes podem ser feitas a propósito do musical, um gênero onde a música é... obrigatória, diríamos, mas onde pode desenvolver funções diversas em relação à estrutura do texto. Michael Wood, que já tivemos ocasião de citar, pela sua capacidade de aliar agudas observações sociológicas a uma rara atenção pelos elementos formais, define genericamente o musical como veículo de uma alegria para todos os usos, veículo de qualquer alegria, de qualquer coisa que te dê vontade de cantar e dançar (Wood, 1975, 135). Contudo, ele propõe também uma distinção entre os musicals em que a introdução da música constitui um artifício evidente, uma superposição complicada baseada em pretextos grosseiros propiciados pelo enredo, e aqueles baseados em passagens quase imperceptíveis ou até numa autêntica continuidade entre vida cotidiana e música: (...) existe um tipo de musical que põe descaradamente a música onde não há lugar para ela, compensando-nos totalmente da aridez provocada pela falta de música nas nossas atividades cotidianas. O outro tipo sugere que a música esteja por todo lado, espalhada em torno de nós, bastando ter o cuidado de olhar e escutar.(Wood, 1975, 136). Bem diferente do musical clássico, do qual fala Wood, é o contemporâneo, de um Bob Fosse por exemplo, de Charity, meu amor (1969) até O show deve continuar (1979): a ligação muito mais estreita entre os elementos coreográfico-musicais e as intervenções de direção fílmica (escandimento rítmico das separações, dos ângulos, dos movimentos de câmera etc.) não qualifica a encenação como forma simbólica do desejo realizado, mas, pelo contrário, como forma de pura virtualidade não realizada - Quanto mais o universo figurativo do musical se torna imprevisto e precioso (enriquecido por preciosismos cromáticos, fotográficos, luminosos, que conferem ao conjunto uma evidência hiper-realista), mais ele é dominado por um sentido de irrealidade total, de alucinação.
Download