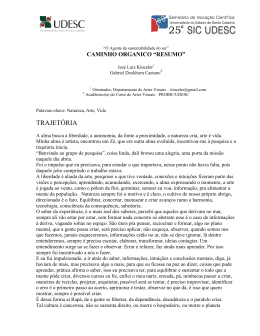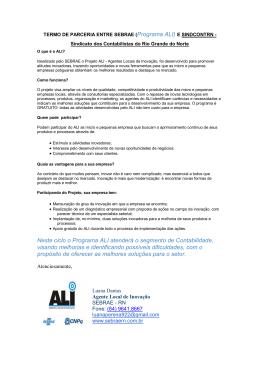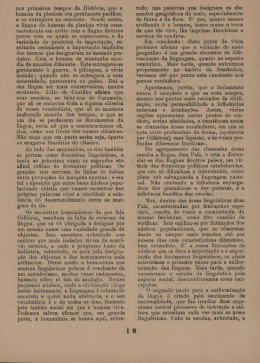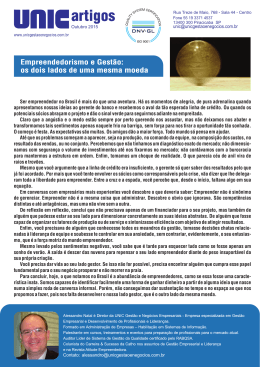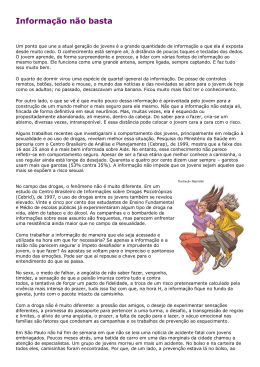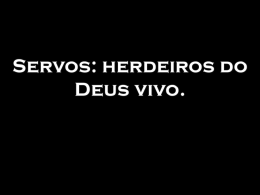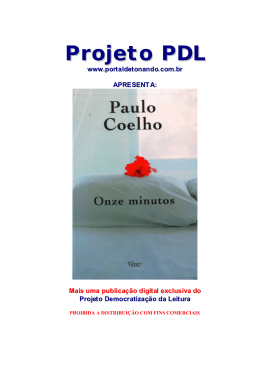7º UNICULT A LOUCURA DOS OUTROS Autor(es) LIDIA BILIA CAMARGO Desenvolvimento Cheguei mais cedo para pegar o melhor lugar e também porque a ansiedade não me permitiu ficar em casa mais tempo, até tentei ler alguma coisa, mas as palavras pareciam desviar dos meus olhos deslizando pela lateral da minha cabeça indo parar direto no infinito céu das leituras decodificadas e das conversas que ouvi sem prestar a mínima atenção. Tentei também ver algo na TV, mas o ritmo acelerado com que involuntariamente meus dedos trocavam os canais me irritou e resolvi sair às pressas como se perdesse o horário para algo, como se alguém me esperasse há horas, mas não havia “o algo” a perder ou esse tal “alguém” a minha espera. Era a ansiedade que me tomava violentamente me arrastando pelos cabelos nessa neurótica corrida para o nada. Para não chegar tão cedo resolvi dar um tempo em uma padaria que encontrei pelo caminho, pedi uma coxinha que me parecia agradável à vista, só para gastar aqueles dois reais que pesavam no meu bolso, mas não consegui comer, porque precisava ir, precisava ir pra algum lugar e depressa. Não foi difícil entrar porque o pessoal da arrumação ainda descarregava algumas flores e como eu vestia uma calça preta com uma camisa branca meio amarelada nem deram conta de minha presença, confundido com um deles talvez tornei-me invisível em meio aqueles operários cansados da labuta, loucos para terminar tudo e voltar para o lar. Lar... A simples lembrança dessa palavra e de todo seu significado era para mim pior do que cem facadas no peito. A ansiedade sacudia meus pés, empapava minha camisa de suor e me levava a consultar o relógio a todo segundo, o tempo não passava. O pessoal da arrumação com muito barulho terminou seu serviço e foi embora, apagaram as luzes e fiquei ali dentro só, ouvindo o som das conversas e o riso daqueles homens tornarem-se cada vez mais distantes. Na euforia do fim do dia, nem perceberam que alguém havia ficado lá dentro sozinho, suando mais do que uma pessoa normal, revirando os olhos num misto de agonia e frenesi. Levantei-me do canto escuro no qual havia me refugiado e percorri todo lugar lentamente, o ruído dos meus passos no velho assoalho era o único som a acompanhar a solitária procissão que se seguia. Flores. O cheiro doce das flores se espalhou rapidamente por todo salão, atacaram tão violentamente minhas narinas que em instantes não pude mais senti-lo, pois já fazia parte de mim. Dos bancos de madeira maciça, enfileirados com ordem precisa despregava-se uma áurea fúnebre e oleosa, em pouco tempo minha pele era lúgubre, fria e o visco da madeira era o mesmo que saia dos meus poros. Ouvi perfeitamente o carro se aproximar, o motorista demorou para desligar o motor e descer, mas o fez por fim. Voltei para o canto escuro que já antes havia me acolhido. Eram dois, e conversavam alto. Pude ver quando eles o trouxeram para dentro. Lembrei-me das palavras da minha mãe “nunca serás suficiente”. Maldita sentença, maldito destino encerrado nessa frase. Malditos os seus lábios que a proferiram por anos e anos. Maldita minha frágil consciência que se permitiu acorrentar a esse veredicto, maldita esperança que me fez querer vencê-lo. As imagens de minha infância pululavam em minha mente de forma desordenada e dolorosa, porém, me fizeram compreender o que fazia ali escondido e sozinho, pude entender que não havia nada mais normal a um filho bastardo permanecer ali, na penumbra e no anonimato. Bastardo, retardado, não amado, mais emotivo do que racional, mais idiota do que brilhante, mais feio do que bonito. Por toda vida acreditei que meu desproporcional semblante fosse o ícone de toda prole ilegítima. Lábios grandes demais, dentes miúdos e amarelados, pele morena e cravejada de imperfeições cutâneas. Olhos pequenos, quase sem cílios separados por um grosseiro nariz, toque final daquela desarmonia física. Acreditava que um bastardo não poderia parecer diferente, que involuntária e irreversivelmente era fadado a carregar em seu rosto as marcas do pecado das duas imundas criaturas que desastrosamente o geraram. Uma delas agora estava ali, muito próxima. Pela primeira vez próxima de si. Os dois homens foram embora e deixaram-no ali no meio do salão, encarcerado no que seria sua mais fria moradia. Era um caixão bonito, a madeira não era como a daqueles bancos, mas reluzia como diamante. Aproximei-me depressa. Suava tanto que as palmas das minhas mãos deixaram marcadas suas formas sobre a tampa do ataúde quando tentei abri-lo. Antes porém de fazê-lo precisei respirar, e não demorou para que grossas lágrimas corressem por meu rosto. Maldito, maldito que era. Toda aquela emotividade jamais me serviu de nada, fez-me sim tolo e fraco, estúpido e infeliz. Abri por fim o caixão, e o cheiro das flores resplandecia lá dentro, porém agora já não era doce. Tudo ali tinha o odor azedo da ausência de vida. Tantos as flores como o corpo pertenciam a irrefutável realidade da morte. Eu sou seu filho maldito! Teria ainda sangue? Teria ainda o meu sangue agora estagnado nas inúteis veias? Levantei-lhe a mortalha, segurei pela primeira vez aquela mão fria, a rigidez do corpo não me impediu de levá-la até a boca e cravar nela meus amarelos dentes. Nada ... nada! O que eu estava fazendo? Teria enlouquecido? O que diriam de mim se ali me vissem morder a mão do defunto? As lágrimas haviam cessado. O sentimento evaporado. De repente tudo ali me era estranho, meu corpo, minhas mãos, aquele cheiro, aquela madeira, aquele caixão, aquele cadáver. Senti uma náusea profunda, o sabor azedo daquele corpo havia contaminado meus lábios. Precisava de água, precisava me livrar daquele gosto de morte, precisava purificar-me daquela insanidade, exterminar aquele absurdo. Mas olhei mais uma vez o semblante dele “nunca serás suficiente... nunca”. Se a consciência humana é feita de razão ou loucura, só podemos saber quando um homem é desafiado por si mesmo a colocar seus instintos a prova. O ódio que me dominava cegou todos os meus instintos, minha consciência era louca, mas minha loucura era sã, porque eu alimentei-a a cada dia, tornando-a tudo o que eu era. Agora era tarde para nós dois, era tarde para receber um abraço de pai, para pedir a benção antes de dormir, para ganhar um cartão no natal. Agora era tarde para ser homem. Era tarde demais para mim que havia passado a vida sendo um lixo, um parasita, um verme que aquele pesado defunto colocou no mundo. A morte não é irremediável como dizem... a vida o é. A vida é uma desastrosa experiência para quem não tem o talento suficiente de enfrentá-la e a coragem necessária para dar-lhe um digno fim. Era tarde demais para nós dois, mas mais tarde ainda para mim. Que fui prematuramente infeliz, desde a intenção de nascer. Beijei-lhe os lábios demoradamente, um beijo meu era pior castigo que um tapa, um beijo de um asqueroso e mal quisto feto era a pior punição para aquele indefeso homem. Cobri-lhe com a mortalha, fechei a porta de seu mórbido leito e fui me sentar no banco mais afastado do salão para assistir seu último ritual humano sobre a terra. As pessoas não demoraram a chegar, algumas falavam baixo entre si, outras discretamente choravam. Ninguém me olhou. Ninguém me notou apesar de eu dever cheirar pior do que o morto. Nenhum rosto me era conhecido, nenhum semblante familiar, tudo me era estranho. Tudo. Inclusive aquele corpo para sempre estendido no caixão. Aquele estranho homem que poderia ser meu pai, aquele homem que poderia me dar uma história para odiar ou amar, mas só havia feito em minha mente delirante. A ansiedade voltou a me dominar, batia os pés no chão com força sem poder manter o controle. Precisava ir, precisava ir depressa a algum lugar, precisava encontrar meu pai, precisava vingar aquela vida miserável. Levantei-me e sai, fugi para o mundo de loucos que lá fora me esperava.
Baixar