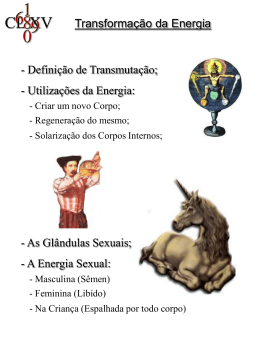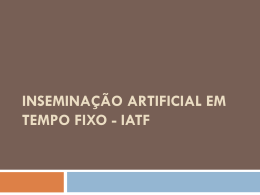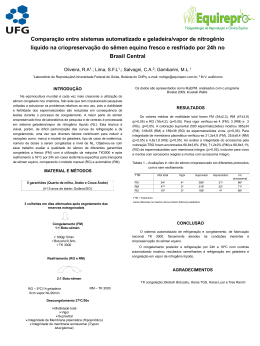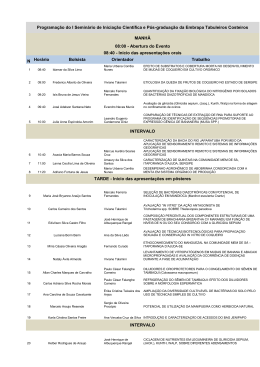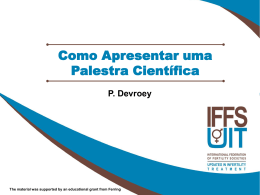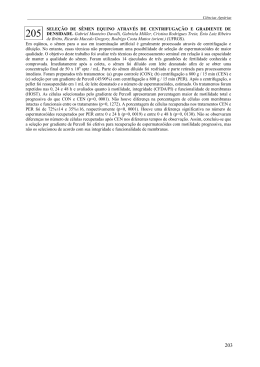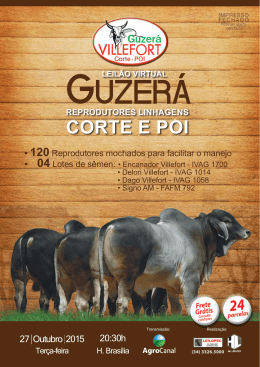JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA ESTUDO DE METODOLOGIAS PARA A CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN DE JUMENTO (EQUUS ASINUS) POR MEIO DE TESTES LABORATORIAIS E FERTILIDADE Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Campus de Botucatu, para a obtenção do título de Mestre em Medicina Veterinária (Área de Concentração: Reprodução Animal) Orientador: Prof. Dr. Frederico Ozanan Papa Botucatu 2005 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉC. AQUIS. E TRAT. DA INFORMAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CAMPUS DE BOTUCATU - UNESP BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE Oliveira, José Victor de Estudo de metodologias para a criopreservação de sêmen de jumento (Equus Asinus) por meio de testes laboratoriais e fertilidade / José Victor de Oliveira. – Botucatu : [s.n.], 2005. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, 2005. Orientador: Prof. Dr. Frederico Ozanan Papa. Assunto CAPES: 50504002 1. Reprodução animal. CDD 636.0824 Palavras chave: Eqüídeo; Sêmen; Criopreservação; Crioprotetores; Citologia uterina; Teste de fertilidade DEDICO A Deus, por tudo que representa, A minha esposa Glauce pelo constante apoio e incentivo, aos meus filhos Pedro e Marcelo pela compreensão e sacrifícios vividos ao longo desta jornada, A minha mãe Laizinha que sempre acreditou na minha vitória, ofereço este título como forma de amenizar a dor pela recente partida de meu pai, Ao meu pai Sebastião, que durante a sua existência sempre esteve presente, auxiliando a descoberta de caminhos que proporcionassem as minhas conquistas, dedico este trabalho. Agradecimentos À amizade e orientações do profesor Frederico Ozanan Papa, que foram valiosas na minha formação desde a residência veterinária. Aos professores Marco Antonio Alvarenga e Cezinande de Meira, além de amigos, tiveram participação decisiva na realização desta pós-graduação. Aos companheiros de pós-graduação Márcio, Dell’Aqua, Felipe, Carlos Frederico, Luciana, Letícia, André, pelo excelente convívio e coleguismo no período. Às conversas estimulantes do Prof. Sony Dimas Bicudo e Maria Denise Lopes, durante o curso de mestrado. Ao Prof. Rubens Paes Arruda pelo auxílio e ensinamentos. Ao Flávio Dutra de Resende, pelo apoio proporcionado na obtenção deste título. Aos companheiros do “Posto de Equideocultura de Colina”, Francisco Raul Abbot de Oliveira Perdigão e Celso Augusto, pelo infindável entusiasmo. Aos colegas de trabalho: João, Márcia, Fabinho, Mineiro, Zé Baiano, Zezé, Mauro, Édson, Sebastião e Zé Luiz que auxiliaram na execução prática deste trabalho. Aos funcionários do Departamento de Reprodução, Edilson, Valter, Marquinho e Miguel, que me ajudaram em suas respectivas áreas. Aos colegas não mencionados, que contribuíram de alguma forma para a concretização deste trabalho. ÍNDICE Página LISTA DE FIGURAS ............................................................................. vi LISTA DE TABELAS ............................................................................ viii LISTA DE ANEXOS ............................................................................ x RESUMO .............. .............................................................................. 11 ABSTRACT ......................................................................................... 13 1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 15 2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................ 18 3 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................ 39 3.1 PRIMEIRO EXPERIMENTO AVALIAÇÃO LABORATORIAL 3.1.1 ANIMAIS ................................................................... 3.1.2 COLHEITA DO SÊMEN ............................................ 3.1.3 ESTIMATIVA DA OSMOLARIDADE E pH - SÊMEN FRESCO ................................................................... 3.1.4 AVALIAÇÃO COMPUTADORIZADA - SÊMEN “in natura” ........................................................................ 3.1.5 MORFOLOGIA ESPERMÁTICA – SÊMEN FRESCO .......................................................................... 3.1.6 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E INTEGRIDADE DA MEMBRANA PLASMÁTICA (CHOQUE OSMÓTICO) ............................................ 3.1.7 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA MEMBRANA PLASMÁTICA – SONDAS FLUORESCENTES ........ 3.1.8 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS PARA CRIOPRESERVAÇÃO ............................................... 3.1.9 AVALIAÇÃO COMPUTADORIZADA - SÊMEN CONGELADO ............................................................ 3.1.10 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA MEMBRANA PLASMÁTICA - SÊMEN CONGELADO ..................... 3.2 SEGUNDO EXPERIMENTO - TESTE DE FERTILIDADE A CAMPO ............................................................................... 40 40 41 41 41 42 42 43 44 44 44 Página 3.3 TERCEIRO EXPERIMENTO - CITOLOGIA UTERINA ........ 48 4 METODOLOGIA ESTATÍSTICA ........ ........................................... 50 5 RESULTADOS ... ......................................................................... 51 6 DISCUSSÃO ... ............................................................................. 72 7 CONCLUSÕES ............................................................................. 91 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................... 92 9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................. 93 10 ANEXOS ... .................................................................................. 105 LISTA DE FIGURAS Página Figura 1 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, sobre o parâmetro motilidade total (MOT). Figura 2 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, sobre o parâmetro motilidade progressiva (MOP). Figura 3 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, sobre o parâmetro LIN. Figura 4 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, sobre o parâmetro fluorescência (FLU). Figura 5 - Média e desvio padrão referentes ao parâmetro VCL, na comparação entre os resultados dos tratamentos: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10. Figura 6 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 sobre o parâmetro VAP. Figura 7 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 sobre o parâmetro VSL. Figura 8 – Valores médios encontrados para contagem de neutrófilos em esfregaços uterinos de 5 jumentas obtidos nos momentos 0, 6 e 24 horas após a inseminação artificial de 4 mL de sêmen in-natura de jumento. 55 56 57 58 61 62 63 67 vi Página Figura 9 – Valores médios encontrados para contagem de neutrófilos em esfregaços uterinos de 5 jumentas obtidos nos momentos 0, 6 e 24 horas após a inseminação artificial de 4 mL de diluente MP- 50. Figura 10 – Valores médios e desvio padrão encontrados para contagem de neutrófilos em esfregaços uterinos de 5 jumentas obtidos nos momentos 0, 6 e 24 horas após a inseminação artificial com 8 palhetas (800x106 de sptz) de sêmen congelado de jumento. 68 69 vii LISTA DE TABELAS Página Tabela 1 - Valores médios e desvio padrão, para as características de motilidade total (MT),motilidade progressiva (MP), a linearidade (LIN), obtidos através do CASA e integridade de membrana plasmática (FLUO) avaliadas pela fluorescência, após a descongelação de sêmen de jumento, envasados em meio macrotubo ( M - 2,5 mL) com diluente MP50 e 10 formulações de crioprotetores. Tabela 2 - Valores médios e desvio padrão, para as características de motilidade total (MT),motilidade progressiva (MP), a linearidade (LIN), obtidos através do CASA e integridade de membrana plasmática (FLUO) avaliadas pela fluorescência, após a descongelação de sêmen de jumento, envasados em palheta (P - 0,5 mL) com diluente MP50 e 10 formulações de crioprotetores. Tabela 3 – Valores médios e desvio padrão, para as características de VCL, VAP e VSL avaliados pelo CASA, após a descongelação de sêmen de jumento, envasados em meio macrotubo ( M 2,5 mL) ou palheta (P - 0,5 mL) com diluente MP50 e 10 formulações de crioprotetores. Tabela 4 - Tabela 5 - Tabela 6 Efeito do uso do sêmen de jumento congelado em meio MP50, com diferentes crioprotetores, utilizado no corpo uterino de jumentas, em dois momentos pré e pós-ovulação, com dose inseminante total de 800 x 106 sptz., sem desglicerolização, sobre a taxa de fertilidade. Efeito do uso do sêmen de jumento congelado com glicerol, utilizado no corpo e corno uterino homolateral à ovulação de jumentas, após ovulação, com dose inseminante total de 800 x 106 ou 1600 106 sptz., com ou sem desglicerolização, sobre a taxa de fertilidade. - Efeito do uso do sêmen de jumento congelado em meio MP50, utilizado no corpo uterino de éguas após-ovulação, com dose inseminante total de 800 x 106 sptz., sem desglicerolização, sobre a taxa de fertilidade. 53 54 60 65 66 66 viii Página Tabela 7 – Tabela 8 – Tabela 9 – Tabela 10 – Efeito da inseminação artificial em jumentas com 4 mL de sêmen in-natura (G1), 4 mL de diluente com crioprotetor (G2) e sêmen congelado (800x106 de sptz - G3) avaliados pela contagem de polimorfonucleares através de citologia uterina nos momentos 6 e 24 horas pósinseminação. Valores médios e desvio padrão obtidos para contagem de polimorfonucleares em esfregaços uterinos de jumentas, dos 3 grupos: G1 (sêmen fresco - 4 mL), G2 (diluente com crioprotetor - 4 mL) e G3 (sêmen congelado - 8 palhetas de 0,5 mL), nos momentos 6 e 24 horas após inseminação. Características de peso e altura de animais das raças Brasileiro e o Poitou Valores médios dos diâmetros dos cornos uterinos entre jumentas da raça Brasileira e potras da raça Brasileira de Hipismo. 71 71 84 85 ix LISTA DE ANEXOS Página Anexo 1 – Formulação do meio diluente de Kenney 105 Anexo 2 – Ajuste do HTM – IVOS – 10 para as realizações das análises seminais em eqüinos 106 Anexo 3 – Soluções de estoque para utilização na técnica de fluorescência para avaliação de integridade de membrana plasmática do espermatozóide Anexo 4 – Solução de trabalho para coloração fluorescente para avaliação da integridade de membrana plasmática do espermatozóide. Anexo 5 – Diluente MP50 107 107 108 x RESUMO O presente trabalho teve os objetivos: avaliar laboratorialmente o sêmen congelado de asininos através do Hamilton Thorne (HTMA); determinar os indices de fertilidade do sêmen criopreservado em jumentas e éguas e verificar a resposta uterina das jumentas perante o sêmen “in-natura”, diluente e congelado. No experimento 1 as amostras de sêmen, foram criopreservados em dois criotubos: meio macrotubo – 2,5 mL (M) ou palheta – 0,5 mL (P) com diluente MP50 e dez formulações de crioprotetores: 1= 2% DMSO e 2% DF; 2= 3% DF; 3= 2% MF e 2% de Glicerol; 4= 2% dimetil acetamida e 2% de glicerol; 5= 3% metil formamida; 6= 3% de dimetil acetamida; 7= 3% glicerol e 2% dimetil acetamida; 8= (Specific Patogen Free) 3% glicerol e 2% dimetil formamida; 9= 3% Dimetil sulfóxido e 2% glicerol; 10= 1% etilieno glicol + 3% dimetil sulfóxido e 1% dimetil formamida. As comparações realizadas entre os 2 tipos de envase, meio macrotubo e palhetas, não demonstraram superioridade (P>0,05) entre si, não havendo interação com as formulações utilizadas, nos parâmetros analisados. Para as características de motilidade total foi verificado que os tratamentos M4, P4 e P6 foram superiores ao M7 e P5 (P<0,05) a avaliação da motilidade progressiva exclusivamente mostrou qua a formulação M4 se distingüiu do M7 (P<0,05). O estudo da linearidade (LIN), apontou diferença exclusivamente entre os tratamentos M3 e M6 (P<0,05). Os valores obtidos de VCL (velocidade real), de VAP (velocidade do trajeto espermático) e de VSL (velocidade retílinea) proporcionaram resultados semelhantes entre os tratamentos (P>0,05). Na avaliação da membrana plasmática pela 11 fluorescência, foi encontrado maior valor para o tratamento P6, que diferiu significativamente de P5 e M7, além disso o tratamento P4 se diferenciou de P5 (P<0,05). As demais comparações para esse parâmetro não divergiram entre si (P>0,05). No experimento 2, os testes de fertilidade em jumentas, não geraram gestações apesar das formulações de crioprotetores, o local de deposição do sêmen (corpo ou intracornual homolateral à ovulação), a inseminação com ou sem desglicerolização, quantidade de células espermáticas empregadas, o momento da inseminação e a execução ou não da desglicerolização. Por outro lado o mesmo protocolo usado em éguas proporcionou 40% de prenhez (4/10). No experimento 3, as jumentas foram inseminadas com sêmen “in natura” ou diluente ou sêmen congelado. As avaliações dos três grupos pela citologia uterina, nos dois momentos estudados (6 e 24 horas), monstraram que a resposta inflamatória, dentro dos períodos citados, foram semelhantes independente do elemento agressor. Pelos resultados laboratoriais, foi possível demonstrar a viabilidade da substituição do glicerol por outros crioprotetores alternativos, para criopreservação do sêmen de jumentos. Embora não tenha resultado em gestações em jumentas, contudo o mesmo protocolo proporcionou prenhez em éguas. Foi demonstrado também que a resposta uterina de jumentas foi semelhante nos três grupos, e revelou que o insucesso nas gestações em jumentas não deve ser creditado a uma resposta uterina excerbada e/ou prolongada. Palavras-chave: Eqüídeo, Sêmen; Criopreservação; Crioprotetores; Citologia uterina; teste de fertilidade. 12 ABSTRACT The current paper aimed at conducting laboratoty tests in order to evaluate the frozen semen of the asinines, determining the fertility rate of semen cryopreserved in female donkeys and mares and also verifying the uterine response of female donkeys to the “in natura”, MP50 extender and frozen semen. In experiment 1, the semen samples were cryopreserved in two cryotubes: half macro tube 2.5 mL (M) or pallets – 0.5 mL (P) with MP50 diluting and ten formulations of cryoprotectors: 1= 2% DMSO and 2% DF; 2= 3% DF; 3= 2% MF and 2% of glycerol; 4= 2% dimethyl acetamide and 2% of glycerol; 5= 3% methyl formamide; 6= 3% of dimethyl acetamide; 7= 3% glycerol and 2% dimethyl acetamide; 8= (Specific Patogen Free) 3% glycerol and 2% dimethyl formamide; 9= 3% dimethyl sulfoxide and 2% glycerol; 10= 1% ethylene glycol + 3% dimethyl sulfoxide and 1% dimethyl formamide. The comparisons made between the two types of packing, did not show superiority (P>0.05) between themselves, and there was no interaction with the used formulations within the analyzed parameters. Regarding the characteristic total motility, it has been verified that the M4, P4 and P6 treatments were superior to the M7 and P5 (P<0,05). The evaluation of the progressive motility showed that the M4 formulation differed exclusively from the M7 (P<0,05). The linearity study demonstrated difference particularly between the M3 and M6 treatments (P<0,05). The values of real velocity, sperm direction velocity and linear velocity did not show similar results between the treatments (P>0,05). Concerning the evaluation of the plasma membrane by fluorescence, a higher value was found for the P6 treatment, 13 which differed significantly from the P5 and M7. Moreover, the P4 treatment was different form the P5 (P<0,05). The other comparisons made within this parameter did not diverge between themselves (P>0,05). In experiment 2, the fertility tests in female donkeys did not result in pregnancy, despite the cryoprotectors formulations, the place where the semen was inseminated (body or deep uterine to ovulation), insemination with or without desglicerolization, quantity of sperm cells applied, the insemination moment and the possible desglicerolization performance. On the other hand, the same protocol used with mares resulted in 40% of pregnancy (4/10). In experiment 3, the female donkeys were inseminated with “in natura” or extender MP50 or frozen semen. The evaluation of the three groups by the uterine cytology, at the two studied moments (0 e 6 hours), showed that the responses, within the studied periods, were similar regardless the aggressor element. Through the laboratory results, it was possible to demonstrate the viability of glycerol replacement by other cryoprotectors in order to cryopreserve the donkeys´ semen. Although it did not result in pregnancy concerning female donkeys, the same protocol culminated in pregnacy concerning mares. Furthermore, it has been demonstrated that the female donkeys uterine response was similar in the three groups. In addition, it has been revealed that the lack of success in female donkeys pregnancy must not be credited to a long and exacerbating uterine response. Key words: Equideo; Semen; Cryopreservation; Cryoprotetors; Uterine cytology; Fertility tests. 14 1- INTRODUÇÃO: O uso da inseminação artificial com sêmen congelado é a principal ferramenta utilizada no melhoramento genético animal pela maioria das espécies domesticadas, conquanto ainda pouco praticada com os eqüídeos. Apesar dos resultados envolvendo a congelação de espermatozóides (sptz) eqüinos ter sido divulgado há muito tempo (Barker & Gandier, 1957), as pesquisas nessa espécie se intensificaram mais tardiamente. Embora hoje menos conservadoras que outrora, as dificuldades impostas pelas associações de criadores, ao uso de sêmen congelado, transformaram-se em importante barreira para a sua disseminação e em conseqüência as pesquisas e a expansão técnica se apequenaram (Squires et al., 1999). Apesar disto, os estudos sobre o tema, em eqüinos, são significativos (Papa e Alvarenga, 1984; Neves Neto et al, 1995; Papa et al, 1998; Alvarenga et al., 1998; Trimeche et al., 1999); todavia os problemas persistem, embora não sejam exclusivos desta espécie (Holt, 2000). Por este motivo, vários centros de pesquisa no mundo todo, procuram uma metodologia para saná-los; conseqüentemente, é compreensível o fato de não haver uma universalmente aceita para eqüinos, como a existente para bovinos, segundo Samper et al. (1998). A indústria eqüina vê nesta busca, a perspectiva de empregar as tecnologias geradas para maximizar o uso de garanhões, derrubar barreiras geográficas, eliminar ou diminuir a propagação de doenças sexualmente transmissíveis e possibilitar o uso de animais já mortos (Squires et al 1999). 15 Segundo Guerra (2003), deve-se destacar que o período atual mostra o Brasil detentor do terceiro maior rebanho eqüídeo do mundo, cerca de 6 milhões de cabeças, onde as diversas atividades deste segmento do agronegócio emprega 500 mil pessoas diretamente, mais do que a poderosa indústria automobilística; vemos ainda o uso cada vez maior das biotecnologias, incluindo o crescimento do emprego de sêmen congelado. Uma outra finalidade desta tecnologia é a preservação de material genético por um inesgotável período de tempo, propiciando a formação de um banco de germoplasma, conhecido como preservação “ex situ”. (Mariante et al., 2000). Algumas raças de asininos, devido a seu abate indiscriminado, e mesmo a pouca atenção recebida em relação a atividade reprodutiva, estão hoje sob risco de extinção. Como exemplo temos o Jumento Poitou, com 180 exemplares no mundo e o Jumento Brasileiro com aproximadamente 80 cabeças (Philippe, 1994; Mariante et al., 2000). Apesar de não terem um número preciso, Mariante et al. (2000) relataram que a raça jumento Brasileiro encontra-se em risco de extinção, com seu maior núcleo criatório situado no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios da Alta Mogiana em Colina/SP – APTA (PRDTAAM), antigo Posto de Eqüideocultura de Colina/SP. Os autores apontaram ainda que, o emprego da criopreservação dos espermatozóides, constitui-se em forte aliado para sua preservação e expansão. Outro fato importante é que, segundo trabalho de Dos Santos (1994), embora o produto proveniente do cruzamento entre jumento e égua, seja bastante desejável no meio rural, pois reúne as melhores características destas 16 espécies em um único animal (mula ou burro), torna-se difícil sua obtenção de forma natural, pois sua proximidade genética não impede a aversão mútua. McDonnel (1998) e Lodi et al. (1995) esclarecem que em decorrência do comportamento sexual e reprodutivo das éguas serem diferentes daquele visto em jumentas, o índice de fertilidade de cobertura a pasto é menor quando um jumento é usado para acasalar éguas, que o encontrado em jumentas. Tal inconveniente pode ser contornado com o uso da Inseminação Artificial (IA). Os poucos trabalhos encontrados, em asininos, realizaram somente testes laboratoriais, (Polge e Minotakis, 1964; Arruda et al., 1989; Dos Santos, 1994; Silva et al., 1997), ou fizeram uso do teste de fertilidade somente em éguas (Vieira et al., 1985; Arruda et al., 1986; Papa et al., 1999) ou realizaram em condições diferentes (animais e país) da nossa (Trimeche et al., 1998), necessitando, portanto, que alguns pontos sejam esclarecidos. Por estas razões o presente estudo teve como objetivos: 1) Testar formulações de crioprotetores no diluente MP-50; 2) Avaliar o índice de fertilidade em jumentas e éguas e 3) Avaliar a resposta inflamatória uterina de asininos frente à agressão espermática. 17 2- REVISÃO DA LITERATURA Conforme relata Mariante et al. (2002), por cinco séculos houve uma seleção natural das várias espécies animais trazidas pelos portugueses logo do descobrimento do Brasil, e que hoje se reflete em animais adaptados nos diversos tipos de meio ambiente do nosso país. Informam ainda que raças exóticas começaram a ser importadas no início do século passado e embora fossem mais produtivas, não possuíam resistência às doenças e aos parasitas do novo ambiente, como os animais “nativos”. Apesar desta adversidade, aos poucos estas novas raças extenderam seu domínio e tomaram o lugar dos animais já existentes, deixando alguns em risco de extinção. Como exemplar desta saga, os asininos da raça Brasileira que tiveram sua origem em jumentos importados da Itália quee possuíam alto grau de sangue de animais africanos, no Brasil foram acasalados com jumentos vindos de Portugal e suas colônias africanas. Como núcleo importante na criação destes animais, destacaram-se os do município de Barretos, Colina, Franca e Batatais. Sua formação teve por base animais de porte forte, ágeis e resistentes, tendo sido conhecidos inicialmente como jumento Paulista (Mariante et al., 2000). Os mesmos autores destacam que em 1939 foi criada a associação de criadores que, embora com curta existência, estabeleceu o padrão racial e passou a denominá-lo de jumento Brasileiro. Em decorrência da mecanização do campo, ao longo do tempo sua importância no campo diminuiu o que contribuiu para reduzir bastante seu número. Felizmente um núcleo de criação destes animais puros, com baixa consangüinidade está localizado na sede do PRDTAAM. 18 Alguns trabalhos executados com esta espécie revelaram características peculiares que os tornam interessantes, apontando-os como candidatos a modelos biológicos especificamente na área da reprodução animal (Henry et al., 1991; Trimeche et al., 1998; Vendramini et al., 1998; Oliveira et al, 2002). Comizzoli et al. (2000) destacaram algumas técnicas de reprodução assistida (criopreservação de gametas, inseminação artificial, transferência de embriões e fecundação “in vitro”) como ferramentas importantes que permitem a propagação das espécies em risco de extinção, tanto selvagens, como domesticadas. Os pesquisadores sugerem que estas técnicas são as melhores escolhas para o nascimento de vários produtos de ascendentes escolhidos, evitando-se a consangüinidade. Henson (1992) cita que o objetivo da conservação animal é manter a biodiversidade, sendo que a perda de uma única espécie pode afetar o funcionamento do ecossitema inteiro. O uso de sêmen congelado, como uma das biotecnologias mais antigas, tem se mostrado um forte aliado no aumento da produtividade animal e na preservação animal (banco de germoplasma). Desde que Polge et al. (1949) demonstraram a possibilidade de manter o movimento espermático de garanhões após sua descongelação, houve um interesse ao longo dos anos, renovado mais recentemente pelo acréscimo no número de associações que permitem seu uso. Amann et al. (1987) informaram que as restrições a sua utilização decorrem da falta de homogenidade entre as resposta dos garanhões (indivíduos), bem como entre os ejaculados deles próprios, sendo um dos fatores mais importantes na determinação da taxa de prenhez de éguas. Os espermatozóides eqüinos são menos tolerantes ao 19 processo de congelação/descongelação que os bovinos e sofrem mais lesões neste ciclo a ponto de reduzir sua viabilidade no trato reprodutivo da fêmea (Samper et al., 1998; Squires et al., 1999). Embora a maior parte da literatura enfoque a criopreservação das células espermáticas somente durante este processo, os espermatozóides são passíveis de lesões físicas e/ou estruturais antes, durante e após a criopreservação (Graham, 1998). Apesar dos espermatozóides não disporem de vários componentes celulares como o retículo endoplasmático, lisossomas, e boa parte de seu citoplasma, o restante é ainda muito complexo, possuindo múltiplos compartimentos celulares, membranas e estruturas subcelulares. Um outro detalhe de particular interesse para os criobiologistas, é o fato que o DNA destas células está condensado a ponto de impedir que seus genes se expressem, impossibilitando-as de realizar um auto-reparo a qualquer dano sofrido (Graham, 1998). 2.1 - Bases da criopreservação espermática De acordo com Arruda (2000), para os espermatozóides sobreviverem à criopreservação é necessário que estas células estejam em um meio que lhes confira nutrientes e proteção físico-químicas, associado a uma curva ótima de congelação. Para serem ainda férteis, os espermatozóides deverão ultrapassar todas as dificuldades impostas, preservando as seguintes características: morfologia aceitável, metabolismo para produção de energia, motilidade progressiva, membranas plasmáticas e acrossomal estabilizadas e a presença de enzimas para fertilização, segundo Squires et al., (1999). A célula espermática é 20 revestida mais externamente pela membrana plasmática (MP) que é composta de uma camada bimolecular de lipídios (fosfolipídeos, glicolipídios e colesterol), e proteínas. É metabolicamente ativa e devido a sua composição é impermeável a maioria das moléculas. Tem um importante papel de isolar a célula do meio exterior e regula reações com o meio que a cerca, controlando o fluxo de água e eletrólitos (Cooper, 1996). Por ser a estrutura mais lesada nos processos de congelação celular, a membrana plasmática recebeu vários estudos que permitiram seu melhor conhecimento. As proteínas entremeadas na bicamada lipídica mediam a maioria das funções da membrana (transporte específico de moléculas). O posicionamento delas servem como pontos de conexão da membrana ao citoesqueleto e/ou à matrix extracelular ou célula adjacente, enquanto outras proteínas servem de receptores para detectar e traduzir sinais químicos do ambiente celular (Alberts et al., 1994). Atualmente, o estado físico da biomembrana tem tomado a atenção dos pesquisadores. O modelo de mosaico-fluído apresenta um dinamismo de suas estruturas, nos quais os componentes são móveis, permitindo uma série de interações transitórias ou semipermanentes, tornando as membranas celulares estruturas dinâmicas fluidas e possibilitando uma movimentação de moléculas no plano da membrana (Karp, 1996). Parks, (1997) observou que os espermatozóides dos mamíferos são muito sensíveis ao resfriamento da temperatura corporal ao ponto de congelamento da água. Os efeitos do choque frio afetam a permeabilidade da membrana. Sua etiologia envolve danos na estrutura celular e função metabólica, provavelmente causada por alterações dos constituintes da 21 membrana. O mesmo autor descreve que o decréscimo da temperatura causa uma fase de transição termotrópica nas membranas dos espermatozóides, que passam da fase líquida cristalina para a fase de gel, resultando em uma estrutura mais rígida devido ao rearranjo dos componentes da biomembrana e a separação dos lipídios dentro do mesmo plano. Esta migração pode criar microdomínios, modificando as proteínas circundantes, levando a uma alteração da permeabilidade da membrana à água e solutos, além disso foi verificado que o grau da extensão desta injúria, dependerá da relação colesterol/fosfolipídio e proteína/fosfolipídio e também do grau de saturação da cadeia de hidrocarbonos. Devido a diferenças na composição dos contituintes da membrana, o efeito do resfriamento entre as espécies não é o mesmo. As células espermáticas do cavalo e carneiro são muito sensíveis, enquanto que as do homem e coelho são mais resistentes (Parks, 1997; Darin-Bennett et al., 1977). O efeito do choque pode ser prevenido ou atenuado através do controle da taxa de resfriamento, ou adicionando compostos ao diluente seminal, tais como gema de ovo ou leite (Parks, 1997). A queda da temperatura até 4ºC reduz a atividade metabólica celular e permite prolongar sua vida. Contudo, devido ao espermatozóide possuir uma limitada atividade biosintética e depender principalmente dos processos catabólicos, sua atividade metabólica restante o direciona à morte. Para cessar o processo metabólico há a necessidade de abaixar a temperatura a –130ºC, onde as reações químicas não se processam (Mazur, 1990). A integridade estrutural da membrana plasmática é determinada pela temperatura e pela solução na qual ela está contida; na temperatura corporal a 22 membrana está fluída. Essa característica é decorrente da ampla mobilidade lateral dos fosfolipídeos, porém não possuem a mesma facilidade de se movimentar entre as faces externa e interna (Amman e Graham, 1993; Cooper, 1996; Graham, 1998). Para a realização da criopreservação é imposto aos espermatozóides, entre 19 ºC e 5ºC, o primeiro estresse térmico. Nesta faixa de temperatura a MP passa por uma fase de transição, do estado líquido cristalino para o de gel, podendo ocorrer perda de movimentos progressivos, alterações nas membranas plasmática e acrossomal, sendo o primeiro desafio para estas células (Watson, 1981). Quando a temperatura do meio atinge entre –5ºC e –10ºC, cristais de gelo se formam, a partir da água pura no meio extracelular, porém protegido pela membrana plasmática o meio intra-celular não se congela, (super refrigerado). Segundo Mazur (1984), o ponto de congelação de uma solução é determinado pela concentração de solutos que ela participa. Em decorrência, a água do interior da célula flui por osmose para o meio externo e também se congela. Os outros elementos do meio extracelular (sais, proteínas e gorduras), permanecem na porção não congelada (Amman e Graham, 1993; Holt, 2000). Com a temperatura diminuindo, mais moléculas de água se cristalizam, resultando em uma concentração maior de solutos na fração não congelada, que formarão os “canais não congelados” (Squires et al. 1999). Mazur (1984) verificou que ao congelar os espermatozóides em nitrogênio líquido (-196o C), os espermatozóides residem em canais de solução não congelados. Sendo que Amann et al. (1987) afirmam que somente as células localizadas neste local sobreviverão ao processo da criopreservação. 23 De acordo com Mazur (1984) a adição de substâncias crioprotetoras é necessária para aumentar o volume dos “canais não congelados” pois danos celulares ocorrem quando esta fração, não congelada, situa-se abaixo de 812% do volume total. A taxa de congelação também pode causar lesões nas células. Segundo Mazur (1990), caso a célula sofra uma queda de temperatura muito rápida, que não permita a sua desidratação, ocorrerá a congelação intracelular (macrocristais), lesando seu interior. Se essa congelação for muito lenta, estas células poderão se desidratar excessivamente em decorrência do meio exterior muito concentrado, não formando grandes cristais intracelular, mas desencadeando um desarranjo morfofuncional pela desidratação intracelular exagerada. Da mesma forma a descongelação poderá causar sérios inconvenientes que deixarão esta célula com sua sobrevivência e/ou funcionamento comprometidos. Squires et al. (1999), indica que a taxa de descongelação deve ser o mesmo que a da congelação (lenta/lenta ou rápida/rápida). 2.2 - Principais crioprotetores utilizados para eqüídeos A procura por substâncias com propriedades crioprotetoras tem sido motivo de pesquisa de vários criobilogistas. Essa busca tem sido impulsionada pelo fato de somente uma parte dos garanhões apresentarem sêmen com uma boa resposta à congelação, com os meios utilizados, conforme atestam Arruda et al. (1989a) e Alvarenga et al. (2000). Ao longo de vários anos uma gama de 24 substâncias tem sido utilizadas para fornecer proteção adequada às células espermáticas durante a criopreservação. Ashwood-Smith (1987) e Keith, (1998) afirmaram que um bom crioprotetor deve possuir baixo peso molecular, com alta solubilidade em água e baixa toxicidade celular. Observando a literatura é possível encontrar uma divisão básica que agrega os crioprotetores em penetrantes e não penetrantes. Ashwood-Smith (1987) elencou uma série de compostos penetrantes, da família dos álcoois (etanol, etileno glicol, glicerol, metanol, entre outros), das amidas (acetamida, formamida, lactamida entre outras) e o dimetil sulfóxido (DMSO) com características crioprotetoras. O mecanismo de ação dos crioprotetores não está bem compreendido. Watson (1981) sugere que estas substâncias atuem através de propriedade coligativa com a água. Uma propriedade coligativa é a depressão do ponto de congelação de uma solução. Estes compostos modificam a característica da molécula da água, reduzindo a formação de cristais de gelo atuando como solvente e diminuindo a concentração de solutos no meio externo. Exemplificando, uma solução que contenha glicerol, disporá de mais água não congelada do que outra sem o glicerol, aumentando o volume dos canais de solventes não congelados, reduzindo a concentração de sais das porções não congeladas (Dalimata et al. 1997; Mazur 1980). Além disto, estas substâncias atuam na membrana celular estabilizando o complexo: água, lipídeo e proteína (Rowe 1966). 25 2.2.1 – Crioprotetores penetrantes a) GLICEROL Embora o glicerol seja um importante elemento e o mais utilizado protetor na congelação do sêmen eqüídeo (Martim et al., 1979; Papa et al., 1999) possue, ao lado da sua função atenuadora de criolesões celulares, conhecidos efeitos tóxicos em espermatozóides. Pesquisas têm apontado prejuízos à fertilidade quando é usado sêmen criopreservado eqüino com glicerol. Elas reportaram lesões tais como: desnaturação proteica, alteração na interação e indução da proteína-livre da membrana; mudanças de eventos citoplasmáticos por causa do aumento de viscosidade intracelular, alteração direta da membrana plasmática (Demick et al.; 1976; Hamerstedt e Graham; 1992). Landim e Alvarenga et al. (1993) também detectaram toxidez para embriões tratados para congelamento, que lesaram organelas intracelulares como mitocôndria. Pace & Sullivan (1975) também observaram que as taxas de prenhez por égua foram mais altas para as inseminadas com sêmen diluído sem glicerol (50%) do que sêmen diluído contendo 7% de glicerol (35%). Um decréscimo acentuado da fertilidade de sêmen de garanhões refrigerados em meio diluente contendo glicerol por um período de duas horas, foi evidenciado por Demick et al. (1976). No entanto outros autores obtiveram boas taxas de gestações como Martin et al. (1979) 63%; Loomis et al (1983) 51,3%; Papa et al. (1999) 66% e Dell’Aqua (2000) 50%, através de sêmen criopreservado com glicerol. 26 A estrutura do glicerol possue 3 carbonos e grupos hidroxilas que lhe capacita a se ligar com o hidrogênio das moléculas de água, além de possibilitar a estabilização da membrana celular (Nash, 1966). Kundu et al. 2000) porém, destacaram que os radicais hidroxilas efetuam ligações entre si reduzindo a oportunidade das ligações com as moléculas da água, diminuindo sua efetividade. b) DIMETILSULFÓXIDO O dimetilsulfóxido (DMSO) pode realizar ligações de hidrogênio com grupos OH através do seu radical sulfóxido, levando o ponto de congelação da solução mais abaixo (Murthy, 1998). Esta substância possue a característica de se ligar com os grupos fosfatos da biomembrana, conferindo uma proteção a baixas temperaturas (Kundu et al., 2000). Chenier et al. (1998) realizaram a comparação entre alguns crioprotetores: (glicerol, etilenoglicol, dietilenoglicol, propilenoglicol e DMSO), concluíram que que as amostras com etilenoglicol apresentaram motilidade progressiva menor que aquelas com glicerol ou DMSO. Os autores fizeram uso de sêmen criopreservado com DMSO e alcançaram 78% de fertilidade. Landim-Alvarenga et al. (2001), relataram que o DMSO na concentração de 1,0M foi menos efetivo (p<0,05) em relação ao glicerol (0,55M) nos parâmetros de motilidade total e progressiva computadorizada (25,8% e 12,6%, 42,1% e 23,1%, respectivamente) e resultados similares foram observados em relação à viabilidade celular (citometria de fluxo) e integridade acrossomal (microscopia eletrônica de transmissão). 27 c) ETILENOGLICOL É classificado como álcool, possui quatro pares de elétrons isolados pelos quais pode efetuar ligações com hidrogênio ou doar dois hidrogênios, sendo possível fazer ligações com a membrana celular (Keith, 1998; Kundu, 2000) Trabalhando com sêmen eqüino, Alvarenga et al. (2000a) avaliaram o uso do glicerol (5%), etilenoglicol a 5% e 10% e etilenoglicol (2%) associado ao glicerol (3%), verificaram que a motilidade foi, respectivamente 34%, 36,5%, 29,25% e 34,7%, com significância favorável para o etilenoglicol 5% (P<0,05). Resultados laboratoriais semelhantes obtidos para sêmen eqüino congelado com etilenoglicol isolado ou associado ao glicerol em concentrações diversas, foram demonstrados por Cottorello et al (2001). Neves Neto et al. (1995) verificaram melhores resultados para fertilidade quando usaram sêmen eqüino criopreservado com etilenoglicol em relação ao glicerol. d) AMIDAS O uso de amidas é pequeno em eqüinos, mas seus resultados mostramse promissores (Alvarenga et al. 2000b; Medeiros et al. 2000; Gomes et al. 2002). As amidas possuem dois grupos funcionais: as aminas (com nitrogênio) e o outro grupo (ácido carboxílico – com oxigênio). Possuem três pontos para se ligarem ao hidrogênio da água, metade do que apresenta o glicerol. No entanto por serem mais solúveis em água e possuírem menor viscosidade que o glicerol atravessam a membrana com maior velocidade que o glicerol, 28 acarretando menos lesões à biomembrana (Nash, 1966; Ball & Vo, 2001a,b). A adição do grupo metil à molécula de acetamida e formamida, tornaram estas substâncias melhores crioprotetoras. Medeiros (2000) usou sêmen congelado em dimetilformamida de eqüinos e alcançou 40% de gestação, enquanto que as amostras processadas em glicerol 5% não geraram prenhezes. Gomes et al. (2002) ao usarem dimetilformamida, metilformamida, dimetilacetamida e glicerol verificaram que a motilidade total e progressiva foram mais expresivas para as células espermáticas conservadas pela dimetilformamida. Vidament et al. (2002) encontraram 46%, 58% e 50% de fertilidade quando fizeram uso de sêmen criopreservado com glicerol (2% e 3%) ou com dimetilformamida (2%) em éguas. Sêmen eqüino congelado em acetamida (5%) por Snoeck et al. (2002) gerou 23,3% (7/30) de prenhez, sinalizando aos autores que mais estudos necessitam serem realizados para aclarar os baixos níveis de fertilidade. Os valores verificados por Graham (2000) para motilidade quando usou a concentração de 0,55M para os crioprotetores glicerol, acetamida, metilacetamida, formamida, metilformamida e dimetilformamida, foram maiores para as células espermáticas congeladas em glicerol (P<0,05). Em uma segunda fase experimental ele alterou as concentrações para 0,6M e 0,9M das seguintes substâncias: glicerol, metilformamida, dimetilformamida e etilenoglicol que proporcionou valores melhores quando a concentração foi maior, sendo que somente houve diferença significativa para as amostras protegidas pelo etilenoglicol a 0,6M que obtve a menor motilidade. 29 Segundo Dalimata et al. (1997) o uso combinado de crioprotetores propicia uma melhor crioproteção aos espermatozóides do que emprego de um deles isolado, aparentando possuírem efeitos distintos e somatórios, favorecendo uma maior proteção celular. Por outro lado deve ser destacado que a presença do crioprotetor nos diluentes está limitada ao equilíbrio entre sua proteção e toxidez (Squires et al. 1999). 2.2.2 - NÃO PENETRANTES Incluem-se nesta categoria os açúcares (lactose, frutose, rafinose ou threalose), polímeros sintéticos (metil celulose). Esta categoria protege as células basicamente através de efeitos osmóticos. As células em suspensão em um meio hipertônico perdem seu conteúdo de água. Desta forma diminuem a possibilidade de formação de cristais dentro da célula. Estes componentes agem como solutos ou colóides, não servindo como solventes (Graham, 1998). Neste grupo é citado algumas substâncias como aditivos dos extensores, para se evitar danos celulares na fase de resfriamento, prevenção do choque-térmico. Os diluidores utilizados para criopreservação do sêmen eqüino possuem lipídios ou moléculas lipofílicas, presentes na gema de ovo (GO) e/ou leite desnatado. Sua função se deve à ação de moléculas de baixa densidade, em particular os fosfolipídeos, que atuam estabilizando a MP da célula do espermatozóides, embora não se tenha detectado interação entre estes fosfolipídeos e membranas do espermatozóides. Outro elemento incorporado é o etilenodiaminotetracético (EDTA), que pode se ligar ao cálcio e magnésio, reduzindo a sua entrada na célula, visto que o seu excesso provoca lesões celulares, durante o resfriamento (Arruda, 2000). O OEP (orvus-Es 30 paste), um agente emulsificante de gordura que disponibiliza mais fosfolipídeos, reforçando a proteção à MP (Martin et al., 1979). 2.3 - Principais diluentes e crioprotetores utilizados para jumentos É conhecido que, para a congelação dos espermatozóides, é preciso utilizar diluidores adequados, pois a sobrevivência destas células somente com o plasma seminal torna-se impróprio. Segundo Snoek (2003), estes extensores possuem em sua constituição básica: a) solventes - diluindo outros componentes do meio; b) tampões e substâncias não iônicas – que atuam na manutenção da osmolaridade e pH do meio; c) macromoléculas da gema do ovo e/ou leite – protegem do choque térmico; d) carboidratos – fonte de energia das células; e) antibióticos – cerceando o crescimento bacteriano; f) detergentes – favorece melhor interação entre os lipídios do meio e a membrana plasmática, aperfeiçoando sua estabilidade; g) quelantes – ligam-se ao cálcio e ao magnésio limitando seus movimentos pela membrana e h) crioprotetores penetrantes ou intracelulares. Os meios diluentes para congelação, utilizados com sucesso em jumento, são o Merck-gema (Vieira et al., 1985), Arruda et al. (1986 e 1989), Silva et al. (1997), T2-94 (Trimeche et al. 1996, 1997, 1998) e o M9H (Papa et al., 1999). Vieira et al. (1985) utilizaram o extensor Merck-gema para congelarem em palhetas de 0,5 mL sêmen de Jumentos na concentração de 250 x106 espermatozóides/palheta. A avaliação da motilidade progressiva alcançou 40%. Foram usados 20 ciclos estrais e alcançaram 6 prenhezes (33%) em éguas. 31 Arruda et al (1986) fizeram uso do mesmo extensor para congelar sêmen de jumentos (250 x106 espermatozóides/palheta), em palhetas e após 16 ciclos estrais de éguas alcançaram 44% de gestações. Este grupo em 1989 fez uso do mesmo diluente e após avaliação laboratorial encontraram 44% de motilidade progressiva para sêmen de jumento após descongelação. Silva et al. (1997) congelaram sêmen de jumentos, na concentração de 100 x106 espermatozóides/mL, em dois criotubos também utilizando Merckgema. Trimeche et al. (1996), testaram concentrações de glutamina (GLU) em meio INRA 82, e através da análise computadorizada do sêmen, determinaram que a melhor concentração de GLU foi 80 mM. Salientaram que a associação da GLU e glicerol foi necessário para um melhor resultado, indicando que possuem mecanismos de criopreservação diferentes. Ao compararem as gemas dos ovos de galinha (GOG) e codorna (GOC), Trimeche et al. (1997) encontraram que a composição geral era igual, embora a GOC possuía significativamente mais phosphatidylcholina, menos phosphatidylethanolamine e uma menor taxa de ácidos polinsaturados : saturados que a GOG. Utilizaram a GOC ou de GOG, no meio INRA 82, processaram o sêmen de jumento Poitou para congelação, acompanhada da análise computadorizada do sêmen. Os resultados foram superiores para o sêmen proveniente do meio com GOC. Os autores creditam este fato às características da GOC. Papa et al. (1999) fizeram uso de sêmen de jumento congelado em M9H, composto a base de Merk-gema (Martin et al., 1979), adicionado de meio 32 a base de leite desnatado e glicose (Kenney et al., 1975) acrescido de Basal Medium Eagle (BME). Deve-se ressaltar que o comportamento do sêmen eqüino durante a congelação varia de animal para animal, não possuindo uniformidade de resultados, como confirmam os testes laboratoriais efetuados por Arruda et al. (2003), que ao criopreservarem sêmen eqüino em Merck-gema com glicerol (5%) ou etilenoglicol (5%), ou em INRA82 com as mesmas concentrações de crioprotetores ou em leite desnatado com os mesmos crioprotetores e concentrações. Verificaram que embora houvessem diferenças entre os crioprotetores e diluentes, também detectaram influência de garanhões, diluidores e interação entre estes dois elementos. Os autores finalizam sugerindo que seja empregado diversos diluidores e crioprotetores para cada animal, associado a bateria de testes, antes de adotar um programa de congelação. 2.4 - DESGLICEROLIZAÇÃO O fato do meio uterino possuir valores isosmóticos ao do plasma seminal “in natura”, pressupõe que o uso do sêmen criopreservado anisosmótico, ao ser depositado na fêmea, sua membrana plasmática sofreria danos causados pelo choque osmótico decorrente do abrupto influxo de água no interior da célula espermática para equilibrar os ambientes celulares externo e interno. Alguns pesquisadores têm chamado a atenção para a remoção do glicerol após a descongelação. Ball (2001), estudou a retirada do GLI de 33 espermatozóides dos eqüinos, em uma ou em várias etapas. O autor analisou a motilidade e a integridade das membranas e encontrou que quando o espermatozóides era abruptamente retornado em meio isotônico (1 passo), houve redução (P<0,01) da percentagem de vivos e acrossoma íntegro, quando comparado às células com várias passagens (7). Salienta o autor que a rápida retirada do GLI em meio isosmótico parece ser o aspecto mais nocivo do estresse osmótico. Vidament et al. (2001), fizeram a retirada do GLI através de 1 ou vários passos (diluições fixas) e não encontrou diferença significativa, 38% X 36% respectivamente, entre os métodos estudados, para a característica motilidade em sêmen congelado de garanhões. Vieira et al. (1985) inseminaram 9 éguas, com 4 palhetas de sêmen de jumento diluídas em 10 mL (1:5) de extensor anisosmótico, para alcançarem a concentração final de 400 a 500 x106 células viáveis que proporcionaram 66,7% de éguas gestantes. Dez éguas foram trabalhadas por Arruda et al. (1986) que as inseminaram com 400 a 500 x106 espermatozóides viáveis, de jumento, previamente desglicerolizados em 10 mL de meio sem crioprotetor (1:5) e alcançaram 70% de animais prenhes. Há também o relato de Trimeche et al. (1998) que dividiram as jumentas em dois grupos. O protocolo utilizado pelos autores destaca que para cada animal, vinte palhetas foram descongeladas e usadas: em um grupo o sêmen, pré inseminação, foi diluído em 10 mL de extensor desprovido de glicerol (1:1); no grupo restante inseminaram com a mesma concentração espermática sem a 34 desglicerolização. Obtendo resultado positivo somente no grupo que recebeu sêmen desglicerolizado onde 62% (8/13) das jumentas ficaram gestantes. 2.5 - Avaliação do sêmen a) Laboratorial Como alternativa para a análise ótica do sêmen tem sido utilizada a avaliação computadorizada. Um exemplo destes aparelhos é o Hamilton Thorn (HTMA), que consiste de um microscópio com contraste de fase, um digitalizador de imagens e um computador que além das mensurações da motilidade total e progressiva dos espermatozóides avalia outras características como a linearidade, velocidades espermáticas, percentagem de espermatozóides rápidos deslocamento, lateral da cabeça dos espermatozóides entre outras (Jasko et al., 1992). A avaliação computadorizada do sêmen vem sendo usada por cientistas pois permite que várias características possam ser minuciosamente observadas de forma mais precisa que a análise ótica subjetiva (Moses et al. 1995). Embora limitado, a avaliação da motilidade é um parâmetro útil da viabilidade espermática, sendo que o emprego do analisador computadorizado torna-se uma opção mais segura para a determinação das características de motilidade e trajetórias individuais do sêmen eqüino (Varner, 1991). Ferreira (2000) quando fez uso da análise computadorizada do sêmen (HTMA) citou que alguns cuidados devem ser respeitados para evitar falhas, como concentração espermática adequada para que não haja intersecções das trajetórias espermáticas; sendo útil se proceder uma diluição com extensores, 35 cujas partículas necessitam ser menores que as células espermáticas, para que não as confundam com espermatozóides parados. Afirmou após a análise de sêmen eqüino congelado em vários diluentes, que a técnica permitiu um criterioso e fiel estudo das amostras testadas. b) Avaliação da Integridade da membrana plasmática: O diacetato de carboxifluoresceína (CFDA) e o iodeto de propídio (IP) são empregados para avaliarem a integridade da membrana plasmática. O princípio desta técnica está na hidrólise do CFDA dentro da célula por esterases inespecíficas, transformando-o em carboxifluoresceína livre que fica retida no interior da célula pela biomembrana íntegra, deixando a célula com a coloração verde. O IP possui afinidade pelo DNA. Esta substância não consegue ultrapassar a membrana íntegra que lhe é impermeável. Sua penetração torna-se possível somente quando a membrana está lesada, assim esta sonda se ligará ao DNA celular e o tingirá de vermelho. Assim a célula corada integralmente de verde possuirá a MP íntegra (Harrison & Vickers, 1990; Zúccari, 1998). b) Reação inflamatória uterina A endometrite é considerada uma das principais causas de infertilidade em éguas podendo influir negativamente nos índices de fertilidade, trazendo sérios impactos na “indústria eqüina”. Como relatam Fumuso et al. (2003) as causas são variadas: a) endometrite aguda após cobertura ou associada a doenças venéreas; b) endometrite infecciosa crônica; c) endometrite 36 persistente pós-cobertura e d) endometrite degenerativa crônica (endometriose). O quadro agudo desenvolvido pós-cobertura está caracterizada por um afluxo de células de defesa, principalmente os neutrófilos para o lumen uterino. Trata-se de um mecanismo fisiológico que desempenha o papel de “limpeza”, retirando o excesso de células (espermáticas e bactérias), além de plasma seminal oriundos do coito ou inseminação realizada. (Katila, 2001; Le Blanc et al. 1998). Conforme Reilas (2001) antes da implantação e placentação, o embrião é dependente da nutrição histotrófica (secreções do lumen uterino) e um meio uterino impróprio é importante causa de mortalidade embrionária, que possui uma alta incidência em eqüinos. Uma forma rápida e fácil de detectar a presença e grau da inflamação uterina é através da citologia uterina pela presença de polimorfos nucleares (PMN) no esfregaço (Wingfield Digby, 1978; Reilas, 2001). Dell’Aqua Jr. et al. (2003) inseminaram 30 éguas e nas amostras de citologia uterina colhidas duas horas após, não encontraram diferenças entre os animais que receberam ou não, plasma seminal. Os autores salientaram que o plasma semimal não evitou a reação inflamatória. Reilas (2001) encontrou alta resposta neutrofílica uterina, sendo que os valores maiores foram para as amostras de lavado uterino provenientes dos animais que receberam sêmen congelado e 10 mL de sêmen fresco (P>0,05), enquanto que os animais infundidos com Merck-gema sem células espermáticas diferiram (P<0,001) dos grupos anteriores. 37 O mecanismo desencadeador das contrações uterinas que auxiliam na drenagem uterina, encontra-se nos hormônios (oxitocina e prostaglandina) presentes no ejaculado dos garanhões (Watson et al. 1999). Dados de Kotilainen et al. (1994) com sêmen congelado, sugerem o uso cada vez menor das doses inseminantes. Estes autores apresentaram resultados que demonstraram o aumento da resposta uterina (PMN) ao se elevar a concentração celular em um mesmo volume empregado. Por outro lado os estudos de Nikolopoulos & Watson (2000) informaram que a percentagem de PMN foi maior quando éguas foram inseminadas com 2 X 109 espermatozóides quando comparadas ao grupo trabalhado com 20 x109 espermatozóides em um mesmo volume. Estes resultados aparentemente conflitantes podem ser explicados, baseado na eficiência do animal em debelar a inflamação. Baseado em Katila et al. (1995) a maior contagem de PMN ocorre cerca de 8 horas após a ofensa, sendo que 48 horas depois poucos neutrófilos são encontrados em fêmeas normais. Kotilainen et al. (1994) realizou a colheita das amostras após as 6 horas (cerca do pico de resposta), enquanto Nikolopoulos e Watson (2000) a fizeram 48 horas após a Inseminação artificial. É possível que a forte reação inflamatória do pico (animal competente), tenha eliminado as células e outros contaminantes tão eficazmente, que somente traços desta reação tenha permanecido 48 horas após. 38 3. MATERIAL E MÉTODOS O presente estudo foi desenvolvido em três etapas, sendo a primeira realizada no Departamento de Reprodução Animal e Radiologia VeterináriaFMVZ-UNESP-Botucatu-SP através das avaliações laboratoriais do sêmen processado para criopreservação com o diluidor MP50 (Papa et al. 2002), no qual foram usadas associação de dez (10) formulações de crioprotetores: 1= 2% dimetil sulfóxido (DMSO) e 2% dimetil formamida (DF); 2= 3% dimetil formamida (DF); 3= 2% metil formamida (MF) e 2% de Glicerol (GLI); 4= 2% dimetil acetamida (DA) e 2% de glicerol (GLI); 5= 3% metil formamida (MF); 6= 3% de dimetil acetamida (DA); 7= 3% glicerol (GLI) e 2% dimetil acetamida (DA); 8= (Specific Patogen Free) 3% glicerol (GLI) e 2% dimetil acetamida (DA); 9= 3% dimetil sulfóxido (DMSO) e 2% glicerol (GLI); 10= 1% etilieno glicol (EG) + 3% dimetil sulfóxido (DMSO) e 1% dimetil formamida (DF) em dois (2) tipos de envase, meio macro-tubo (2,5 mL) e palheta (0,5 mL). Na etapa seguinte, foram executados os testes de fertilidade a campo nas dependências do Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios da Alta Mogiana (PRDTAAM)–Colina/SP (Latitude 220S e Longitude 480W) e no Centro de Reprodução e Biotecnologia Eqüina (CERBEQ), situado na fazenda experimental Lajeado, Botucatu/SP. A terceira etapa foi realizada no PRDTAAM no qual monitorou-se a resposta inflamatória das jumentas após a inseminação artificial por meio da citologia uterina. Antes da execução dessas etapas foi realizado um ensaio piloto, visando a avaliação laboratorial dos diluentes e crioprotetores com 4 jumentos, o qual revelou similaridade dos resultados analisados, evidenciando que não havia 39 influência do elemento animal nos parâmetros analisados. Com base nesses dados e no delineamento do trabalho em relação ao teste de fertilidade a campo, optou-se por utilizar o único jumento com histórico positivo neste teste, para realização das demais etapas. 3.1. Primeiro Experimento – Testes laboratoriais e processamento das amostras para a criopreservação 3.1.1) Animais Com objetivo de avaliar o sêmen fresco e testar diferentes crioprotetores, e suas combinações, além de formas de envase, foi utilizado um jumento da raça Pega, saudável e de fertilidade comprovada, com idade de 8 anos, alojado nas dependências do CERBEQ. Antes da fase experimental, foram realizadas 10 colheitas seriadas em 10 dias consecutivos, para a estabilização da reserva extra-gonadal. 3.1.2) Colheita do sêmen O sêmen foi obtido por vagina artificial modelo Botucatu, com auxílio de fêmeas asininas em cio, adequadamente contidas. Foram processados 13 ejaculados, que após filtração e determinação do volume em proveta milimétrica, foram analisados suas características microscópicas. Ao sêmen foi adicionado o diluente, para centrifugação, descrito por Papa et al. (1998), na proporção 1:1. Os resultados oriundos das avaliações do sêmen fresco serviram para descartar qualquer ejaculado fora dos padrões recomendados. 40 3.1.3) Estimativa da osmolaridade e pH – sêmen “in natura” Para a avaliação da osmolaridade, utilizou-se uma alíquota de 250 µL de sêmen, a qual foi mensurada em um osmômetro da marca Osmomette A®-Precison Systems, InC. A leitura do pH foi realizada com auxilio de um pHmetro B 374 da marca Micronal® em 2 mL de sêmen. 3.1.4) Avaliação computadorizada dos parâmetros de motilidade do sêmen fresco - sêmen “in natura” Para a avaliação do sêmen, utilizou-se a técnica da análise computadorizada com o equipamento Hamilton Thorn (HTMA), munido de uma câmara Makler mantida a 37 0C, calibrado de acordo com as especificações de Ferreira et al. (2000) - Anexo 2. Foram avaliados os seguintes parâmetros: motilidade total (MT) e motilidade progressiva (MP) expressos em percentagem, velocidade espermática ao longo de uma trajetória média (VAP – expresso em µm/segundo), velocidade espermática considerando uma trajetória retilínea com origem entre o primeiro e último ponto analisado (VSL – expresso em µm/segundo), velocidade espermática real (VCL – expresso em µm/segundo), linearidade (LIN - expresso em percentagem). 3.1.5) Morfologia espermática - sêmen “in natura” A análise da patologia espermática foi realizada através de esfregaços de sêmen corados pelo método de Karras modificado (Papa et al, 1988). Foram contados 200 (duzentas) células espermáticas e classificadas 41 segundo critério de Mies Filho (1987). Estes resultados serviram para descartar qualquer ejaculado fora dos padrões recomendados. 3.1.6) Avaliação da concentração e da integridade da membrana plasmática espermática (choque osmótico) - sêmen “in natura” A concentração foi realizada através da contagem em câmara de Neubauer, após diluição de 1:20 (1 gota de sêmen + 19 gotas de água destilada aquecida a 37ºC). Após a sedimentação das células, procedeu-se a leitura em microscópio de contraste de fase (Jenamed 2, Carl Zeiss). Em seguida realizou-se a avaliação da integridade da membrana plasmática pelo choque osmótico, sendo aproveitado a amostra existente na câmara. Para tanto, 200 células foram contadas e interpretadas de acordo com Dell’Aqua et al. (2000). 3.1.7) Avaliação da integridade da membrana plasmática espermática através de sondas fluorescentes - sêmen fresco Sua execução seguiu o estabelecido por Harrison & Vickers (1990) e modificado por Zuccari (1998). Em um ependorf, previamente identificado, 10 µl do sêmen foi diluído em 40 µl da solução de trabalho (Anexo 4), produzida a partir da solução de estoque (Anexo 3). Este frasco era mantido em caixa de isopor com tampa até o momento da leitura. Em uma sala escura, seu conteúdo sofreu homogeneização, e a seguir uma alíquota foi depositada entre a lâmina e lamínula para ser examinada em microscopia de epifluorescência (BX 60, Olympus America INC., aumento de 400X), através da excitação em filtro BW. De acordo com a coloração apresentada, as 200 células contadas 42 foram classificadas em íntegras (verdes) ou lesadas (vermelhas e/ou verde e vermelhas), com seu resultado expresso em percentagem. 3.1.8) Processamento das amostras para a criopreservação Paralelamente a essas análises o sêmen, previamente diluído, foi fracionado em tubos de ensaio cônicos identificados de 1 a 20 e expostos à centrifugação de 600g por 10 minutos (centrifuga FANEN®, modelo Baby). Desprezado o sobrenadante, o “pellet” foi ressuspendido com diluidor MP50 (Anexo 5), observando a concentração final de 200x106 sptz/mL e envasados em palhetas de 0,5 mL ou macrotubos de 2,5 mL, com as seguintes formulações de crioprotetores: Meios Diluentes Crioprotetores 2% dimetil sulfóxido (DMSO1) + 2% dimetil formamida (DF1) 1 MP50 2 MP50 (3 %) DF1 3 MP50 2% metil formamida (MF1)+2% glicerol (GLI1) 4 MP50 2% dimetil acetamida (DA1)+2% GLI1 5 MP50 3% MF1 6 MP50 3% DA1 7 MP50 3% GLI1+2% DF1 8 MP50 MP 50 (gema de ovo livre de patógenos)+ 3% GLI1 + 2% DF1 9 MP50 3% DMSO1 + 2%GLI1 10 MP50 1% Etileno Glicol (EG1)+3% DMSO1 + 1% DF1 Após o envase as doses foram estabilizadas em geladeira2, por 60 minutos a 50C, em seguida mantidas por 20 minutos a 6cm acima do nível do 1 Reagentes Sigma 43 nitrogênio (Papa et al. 2002) e finalmente imersas no nitrogênio líquido, em caixa de isopor 40 litros. 3.1.9) Avaliação computadorizada dos parâmetros da motilidade - sêmen criopreservado. A descongelação das amostras foi realizada em banho-maria a 46oC por 20 segundos para palhetas de 0,5mL e 50 segundos para os meio macrotubos (2,5 mL) (Dell’Aqua 2000). Os critérios de avaliação foram os mesmos usados no item 3.1.4. 3.1.10) Avaliação da integridade da membrana plasmática espermática através de sondas fluorescentes - sêmen criopreservado. Sua descrição segue a mesma utilizada no item 3.1.7. 3.2. Segundo Experimento – Inseminação artificial com o uso de sêmen criopreservado. 3.2.1) Animais Foram utilizadas para o teste de fertilidade 51 fêmeas asininas e 10 éguas da raça Brasileira de Hipismo, sendo 30 da raça Brasileira oriundas do PRDTAAM/Colina-SP, 6 da raça Pega da Fazenda de Produção e Pesquisa da FMVZ-UNESP-Botucatu-SP e 15 originados de plantel de bom nível zootécnico, pertencentes à Fazenda localizada no município de Echaporã-SP. As 2 fêmeas da raça Pega foram mantidas nas dependências do Geladeira portátil para adaptação de sêmen com temperatura regulável e termômetro digital - Minitüb® 44 CERBEQ/Botucatu-SP, para facilitar a execução do acompanhamento do desenvolvimento folicular e inseminações. As éguas pertenciam ao PRDTAAM e possuíam histórico de boa habilidade reprodutora. Esse plantel possuía bom estado corporal e ao longo dessa etapa receberam suplementação volumosa e concentrada adequadas, quando necessária, bem como água e mineralização “ad libitum”. Antes de iniciar as inseminações as mesmas foram desverminadas. 3.2.1.1) Comparação entre diferentes crioprotetores e associações destes através da inseminação artificial em jumentas, pré e pós-ovulação. Com base nos resultados laboratoriais, onde não foram observadas diferenças estatísticas entre as duas formas de envasamento utilizadas na congelação de sêmen, procedeu-se o teste de fertilidade em jumentas com 6 formulações de crioprotetores: 1= 2% dimetil sulfóxido+2% dimetil formamida; 2= 3 % dimetil formamida; 4= 2% dimetil acetamida+2% glicerol; 6= 3% dimetil acetamida;7= 3% glicerol+2% dimetil formamida e 9= 3% dimetil sulfóxido + 2% glicerol, na apresentação palheta de 0,5 mL. As jumentas foram rufiadas diariamente e a partir da detecção do cio foram examinadas através da palpação transretal e de ultra-som (Scanner 480 - Pie Medical; transdutor linear de 5 Mhz). Quando da identificação de um folículo com 35 mm de diâmetro, as fêmeas receberam 2500 UI de hCG® endovenosa, sendo inseminadas 36 horas após a aplicação do hCG® e dentro de 6 horas após a ovulação. Para proceder à inseminação artificial foram ® ® Vetecor Vetecor 45 descongeladas 8 palhetas de 0,5 mL de sêmen do tratamento escolhido, mergulhando-as em água aquecida a 460C por 20 segundos (Dell’Aqua, 2000). As palhetas eram então secas e tinham suas extremidades cortadas e vertia-se, cuidadosamente, seus conteúdos em uma seringa de vidro esterilizada e previamente aquecida. A inseminação era realizada através de pipeta (Plástico – Barretos / PB plástico) via vaginal com auxilio da mão enluvada, para a ultrapassagem do cérvice. A deposição do sêmen era realizada ± 2 cm dentro do corpo uterino, com a aplicação de uma coluna de ar suficiente para assegurar o uso total da dose inseminante (4 mL). Após 15 dias os animais eram examinados para investigação de gestação. O quadro abaixo ilustra o número de animais inseminados pelas respectivas formulações de crioprotetores. Formulação utilizada (*) Número de animais inseminados 1 8 2 9 4 8 6 10 7 9 9 9 (*)1= 2% dimetil sulfóxido+2% dimetil formamida; 2= 3 % dimetil formamida; 4= 2% dimetil acetamida+2% glicerol; 6= 3% dimetil acetamida;7= 3% glicerol+2% dimetil formamida e 9= 3% dimetil sulfóxido + 2% glicerol Face aos resultados de fertilidade obtidos nesta fase inicial foram desenvolvidos os seguintes ensaios: 46 3.2.1.2) Comparação entre diferentes doses inseminantes 800 ou 1600 x106 de espermatozóides totais, com a formulação 7 (3% glicerol + 2% dimetil formamida), pós-ovulação. Neste ensaio utilizou-se 18 jumentas da raça Brasileira onde os procedimentos de rufiação, exames ginecológicos e aplicação de hCG®, seguiram a mesma metodologia descrita no item anterior. Após a aplicação do indutor da ovulação, os animais passaram a ser monitorados a cada 6 horas, e detectada a ovulação eram inseminados com o conteúdo de 8 (800 x 106 espermatozóides) no corpo uterino ou 16 palhetas (1600 x 106 espermatozóides) no corno ipsilateral à ovulação. O diagnóstico de gestação ocorreu 15 dias após. 3.2.1.3) Inseminação artificial pós ovulação com dose total de 800x106 de espermatozóides com meio 7 (3% glicerol + 2% dimetil formamida), desglicerolizado, pós-ovulação. Neste ensaio foram manejadas dez fêmeas asininas para a Inseminação como descrito no item 3.2.1.1 da fase 1. O procedimento de descongelação seguiu a descrição na letra a do item 3.2. Após o depósito do conteúdo das palhetas (8) em um tubo a 37ºC, foi acrescido lentamente 4 mL do meio Kenney (1975), também pré-aquecido, alcançando volume total de 8 ml. O sêmen foi depositado no ápice do corno ipsilateral após a ovulação com auxilio de pipeta flexível (Minitüb), conforme descrição no item 3.2.1.3. ® Vetecor 47 3.2.1.5) Inseminação artificial de éguas pós ovulação com dose total de 800x106 de sptz com a formulação 7 (3% glicerol+2% dimetil formamida), no corpo uterino Nesta fase foram utilizadas 10 éguas da raça Brasileira de Hipismo, descritas anteriormente. Os animais foram rufiados em dias alternados e após a detecção de cio, foram avaliados ginecologicamente através da palpação e ultra-sonografia diariamente. Os folículos foram monitorados e ao atingirem 35 mm de diâmetro, estes animais receberam 2500 UI de hCG (Vetecor – Laboratório Calier Ltda.) endovenosa e examinadas a cada 6 horas até a ovulação. O sêmen foi descongelado a 460C por 20 segundos, e o conteúdo de 8 palhetas foi transferido para uma seringa de vidro esterilizada e pré-aquecida. As inseminações foram realizadas no corpo do útero e o diagnóstico de gestação foi realizado após 15 dias da IA. 3.3 Terceiro Experimento – Avaliação da resposta inflamatória uterina pós-inseminação artificial. O presente experimento foi delineado para verificar se a reação inflamatória pós-inseminação artificial, em jumentas, poderia ser um fator determinante do insucesso quando do uso do sêmen congelado de jumentos em fêmeas asininas. Para tanto, desafiou-se as jumentas através do uso da inseminação artificial com sêmen fresco, sêmen congelado e a infusão de diluente da 48 congelação (MP50) com o crioprotetor 7 (3% glicerol+2% dimetil formamida), porém sem as células espermáticas de jumentos. Preliminarmente efetuou-se uma triagem através do ultra-som e da citologia uterina e aquelas que possuíam conteúdo líquido no útero ou neutrófilos no esfregaço foram descartadas. O manejo reprodutivo destas fêmeas se espelhou nos respectivos ítens vistos anteriormente. Foram utilizados 15 ciclos estrais de 10 jumentas. Os animais ao se apresentarem em estro, eram examinados e então inseminadas ou infundidas aleatoriamente com um dos 3 tratamentos. Três grupos foram formados, com mesmo número de repetições: G1Inseminadas com 4 mL de sêmen de jumento in-natura; G2- Infundidas com 4 mL de diluente para congelamento (3); G3- Inseminadas com o conteúdo de 8 palhetas de sêmen de asinino congelado (4 mL). Tanto nas inseminações como nas colheitas seriadas das amostras, as jumentas foram contidas em troncos individuais e sofreram criteriosa higiene do períneo e vulva. Aliou-se a este período a avaliação ultra-sonográfica quanto ao acúmulo de fluído uterino. As amostras citológicas foram obtidas da região do corpo uterino, com escova ginecológica (Koplast Comercial e Industrial Ltda – SP) auxiliado por um aparelho em aço inox, nos momentos 6 e 24 horas após as inseminações (Alvarenga et al., 1990). O aparelho consiste de um tubo cilíndrico com 58 cm de comprimento e uma haste interna pouco maior (61 cm), ambos em inox. A haste possui uma extremidade em forma de manivela e a outra que corre por dentro do tubo é afilada o suficiente para prender as escovas. Para obtermos as amostras de citologia, utilizou-se a mão enluvada que conduziu o aparelho introduzindo-o 49 pela cérvice. A escova era então exposta ao endométrio onde uma suave escarificação, através de movimentos circulares da haste, obtinha-se uma amostra desse órgão. Em seguida puxava-se a haste para “proteger” a escova, evitando-se assim sua “contaminação” por células estranhas ao útero, sendo o aparelho retirado do animal. Os esfregaços confeccionados cobriam toda a superfície da lâmina previamente identificadas na sua parte fosca, sendo corados com Panótico e avaliados através de microscopia ótica (objetiva de imersão), onde procedeu-se a contagem diferencial entre neutrófilos e células de descamação uterina (Alvarenga et al., 1990). 4 - METODOLOGIA ESTATÍSTICA EMPREGADA: Para análise das variáveis estudadas foi utilizada a análise de variância, seguida do método de Tukey para comparações múltiplas. Para o estudo das correlações utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, e para a variável polimorfos nucleares foi usado a análise de perfil, onde analisou-se grupos e momentos. O nível de significância utilizado foi de 5%. 50 5 - RESULTADOS Experimento 1 – Avaliação do sêmen congelado: A avaliação de 2 tipos de envase: M = meio macro tubo (2,5 mL) e P= palheta de (0,5 mL), todos com diluente MP50 associado às seguintes formulações de crioprotetores: 1= 2% dimetil sulfóxido (DMSO) e 2% dimetil formamida (DF); 2= 3% dimetil formamida (DF); 3= 2% dimetil formamida (DF) e 2% de Glicerol; 4= 2% dimetil acetamida (DA) e 2% de glicerol; 5= 3% metil formamida (MF); 6= 3% de dimetil acetamida (DA); 7= 3% glicerol e 2% dimetil acetamida (DA); 8= (Specific Patogen Free) 3% glicerol e 2% dimetil formamida (DF); 9= 3% dimetil sulfóxido (DMSO) e 2% glicerol; 10= 1% etilieno glicol + 3% dimetil sulfóxido (DMSO) e 1% dimetil formamida (DF), para sêmen congelado de jumento, foi realizada através do CASA e pelo teste da integridade de membrana plasmática aferida pela fluorescência. As comparações realizadas entre os 2 tipos de envase, meio macrotubo e palhetas, não demonstraram superioridade (P>0,05) entre si, não havendo interação com as formulações utilizadas, nos parâmetros analisados. Para a característica de motilidade total (MOT), mensurada pela microscopia computadorizada, os tratamentos M4, P4 e P6 (73,0; 69,4 e 69,2, respectivamente) somente foram superiores (P<0,05) ao M7 (49,4) e P5 (51,8), enquanto que as demais comparações M1, M2, M3, M5, M6, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P7, P8, P9 e P10 (respectivamente, 60,0; 64,6; 66,2; 58,4; 65,1; 59,8; 62,6; 60,8; 63,6; 63,9; 66,9; 61,8; 68,1; 65,2; 62,1) não diferiram nesse parâmetro (P<0,05). (Tabela 1, 2 e Figura 1). 51 Quanto à motilidade progressiva (MOP), avaliada pela microscopia computadorizada, o resultado mais expressivo foi o tratamento M4 (46,7), tendo se distingüido exclusivamente (P<0,05) do M7 (31,7), enquanto para os demais tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 (respectivamente, 36,3; 37,8; 41,1; 46,7; 36,2; 40,3; 31,7; 37,9; 39,0; 37,5; 36,5; 37,7; 44,3; 43,5; 34,8; 42,2; 40,0; 44,8; 39,2; 37,7) não foi encontrada diferença estatística (P>0,05). (Tabelas 1, 2 e Figura 2) Em relação ao estudo da linearidade (LIN), realizada com auxílio do microscópio computadorizado, foi encontrado diferença (P<0,05) entre os tratamentos M3 e M6 (58,0 e 38,5). Os demais resultados M1, M2, M4, M5, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 (45,5; 50,8; 42,7; 49,8; 46,6; 45,8; 49,2; 45,9; 46,7; 50,0; 53,4; 51,9; 40,6; 52,6; 49,0; 55,3; 47,7; 47,4 respectivamente) foram semelhantes (P>0,05). (Tabela 1, 2 e Figura 3) Na avaliação da integridade da membrana plasmática pela fluorescência (Iodeto de propídio e carboxifluoresceína), auxiliado pelo microscópio de epifluorescência, foi encontrado maior valor para o tratamento P6 (48,6) que apresentou diferença significativa para P5 (30,3) e M7 (31,9) P<0,05. O tratamento P4 (47,8) diferiu somente de P5 (P<0,05). As demais comparações para esse parâmetro não apresentaram divergência estatística (P>0,05) M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P7, P8, P9 e P10 (38,2; 42,0; 38,2; 45,6; 34,8; 41,0; 31,9; 37,0; 38,8; 40,5; 44,0; 42,3; 40,8; 41,1; 40,8; 43,3; 41,7, respectivamente). (Tabelas 1, 2 e Figura 4). 52 Tabela 1 – Valor médio e desvio padrão, para as características de motilidade total (MOT),motilidade progressiva (MOP), a linearidade (LIN), obtidos através do HTMA e integridade de membrana plasmática (FLUO) avaliadas pela fluorescência, após a descongelação de sêmen de jumento, envasados em meio macrotubo ( M - 2,5 mL) Parâmetros Tratamentos MOT MOP LIN FLUO M1 60,0 ± 9,3ab 36,3 ± 7,0ab 45,5 ± 8,4ab 38,2 ± 9,6abc M2 64,6 ± 7,5ab 37,8 ± 8,8ab 50,8 ± 10,8 ab 42,0 ± 14,6abc M3 66,2 ± 10,9ab 41,7 ± 8,6ab 58,0 ± 12,4a 38,2 ± 10,1abc M4 73,0 ± 8,2a 46, 7 ± 10,3a 42,7 ± 11,4 ab 45,6 ± 12,8abc M5 58,4 ± 10,5ab 36,2 ± 7,7ab 49,8 ± 10,7 ab 34,8 ± 14,0abc M6 65,1 ± 11,7ab 40,3 ± 8,7ab 38,5 ± 13,2b 41,0 ± 12,2abc M7 49,4 ± 13,5b 31,7 ± 10,3b 46,6 ± 12,6 ab 31,9 ± 10,9bc M8 59,8 ± 9,7ab 37,9 ± 8,3ab 45,8 ± 10,4 ab 37,0 ± 7,5abc M9 62,6 ± 13,8ab 39,0 ± 8,4ab 49,2 ± 8,7 ab 38,8 ± 10,4abc M10 60,8 ± 11,2ab 37,5 ± 12,4ab 45,9 ± 13,5 ab 40,5 ± 9,7abc MÉDIA 61,99 ± 10,7 37,6 ± 9,1 47,28 ± 11,2 38,88 ± 11,2 GERAL 1 Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente M= meio macro tubo (2,5 mL) todos com diluente MP50 associado aos seguintes crioprotetores: 1= 2% DMSO e 2% DF; 2= 3% DF; 3= 2% MF e 2% de Glicerol; 4= 2% dimetil acetamida e 2% de glicerol; 5= 3% metil formamida; 6= 3% de dimetil acetamida; 7= 3% glicerol e 2% dimetil acetamida; 8= (Specific Patogen Free) 3% glicerol e 2% dimetil formamida; 9= 3% Dimetil sulfóxido e 2% glicerol; 10= 1% etilieno glicol + 3% dimetil sulfóxido e 1% dimetil formamida. 53 Tabela 2 – Valor médio e desvio padrão, para as características de motilidade total (MOT),motilidade progressiva (MOP), a linearidade (LIN), obtidos através do HTMA e integridade de membrana plasmática (FLUO) avaliadas pela fluorescência, após a descongelação de sêmen de jumento, envasados em palhetas ( P - 0,5 mL) Parâmetros Tratamentos MOT MOP LIN FLUO P1 63,6 ± 8,9ab 36,5 ± 5,0ab 46,7 ± 6,5 ab 44,0 ± 10,2abc P2 63,9 ± 8,9ab 37,7 ± 7,4ab 50,0 ± 9,1 ab 42,3 ± 7,5abc P3 66,9 ± 7,8ab 44,3 ± 7,1ab 53,4 ± 9,7 ab 40,8 ± 6,6abc P4 69,4 ± 7,0a 43,5 ± 7,1ab 51,9 ± 7,8 ab 47,8 ± 10,4ab P5 51,8 ± 10,9b 34,8 ± 8,4ab 40,6 ± 10,3 ab 30,3 ± 8,7c P6 69,2 ± 8,7a 42,2 ± 9,5ab 52,6 ± 10,9 ab 48,6 ± 10,8a P7 61,8 ± 11,7ab 40,0 ± 9,0ab 49,0 ± 11,6 ab 41,1 ± 11,6abc P8 68,1 ± 6,9ab 44,8 ± 8,9ab 55,3 ± 9,5 ab 40,8 ± 10,0abc P9 65,2 ± 12,5ab 39,2 ± 9,9ab 47,7 ± 11 ab 43,3 ± 11,1abc P10 62,1 ± 7,2ab 37,7 ± 6,6ab 47,4 ± 7,7 ab 41,7 ± 7,3abc MÉDIA 64,2 ± 9,1 40,5 ± 7,9 49,5 ± 9,41 42,1 ± 9,41 GERAL 1 Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente P= palheta de 0,5 mL todos com diluente MP50 associado aos seguintes crioprotetores: 1= 2% DMSO e 2% DF; 2= 3% DF; 3= 2% MF e 2% de Glicerol; 4= 2% dimetil acetamida e 2% de glicerol; 5= 3% metil formamida; 6= 3% de dimetil acetamida; 7= 3% glicerol e 2% dimetil acetamida; 8= (Specific Patogen Free) 3% glicerol e 2% dimetil formamida; 9= 3% Dimetil sulfóxido e 2% glicerol; 10= 1% etilieno glicol + 3% dimetil sulfóxido e 1% dimetil formamida. 54 55 Motilidade total (%) M1 P1 M2 P2 M3 P3 M4 P4 MEIO MACROTUBO M5 P5 M6 P6 M7 P7 M8 P8 M9 P9 PALHETA M10 P10 Figura 1 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, sobre o parâmetro motilidade total (MOT). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 M1 P1 M2 P2 M3 P3 M4 P4 MEIO MACROTUBO M5 P5 M6 P6 M7 P7 M8 P8 M9 P9 PALHETA M10 P10 Figura 2 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, sobre o parâmetro motilidade progressiva (MOP). Motilidade progressiva (%) 57 M1 P1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 M2 P2 M3 P3 M4 P4 MEIO MACROTUBO M5 P5 M6 P6 M7 P7 M8 P8 M9 P9 PALHETA M10 P10 Figura 3 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, sobre o parâmetro linearidade (LIN). Linearidade (%) 58 Células íntegras (%) M2 P2 M3 P3 M4 P4 MEIO MACROTUBO M5 P5 M6 P6 M7 P7 M8 P8 M9 P9 PALHETA Figura 4 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10, sobre o parâmetro integridade da membrana plamática (FLUO). M1 P1 0 10 20 30 40 50 60 70 M10 P10 Nos resultados referentes aos parâmetros de velocidade espermática estimada pelo HTM-IVOS-10, os valores de VCL (velocidade real) não apresentaram divergências estatísticas (P>0,05) entre os tratamentos empregados M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P7, P8, P9 e P10 (161,7; 164,4; 157; 157; 152,8; 165,8; 161,6; 160; 150,9; 156,3; 155,7; 166,3; 159,6; 150,4; 160,6; 161,1; 169,2; 160,9; 152,9; 154,9, respectivamente). Em relação a VAP (velocidade do trajeto espermático) tampouco foi observada distinção estatística (P>0,05) relacionada aos tratamentos propostos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P7, P8, P9 e P10 (respectivamente, 85,8; 84,3; 86,8; 86,8; 84,7; 86; 86,2; 83,1; 87,1; 86,9; 85,9; 84,8; 87,5; 87; 88,3; 85,4; 86,3; 86,6; 86,9; 85,1). Para os valores de VSL (velocidade retilínea) os tratamentos utilizados não apresentaram superioridade estatística quando cotejados M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P7, P8, P9 e P10 (51,3; 50,5; 54,6; 53,5; 54,1; 50,1; 51,6; 55,5; 54,1; 53; 50,8; 50,2; 53,5; 53,5; 51,8; 53,3; 50,9; 52; 52,4; 50, respectivamente) (Tabela 3 e Figuras 5, 6 e 7). 59 Tabela 3– Valor médio e desvio padrão de velocidade espermática estimada pelo HTMA, para as características de VCL (velocidade real), VAP (velocidade do trajeto espermático) e VSL (velocidade retílinea), após a descongelação de sêmen de jumento, envasados em meio macrotubo ( M - 2,5 mL) ou palheta (P - 0,5 mL) com diluente MP50 e 10 formulações de crioprotetores. Parâmetros Tratamentos VCL VAP VSL M1 161, 7 ± 19,8 85,8 ± 3,2 51,3 ± 5,1 M2 164,4 ± 10,0 84,3 ± 4,2 50,5 ± 5,2 M3 157,0 ± 19,2 86,8 ± 3,6 54,6 ± 5,8 M4 157,0 ± 9,0 86,8 ± 3,0 53,5 ± 5,1 M5 152, 8 ± 11,7 84,7 ± 8,1 54,1 ± 3,7 M6 165,8 ± 10,6 86,0 ± 2,0 50,1 ± 2,9 M7 161,6 ± 10,1 86,2 ± 2,7 51,6 ± 3,7 M8 160,0 ± 11,5 83,1 ± 13,3 55,5 ± 5,4 M9 150,9 ± 10,5 87,1 ± 3,2 54,1 ± 5,2 M10 156,3 ± 13,8 86,9 ± 2,6 53,0 ± 4,2 P1 155,7 ± 8,4 85,9 ± 3,2 50,8 ± 4,6 P2 166,3 ± 12,3 84,8 ± 3,7 50,2 ± 5,0 P3 159,6 ± 12,5 87,5 ± 2,3 53,5 ± 3,6 P4 150,4 ± 14,6 87,0 ± 2,6 53,5 ± 2,7 P5 160,6 ± 17,2 88,3 ± 2,5 51,8 ± 5,4 P6 161,1 ± 9,9 85,4 ± 2,3 53,3 ± 2,3 P7 169,2 ± 15,6 86,3 ± 3,0 50,9 ± 4,0 P8 160,9 ± 10,1 86,6 ± 2,3 52,0 ± 3,1 P9 152,9 ± 16,1 86,9 ± 3,5 52,4 ± 3,9 P10 154,9 ± 10,2 85,1 ± 2,2 50,0 ± 2,3 M= meio macro tubo (2,5 mL) e P= palheta de 0,5 mL todos com diluente MP50 associado aos seguintes crioprotetores: 1= 2% DMSO e 2% DF; 2= 3% DF; 3= 2% MF e 2% de Glicerol; 4= 2% dimetil acetamida e 2% de glicerol; 5= 3% metil formamida; 6= 3% de dimetil acetamida; 7= 3% glicerol e 2% dimetil acetamida; 8= (Specific Patogen Free) 3% glicerol e 2% dimetil formamida; 9= 3% Dimetil sulfóxido e 2% glicerol; 10= 1% etilieno glicol + 3% dimetil sulfóxido e 1% dimetil formamida. 60 61 VCL (um/s) M2 P2 M1 P1 P3 M3 P4 M4 MEIO MACROTUBO P5 M5 P6 M6 P7 M7 P8 M8 P9 M9 PALHETA P10 M10 Figura 5 - Média e desvio padrão referentes ao parâmetro VCL (velocidade real), na comparação entre os resultados dos tratamentos: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10. 80 100 120 140 160 180 200 62 VAP (um/s) 0 20 40 60 80 100 120 M2 P2 M3 P3 M4 P4 M5 P5 M6 P6 M7 P7 M8 P8 M9 P9 PALHETA M10 P10 Figura 6 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 sobre o parâmetro VAP (velocidade do trajeto espermático). M1 P1 MEIO MACROTUBO 63 VSL (um/s) M1 P1 M2 P2 M3 P3 M4 P4 MEIO MACROTUBO M5 P5 M6 P6 M7 P7 M8 P8 M9 P9 PALHETA M10 P10 Figura 7 – Média e desvio padrão referentes ao efeito dos diversos tratamentos M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 sobre o parâmetro VSL (velocidade retilínea). 0 10 20 30 40 50 60 70 SEGUNDO EXPERIMENTO – Teste de Fertilidade a Campo Os resultados de fertilidade alcançados com sêmen congelado de jumentos em jumentas foram nulos (Tabela 4 e 5). As formulações de crioprotetores, o local de deposição do sêmen (corpo ou intracornual homolateral à ovulação), a inseminação com ou sem desglicerolização, quantidade de células espermáticas empregadas (800 ou 1600 x 106 de sptz), o momento da inseminação (pré e pós-ovulação ou somente pós-ovulação) como também o volume utilizado (4 e 8 mL) resultaram em resultados indistintos. A tabela 6 ilustra a taxa de fertilidade em éguas. Quando se utilizou éguas como avaliadoras da viabilidade espermática do sêmen criopreservado de jumento, foi aferido 40% de gestações (4/10). 64 65 Quantidade de Formulação Número de Momento da 0 Espécie Volume Local da Taxa de N de espermatozóides do animais desglicerolização Inseminação usada palhetas / dose inseminado inseminação prenhez crioprotetor inseminados Artificial inseminante Pré e Pós Corpo Asinina P1 8 8 800 x 106 Não 4 mL 0% ovulação uterino Pré e Pós Corpo Asinina P2 9 8 800 x 106 Não 4 mL 0% ovulação uterino Pré e Pós Corpo Asinina P4 8 8 800 x 106 Não 4 mL 0% ovulação uterino Pré e Pós Corpo Não 4 mL 0% Asinina P6 10 8 800 x 106 ovulação uterino Pré e Pós Corpo Asinina P7 9 8 800 x 106 Não 4 mL 0% ovulação uterino Pré e Pós Corpo Não 4 mL 0% Asinina P9 9 8 800 x 106 ovulação uterino Crioprotetores – P1 (2% dimetil sulfóxido e 2% dimetil formamida); P2 (3% dimetil formamida); P4 (2% dimetil acetamida e 2% glicerol); P6 (3% de dimetil acetamida); P7 (3% glicerol e 2% dimetil formamida); P9 (3% dimetil sulfóxido e 2% glicerol) Tabela 4- Efeito do uso do sêmen de jumento congelado em meio MP50, com diferentes crioprotetores, utilizado no corpo uterino de jumentas, em dois momentos pré e pós-ovulação, com dose inseminante total de 800 x 106 sptz., sem desglicerolização, sobre a taxa de fertilidade. 66 Quantidade de Formulação Número de Momento da 0 Espécie N de espermatozóides Volume Local da Taxa de do animais desglicerolização Inseminação usada palhetas / dose inseminado inseminação prenhez crioprotetor inseminados Artificial inseminante PósCorpo do Eqüina P7 10 8 800 x 106 Não 4 mL 40% ovulação útero Crioprotetor - P7 (3% glicerol e 2% dimetil formamida) Tabela 6 - Efeito do uso do sêmen de jumento congelado em meio MP50, utilizado no corpo uterino de éguas após-ovulação, com dose inseminante total de 800 x 106 sptz., sem desglicerolização, sobre a taxa de fertilidade. Quantidade de Formulação Número de Momento da 0 Espécie Volume Local da Taxa de N de espermatozóides do animais desglicerolização Inseminação usada palhetas / dose inseminado inseminação prenhez crioprotetor inseminados Artificial inseminante PósCorpo Asinina P7 10 8 800 x 106 Não 4 mL 0% ovulação uterino PósHomolateral Asinina P7 10 16 1600x106 Não 8 mL 0% ovulação à ovulação PósHomolateral Asinina P7 10 8 800 x 106 Sim 8 mL 0% ovulação à ovulação Crioprotetor – P7 (3% de glicerol + 2% de dimetil acetamida); Tabela 5 - Efeito do uso do sêmen de jumento congelado com glicerol, utilizado no corpo e corno uterino ipsilateral à ovulação de jumentas, após ovulação, com dose inseminante total de 800 x 106 ou 1600 106 sptz., com ou sem desglicerolização, sobre a taxa de fertilidade. Resultados Experimento 3 - Citologia uterina São apresentados na figura 8 os resultados individuais de citologia uterina, nos momentos 6 e 24 horas após inseminação com 4 mL de sêmen innatura, em 5 jumentas do grupo 1. Polimorfonucleares (%) 100 90 80 70 60 6 horas 24 horas 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 Animais Figura 8 – Valores médios encontrados para contagem de neutrófilos em esfregaços uterinos de 5 jumentas obtidos nos momentos 6 e 24 horas após a inseminação artificial de 4 mL de sêmen innatura de jumento. 67 A figura 9 apresenta os resultados da citologia uterina, individualizado, realizado em 5 jumentas do grupo 2. Às 6 e 24 horas após inseminação artificial de 4 mL do diluente MP50. Polimorfonucleares (%) 120 100 80 6 horas 24 horas 60 40 20 0 1 2 3 4 5 Animais Figura 9 – Valores médios encontrados para contagem de neutrófilos em esfregaços uterinos de 5 jumentas obtidos nos momentos 6 e 24 horas após a inseminação artificial de 4 mL de diluente MP- 50. 68 A figura 10 particulariza os resultados da citologia uterina, dos 5 animais utilizados no grupo 3. Estes animais foram inseminados com sêmen congelado com dose total de 800x106 de sptz e avaliados às 6 e 24 horas pós inseminação. Polimorfonucleares (%) 100 90 80 70 60 6 horas 24 horas 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 Animais Figura 10 – Valores médios e desvio padrão encontrados para contagem de neutrófilos em esfregaços uterinos de 5 jumentas obtidos nos momentos 6 e 24 horas após a inseminação artificial com 8 palhetas (800x106 de sptz) de sêmen congelado de jumento. 69 Na Tabela 7 verificamos que a avaliação citológica dos esfregaços uterinos das jumentas revelou acentuada resposta de PMN, nos 3 tratamentos, 6 horas após a inseminação, independente do estímulo causal (P<0,05), muito embora a reação inflamatória neste momento não propiciou diferença significativa entre os tratamentos empregados (P>0,05). Nesta análise foi detectado que os animais do grupo 1 inseminados com sêmen fresco (4 mL), os do grupo 2 que receberam sêmen congelado (800x106 de sptz) e os do grupo 3 que foram inseminados com diluente para congelamento (4 mL) apresentaram elevados percentuais de PMN às 6 horas; no entanto suas médias resultaram muito próximas (79; 77,6; 84,6, respectivamente), não apresentaram distinção estatística P>0,05. Na colheita seguinte, às 24 horas pós IA, houve uma brusca queda dos valores de PMN nos esfregaços dos grupos 1, 2 e 3 (40,1; 25,2; 19,6, respectivamente). Novamente as médias encontradas neste período não foram afetadas pelo grupo (P>0,05), embora o valor do grupo 1 tenha sido numericamente maior que os demais (Tabela 7). Cotejando as médias dos momentos 6 e 24 horas, dentro dos grupos, evidenciou divergência estatística (P<0,05 - Tabela 7), entre os 2 momentos. 70 Tabela 7 – Efeito da inseminação artificial em jumentas com 4 mL de sêmen innatura (G1), 4 mL de diluente com crioprotetor (G2) e sêmen congelado (800x106 de sptz - G3) avaliados pela contagem de polimorfonucleares através de citologia uterina nos momentos 6 e 24 horas pós-inseminação. Grupos Momentos após a inseminação artificial 6 horas * 24 horas * G1 79,0 ± 7,1 a 40,1 ± 8,8 b G2 84,6 ± 7,9 a 19,6 ± 5,6 b G3 77,6 ± 19,3 a 25,4 ± 9,2 b (*) Média ± dp Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente (P>0,05). Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (P<0,05). O estudo da Tabela 8 mostra que a análise estatística realizada para avaliar os momentos (6 e 24 horas), após as inseminações artificiais, desconsiderando os grupos (G1, G2 e G3), revela diferença (P<0,05) entre os momentos. Tabela 8 – Valor médio e desvio padrão obtidos para contagem de polimorfonucleares em esfregaços uterinos de jumentas, dos 3 grupos: G1 (sêmen fresco - 4 mL), G2 (diluente com crioprotetor - 4 mL) e G3 (sêmen congelado - 8 palhetas de 0,5 mL), nos momentos 6 e 24 horas após inseminação. Média Geral Grupos G1, G2 e G3 Momentos 6 horas (*) 24 horas (*) 80,4 ± 3,7 a 28,4 ± 10,6 b (*) – Média ± dp Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (P<0,05). 71 6 - DISCUSSÃO 6.1 - AVALIAÇÃO LABORATORIAL 6.1.1 - AVALIAÇÃO DOS CRIOPROTETORES Em certas raças de eqüinos, como animais de salto, o uso de sêmen criopreservado ocorre há mais tempo e suas associações de criadores são mais afeitas ao uso desta tecnologia. Em decorrência disto, associado a seleção de garanhões para este fim, estes animais apresentam melhores resultados de congelabilidade quando comparados a outras raças e consequentemente apresentam bons índices de fertilidade. No entanto a grande maioria dos garanhões experimenta baixos índices de fertilidade quando se faz uso de sêmen congelado, sendo uma forte barreira a difusão desta tecnologia em escala maior. Uma retrospectiva indica que nos anos recentes pouco progresso ocorreu, e que na espécie asinina os avanços não foram diferentes. O estudo de crioprotetores alternativos surge como uma linha estimulante para atenuar a grande dificuldade no congelamento do sêmen eqüídeo. Keith (1998) sugere o uso de outros crioprotetores para alguns garanhões que não congelam bem com glicerol. Com raciocínio semelhante e embasado em seus resultados Arruda et al (2003) apontam o teste de diferentes formulações de meios e crioprotetores para cada garanhão antes de se iniciar um programa de congelação de sêmen. Orientados neste sentido, foram realizados protocolos de congelamento de sêmen asinino para avaliar, laboratorialmente, tipos de envase e crioprotetores; teste de fertilidade a campo e exames citológicos do útero da 72 fêmea asinina após inseminações, investigando as possívels causas da baixa fertilidade. Embora Papa et al (1999) tivessem obtidos resultados de prenhez, em éguas, com sêmen de jumento criopreservado em meio M9H, utilizamos no presente trabalho o diluente MP50, baseado em trabalho que encontrou melhores valores de motilidade e integridade de membrana plasmática (P<0,05) embora a fertilidade não tenha apresentado diferença estatística (P>0,05) ao compará-lo ao M9H e FR-4 (Neves Neto et al. 2003). Assim a procura por diluentes que permitam preservar adequadamente as células espermáticas eqüinas do frio, tem sido objeto de numerosas pesquisas em uma intensidade comparável ao desenvolvimento de tecnologia laboratorial que possibilite predizer sem contestação o potencial fertilizante da amostra examinada (Arruda et al., 2000; Alvarenga et al., 2000 a,b; Papa et al., 2002; Dell’aqua Jr, et al., 2000). Entre os parâmetros aferidos pelo HTMA: MOT; MOP; LIN, VCL; VSL e VAP, e a integridade da MP pela FLU, houve diferença significativa entre as diversas formulações de crioprotetores deste ensaio. Os resultados da variável MOT para os diluidores M7 (3% glicerol e 2% dimetil acetamida) e P5 (3% metil formamida) foram os piores; 49,4% e 51,8% respectivamente. Estes números foram diferentes (P<0,05) somente do M4, P4 (2% dimetil acetamida e 2% de glicerol) e P6(3% de dimetil acetamida) respectivamente 73%, 69,4% e 69,2%. Embora M7 (3% glicerol e 2% dimetil acetamida) e P5 (3% metil formamida) tenham sido para a variável MOT os piores crioprotetores das combinações testadas, foram equivalentes ou melhores que os verificados por 73 Medeiros et al. (2002), que usaram amidas (dimetil acetamida, metil formamida ou dimetil formamida) e glicerol isoladamente ou combinados em diversas proporções no extensor para sêmen eqüino cujos resultados oscilaram entre 27,9% e 59%. Os resultados deste experimento superaram também os encontrados por Gomes et al. (2002) para MOT de espermatozóides de garanhões Mangalarga Marchador, avaliados pelo CASA, criopreservados em glicerol 5%; DF 5%; MF 5% e 3% de DA, bem como aos observados por Graham (2000) para a mesma característica, ao avaliar sêmen eqüino congelado com diversos crioprotetores (glicerol, metil formamida, dimetil formamida e etilenoglicol) em várias concentrações (0,6M e 0,9M). Em relação aos resultados do parâmetro de motilidade progressiva (MOP) somente duas composições diferiram (P<0,05) entre si: M4 (2% dimetil acetamida e 2% de glicerol) 46,7% e M7 (3% glicerol e 2% dimetil acetamida) 31,7%. Contudo M7 não diferiu de P7 nem M4 de P4 (P>0,05), sugerindo a inexistência de ação do tipo de envase nas formulações testadas para este parâmetro. Arruda et al. (1986 e 1989) fizeram uso de diluidor a base de LactoseEDTA- Gema de ovo e glicerol, para congelar sêmen de jumento e através da microscopia ótica encontraram valores acima de 40% para MOP, próximos da maioria dos resultados do presente experimento. Já Papa et al. (1999) verificaram valores mais expressivos para MOP (superiores a 50%), quando utilizaram M9H (Merck-gema+Kenney e meio de cultura celular BME) associado ao glicerol para congelar sêmen de asininos. 74 Os resultados do presente experimento estão em concordância aos obtidos por Silva et al. (1997) que avaliaram a MOP após descongelamento de espermatozóides asininos, no meio Lactose- EDTA- Gema de ovo e glicerol em macrotubo (30%) e tubos de alumínio (40%). No parâmetro linearidade (LIN) somente existiram diferenças (P<0,05) entre M3 (2% metil formamida e 2% de Glicerol) 58% e M6 (3% de dimetil acetamida) 38,5%. Existe semelhança entre os resultados deste trabalho aos de Papa et al (2002), que encontraram para a mesma variável números entre 41,7% a 48,2% para amostras de sêmen eqüino criopreservado em MP50 e associação de glicerol e dimetil-formamida. Em trabalho realizado por Arruda (2000) foram encontradas variações entre 56,3% e 48,6% entre 6 formulações, sendo que houve diferença (P<0,05) favorável ao glicerol 5% em relação ao etilenoglicol 5%. Juliani et al. (2003) avaliararam sêmen congelado de Mangalarga Marchador com concentrações variadas dos crioprotetores (glicerol e acetamida) e encontraram os melhores valores para fluorescência, quando utilizaram acetamida a 3,5%. Rossi et al (2003) não encontraram diferenças (P>0,05) nas variáveis MOT, MOP, VCL, RAP e FLU ao utilizarem as combinações de crioprotetores: dimetil-formamida 2% + DMSO 2%; dimetil-formamida 3%; metil-formamida 2% + glicerol 2%; metil-formamida 3%; dimetil-acetamida 2% + glicerol 2%; dimetilacetamida 3%; dimetil-formamida 2% + glicerol 3%, quando usados na criopreservação de sêmen eqüinos de diversas raças; e justificaram tais resultados devido ao emprego do MP50 como diluente, por sua adequada e 75 eficiente composição, que proporcionou suficiente crioproteção às células espermáticas. Alternativa ao uso do glicerol, tem motivado várias pesquisas desde que se conheceu os efeitos deletérios da adição deste crioprotetor em sêmen fresco e congelado (Pace et al., 1975; Murdoch et al., 1978). Embora estudos estejam sendo realizados em eqüinos, na literatura consultada não há citação desta prática em asininos. As amidas, por possuírem baixo peso molecular, ultrapassam a membrana plasmática com mais facilidade, proporcionando menor estresse osmótico e causando menos criolesões. A forma de ação do dimetil sulfóxido (DMSO) não está clara, provavelmente deve estar também relacionada a seu baixo peso molecular que favorece sua penetração na membrana plasmática (Ball et al., 2001b). Com relação ao DMSO não houve possibilidade de comparação e discussão dos resultados encontrados frente a literatura, visto que inexiste na bibliografia consultada trabalhos utilizando como crioprotetor espermático para asininos. Arruda (2000), apoiado em seus resultados, afirma que quanto maiores forem os valores para MOT, MOP, VAP, VSL, VCL e LIN, melhor será a qualidade espermática para cada uma das características estudadas. Os resultados de motilidade total computadorizada obtidos pelos tratamentos P1; P2; P4; P6; P7 e P9 (63,6%; 63,9%; 69,4%; 69,2%; 61,8%; 65,2% respectivamente), formas usadas para o teste de fertilidade a campo, superaram os resultados laboratoriais para a mesma variável verificado por Trimeche et al. (1998) 53,4%. Da mesma forma, os dados de VCL 155,7; 166,3; 150,4; 161,1; 169,2 e 152,9 e para VAP 85,9; 84,8; 87; 85,4; 86,3 e 86,9 respectivamente para P1, 76 P2, P4, P6, P7 e P9 obtidos no presente experimento foram mais expressivos que os encontrados por Trimeche et al. (1998) respectivamente 69 e 64,4. Por outro lado os valores determinados neste trabalho para VSL 50,8; 50,2; 53,5; 53,3; 50,9 e 52,9 obedecendo a mesma sequência de tratamentos descrita anteriormente, foram inferiores ao determinado por Trimeche et al. (1998) 62,4; cujo resultado para motilidade progressiva (56,6%) também suplantou os resultados encontrados neste experimento 36,5%; 37,7%; 43,5%; 42,2%; 40% e 39,2% (respectivamente P1, P2, P4, P6, P7 e P9). Trimeche et al. (1998) encontraram valores superiores para LIN (81,5) e integridade de membrana plasmática (IMP) de 54,8% quando comparados aos valores de LIN 46,7; 50; 51,9; 52,6; 49; 47,7 e IMP 44%; 42,3%; 47,8%; 48,6%; 41,1% e 43,3% (respectivamente P1, P2, P4, P6, P7 e P9) deste experimento. Uma possível explicação aos resultados desfavoráveis do presente ensaio se deve primeiramente à diferença entre a metodologia empregada para aferição da IMP nos dois experimentos. Enquanto a metodologia deste ensaio foi feita através da fluorescência (Harrison & Vickers, 1990 e modificado por Zuccari, 1998), Trimeche et al. (1998) fizeram uso do choque hiposmótico (CHO), porém eles não mencionaram se realizaram o desconto da percentagem de caudas patologicamente dobradas já existentes anteriores ao CHO. Hirai et al. (1997) encontraram que maiores quantidades de gema de ovo no extensor causou elevação de sua viscosidade e afetou positivamente a linearidade analisada pelo CASA. Ressalte-se que Ferreira (2000) trabalhando com avaliação computadorizada do movimento espermático de sêmen eqüino 77 congelado em vários meios, encontrou que diluentes com formulações com maior concentração de gema de ovo apresentam valores melhores de LIN. Quando se compara os diluentes usados verificamos que o T2-94 (Trimeche et al. 1998) emprega 10% de gema de ovo, enquanto o MP50 usado neste experimento utiliza somente 5% de gema de ovo (anexo), e isto explica os valores maiores de linearidade encontrado pelos pesquisadores. As formulações usadas (amidas e DMSO) para criopreservar a célula espermática de jumento permitiu que fosse abolida ou diminuída a concentração de glicerol, com vantagens nos parâmetros relacionados aos dados de Trimeche et al. (1998) que usaram glicerol a 4%. No experimento 1 a avaliação dos métodos de envase em meio macrotubo (2,5 mL) e palhetas (0,5 mL), para sêmen criopreservado de jumento, não mostrou superioridade de qualquer deles (P>0,05) nas variáveis analisadas: MOT, MOP, LIN, FLU, VAP, VCL e VCL. Os resultados encontrados sugerem indiferente escolha dos métodos de envase para a realização da criopreservação do sêmen de jumento, não oferecendo portanto qualquer interação entre o invólucro e as formulações estudadas, apesar da palheta 0,5 mL, apresentar maior facilidade de armazenamento e na descongelação. Estes dados, no entanto, estão em desacordo com os encontrados por diversos autores. Dell’Aqua Júnior (2000) encontrou melhores características de motilidades total, progressiva, VCL, VSL e integridade da membrana plasmática (FLU) para as amostras de sêmen de garanhões processados tanto em palhetas (0,5 mL) e mini palhetas (0,25 mL) quando comparados ao macrotubo (4 mL) (P<0,05). Papa et al. (1991), relataram diferenças na 78 motilidade do sêmen eqüino armazenado em palhetas e macrotubos, favorável à palheta (36% e 26% respectivamente) após o teste de termo resistência. Alvarenga et al. (2000a) verificaram queda da motilidade e elevada taxa de crioinjúria na ultra-estrutura acrossomal, das células espermáticas contidas no macrotubo em relação às palhetas, independente do crioprotetor usado, glicerol ou etileno glicol. Ao comparar motilidade para amostras congeladas em palhetas e macrotubos, Heitland et al. (1996) encontraram superioridade para as amostras preservadas em volumes menores. Contudo outros trabalhos não verificaram diferenças entre invólucros de volumes diferentes para criopreservação de sêmen asinino. Os valores verificados por Silva et al (1997), para motilidade e vigor após teste de termo resistência, não divergiram para as células espermáticas de jumento, envasados em macrotubo (4mL) e tubo de alumínio (10mL). Samper et al (1994) reportaram valores semelhantes (P>0,05) para fertilidade, quando usaram sêmen de garanhões em palhetas e meio macrotubos 64,3% e 59,8%, respectivamente. Apesar da disponibilidade limitada de estudos nos quais existam comparações entre dois ou mais sistemas de envase para sêmen congelado de asininos (Silva et al 1997), o uso de palhetas é o mais empregado para este processo em jumentos como atestam Vieira et al (1985), Arruda et al (1986), Arruda et al (1989b), Trimeche et al. (1996), Trimeche et al. (1997), Trimeche et al. (1998) e Papa et al. (1999). Os resultados dos métodos de envase, na maioria das vezes, não podem ser comparados entre si, devido a fatores distintos como: diluente, crioprotetor, concentração espermática processada, dose inseminante, momento da inseminação (Squires et al., 1999). 79 Os relatos literários apontam resultados não uniformes, ora verificando diferenças outras vezes não, entre os sistemas de envase. Isto é refletido nos vários centros de estudos de reprodução eqüina do mundo, onde faz-se uso dos diversos criotubos, não ocorrendo padronização (Samper et al., 1998). Apesar desse tópico apresentar-se ainda em estudos, há uma expansão do uso das palhetas sobre os demais sistemas, baseado em uma melhor acomodação dentro do container com nitrogênio e segurança na manipulação das partidas de sêmen, além das características físicas que demonstram vantagens nos recipientes de diâmetro menor, favorecendo-os durante as trocas de temperatura, tanto na congelação como na descongelação das amostras de sêmen. Por outro lado, as discrepâncias entre os resultados não são adequadamente explicadas. Para Davies (1999) é provável que haja efeito do diluente nos resultados experimentais, portanto podemos considerar que o resultado alcançado por este experimento, pode estar relacionado a proteção apresentada pelo meio usado MP-50, em ambos recipientes, visto que o mesmo é composto de várias substâncias tampões que estabilizam e mantém as condições ideais durante o processo de criopreservação. 6.2 - TESTE DE FERTILIDADE A CAMPO Segundo Graham (1998) apesar de terem sido desenvolvidos vários testes em laboratórios úteis para avaliar no mesmo momento e em um grande número de células, múltiplas características do espermatozóide adequados para descartar amostras de baixa qualidade, tais testes não foram ainda capazes de predizer com acurácia sua fertilidade, pois não permitem avaliar 80 todos os predicados necessários que uma célula deve possuir para ser fértil, fazendo-se necessário o teste de fertilidade a campo. De acordo com a literatura consultada, os pesquisadores que fizeram uso do teste de campo para avaliar o sêmen de jumento criopreservado, foram poucos e em número limitado de fêmeas (Vieira et al, 1985; Arruda et al., 1986; Trimeche et al., 1998; Papa et al., 1999), sendo que destes somente Trimeche et al. (1998) fez uso de fêmeas asininas, os demais serviram-se de éguas. Os resultados nulos de fertilidade, em jumentas, em que pese o extenso número de ciclos empregados, as várias formas de inseminações (corpo do útero ou intra cornual), a dose inseminante, os momentos das inseminações (pré e pós ovulação ou somente pós ovulação), com ou sem desglicerolização, contrasta com os resultados de Trimeche et al (1998). De acordo com esses pesquisadores, anteriormente, não havia na literatura descrição de sucesso na criopreservação de sêmen de jumentos, que alcançaram 38% de gestação (8/21), somente nos animais inseminados com sêmen previamente desglicerolizado. Os resultados do presente experimento com sêmen submetido a desglicerolização (Tabela 5) contrastam com os encontrados por Trimeche et al (1998). As gestações em éguas, conseguidas por Vieira et al. (1985) e Arruda et al. (1986), também foram através da diluição do sêmen de jumentos com Kenney momentos antes do seu uso (1:5; sêmen:diluente), embora em proporção superior a usada por Trimeche et al (1998) (1:1; sêmen:diluente). Nenhum dos autores acima realizaram avaliações laboratoriais, que demonstrasse os efeitos da desglicerolização antes da inseminação, nas células espermáticas de jumentos. 81 O efeito da saída do glicerol em sêmen de carneiros congelado em meio a base de leite desnatado, Tris e gema de ovo e glicerol (4%), foi avaliado por Fiser et al. (1989), que não encontraram diferenças laboratoriais para motilidade e integridade de acrossoma, quando as células após descongelamento, alcançaram a isosmolaridade ao receber adição de extensor sem glicerol, por volumes fixos de 0,45 mL, multipassos (10 vezes, 1 a cada 3 minutos) ou em passo único 4,5 mL, que resultaram em osmolaridade final de 405 mOsm. Vidament et al. (2000) realizaram testes após desglicerolização em sêmen eqüino monitorando a motilidade e VAP pelo CASA. O extensor utilizado neste experimento foi o INRA 82 com concentrações variadas (2,8%, 3,2%, 3,7% e 4,7%) de glicerol e após o descongelamento foi diluído no mesmo extensor de acordo com o esquema: controle 1- volume fixo (1v:4v – sêmen:diluente) com osmolaridade final variável; controle 2- volume variável e osmolaridade final fixa (365 mOsm); controle 3- multipassos, 11 a 21 passos de osmolaridade fixa (25 mOsm; 1 minuto por passo) e osmolaridade final de 365 mOsm. Os autores verificaram que os parâmetros usados não demonstraram diferenças entre os tratamentos (P>0,05). Observações realizadas por Wessel et al (2001), permitiram que discorressem sobre o efeito da entrada e saída do crioprotetor de espermatozóides eqüinos, tanto para sêmen “in natura” como criopreservado. Realizando testes em sêmen descongelado, onde não encontraram diferenças para as características de motilidade e viabilidade espermática, entre tratamentos por multipassos ou passo único na retirada do glicerol. Os dados permitiram aos autores teorizar que as criolesões, ocorridas na membrana 82 plasmática do sêmen eqüino, interferiram na rápida remoção do glicerol após a diluição em meio isotônico. O efeito da desglicerolização em sêmen eqüino é ainda motivo de estudo, situando-se em estágio inicial. É muito significativo o resultado de prenhez em jumentas alcançado por Trimeche et al. (1998) somente quando da retirada do glicerol antes da inseminação artificial, no entanto a forma executada (1 passo) não seria a mais adequada, pois o estresse osmótico causado ainda seria grande, provavelmente acentuando crioinjúrias existentes ou mesmo expondo-as. O propósito deste método é evitar a brusca mudança osmótica existente entre o sêmen descongelado em meio acima de (1200 mOsm) e o meio uterino (cerca de 300 mOsm), porém da forma como foi realizado é bastante discutível se o estresse osmótico tenha sido evitado. Indiferentemente de como os estudos sobre o assunto são interpretados, eles não provêm suficiente explicação sobre a manutenção da capacidade fecundante dos espermatozóides de asininos, após efeito da desglicerolização da forma executada, pois os resultados nulos de fertilidade da maioria das pesquisas executadas não repetiram os achados de fertilidade de Trimeche et al. (1998). O número de células espermáticas por dose inseminante, em eqüinos, é controverso. Samper & Morris (1998), em um levantamento realizado em 25 laboratórios do mundo, verificaram valores variando de 250 a 700x106 de células por dose. Dell’Aqua (2000), utilizando doses inseminantes de 50, 100, 300 e 800 x106 de sptz não obtendo diferenças significativas para taxa de prenhez em éguas. 83 Relatos na literatura informam que Trimeche et al. (1998) utilizaram sêmen congelado de jumento com 600 x106 de sptz em jumentas Poitou, gerando 38% de prenhez. Usando 400 a 500 x106 de sptz viáveis, homolateralmente à ovulação, Vieira et al (1985) conseguiram 33% de gestações. Arruda et al. (1986) utilizaram 400 a 500 x106 de sptz viáveis depositados no corpo uterino de éguas e alcançaram 35% de gestações. Já Papa et al. (1999) trabalhando com sêmen de jumentos na dose de 800 x106 de sptz alcançaram 66% de gestações. Após a IA no corpo do útero da jumenta da raça Brasileira, com o volume (20 mL) sugerido por Trimeche (1998), foi verificado refluxo do sêmen. É possível que as diferenças zoomorfológicas raciais estejam implicadas neste caso (tabela 9). Tabela 9– Características de peso e altura de animais das raças Brasileiro e o Poitou (Adaptado de Chieffi, 1947) RAÇAS CARACTERÍSTICAS BRASILEIRO POITOU Peso (Kg) Altura (m) 240 – 350 1,15 – 1,30 260 – 600 1,32 – 1,53 Por não dispor dos diâmetros dos cornos uterinos de jumentas da raça Poitou, a comparação foi realizada entre jumentas Brasileira e potras da raça Brasileira de Hipismo, com 2 anos, que apresentavam valores corporais próximos aos da raça Poitou, (tabela 10). 84 Tabela 10 – Valores médios dos diâmetros dos cornos uterinos entre jumentas da raça Brasileira e potras da raça Brasileira de Hipismo. Potras Jumentas Características n=15 n=15 486 304 Peso (Kg) 1,58 1,28 Altura (m) Diâmetro médio do corno 34 22,6 uterino (mm) Baseados nos valores apresentados, sugere-se o emprego da inseminação artificial intracornual ipsilateral ao folículo dominante, sendo este método mais apropriado ao uso de um volume maior de sêmen sem refluxo, o que concorrerá para uma maior possibilidade de colonização da junção útero tubárica (JUT). O uso de inseminação intracornual em éguas, tem sido usado como alternativa ao corpo uterino e resultados auspiciosos foram divulgados por estudos que objetivaram maximizar o uso do ejaculado por reduzir a dose inseminante e eliminar ou diminuir barreiras uterinas, favorecendo uma maior colonização da JUT. Fêo (1991) verificou que o número de sptz apresentou tendência a ser maior no lado da IA quando comparado a aplicação do sêmen no corno uterino. No teste a campo ocorreu expressiva vantagem (P<0,0001) para as gestações obtidas através da IA intracornual, 66% (48/32), em oposição as do corpo uterino 32% (25/8). Nie e Johnson (2000) utilizaram 1x106 de sptz móveis ipsilateral ao folículo dominante, com uma pipeta flexível, com taxas de fertilização de 18,8% e 7,1%, separados ou não pelo Sephadex e expressaram que o uso de doses inseminantes com concentração maior, depositada na JUT, poderá tornar mais eficiente o uso do garanhão, do que a dose de 500x106 de 85 células viáveis, quando depositado no corpo uterino. Em um número expressivo de éguas Sánchez et al. (2004) executaram um programa de transferência de embriões. Utilizaram sêmen congelado em 473 fêmeas e sêmen refrigerado em 247 éguas, com taxa de recuperação embrionária de 46% e 42% respectivamente (P>0,05). Os autores destacaram que o número reduzido de células, 100 x 106 e 200 x 106 (respectivamente sêmen congelado e refrigerado), depositados no ápice do corno (pipeta minitub), permitiu alcançar bons índices de recuperação embrionária e ampliou o número de embriões produzidos pela dose convencional. No presente experimento, a aplicação do sêmen no corno uterino ipsilateral à ovulação de jumentas não produziu gestação. A taxa de fertilidade alcançada em éguas (40%), neste trabalho, estão consonantes com os verificados por Trimeche et al. (1998) 38%, Papa et al. (1999) 66%, Vieira et al. (1985) 26% e Arruda et al (1986) 35%. Os valores mais elevados de Papa et al. (1999) provavelmente não expressaram a realidade, pois os autores usaram somente 3 ciclos com 2 prenhezes. Diante dos resultados dos demais grupos de pesquisadores, que empregaram número maior de estros, é plausível supor que o nível alcançado por Papa et al (1999) esteja sobrevalorizado. Ao analisar os dados sobre fertilidade com sêmen congelado de eqüinos, os valores encontrados para jumentos são equivalentes quando a observação em cavalos é ampliada para diferenças raças inclusive as de baixa congelabilidade. Contudo, os baixos índices de fertilidade verificados com o uso de sêmen criopreservado de jumentos chama atenção. 86 A literatura sobre a fisiologia reprodutiva de jumentos aponta uma concentração espermática superior aos eqüinos (Morais, 1990; Mello et al., 2000; Arruda et al., 1989a; Dos Santos, 1994). Baseado nessas informações, foram realizadas inseminações no corno uterino homolateral à ovulação em jumentas com concentração total de 1,6 x109 de sptz, sem lograr êxito em gestações. 6.3 - AVALIAÇÃO CITOLÓGICA DO ÚTERO DE ASININAS PÓSINSEMINAÇÃO A fertilidade pode estar comprometida caso exista um quadro de inflamação uterina no momento da descida do embrião (Kotilainen et al., 1994). Nesta linha de pensamento, levando-se em consideração a existência em “éguas susceptíveis” de reações inflamatórias uterinas que persistem por dias, foi desenvolvida uma fase de estudo para monitorar uma possível reação exacerbada da jumenta ao sêmen congelado que viesse a comprometer sua fertilidade. Deve-se ressaltar que nos estudos sobre fertilidade e citologia, todos os animais foram examinados pela ultrasonografia e em nenhum deles foi detectado conteúdo líquido no útero (antes das inseminações artificiais). Os resultados da avaliação da citologia uterina das jumentas revelou que no momento 6 horas após a inseminação, qualquer dos estímulos realizados: G1- sêmen in natura; G2- diluente ou G3- sêmen congelado, gerou uma intensa reação inflamatória, sem distinção entre eles (P>0,05), onde foram observados respectivamente 79%, 84% e 77,6% de polimorfonucleares nos esfregaços. 87 As leituras das amostras recuperadas após às 24 horas das inseminações, revelaram um decréscimo acentuado no percentual de polimorfonucleares, nos 3 grupos: 40%; 19,6% e 25,4% (G1; G2 e G3, respectivamente), novamente não diferindo entre si. No entanto, apresentaram diferenças significativas (P<0,05) dentro dos 3 grupos, com os valores anteriores respectivos (6 horas). Esta reação uterina é esperada, ocorrendo após a inseminação artificial ou monta natural, quando há uma infecção por germes oportunistas e componentes seminais (Zerbe et al., 2003). O abrupto aumento dos polimorfonucleares nos esfregaços uterinos das jumentas refletiu o influxo de neutrófilos no lumen uterino, que possuem o papel de eliminar deste órgão elementos agressores. O maior percentual de neutrófilos encontrado para G1 às 24 horas (40%), observados neste experimento, se assemelha aos verificados por Bollwein et al. (2003), que ao infundirem éguas com diluente ou inseminarem com sêmen diluído ou sêmen “in natura”, encontraram para este último grupo a maior concentração de PMN nos esfregaços uterinos. Tais resultados podem ser explicados, provavelmente, devido a uma contaminação do sêmen usado (bactérias) que impediram uma queda maior dos neutrófilos, nos esfregaços deste grupo. Podendo também estar associado um deficiente relaxamento cervical que impediu uma melhor drenagem uterina, fato sugerido por Gomes (2002) que encontrou uma pronunciada resposta uterina dos animais inseminados no corpo uterino com dose convencional (800 x106 de sptz), em todos os momentos – 6 e 24 horas (P<0,05). 88 Kakeya et al. (1998) trabalharam com 3 grupos de éguas que receberam sêmen com diluente a base de leite desnatado, sêmen com extensor a base de gema de ovo e sêmen “in natura” e observaram que a citologia apresentou resultados semelhantes entre os três grupos (P>0,05) nos momentos estudados (1 hora e 24 horas após as Inseminações). Verificamos que tanto o sêmen “in natura”, como as células criopreservadas ou os componentes do meio (desprovidos de espermatozóides) ofereceram um forte estímulo à reação inflamatória, pois possuem elementos antigênicos importantes que produziram respostas uterinas semelhantes. Contudo, a queda apresentada no momento 24 horas pós Inseminação sugere a eficiência dos mecanismos de defesa uterino das jumentas para debelar a reação ocorrida, caracterizando como transitória e normal a inflamação detectada. Tanto Troedson et al (1998) como Watson (2000) alegaram que a resposta uterina frente ao sêmen congelado pode alterar a fertilidade dos fêmeas trabalhadas, caso o mecanismo de defesa do órgão esteja comprometido, levando a um atraso na “higienização” do útero. Embora não tenhamos na literatura comparações entre jumentas, os dados gerados pelo nosso ensaio apontam que os animais não possuíam falha para debelar a infecção provocada, podendo ser consideradas “fêmeas competentes”. Desta forma vericamos que, em nosso experimento, as jumentas produziram respostas uterinas semelhantes em todos tratamentos e momentos; e que a ausência de gestação em asininos, aparentemente, não está 89 relacionada a uma reação inflamatória mais exacerbada ou persistente ao sêmen congelado, que comprometa a higidez deste órgão. Por outro lado, não foi possível detectar e corrigir uma provável falha na metodologia para alcançar fertilidade em jumentas com o uso de sêmen criopreservado. Face às dificuldades para se lograr êxito na gestação de asininos, deve-se retornar ao estudo da fisiologia, endocrinologia e anatomia do trato genital da jumenta com relação a uma provável incompatibilidade na interação do sêmen congelado com o aparelho reprodutor das jumentas, pois o mesmo protocolo proporcionou, em fêmeas de espécie diferente (égua), um índice de fertilidade satisfatório. 90 7- CONCLUSÕES Com base nas condições do presente experimento podemos concluir: - O uso do MP50 associado as diversas combinações de crioprotetores proporcionou similar proteção aos espermatozóides de jumentos envasado tanto em meio-macrotubo (2,5 mL) como em palhetas (0,5 mL). - Não há influência na congelabilidade quando se utiliza os crioprotetores e suas combinações no diluidor MP50 para o sêmen de jumentos. - O método de envase não interferiu na qualidade do sêmen descongelado. - Apesar do uso de diversos crioprotetores, concentrações, volumes, desglicerolização, momentos e local de inseminação, não foi possível obter gestação em jumentas, com o uso do sêmen de jumento congelado. - O uso do sêmen de jumentos criopreservado, em éguas, resultou em índices de fertilidade satisfatório. - A reação inflamatória em jumentas, verificada neste trabalho, não parece ser fator determinante do insucesso, quando do emprego do sêmen criopreservado em asininos. 91 8- CONSIDERAÇÕES FINAIS - Novas pesquisas deverão ser realizadas para determinar os fatores relacionados ao insucesso do emprego do sêmen congelado em asininos. 92 8 - BIBLIOGRAFIA ALBERTS, B., BRAY, D., LEWIS, J. RAFF, M., ROBERTS, K., WATSON, J.D. Membrane Structure. In:___. Molecular biology of the cell. Garland Publishing, New York. 3a edição, 1994. cap. 10, p. 478-506. ALVARENGA, M. A.; MATTOS, C. I.. Utilização da escova ginecológica na coleta de material endometrial de éguas. Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 42, n. 1, p. 67-68, 1990. ALVARENGA, M.A.; PAPA, F.O.; BURATINI JUNIOR, J.. The effect of breed and spermatic para meters over equine semen freezability. In: SYMPOSIUM ON STALLION SEMEN, 1996, Amersfoot. Proceedings… Amersfoot, 1996. ALVARENGA, M.A.; LANDIM E CESARINO, M.M.; Utilization of semen. In: ANNUAL MEETING Baltimore, Maryland, 1998. Theriogenology, 1998. p.155. ALVARENGA, F.C.; MOREIRA, R.M.; ethilene glycol as cryoprotetor for equine OF SOCIETY FOR THERIOGENOLOGY, Proceedings. Baltimore: Society for ALVARENGA, M.A.; LANDIM E ALVARENGA, F.C.; MOREIRA, R.M. et al. Acrossomal ultrastructure of stallion spermatozoa cryopreserved with ethylene glycol using two packing systems. Proceed… Equine Vet. J.. v. 32, n.6, p.541-545, 2000. AMMAN, R.P.; PICKETT, B.W. Principles of cryopreservation and a review of cryopreservation of stallion spermatozoa. Journal of Equine Veterinary Science, Wildomar, v.7, p.145-173, 1987. AMANN, R.P.; GRAHAM, J.K. Spermatozoal function. In: McKINNON, A. O., VOSS J.L. (eds). Equine Reproduction. Philadelphia: Lea & Febiger. 1993, p. 769-789. ARRUDA, R.P.; VIEIRA, R.C.; MANZANO, A.. Inseminação artificial de eqüideos com sêmen congelado em palhetas de 0,5 mL. In: Anais do XX Congresso Brasileiro de medicina vaterinária. Universidade Federal de Mato Grosso – Cuiaba – MT, p. 181, 1986 ARRUDA R.P.; VIEIRA, R.C.; BARBOSA, R.T.; MANZANO, A.. Características seminais de eqüídeos destinados a seleção para a congelação. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.1, p.214, 1989a. ARRUDA, R.P.; VIEIRA, R.C.; BARBOSA, R.T.; MANZANO, A.. Congelação do sêmen de jumentos: Características reprodutivas de um doador. Rev. Bras. De Reprod. Animal. (Supl.) n. 1, p. 215, 1989b. 93 ARRUDA, R.P. Avaliação dos efeitos de diluidores e crioprotetores para o espermatozóide eqüino pelo uso de microscopia de epifluorescência, citometria de fluxo, análises computadorizadas da motilidade (CASA) e da morfometria (ASMA). 2000. 113p. Dissertação (Livre docência) – Universidade de São Paulo, Faculdade Veterinária, São Paulo. ARRUDA, R.P.; BALL, B.A.; GRAVANCE, C.G.; LIU, I.K.M.. Avaliação dos efeitos de diluidores e crioprotetores para espermatozóides de garanhões utilizando análises computadorizadas da motilidade (CASA) e citometria de fluxo, Acta Scientiae Veterinariae. 31 (Suppl.), 2003. ASHWOOD-SMITH, M.J.. Mechanisms of cryoprotectant action. In: Bowler K, Fuller B.J., eds. Temperature and cells. Cambridge: The Co. of Biologists Ltd.: 395-406, 1987. BARKER, C.A.V.; GANDIER, J.C.C.. Pregnancy in a mare resulting from frozen epididimal spermatozoa. Cann. J. Comp. Med. Vet. Science. V.21, 47-51, 1957. BALL, B.A. Osmotic effects of glicerol addition and removal on equine sperm. In: EQUINE NUTRITION AND PHYSIOLOGY SYMPOSIUM, 2001, Kentuchy. Proceedings... Kentuchy, 2001. p.325-328. 2001a. BALL, B.A.; VO, A.. Osmotic tolerance of equine spermatozoa and the effects of soluble cryoprotectants on equine sperm motility, viability, and mitochondrial membrane potencial. J. Andrology. 22 (6), p. 1061-1069, 2001b. BOLLWEIN, H.; SOWADE, C.; STOLLA, R.; The effect of semen extender, seminal and raw semen on uterine and ovarian blood flow mares. Theriogenology. 60, 607-616. 2003. CHENIER, T.; MERKIES, K,; LEIBO, S.; PLANT, C.. Evaluation of cryoprotective agents for use in the cryopreservation of equine spermatozoa. In: Proc. For Annual Meeting, Baltimore 1998. p. 52-53. CHIEFFI, A.. Os Muares, sua importância e sua criação. Eds. Diretoria de Puclicidade Agrícola. p. 24-25, 1947. 72 p. COOPER, G.M. The cell: a molecular approach. 1996. 673 p. Washington: ASN Press, COTORELLO, A.C.P.; HENRY, M.; FERREIRA, M.H.V.; JULIANI, G.C.. Efeito da associação do etilenoglicol ao glicerol na criopreservação de sêmen eqüino. Rev. Bras. Reprod. Anim. v. 25, n. 3, 456-457, 2001 COMIZZOLI, P.; MERMILLOD, P.; MAUGET, R.. Reproductive biotechnologies for endangered mammalian species. Reprod. Nutr. Dev.. 40, 493-504, 2000. 94 DALIMATA, A.M.; GRAHAM, J.K. Cryopreservation of rabbit spermatozoa using acetamida in combination with trehalose and methyl cellulose. Theriogenology. V. 49, p. 831-41, 1997. DARIN-BENNETT, A.; WHITE, I.G. Influence of the cholesterol content of mammalian spermatozoa on susceptibility to cold-chock. Criobiology, 14:466-470, 1997. DAVIES-MOREL, M.C.G. Semen storage e transportation. In:___. Equine Arificial Insemination. Cabi Publishing, New York. 1a edição, 1999. cap. 7, p. 234-301. DELL’AQUA Jr, J.A.. Efeito da centrifugação, tipos de envase e temperatura de descongelação sobre os parâmetros espermáticos e índices de fertilidade relacionados com o local de deposição e concentração da dose inseminante do sêmen congelado eqüino. Botucatu, 2000, 81p. Tese (Mestrado) - 93 p. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista. “Júlio de mesquita Filho” DELL’AQUA Jr, J.A.; PAPA, F.O.; LOPES, M.D.; ALVARENGA, M.A.; MACEDO, L.P.; MELO, C.M.. Modulação da resposta inflamatória uterina aguda pós-inseminação com sêmen congelado eqüino. Ver. Bras. Reprod. Anim.. V. 27, n.3, 2003. DEMICK, D.S., VOSS, J.L., and PICKETT, B.W. Effect of cooling, storage with glycerolization and spermatozoal number on equine fertility. J. anim. Sci. 43, 633-637, 1976. DOS SANTOS, G.F.. Efeito do método e de taxas de resfriamento sobre as características físicas e morfológicas dos espermatozóides de jumentos (Equus asinus), presercados a 5 ºC. Belo Horizonte. 1994. 82p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Veterinária – UFMG. FÊO, J.C.S.A. Inseminação artificial equina: distribuição espermática no trato Genital. Estudo comparativo entre deposição de sêmen no corpo e no corno uterino ipsilateral ao folículo ovulatório. Botucatu, 1991. 28 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista. FERREIRA, J.C.P. Avaliação subjetiva e computadorizada do movimento espermático pós-descongelamento do sêmen eqüino. Botucatu, 2000. 93 p. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista. “Júlio de mesquita Filho” FISER, P.S.; FAIRFULL, R.W; MARCUS, G.J.. The effect of thawing on survival and acrossomal integrity of ram spermatozoa frozen at optimal and suboptimal rates in straws. Cryobiology. v.23, p.141-9, 1989. 95 FUMUSO, E.; GIGUÈRE, S.; WADE, J.; ROGAN, D.; VIDELA-DORNA, I.; BOWDEN, R.A.. Endometrial IL-1β, IL-6 and TNF-α, mRNA expression in mares resistant or susceptible to post-breeding endometritis Effects of estrous cycle, artificial insemination and immunomodulation. Veterinary immunology and Immunopathology 96, 31-41, 2003. GOMES, G.M.; JACOB, J.C.F.; MEDEIROS, A.S.L.; PAPA, F.O.; ALVARENGA, M.A.. Improvement of stallion spermatozoa preservation with alternative cryoprotectans for the Mangalarga Marchador breed. Theriogenology, 58, p. 277-279, 2002. GOMES, G.M.. Efeitos da inseminação artificial inflamatória ao sêmen (Mestrado) – Faculdade de Janeiro. seleção espermática por gradiente de percoll e por endoscopia, sobre a fertilidade e reação congelado de garanhões. 2002. 71p. Dissertação de Veterinária – Universidade Federal Rural do Rio GRAHAM, J.K.. Cryopreservation of stallion spermatozoa. Vet. Clin. N. Am.: Equine Pract. 12, 131-147, 1996. GRAHAM, J.K. Sperm phisiology: response to freezing & analisis of sperm function. In: ANNUAL MEETING OF SOCIETY FOR THERIOGENOLOGY, 1996, Proceedings.... Society for Theriogenology, 1998. p.54-9 GRAHAM, J.K. Evaluation of alternative cryoprotectants for preserving stallion spermatozoa. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON ANIMAL tH REPRODUCTION. 14 2000. Proceedings.... Stockholm: 2000. v.2, p.307. GUERRA, P. O Estado de São Paulo. Suplemento Agrícola, 6 agosto 2003. HAMMERSTED, R.H.; GRAHAM, J.K.. cryopreservation of poultry sperm: The enigma of glycerol. Cryobiology. 20, 26-38, 1992. HARRISON, R.A.; VICKERS, S.E.. Use of fluorescent probes to assess membrane integrity in mammalian spermatozoa. J. Reprod. Fertil., v. 88, p.343-52, 1990. HEITLAND, A.V.; JASKO, D.J.; SQUIRES, E.L. et al.. Factors affecting motion characteristics of frozen-thawed stallion spermatozoa. Equine Vet. J. v.28, n.1, p.47-53, 1996. HENRY, M.; McDONNELL, S.M.; LODI, L.D.; GASTAL, E.L.. J. reprod. Fertility Suppl. 44, 77-86, 1991. HENSON, L.L;. In situ conservation of livestock and poultry. FAO Animal Production & Health. Paper 99. 112 p, 1992. 96 HARRISON, R.A.P.; VICKERS, S.E. Use of fluorescent probes to asses membrane integrity in mammalian spermatozoa. J. Reprod. Fert., v.88, p. 343-52, 1990. HIRAI, M.; CERBITO, W.A.; WIJAYAGUNAWARDANE, M.P.B.; RAUN, J.; LEIDL, W.; OHOSAKI, K.; MATSUZAWA, T.; MIYAZAWA, K.; SATO, K.. The effect of viscosity of semen diluents on motility of bull spermatozoa. Theriogenology. 47, 1463-1478, 1995. HOLT, W. V.. Fundamental aspects of sperm cryobiology: The importance of species and individual differences. Theriogenology, v. 53, 47-58, 2000. JASKO, D.J.; MORAN, D.M.; FARLIN, M.E.; SQUIRES, E.L.; AMANN, R.P; PICKETT, B.W. Pregnancy rates utilising fresh, cooled and frozen-thawed stallion semen. Proc. 38th Ann Conv AAEP, 649-660, 1992 JULIANI, G.C.; SNOECK,P.P.N.; HENRY, M.. Efeito da trealose ou rafinose associada a acetamida/metilcelulose na criopreservaçao de sêmen equino. Rev. Bras. Reprod. Anim. V.27, n.3; p. 355-356, 2003. KAKEYA, A.Y.; LOPES, M.D.; PAPA, F.O.; MEIRA, C.. Resposta uterina aguda frente a inseminação artificial com sêmen “ïn natura” e com diferentes diluentes, através da citologia cervico uterina em éguas. Ver. Bras. Reprod. Anim. 22, 4, p. 216-219, 1998. KARP, G. The structure and Function of the Plasma Membrane. In:___. Cell and Molecular Biology. Concepts and experiments. Editores John, Wiley & Sons. Inc. New York. 2° edição, 1996, cap. 4, p. 122-172. KATILA, T. Onset and duration of uterine inflamatory response of mares after insemination with fresh semen. Biol. Reprod. Monogr.. 1, 515-517, 1995. KATILA, T.. Sperm-uterine interations: a review. Theriogenology, v.68, p.267272, 2001. KEITH, S.L. Evaluation of cryoprotectants for the preservation of equine spermatozoa. Tese de Mestrado – Colorado State University – Fort Collins, Colorado Spring.1998. KENNEY, R.M.; BERGMAN, R.V.; COOPER, W.L.. Minimal contamination techniques for breedind mares. Techiniques and preliminary findings. In: Annual Convention of American Association of Equine Practioners, Proc… v. 21, p. 327-36, 1975. KOTILAINEN, T.; HUHTINEN, M.; KATILA, T.. Sperm-induced leukocytosis in the equine uterus. Theriogenology, 41, 629-36, 1994. 97 KRECEK, R.C.; STARKEY, P.H.; JOUBERT, A.B.D.. Animal tractions in south Africa: Research priorities in veterinary science. Tydskr S. Afr. Vet Ver. 65, 150-153, 1994. KUNDU, C.N.; CHAKRABORLTY, J.; DUTTA, P.; BHATTACHARYYA, D.; GHOSH, A.; MAJUMDER, G.C. Development of a simple sperm cryopreservation model using a chemical defined medium and goat cauda epididymal spermatozoa. Cryobiology, v. 40, p. 117-125, 2000. LANDIM e ALVARENGA, F.C.; ALVARENGA, M.A.; MEIRA,C.. Equine Veterinary Suppl. 15, 67-70 p. 1993. LeBLANC M.M.; NEUWIRTH L; ASBURY AC; TRAN T; MAURAGIS D; KLAPSTEIN E. Scintigraphic measurement of uterine clearence in normal mares and mares recurrent endometritis. Equine Veterinary J. v.26, p.109113, 1994. LeBLANC M.M.; JOHNSON, R.D.; CALDERWOODS MAYS, M.B.; VALDERRAMA, C. ; MAURAGIS D; KLAPSTEIN E. Lynphatic clearence of India ink in reproductively normal mares and mares susceptible to endometritis. Biology of Reprod. Mono. 1, v.1, p.501-506, 1995. LANDIM-ALVARENGA, F.C.; ALVARENGA, M.A.; GRAHAM, J.K.. Viability and structure of stallion spermatozoa cryopreserved with glycerol and DMSO. Animal Reproduction Science (Abstracts), v. 68, p341-342, 2001. LeBLANC M.M.; NEUWIRTH, L.; JONES, L.. Differences in uterine position of reproductively normal mares and those with delayed uterine clearence detected by scintigraphy. Theriogenology. 50, p.49-54, 1998. LINDEBERG, H.; KARJALAINEN, H.; KOSKINEN, E.; KATILA, T.. Quality of stallion semen obtained by a new collection phantom (Equidame) versus a Missouri artificial vagina. Theriogenology. 51, 1157-1173, 1999. LODI, L.D.; HENRY, M.; PARANHOS da COSTA, M.. Behavior of donkeys jacks (Equus asinus) breeding horse mares (Equus caballus) at pasture. Biology of Reproduction Monogr. 1, 591-598, 1995. LOOMIS, P.R.; AMANN, R.P.; SQUIRES, E.L.. Fertility of unfrozen and frozen stallion spermatozoa extended in EDTA-lactose-egg yolk and package in straws. J. Anim. Sci.., v. 56, p. 687-693, 1983. MARIANTE, A.S; CAVALCANTE, N. Animais do descobrimento. Raças domésticas da história do Brasil. Embrapa sede/ Embrapa Recursos genéticos e Biotecnologia, p. 182-183, 2000. 228p. MARIANTE, A.S.; EGITO, A.A.. Animal genetic resources in Brazil: Result of five centuries of natural selection. Theriogenology. 57, 223-235, 2002. 98 MARTIN, J.C.; KLUG,E.; GÜNZEL, A.R. Centrifugation of stallion semen and its storage in large volume straws. Journal Reproduction Fertility, Suppl v.27, p.47-51,1979. McDONNEL, S.M.. Reproductive behavior of donkeys (Equus Asinus). Aplied Animal Science. 60, 277-282, 1998. MAZUR, P. Fundamental aspects of the freezing of cells, with emphasis on mammalian ova and embryos. Procqth Int. Congr. Amim, Reprod. And I.2, p. 99-114, 1980. MAZUR, P. Freezing of living cells. Mechanisms and aplications. American Journal Phisiology, v.247, p. 125-42, 1984. MAZUR, P. Equilibrium, quasi-equilibrium and nonequilibrium freezing of mammalian embryos. Cell Biophysics, Clifton, v.17, p.53-92, 1990. MEDEIROS, A.S.L; GOMES, G.M.; CARMO, M.T.; PAPA, F.O.; ALVARENGA, M.A.. Cryopreservation of stallion sperm using diferent amides. Theriogenology, 58, 273-276, 2002. MEDEIROS, A.S.L; CARMO, M.T.; PAPA, F.O.; ALVARENGA, M.A.. Utilização de amidas como croprotetores de espermatozóides de garanhões. In: Anais da XXIX Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária CONBRAVET, Gramado - RS, CD - 2002. MEDEIROS, A.S.L.. Utilização de diferentes tipos de amidas como agentes crioprotetores para espermatozóides de garanhões. 2000. 106p. Tese (mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu. MELLO, S.L.V.; HENRY, M.; SOUZA, M.C.; OLIVEIRA, S.M.P.. Effect of split ejaculation and seminal extenders on longevity of donkey semen preserved at 50 C. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.. 52, 4, p. 372-378, 2000. MIES FILHO, A. Reprodução dos animais e Inseminação Artificial, Porto Alegre, Sulina, 1987 (60 edição) vol.1, 726p. MORAIS, R.N.. CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA BILOGIA REPRODUTIVA DE JUMENTOS (Equus asinus). São Paulo, 1990. 107 p. Dissertação (Mestrado)- Universidade de São Paulo, Faculdade Veterinária, São Paulo. MOSES, D.F.; DE LAS HERAS, M.A.; VACCARCEL, A., Use of computarized motility analysis for the evaluationof frozen-thawed ram spermatozoa. Andrology, v.27, n. 1, p. 25-9, 1995. MURDOCH, R.N.; JONES, R.C.. The effects of glycerol on the metabolism and structure of boar spermatozoa. J. Reprod. Fertil.. v. 54, p. 419-422, 1978. 99 MURTHY, S.S.M. Some insight into the physical basis of the cryoprotetive action of dimethyl sulfoxide and ethylene glycol. Cryobiology, v. 36, p.8496, 1998. NASH, T. Chemical constitution and physical properties of compounds able to protect living cells against damage due to freezing and thawing. In: MERYMAN HT. Ed. Cryobilogy, New York: Academic. 179-210p. 1966. NEVES NETO, J.R.; MERCANTE, C.F.J.; ARRUDA, R.P.. Fertilidade do sêmen eqüino congelado com etilenoglicol ou glicerol. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 11, 1995, Belo Horizonte, MG: Anais... Belo Horizonte, MG: Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, 1995, p.292. NEVES NETO, J.R.; PAPA, F.O.. Criopreservação do espermatozóide eqüino utilizando fiferentes diluidores. Acta Scientiae Veterinariae. 31 (Suppl.), 504, 2003. NIE, G.J.; JOHNSON K.E. Pregnancy rate in mares following insemination with a low-dose of progressively motile or filtered sperm cells deep in the uterine horn. In: ANNUAL CONFERENCE THE AMERICAN COLLEGE OF THERIOGENOLOGISTS, 2000, San Antonio. Proceedings... Texas: Society for Theriogenology, 2000. p. 303. NIKOLAKOPOULOS, E.; WATSON, E.D.. Effect of infusion volume and sperm numbers on persistence of uterine inflamation in mares. Equine Vet. J., 32, 164-166, 2000. . OLIVEIRA, J.V; RESENDE, F.D.; CARMO, M.T. Estudo da função reprodutora de jumentas no período de baixa luminosidade no estado de São Paulo – Colina/SP. Rev. Bras. Reprod. Anim., 26, 2, abr./jun.. 2002. PACE, M.M. and SULLIVAN, J.J. Effect of timing insemination, number of spermatozoa and extender components on pregnancy rate in mares inseminated with frozen stallion semen. J. Reprod. Fert., Suppl.,23.115-1, 1975. PAPA, F.O.; ALVARENGA, M.A . Influência de diferentes substâncias como pós-diluente sobre a motilidade de sêmen congelado de eqüino em teste de resistência térmica a 38 ºC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 29, 1984, Anais, Bellém, 1984. p.66. PAPA, F.O.; BICUDO, S.D.; ALVARENGA, M.A.; RAMIRES, P.R.N.; CARVALHO, I.M.; LOPES, M.D.. Coloração espermática segundo Karras modificada pelo emprego do Barbatimão (Stryphnodendrum barbatiman). Arq. Med. Vet. Zootec., v.40, p.115-25, 1988. 100 PAPA, F.O.; CAMPOS FILHO, E.P.; ALAVARENGA, M.A.. Influência da forma de acondicionamento sobre a integridade acrossômica e termo-resistência de sêmen congelado de eqüino. Anais... IX Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, Belo Horizonte – MG. 1991, p.456. PAPA, F.O.; NEVES NETO, J.R. FERREIRA, J.CP.; ALVARENGA, M.A.; ALVARENGA, M. A . LEME, D.P.. A comparative study between the freeability and fertility of stallion semen using different extenders. In: ANNUAL MEETING OF SOCIETY FOR THERIOGENOLOGY, 1998, Baltimore, Maryland. Proceedings. Baltimore: society for Theriogenology, 1998. 1998. p.155. PAPA, F.O.; MEIRA, C.; SIMON, J.J.; FERREIRA, J.C.P.; DELL’AQUA Jr., J.A; LEME, D.P.. Precnancies in mares using donkey (equus asinus) frozen sêmen. Arq. Fac. Vet. UFRGS, Porto Alegre, v.27, p.262, 1999. PAPA, F.O.; ZAHN, F.S.; DELL’AQUA Jr.; J.A.; ALAVRENGA, M.A.. Utilização do diluente MP50 para criopreservação de sêmen equino. Ver. Bras. Reprod. Animal. V.26, n3, jul./set. P. 184-187, 2002 PARKS, J.E. Hypothermia and mammalian gametes. In:___.KAROW, A.M.CRISTER J.K. eds., Reproductive Tissue Banking. San Diego: Academic Press, 1997. p. 229-261. PHILLIPPE, M. A .. Inventaire de la population de la race “Baudet du Poitou”. Eds. Parc Naturel Regional du <arais Poitevin.. La Ronde, 1994. POLGE, C., MINOTAKIS, C.. Deep-freezing of jackass and stallion semen. In: V CONGRESSO INTERNAZIONALE PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE E LA FECUNDAZIONE ARTIFICIALE, Trento, Itália. 1964 POLGE, C.; SMITH, A.U.; PARKES, A.S.. Revival of spermatozoa after vitrification and dehydratation at low temperatures. Nature, v. 164, p. 666, 1949. REILAS, T.. Uterine luminal environment of the mare. Dissertação (Doutorado em Medicina Veterinária)., 2001. 80p., Finlandia. Department of Clinical Veterinary Sciences. Faculdade of Veterinary Medicine. Universidade of Helsinki, Finlandia and MTT Agrifood Research Finland, Animal Production Research, Equines. Ypäjä, Finland. ROSSI, T.C.; PAPA, F.O.; MACEDO, T.B. L.P.; ALVRENGA, M.A.; MELO, C.M.; DELL’AQUA Jr., J.O.. Efeito da utilização de diferentes crioprotetores e suas associações no processo de congelação de sêmen eqüino com meio MP50. Rev. Bras. Reprod. Anim. V.27, n.3; p. 350-352, 2003. ROWE, A.W. Biochemical aspects of cryoprotective agents in freezing and thawing. Cryiobiology, v. 3, p. 12-18, 1966. 101 SÁNCHES, R.; GOMES, I.; RAMOS, H.; ALVARENGA, M.A.; CARMO, M.T.. Utilization of deep uerine low dose insemination of frozen and cooled stallion sêmen in a commercial embryo transfer programme. In: 6Th International symposium on equine embryo transfer. August, Rio de Janeiro, Brasil, p. 40. 2004. SAMPER, J.C.; HEARN, P.; GANHEIM, A.; CURTIS, E.. Pregnancy rates and effect of extender on motility and acrosome status of frozen-thawed stallion spermatozoa. Proc. 40th Ann. Conv. AAEP, p. 41-42, 1994. SAMPER, J.C.; MORRIS C.A.. Current methods for a stallion sêmen cryopreservation: A survey. Theriogenology, v. 49, 895-03, 1998. SERRES, C.; RODRIGUEZ, A.; ALVAREZ, A.L.; SANTIAGO, I.; GABRIEL, J.; GOÉZ-CUÉTARA, C.; MATEOS, E.. Effect of centrifugation and temperature on the motility and plasma membrane integrity of Zamorano-Leonés donkey semen. Theriogenology 58, 329-332, 2002. SILVA, S.S.; HENRY, M.; NUNES, S.A. et al. Influência do sistema de envasamento sobre a qualidade espermática de jumentos (Equus asinus) avaliada “in-vitro” pós-descongelação. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.21, n.3, p.140-146, 1997. SQUIRES, E.L.; PICKET, B.W.; GRAHAM, J.K.; VANDERWAL, D.K.; MccUE, P.M.; BRUEMER, J.E.. Cooled and frozen stallion semen. Bulletin nº 9, Fort Collins, Colorado University. 1999. SNOECK, P.P.N.; FERREIRA, M.K.V.; HENRY, M.. Fertilidade do sêmen eqüino congelado com acetamida – Dados preliminares. In: Anais da XXIX Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária - CONBRAVET, Gramado - RS, CD - 2002. SNOECK, P.P.N.. Aspectos da criopreservação de sêmen eqüino: composição do meio diluidor, curvas de congelamento e fertilidade. Belo Horizonte. 2003. 116p. Tese (Doutorado) – Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. – UFMG. SQUIRES, E.L.; PICKETT, B.W.; GRAHAM, J.K. et al. Cooled and frozen stallion semen. Fort Collins: Colorado University, 1999. (Bulletin nº 9). TRIMECHE, A.; RENARD, P.; LE LANNOU, D. et al. Improvement of motility of post-thaw Poitou jackass sperm using glutamine. Theriogenology, Los Altos, v.45, p. 1015-1027, 1996. TRIMECHE, A.; ANTON, M.; RENARD, P. et al. Quail egg yolk: a novel cryoprotectant for freeze preservation of Poitou jackass sperm. Cryobiology, San Diego, v.34, p.385-393, 1997. 102 TRIMECHE, A.; RENARD, P.; TAINTURIER, D. A procedure for poitou jackass sperm criopreservation. Theriogenology, Los Altos, v.50, p.793-806, 1998. TRIMECHE, A.; YVON, J.M.; VIDAMENT, M. et al. Effects of glutamine, proline, histidine and betaine on post-thaw motility of stallion spermatozoa. Theriogenology, Los Altos, v.52, p.181-193, 1999. TROEDSON, M.H.T.; LIU, I.K.M.; ING, M.; PASCOE, J.R..Multiple site electromyography recording of uterine infection. J. Rep. Fertility, 307-313, 1993. TROEDSON, M.H.T.; LIU, I.K.M.; CRABO, B.G.. Sperm transport and survival in the mare. Theriogenology. 49, p. 905-915, 1998. TROEDSON, M.H.T.. Uterine clearence and resistance to persistent endometrits in the mare. Theriogenology. 52, p. 461-471, 1999. VARNER, D.D.. Semen preservation in stallions: possibilities and limitations. Compend. Cont. Educ. Practi. Vet., v.13, p.289-91, 1991 VENDRAMINI, O.M.; GUINTARD, C.; MOREAU, J.; TAINTURIER, D.. Cervix conformation: A first anatomical approach in Baudet du Poitou Jenny asses. Animal Science, 66, 741-744, 1998. VIDAMENT, M.; COTTRON, S.; YVON, J.M.; MAGISTRINI, M. Removal of glicerol from Frozen-thawed equine spermatozoa by fixed molarity multi-step method has no effect on motility. 14Th International Congress on Animal Reproduction. Stocolm 2000. P. 147. VIDAMENT, M.; YVON, J.M.; COUTY, I.. Advances in cryopreservation of stallion semen in modified INRA82. Animal Reproduction Science, Amsterdam, v.68, p.201-218, 2001. VIDAMENT, M.; DAIRE, J.M.; YVON, J.M.; DOLIGEZ, P.; BRUNEAU, B.; MAGISTRINI, M.; ECOT, P.. Motility and fertility of stallion semen frozen with glycerol and/or dimethyl formamide. Theriogenology, v.58, p. 1-3, 2002. (abstract) VIEIRA, R.C.; ARRUDA, R.P.; MANZANO, A.. Inseminação intercornual de eqüídeos com sêmen congelado em palhetas de 0,5 mL. In: Anais da XXII Reunião Anual da SBZ – Balneário Camboriú, SC – p. 298, 1985. WATSON, E.D.; NIKOLAKOPOULOS, E. GILBERT, C. GOODE, J.. Oxytocin in the semen and gonads of stallion. Theriogenology, 51, 855-865, 1999. WATSON, P.F. The effects of cold shock on sperm cell membranes. In: Morris, G.J., Clarke, A. (eds): Effects of low temperatures on biological membranes. London, Academic Press, p.189, 1981. 103 WATSON, P.F. The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. Animal Reproduction Science. v. 60, p. 481-92, 2000. WESSEL, M.T.; VO, A.T.; BALL, B.A. Gradient dilution for removal of glycerol from fresh and cryopreserved equine sperm. Anais congress garanhão Colorado 2001, p. 41. WINGFIELD DIGBY, N.J. The technique and clinical aplication of endometrial cytology in mares. Equine Vet, J.. 10, p. 167-170, 1978. ZAR, J.H.. Bioestatistical analysis (2 ed.) Englewood Cliffs., Prentice Hall, 718 p. 1984. ZERBE, H.; SCHUBERTH, H-J.; ENGELKE, F.; FRANK, J.; KLUG, E.; LEIBOLD, W.. Development and comparison of in vivo and in vitro models for endometriteis in cows and mares. Theriogenology. 60, p.209-223, 2003. ZÚCCARI, C.E.S.N. Efeito da criopreservação sobre a integridade estrutural da célula espermática eqüina. Botucatu, 1998. 121p. Tese (Doutorado) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 104 9 - ANEXOS Anexo 1 - Formulação do meio diluente de Kenney (Kenney et al.,1975) CONSTITUINTE QUANTIDADE Glicose 49g Leite desnatado 24g Bicarbonato de sódio a 10% 7,5ml Gentamicina 200mg Água bidestilada 1000ml 105 Anexo 2 - Ajuste do HTMA – IVOS – 10 para as realizações das análises seminais em eqüinos (Ferreira, 2000). Parâmetros Número de pontos examinados Ajuste 30 Contraste das células em relação ao campo 60 pixels Tamanho mínimo das células 3 pixels Contraste para células móveis 30 pixels Limite inferior para o índice retilíneo 80% Referência para velocidade média (VAP) <70µm/s Referência para velocidade lenta (VCL) <30µm/s Referência para velocidade lenta (VSL) <20µm/s Limite inferior de tamanho 0,62 pixel Limite superior de tamanho 2,98 pixel Limite inferior de intensidade 0,24 Limite superior de intensidade 1,19 Limite inferior de alongamento 0% Limite superior de alongamento 100% Lentos contados como móveis Não Magnificação 1,95 106 Anexo 3 - Soluções de estoque para utilização na técnica de fluorescência para avaliação de integridade de membrana plasmática do espermatozóide. Soluções Estoque IP Componentes Quantidade Iodeto de Propídio 10 mg Solução Fisiológica 20 mL Diacetato de Carboxifluoresceína 9,2 mg Dimetilsulfóxido 20 mL Formalina 40% 1 mL Solução Fisiológica 79 mL Estoque CFDA Estoque de Formaldeído Estoque de citrato de sódio Citrato de Sódio 3g Solução Fisiológica 100 mL Anexo 4 – Solução de trabalho para coloração fluorescente para avaliação da integridade de membrana plasmática do espermatozóide. Solução Solução de citrato de sódio 3% Volume 0,96 mL Solução de formaldeído 10 µl Solução de Iodeto de Propídio 10 µl Solução de Carboxifluoresceína 20 µl 107 Anexo 5 - Diluente MP50 - Solução Inicial (para 100 mL de diluente) Ingredientes 1- Água deionizada e destilada (aquecida) 2- Glicose anidra1 3- Citrato de Sódio1 4- EDTA1 5- Lactose1 6- gema de ovo 7- OEP2 Quantidade 70 mL 2,267 g 0,030 g 0,0183 g 2,549 g 4,760 mL 0,158 mL - Solução Final Ingredientes 1- Solução Inicial totalmente dissolvida 2- Leite em pó desnatado3 3- Citrato de Potássio1 4- Rafinose1 5- Hepes1 6- DME4 7- Amicacina1 8- Bicarbonato de Sódio 10%1 9- Ägua deionizada e destilada aquecida qsp Quantidade 75 mL 2,475 g 0,032 g 0,060 g 0,188 g 0,344 g 0,020 g 0,6 mL 95 mL Após completa dissolução da solução final, centrifugar a 5000rpm/20min e, se necessário corrigir novamente o volume para 95 mL e adicionar os crioprotetores. 108
Download