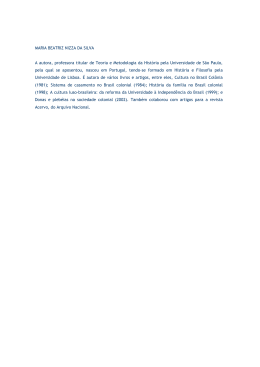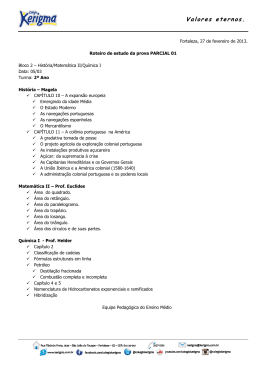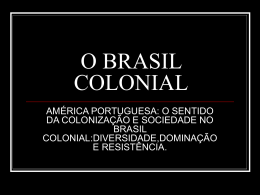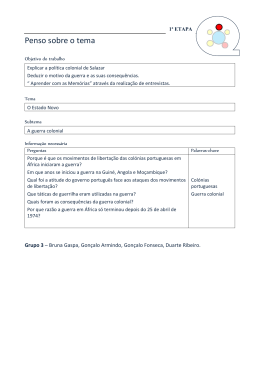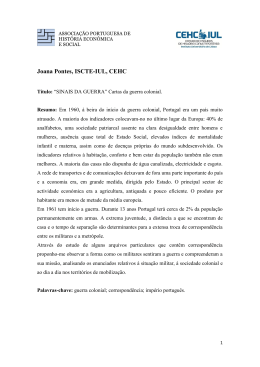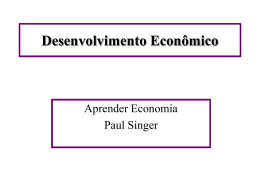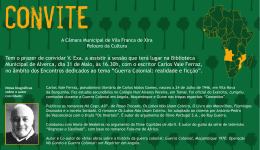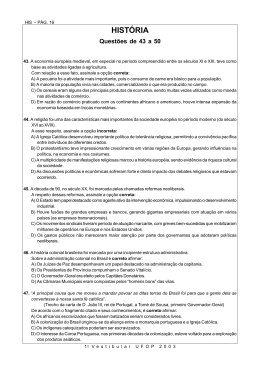Ficha Catalográfica
Anais do IV Encontro Internacional de História Colonial.
Encontros com a história colonial / Rafael Chambouleyron & KarlHeinz Arenz (orgs.). Belém: Editora Açaí, volume 1, 2014.
279 p.
ISBN 978-85-61586-70-5
1. História – Colonização portuguesa. 2. Espaço – América
Portuguesa – História. 3. Ocupação – Território – Colonização –
América colonial. 4. História.
CDD. 23. Ed. 338.9976
Apresentamos os Anais do IV Encontro Internacional de
História Colonial, realizado em Belém do Pará, de 3 a 6 de
Setembro de 2012. O evento contou com a participação de
aproximadamente 750 pessoas, entre apresentadores de
trabalhos em mesas redondas e simpósios temáticos,
ouvintes e participantes de minicursos. O total de pessoas
inscritas para apresentação de trabalho em alguma das
modalidades chegou quase às 390 pessoas, entre
professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação.
Ao todo estiveram presentes 75 instituições nacionais (8 da
região Centro-Oeste, 5 da região Norte, 26 da região
Nordeste, 29 da região Sudeste e 7 da região Sul) e 26
instituições internacionais (9 de Portugal, 8 da Espanha, 3
da Itália, 2 da França, 2 da Holanda, 1 da Argentina e 1 da
Colômbia). O evento só foi possível graças ao apoio da
Universidade Federal do Pará, da FADESP, do CNPq e da
CAPES, instituições às quais aproveitamos para agradecer.
Os volumes destes Anais correspondem basicamente aos
Simpósios Temáticos mais um volume com alguns dos
textos apresentados nas Mesas Redondas.
Boa leitura.
A Comissão Organizadora
Sumário
O domínio colonial e as populações do novo mundo
Silvia Hunold Lara.....................................................................................................................1
População no mundo colonial: algumas reflexões
sobre o espaço luso na América
Ana Silvia Volpi Scout.............................................................................................................15
A importância do porto do Rio de Janeiro nos séculos XVI-XVII para
a expansão e consolidaçao dos lusos na fronteira da América Meridional
Luiz Guilherme Scaldaferri Moreira..........................................................................................27
A “chave de prata do Brasil”: o rio da prata como
a fronteira sul da América Portuguesa
Paulo César Possamai ...............................................................................................................44
“É de minha conquista e cabe debaixo de minha demarcação”:
o Prata na gestão da monarquia portuguesa (1640-1680)
Marcello José Gomes Loureiro....................................................................................................59
As missões austrais: os jesuítas e o poder local nas fronteiras
Maria Cristina Bohn Martins ...................................................................................................72
Daniel Concina e Diego de Avendaño: dominicanos e jesuitas
no debate sobre o probabilismo jurídico na América do século XVII
Rafael Ruiz...............................................................................................................................85
Antônio Vieira e a diplomacia da Restauração portuguesa
Ronaldo Vainfas .......................................................................................................................96
De corpo e alma: o vínculo entre freiras e confesores
nos conventos portugueses do século XVIII
Georgina Silva dos Santos....................................................................................................... 109
Jesuítas: “os mais perigosos inimigos” da West Indische Compagnie
na América Portuguesa (1624-1654)
Mário Fernandes Correia Branco............................................................................................ 116
O corpo eloquente da palavra divina: pressupostos e métodos para
o estudo dos aspectos não verbais da pregação (séculos XVI-XVIII)
Guilherme Amaral Luz ......................................................................................................... 130
Os Mártires Jesuítas na Ocupação Espiritual do Território,
séculos XVI a XVIII: América e outras partes
Renato Cymbalista ................................................................................................................. 142
Carreiras e trajetórias da magistratura letrada que atuou nas Minas
Setecentistas: relações de poder, possibilidades de progressão e corrupção
Maria Eliza de Campos Souza.............................................................................................. 166
Ouvidores régios e as redes comerciais locais: negócios e
conflitos na capitania do Ceará no século XVIII
Reinaldo Forte Carvalho......................................................................................................... 179
Os governadores gerais e os governos das capitanias:
governação no Estado do Brasil, 1654-1681
Francisco Carlos Cosentino ..................................................................................................... 193
Os governadores e a prática do contrabando na
Capitania de Mato Grosso (1752-1793)
Nauk Maria de Jesus............................................................................................................. 210
Os homens de negócio da colônia do Sacramento e o
contrabando de escravos para o Rio da Prata (1749-1777)
Fábio Kühn............................................................................................................................ 221
Un Emblema Volante…! A Adaptação da Tradição Emblemática
nas Missões Jesuíticas da América Latina (séculos XVI-XVIII)
Renata Maria de Almeida Martins ........................................................................................ 236
Grotescas, Emblemas, Empresas: Funções do Ornamento
no Sistema Figurativo Híbrido da América Colonial
Luciano Migliaccio.................................................................................................................. 252
A Paisagem Política em Frans Post: A Pax Nassoviana e
a guerra pelo Atlântico Sul
Daniel de Souza Leão Vieira................................................................................................. 263
Encontros com a história colonial
1
O domínio colonial e as populações do novo mundo
Silvia Hunold Lara1
Um dos códices da coleção “Conde dos Arcos”, no Arquivo da Universidade de
Coimbra, intitulado “Disposições dos governadores de Pernambuco”,2 contém
documentos à primeira vista estranhos. Na parte de baixo da folha 334 está a cópia
de um “papel” enviado por Aires de Souza de Castro, então governador da capitania,
a Gangazumba.3 Datado de 22 de junho de 1678, o texto chama a atenção por seu
destinatário que, como se sabe, foi um dos líderes de Palmares.
Depois de declinar seus títulos, o governador dirige-se a Gangazumba para avisálo de que, em nome do príncipe de Portugal, remetia-lhe “o bem da liberdade” e o
perdoava por ter vivido “há tantos anos fora da [sua] obediência”.4 A concessão se
justifica pelo fato de o governador e os “filhos e família” de Gangazumba (que
compunham uma embaixada palmarina enviada ao Recife) terem acertado que
“todos os negros [dos] Palmares e os mais potentados deles” viriam, em paz, se
instalar na aldeia de Cucaú. O texto detalha as negociações realizadas na presença do
Conselho da capitania, enuncia os termos ajustados e reitera as promessas feitas na
ocasião. Sob a ameaça de retomada da guerra, Gangazumba tem um prazo de 30
dias para confirmar o que foi acordado por seus embaixadores.5
Essa não foi a única comunicação enviada pelo governador de Pernambuco ao
líder dos Palmares: naquele códice há ainda duas outras cartas dirigidas a ele, que vão
copiadas mais adiante. E mais outra, destinada a Gangazona, irmão de Gangazumba.
Elas indicam que o “principal” dos Palmares concordou com os termos do
acordo, pois na primeira delas, datada de 24 de julho de 1678, o governador acusa o
recebimento de um presente e de uma carta de Gangazumba, trazidos pelos
1
Depto. História – UNICAMP.
Disposições dos governadores de Pernambuco (1648-1696). Arquivo da Universidade
de Coimbra (AUC), CCA, IV, 3ª-I-1-31. O volume contém cópia com letra do século XVIII
dos registros de provisões, cartas, ordens e outros documentos enviados pelos governadores
de Pernambuco a diversas autoridades.
3 Ganazumbà, no original. Adoto aqui, para melhor comunicação, os nomes fixados pela
historiografia.
4 Papel que escreveu ao principal dos negros dos Palmares sobre as pazes que determinavam
fazer, em 22 de junho de 1687. AUC, VI, 3ª-I-1-31, fls. 334-334v, n. 6. O título do
documento é o que consta do índice desse códice.
5 Uma cópia desse “papel” foi remetida a Portugal em junho de 1678, junto com uma carta
do governador de Pernambuco, escrita no dia 22 daquele mês. Cópia do papel que levaram os
negros dos Palmares. Doc. anexo à carta do governador Aires de Souza de Castro de 22 de
junho de 1678. Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), AHU_ACL_CU_015, Cx. 11, D.
1116. O prazo de 30 dias consta apenas da cópia do AHU.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
2
IV Encontro Internacional de História Colonial
embaixadores que tinham vindo ao Recife confirmar o acordo, pouco antes de
vencer o prazo dos 30 dias. Aires de Souza de Castro manda notícias da mulher e
dos filhos de Gangazumba que haviam permanecido no Recife, reitera sua disposição
em cumprir as promessas feitas e expressa a estima que tinha em ver que
Gangazumba mostrava-se disposto a viver “debaixo da [sua] obediência”, pois nas
novas terras que lhe haviam sido concedidas, poderia “viver muito a [seu] gosto”,
com “descanso e conveniência”.6
As duas últimas cartas datam de 12 de novembro, quase cinco meses depois da
reunião do Conselho da capitania. Elas evidenciam que o acordo se concretizou: na
primeira, o governador saúda e dá boas vindas a Gangazumba por ter chegado em
paz a Cucaú, avisa que providenciou farinha e soldados para auxiliá-lo na instalação
de sua gente e que os padres prometidos já haviam sido enviados. Mas também
lamenta a morte do filho de Gangazumba que, segundo ele, havia sido batizado e
morrera como cristão.7 A segunda, dirigida a Gangazona, é ainda mais objetiva e
indica haver maior proximidade entre os correspondentes, talvez por tratar de
assuntos mais práticos. O texto menciona uma carta anterior de Gangazona e outra,
de um dos soldados que havia levado uma cópia do “papel” do acordo a Palmares,
que noticiam o deslocamento de muita gente em direção a Cucaú, inclusive de um
grupo que “viria em breve”, em companhia de Zumbi. Gangazona é tratado com a
mesma deferência que Gangazumba e, mais uma vez, a confiança na palavra
empenhada e no cumprimento das promessas feitas é reafirmada.8
O texto que selou o ajuste foi escrito como um documento que emana do
governo de Pernambuco: começa com a fórmula tradicional da identificação da
autoridade delegada a Aires de Souza de Castro pelo príncipe de Portugal, mas, ao
invés de expor suas determinações, descreve promessas e concessões, faz
oferecimentos e pedidos. É, explicitamente, um texto escrito para ser explicado por
intermediários qualificados - dois “soldados mui honrados e mui antigos” que sabem
a “língua” dos Palmares e serviram de emissários do governador.9
Aires de Souza de Castro e os demais oficiais pernambucanos não parecem ter
tido dificuldade em relação aos nomes de origem africana, que nesses documentos
designam pessoas específicas, nem às relações de parentesco entre os que governam
Palmares. Esses e outros nomes, bem como as relações de afinidade e parentesco,
6 Carta de Aires de Souza de Castro de 24 de julho de 1678. AUC, CCA, IV, 3ª-I-1-31, fls.
336v, n. 13.
7 Carta de Aires de Souza de Castro a Gangazumba, de 12 de novembro de 1678. AUC, CCA,
IV, 3ª-I-1-31, fls. 337-337v, doc. 15.
8 Carta de Aires de Souza de Castro a Gangazona de 12 de novembro de 1678. AUC, CCA,
IV, 3ª-I-1-31, fl. 337v, doc. 16.
9 Papel que escreveu ao principal dos negros dos Palmares sobre as pazes que determinavam
fazer, em 22 de junho de 1687.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
3
aparecem nomeadas na correspondência administrativa entre o governo de
Pernambuco e o Conselho Ultramarino, sobretudo a partir do final da década de
1670.10 Nas cartas que são examinadas aqui têm papel de destaque. Foram os filhos e
irmãos do “principal” de Palmares que lideraram as embaixadas e falaram em seu
nome, e dois de seus filhos permaneceram no Recife para atestar a veracidade da
palavra empenhada.11 A hierarquia política de Palmares foi, assim, reconhecida e
aceita pelo governo de Pernambuco, que acompanhou sua instalação nas terras de
Cucaú.
Esses textos seguem as regras retóricas que caracterizam documentos desse tipo e
mencionam a troca de cartas e presentes. Isso não significa que, em tão breve tempo,
laços de amizade, como entendemos hoje esse sentimento, tenham se desenvolvido
entre aqueles homens - mas sim que estamos diante de textos que seguem os rituais
da escrita administrativa e do diálogo entre autoridades com crédito e poder
equivalentes. É exatamente por serem documentos oficiais que foram registrados
pela secretaria de governo de Pernambuco12 e aparecem copiadas nesse códice da
coleção Conde dos Arcos.
10
A descrição mais detalhada, porém, aparece na crônica anônima provavelmente escrita em
homenagem a d. Pedro de Almeida em 1678, cuja transcrição foi publicada na Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 22, p. 303-329, 1859 com o título: Relação das
guerras feitas aos Palmares de Pernambuco no tempo do governador dom Pedro de Almeida
de 1675 a 1678 (M. S. offerecido pelo Exm. Sr. Conselheiro Drummond). É importante
lembrar que Joseph Miller já observou que a hierarquia política, entre os Mbundo, pode
muitas vezes ter sido expressa por meio da metáfora do parentesco. Assim as relações entre
pai e filho, entre tio e sobrinho ou entre irmãos, podem significar relações de submissão ou
posições que impliquem certos direitos ou obrigações. MILLER, Joseph C. Kings and
kinsmen: early Mbundu states in Angola. Oxford: Clarendon Press, 1976, p. 45. O mesmo
pode talvez se aplicar às relações de parentesco aqui mencionadas.
11 Ivan Alves Filho afirma que Aires de Souza de Castro adotou dois filhos de Gangazumba
quando da primeira embaixada enviada ao Recife. Há outras referências de que, ao serem
batizados, teriam recebido nomes cristãos que incorporaram o nome do governador. ALVES
FILHO, Ivan. Memorial dos Palmares. Rio de Janeiro: Xenon, 1988, p. 91. A informação
deve ter origem em Domingos Loreto Couto que destaca, dentre os “homens pretos”
pernambucanos “valorosos”, dom Pedro de Souza Castro Gangazona, natural de Cucaú, e
Brás de Souza Castro, irmão de Gangazona - ambos filhos de Gangazumba, que teriam
combatido os “negros rebelados”. COUTO, Domingos do Loreto. Desagravos do Brazil e
Glórias de Pernambuco [1757]. Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, v. 25, p. 107,
1903. Não localizei documentos administrativos que confirmem essas informações.
12 Para uma visão geral da atuação administrativa da secretaria da capitania de Pernambuco
ver MELO, Josemar Henrique de. A idéia de arquivo: a secretaria do governo da capitania
de Pernambuco (1687-1809). Porto: Tese de Doutoramento - Universidade do Porto, 2006.
Para uma avaliação de toda a coleção do “Conde dos Arcos”, ver o Guia do arquivo da
Universidade. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. Coimbra, v. 1, p. 159,
ISBN 978-85-61586-70-5
4
IV Encontro Internacional de História Colonial
A leitura dessas fontes suscita, de imediato, muitas perguntas.
Evidentemente várias delas dizem respeito à história de Palmares e do acordo de
1678 - temas que não vou tratar aqui. Meu interesse, nesse momento, é discutir
alguns aspectos que permitem explicar como e por que um governador de uma das
mais importantes capitanias do Estado do Brasil no século XVII pôde se
corresponder com chefes de mocambos formados por escravos fugidos. O caminho
leva, necessariamente a uma discussão sobre os processos da dominação escravista
no Brasil da segunda metade do século XVII e, também, sobre as formas do domínio
colonial no Novo Mundo.
Meu ponto de partida é o fato de que essas cartas registram a continuidade da
relação entre autoridades que se reconhecem mutuamente com poderes e hierarquias
governamentais, ao mesmo tempo militares e políticas. O que chama a atenção,
nesses textos, é o tratamento formal e igualitário entre seres tão diferentes e
distantes, do ponto de vista da cultura ou das relações de dominação - seja ela
colonial ou escravista. Trata-se de um “concerto de potência a potência”, como disse
uma vez Mário Martins de Freitas.13
Com o acordo firmado em 1678, o príncipe de Portugal passava a ser o senhor de
todos (“meu e vosso senhor”, como afirmou Aires de Souza de Castro na primeira
carta mencionada aqui) - mas isso não eliminou a hierarquia palmarina. Assim como
o governador negociou em nome do príncipe, os filhos de Gangazumba falaram em
seu nome. E ele, por meio dos filhos embaixadores, assumiu o compromisso em
nome de todos os que estavam sob seu poder. O poder de Gangazumba e a
hierarquia política interna aos Palmares não foram postos em questão nem limitados
por qualquer palavra no documento.
Nas cartas subsequentes, a obediência, essa “virtude que inclina a executar os
mandados do superior e sujeita a vontade de um homem à de outro”, como a definiu
Raphael Bluteau,14 serviu para reiterar a cadeia hierárquica que liga Gangazumba ao
governador e este ao príncipe - o único a não ser obediente a ninguém, salvo a Deus.
Esse ordenamento, que pressupõe uma solidariedade que caminha verticalmente em
direção ao soberano, faz parte da concepção de vassalagem, tal como entendida
nesse período, e como praticada não só no Reino,15 mas também nas “Conquistas”.16
1973. Ver também MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra
mascates. Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 14.
13 FREITAS, Mário Martins de. Reino Negro de Palmares [1954]. Rio de Janeiro:
Biblioteca do Exército, 2ª ed., 1988, p. 251.
14 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário portuguez & latino. Coimbra: Collegio das Artes da
Companhia
de
Jesus,
1712-1728,
verbete
“obediência”.
Acessível
em:
http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/1/obedi%C3%AAncia.
15 Obediência e perdão eram elementos fundamentais da concepção monárquica durante a
segunda metade do século XVII. Dentre os principais atributos do soberano estavam a
justiça, a capacidade de garantir fortuna e segurança aos súditos, e o respeito aos usos e
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
5
Há aqui uma sintaxe política que é preciso compreender e que está associada ao
modo como os colonizadores e as populações do Novo Mundo entraram em
contato e se enfrentaram no processo de construção das formas de domínio na área
colonial. Esse é o tema central desse breve texto.
O fenômeno histórico que enquadra a questão que se está discutindo é o da
expansão europeia da época moderna, que incorporou novas áreas “além-mar” ao
domínio das monarquias nacionais que se haviam formado naquele continente. No
caso português, que focalizo aqui, esse processo envolveu a formação de um império
colonial, que articulava territórios espalhados pelos quatro cantos do mundo,
habitados por uma diversidade de povos. Não há dúvida a respeito das tensões e
dilemas que a dominação colonial fez brotar e os historiadores não se cansam de
debater a natureza dos vínculos e nexos políticos, econômicos e culturais que
estiveram em jogo no processo de dominação e exploração das riquezas do Novo
Mundo pelos europeus.17
Grande parte da literatura sobre o tema da expansão ultramarina e da colonização
europeia no ultramar tem se dedicado a analisar seus aspectos econômicos e políticos
mais amplos. A colonização tem sido habitualmente tratada pela historiografia a
partir de grandes temas relacionados à economia, como a ocupação, o povoamento e
a valorização das terras do Novo Mundo, ou a exploração das riquezas produzidas
costumes, ao direito natural e às regras tradicionais. Para ser obedecido por seus vassalos, o
rei ou seus delegados tinham que governar com justiça e respeitar os usos e costumes locais.
Ao perdoar Gangazumba, o príncipe reafirmava suas qualidades como bom governante, em
condições de exigir obediência a seu novo “vassalo” Tal pressuposto envolvia,
necessariamente, princípios laicos e religiosos, associando as noções de fidelidade e
vassalagem, como bem observou CARDIM, Pedro. Religião e ordem social. Em torno dos
fundamentos católicos do sistema político do antigo regime. Revista de História das
Idéias. Coimbra, v. 22, p. 133-174, 2001.
16 Para o Reino de Angola, vide HEINTZE, Beatriz. Luso-african feudalism in Angola? The
vassal treaties of the 16th to the 18th century. Revista Portuguesa de História. Coimbra, v.
18, p. 111-131, 1980; e SANTOS, Catarina Madeira. Escrever o poder: os autos de
vassalagem e a vulgarização da escrita entre as elites africanas Ndembu. Revista de História.
São Paulo, v. 155, p. 81-95, 2006; para o Estado da Índia, vide SALDANHA, Antonio
Vasconcelos. Iustum Imperium. Dos tratados como fundamento do Império dos
portugueses no Oriente. Estudo de História do Direito Internacional e do Direito Português.
Lisboa: Fundação Oriente, 1997.
17 Há, evidentemente, modos diversos de abordar o tema, com implicações teóricas que não
vou discutir aqui. Para uma análise clássica e marcante da colonização portuguesa moderna
ver NOVAIS, Fernando Antonio. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial
(1777-1808). São Paulo: Hucitec, 1979, especialmente cap. 2. Para um exame mais específico
dos nexos coloniais no século XVII português, vide ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato
dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico sul. Séculos XVI e XVII. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
ISBN 978-85-61586-70-5
6
IV Encontro Internacional de História Colonial
nos circuitos coloniais e as formas de acumulação.18 Aos temas clássicos da história
econômica (a produção açucareira, a mineração e o comércio colonial) ou da
demografia histórica, a historiografia das últimas décadas somou os aspectos ligados
às mentalidades e ao cotidiano, como as crenças religiosas, as sexualidades, as
“heresias” religiosas, as formas de viver e sentir, e focalizou novos personagens e
experiências sociais diversificadas.19 Índios aldeados, administradores coloniais,
homens livres pobres, comerciantes de pequeno e grosso trato, lavradores de cana e
de alimentos foram sendo estudados no norte, no sul, nas minas, nas áreas de
lavoura e nos sertões.20 Ganhando perspectiva e incorporando novas fontes, as
análises passaram também a inquirir as projeções políticas presentes nas construções
explicativas e certos enquadramentos tradicionais da própria historiografia
começaram a ser postos em causa.21
Este crescimento dos estudos sobre a colonização e o “viver em colônia” foi
acompanhado por um renascimento e um redimensionamento da história política,
que passou a perscrutar o entrelaçamento dos interesses públicos e particulares, dos
poderes locais e centrais, das hierarquias sociais e das formas de acumulação de
riquezas, transformando a visão sobre as relações de poder no mundo colonial.22 As
18 Ver, a esse respeito, os comentários de BOSI, Alfredo. Colonia, culto cultura. A dialética
da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 11-63.
19 A avaliação é constante em muitos balanços bibliográficos sobre este período. Vide, por
exemplo, SOUZA, Laura de Mello e. Aspectos da historiografia da cultura sobre o Brasil
colonial. In: FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva.
São Paulo: Contexto, 3a ed., 2000, p. 17-38; e SCHWARTZ, Stuart B. Depois da
dependência: caminhos novos da historiografia brasileira. Da América portuguesa ao
Brasil. Estudos históricos. Lisboa: Difel, 2003, p. 273-304. Para um balanço da produção
norte-americana sobre o Brasil colonial vide RUSSELL-WOOD, A. J. R. United States
scholarly contributions to the historiography of colonial Brazil. Hispanic American
Historical Review. Durham, v. 65, n. 4, p. 683-723, 1985.
20 Um balanço desta diversidade pode ser traçado a partir das teses de mestrado e doutorado
defendidas nos diversos programas de pós-graduação do país a partir dos anos 1980-1990.
Ver, por exemplo, CAPELATO, Maria Helena Rolim; FERLINI, Vera Lúcia A. e GLEZER,
Raquel (Eds.). Produção histórica no Brasil, 1985-1994. São Paulo: Xamã, 1995, 3 vols.
21 Vide, por exemplo, SILVA, Rogério Forastieri da. Colônia e nativismo: a história como
“biografia da nação”. São Paulo: Hucitec, 1997; e FURTADO, João Pinto. O manto de
Penélope. História, mito e memória da inconfidência mineira de 1788-9. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002. O tema torna-se mais candente nos estudos voltados para o
período da independência. Um panorama dos desdobramentos desta perspectiva pode ser
encontrado nos artigos da coletânea organizada por JANCSÓ, István (Org.). Brasil:
formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec/ Editora Inujuí/Fapesp, 2003.
22 Ver FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima Silva e BICALHO, Maria Fernanda
Baptista. Uma leitura do Brasil colonial. Bases da materialidade e da governabilidade no
Império. Penélope. Lisboa, v. 23, p. 67-88, 2000. Para um balanço desta bibliografia vide
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
7
pesquisas sobre as formas de governar e sobre o funcionamento das diversas
instituições que agregavam e davam consistência às redes hierárquicas que ligavam
horizontal e verticalmente a sociedade colonial foram se desenvolvendo, em conexão
com estudos realizados para outras áreas do império português.23 Aos poucos, os
nexos imperiais das políticas metropolitanas e das dinâmicas coloniais foram se
impondo nas análises, fazendo com que eventos “brasileiros” pudessem ser
analisados em conexão com outros ocorridos na África ou na Índia.24
Há, entretanto, um aspecto do modo como as forças políticas se articularam para
controlar e explorar os novos territórios que me parece ter recebido pouca atenção embora apareça de modo claro em diversas fontes, especialmente nas mencionadas
aqui. A estranheza ou surpresa que as cartas do governo de Pernambuco dirigidas a
Gangazumba ou Gangazona despertam é uma boa evidência disso. Ao contrário do
enfoque mais frequente na historiografia, elas impedem que esse processo seja
abordado somente do ponto de vista do movimento colonizador. Ao colocarem no
centro da cena política as populações nativas do Novo Mundo, esses documentos
nos levam a considerar a natureza das relações entre os colonizadores (autoridades
metropolitanas ou coloniais e os próprios colonos) e os índios e africanos - esses, nas
duas margens do Atlântico.
Certamente, o modo como povos e civilizações diversas foram forçados a entrar
em contato com os europeus variou bastante. O tema não é novo na historiografia e
geralmente tem sido abordado em conexão com o dos descobrimentos, apoiado em
relatos de viajantes e missionários, explorando as representações europeias dos
povos recém-descobertos e a incorporação dos valores ocidentais pelas populações
HESPANHA, Antonio Manuel. A constituição do império português. Revisão de alguns
enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA,
Maria de Fátima (Orgs.). O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa
(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 163-188. Ver também
SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra. Política e administração na América
portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
23 Um panorama dos trabalhos realizados nesta direção pode ser encontrado em várias
coletâneas: FRAGOSO, J.; BICALHO, M. F. e GOUVÊA, M. F. (Orgs.). O antigo regime
nos trópicos…, e FURTADO, Júnia Ferreira (Org.). Diálogos Oceânicos. Minas Gerais e
as novas abordagens para uma história do império ultramarino português. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2001; BICALHO, Maria Fernanda e FERLINI, Vera Lúcia A. (Orgs.).
Modos de Governar. Ideias e Práticas Políticas no Império Português (sécs. XVI-XIX). São
Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005.
24 É o caso, por exemplo, de FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. O império em
apuros. Notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no império
colonial português, séculos XVII e XVIII. In: FURTADO, J. F. (Org.). Diálogos oceânicos,
p. 197-254.
ISBN 978-85-61586-70-5
8
IV Encontro Internacional de História Colonial
nativas.25 É preciso lembrar entretanto que, para além da dimensão cultural, o
contato entre culturas diversas no contexto dos impérios coloniais implicou - com
maior ou menor tensão - um diálogo político. Colocados em contato pelo movimento
da expansão europeia, povos com estruturas políticas e culturas diferentes foram
obrigados a lidar com os europeus - e vice-versa. Sem esse diálogo político, o
domínio colonial não poderia ter se estruturado e se mantido ao longo dos séculos.
Em virtude da necessária economia para expor de modo sintético meu
argumento, recorto a análise focalizando o mundo atlântico nos séculos XVI e XVII.
Vejamos primeiramente, em linhas gerais, os eventos ligados à ocupação portuguesa
na África Centro Ocidental.
Nos reinos do Kongo, do Ndongo e em outros reinos centro-africanos, o poder
estava assentado em linhagens descendentes de um ancestral comum (muitas vezes
mítico) ou por uma divindade. O domínio sobre as pessoas e o território era exercido
por meio de uma rede hierárquica de linhagens aparentadas, que controlava seus
membros e os escravos pertencentes a elas, usados como criados, soldados e
trabalhadores. Ao mesmo tempo político e religioso, o controle das linhagens
combinava-se à capacidade de obter tributos (cobrados em produtos, serviços,
incluindo os militares, e escravos). Por meio desse sistema corporativo e
hierarquizado, a riqueza, medida em produtos e escravos, circulava e podia ser
acumulada. A cobrança de taxas e tributos e as guerras - originadas por crises
sucessórias ou por rivalidades políticas - eram as formas mais frequentes de
crescimento econômico e aumento de poder político.26
Os portugueses conectaram-se a essa estrutura política, como parceiros políticos
e militares, interessados que estavam em obter escravos e outras riquezas, por meio
do controle indireto das rotas comerciais e dos tributos. No caso do Kongo, a
presença portuguesa foi garantida pela associação direta com o Mani Kongo, que
conseguiu manter sua relativa independência. As cerimônias dos tratados e acordos
entre os soberanos do Kongo e de Portugal misturavam elementos políticos e
religiosos, africanos e europeus; comerciantes portugueses e padres tinham salvo
conduto e, por vezes, influíam na política congolesa - mas nunca houve
governadores do Kongo nomeados por Lisboa.
Angola, ao contrário, foi ocupada militarmente. A região do reino do Ndongo,
um reino tributário do Kongo, foi conquistada por tropas portuguesas, tornando-se
25
Ver, por exemplo, FERRONHA, Antonio Luís (Org.). O confronto do olhar. O encontro
dos povos na época das navegações portuguesas. Lisboa: Ed. Caminho, 1991; e
BETHENCOURT, Francisco e CHAUDURI, Kirti N. (Orgs.). História da Expansão
portuguesa. Lisboa: Circulo de Leitores, 1998, especialmente volumes 1 (A formação do
Império, 1415-1570) e 2 (Do Índico ao Atlântico, 1570-1697).
26 Ver, entre outros, THORNTON, John K. A África e os africanos na formação do
mundo atlântico, 1400-1800. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 127- 137.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
9
uma capitania com um governador nomeado pelo rei português. A partir de 1607, a
Coroa retomou para si o governo, passando a nomear a cada três anos um capitãomor e governador da “conquista e reino de Angola e das mais províncias dela”.27
Tornou-se, assim, um poder concorrente em relação aos demais reinos e chefes
locais, lutando para impor a eles laços de vassalagem. Assim como os chefes
africanos, o governador de Angola buscava alianças com o poder militar oferecido
pelos bandos Imbangala.28 Conjugava guerra e alianças para fortalecer seu domínio
sobre a região, seus habitantes e riquezas.
Diferentemente do que ocorria no Kongo, onde os portugueses combatiam
grupos dissidentes com o apoio dos poderes locais, em Angola os portugueses se
aliavam e lutavam com os vários reinos e grupos políticos e militares africanos.29 As
posições portuguesas dependiam das guerras de conquista: eram elas que permeavam
as relações com os reinos e sobas locais, que permitiam o controle sobre as redes
comerciais que forneciam lucros, por meio da cobrança de impostos e do próprio
comércio de escravos e marfim (os principais produtos). Elas constituíam, também,
as formas mais rápidas de enriquecimento, pois ofereciam ocasiões propícias para o
comércio particular e para o roubo. A tensão entre defender e controlar as redes
comerciais ou guerrear envolvia não apenas os interesses da Coroa, como incluía
ainda aqueles dos governadores, dos agentes do tráfico e dos sobas. Sem guerras e
acordos de vassalagem, os navios do tráfico que zarpavam para a América não
podiam ser abastecidos.
Havia, portanto, uma sintaxe que conjugava guerra e paz, e articulava autoridades
portuguesas e linhagens locais, do Kongo e do Ndongo (e, depois, com menos
estabilidade, de Matamba e Kasanje).30 Expressa em kikongo, kimbundo e português,
essa sintaxe fazia sentido para os falantes das várias línguas. Guerras, campanhas
punitivas ou defensivas, acordos políticos e alianças militares estavam imbricados e
promoviam a produção e a circulação de escravos. A ação militar não era possível
sem o domínio político e vice-versa: o envio de tropas e a ajuda em caso de guerra
legitimava e assegurava os acordos de vassalagem, ao mesmo tempo em que fazia
parte de suas cláusulas, negociadas por meio de embaixadas nas quais os missionários
27
A expressão está na Carta patente do governador Manuel Pereira, de 2 de agosto de 1606.
FELNER, Alfredo de Albuquerque. Angola. Apontamentos sobre a ocupação e início do
estabelecimento dos portugueses no Congo, Angola e Benguela extraídos de documentos
históricos. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1933, p. 426-427.
28 Cf. HEYWOOD, Linda M. e THORNTON, John K. Central Africans, Atlantic
Creoles, and the foundation of the Americas, 1585-1660. N. York: Cambridge University
Press, 2007.
29 BIRMINGHAM, David. The Portuguese conquest of Angola. Londres: Oxford
University Press, 1965, p. 19.
30 HEYWOOD, L. M. e THORNTON, J. K. Central Africans, Atlantic Creoles…,
especialmente cap. 3.
ISBN 978-85-61586-70-5
10
IV Encontro Internacional de História Colonial
estavam muitas vezes presentes. Os tributos estipulados pelos capítulos ajustados
com o mani e os sobas forneciam escravos que, por sua vez, eram obtidos por meio
das guerras ou das feiras - que só funcionavam se abastecidas de prisioneiros e se as
caravanas atravessassem os sertões. Além das riquezas, as autoridades centroafricanas e portuguesas disputavam a hegemonia política, concorrendo umas com as
outras pelo domínio da região. Concorriam, também, com outras nações europeias
que, ao longo do século XVII, também passaram a participar desse jogo político.
Foi assim que se estruturou o domínio português na África Centro Ocidental e
foi por meio dessas alianças, ao mesmo tempo políticas e militares, que ele cresceu e
se defendeu das agressões das potências rivais, europeias ou africanas.
Na América, os portugueses tiveram de se haver com grupos estruturados de
modo diverso. Diferentes na língua e na cultura, Guaranis e Tupinambás ocupavam
as terras litorâneas mas “não formavam unidades políticas regionais: estavam
divididos, nas palavras dos cronistas, em várias 'nações', 'castas', 'gerações' ou
'parcialidades', algumas aliadas entre si, outras inimistadas até a morte”.31 Sem uma
estrutura centralizada ou um poder hierarquizado associado à cobrança de tributos, a
unidade política básica dos ameríndios era a aldeia. Várias delas podiam manter
relações pacíficas entre si, participar de rituais comuns, ligar-se por relações de
parentesco, reunir-se para expedições guerreiras, formando redes de aldeias.32
Essas nações foram reconhecidas pelos portugueses, que adotaram as aldeias
como unidade política primordial nas suas relações com os ameríndios. A fixação
dos índios em regiões próximas às áreas coloniais remonta à época do primeiro
governo geral e rapidamente o aldeamento se transformou em terreno de conflitos
entre índios, padres, missionários, senhores de engenho e autoridades coloniais.33
Não pretendo historiar aqui esses embates nem os debates jurídicos que eles
envolveram; basta observar que o assentamento dos indígenas em aldeamentos
próximos às áreas colonizadas e o modo como eram formados e governados estavam
imbricados na maneira como os portugueses percebiam e lidavam com as estruturas
políticas indígenas. Ao longo do século XVII, a mesma legislação que oscilou entre
31
FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 75.
Cf. FAUSTO, Carlos. Fragmentos da história e cultura tupinambá: da etnologia como
instrumento crítico de conhecimento etno-histórico. In: CUNHA, Manuela Carneiro da
(Org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; FAPESP/SMC,
1992, p. 381-396.
33 Para uma visão geral do avanço do processo colonizador sobre os territórios indígenas ver
HEMMING, John. Os índios e a fronteira no Brasil colonial. In: BETHEL, Leslie (Org).
História da América Latina: A América Latina colonial. São Paulo: Edusp; Brasília:
Fundação Alexandre de Gusmão, 1999, p. 423-469. Para uma análise mais específica da
política de aldeamentos ver ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses
indígenas. Identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 2003, cap. 2.
32
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
11
reconhecer a plena liberdade dos índios e permitir sua escravização, reformou
diversas vezes tanto os modos de utilizar o trabalho indígena quanto as formas de
administrar os aldeamentos, reconhecendo o poder dos “principais”.34
Localizados em função dos interesses da administração colonial na defesa do
território ou dos colonos em aproveitar o trabalho indígena, os aldeamentos tinham
suas terras reconhecidas como um território sob jurisdição especial.35 Governados
em nome do soberano português, por padres, capitães ou até pelos índios, eles
constituíam um lugar diferenciado em relação ao termo das vilas e cidades, sob a
alçada das câmaras. O regime de missões servia, assim, a interesses que mesclavam o
proselitismo cristão, a avidez por mão de obra, e a preocupações mais gerais de
defesa do território colonial contra os ataques dos índios bravios ou dos negros dos
mocambos.36
A política indigenista portuguesa também implicava a exploração das rivalidades
entre as várias nações - aspecto também aproveitado pelos holandeses e franceses em
suas tentativas de se fixar na América portuguesa. Os Potiguares da Paraíba, os
Junduís do Rio Grande, os Cariris e os Goianás da região do São Francisco foram os
principais aliados dos holandeses, enquanto os portugueses eram auxiliados por
outros Potiguares e por índios que haviam sido convertidos e integravam algumas
tropas, como a liderada por Antônio Felipe Camarão.37 A expulsão dos holandeses
foi, não por acaso, seguida de guerras - chamadas “dos bárbaros” - destinadas a
submeter esses contingentes indígenas, de modo a reconstruir o domínio
34
Cf. PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da
legislação indigenista do período colonial. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.).
História dos Índios no Brasil…, p.115-132; e também KIEMEN, Mathias C. The Indian
policy of Portugal in the Amazon region, 1614-1693. N. York: Octagon Books, 1973. Para
uma análise dos debates teológicos e jurídicos sobre as diversas formas de exploração do
trabalho indígena ver: ZERON, Carlos. Linha de fé. A Companhia de Jesus e a escravidão
no processo de formação da sociedade colonial (Brasil, séculos XVI e XVII. São Paulo:
Edusp, 2011, cap. 3.
35 Este é mais um tópico que variou conforme as leis promulgadas, mas esteve sempre
contemplado pela legislação. Cf. CUNHA, Manuela Carneiro da. Terra indígena: história da
doutrina e da legislação. Os direitos dos índios. Ensaios e documentos. São Paulo:
Brasiliense, 1987, p. 58-61.
36 THOMAS, G. Política indigenista dos portugueses no Brasil, 1500-1640. São Paulo:
Loyola, 1982, caps. 5 e 6.
37 Cf. RAMINELLI, Ronald. Nobreza Indígena: os chefes potiguares, 1633-1732. In:
OLIVEIRA, João Pacheco de. (Org.). A presença indígena no Nordeste. Rio de Janeiro:
Contracapa, 2011, p. 47-67; e GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e Alianças: os Potiguara
no conflito luso-holandês (1630-1654). In: POSSAMAI Paulo (Org.). Conquistar e
Defender: Portugal, Países Baixos e Brasil - Estudos de História Militar na Idade Moderna.
São Leopoldo: Oikos, 2012, p. 143-155.
ISBN 978-85-61586-70-5
12
IV Encontro Internacional de História Colonial
português.38 A negociação com os Junduís empreendida por Francisco de Brito
Freire em 1661 não chegou a ser escrita, mas nas guerras do sertão das capitanias de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande e Ceará, houve vários casos, na década de 1690,
em que os chefes indígenas fizeram as pazes com as autoridades coloniais, firmando
tratados que foram registrados por escrito.39
A sintaxe política centro-africana não era pois a única a articular guerras e acordos
de paz. Na capitania de Pernambuco - assim como no resto do Estado do Brasil e no
do Maranhão - os descimentos e os aldeamentos eram práticas constantes para
“reduzir” os índios e trazê-los à obediência do soberano português. A recusa em
descer para as missões ou a fuga delas transformava os índios em rebeldes e sujeitos
a “campanhas de punição”. Podiam servir de justificativa para a guerra contra eles,
do mesmo modo que os ataques dos índios bravios do sertão contra os colonos.
Ainda que a historiografia tenha apenas recentemente atentado para esses aspectos,
eles foram fundamentais para a instalação do domínio português nas terras da
América e para a exploração de suas riquezas.
Depois desse rápido passeio, podemos voltar ao acordo de paz de 1678.
Tudo indica que Gangazumba tenha negociado e se comportado na
implementação do acordo feito com o governo de Pernambuco de modo semelhante
a muitas lideranças africanas diante das autoridades portuguesas do outro lado do
Atlântico. Como tal, ele foi identificado pelas autoridades coloniais: como “rei” dos
Palmares, detentor de poderes políticos assentados em uma rede de relações
familiares (de parentesco sanguíneo ou político), que lhe permitia falar em nome de
seus “súditos”.40 Talvez tenha agido assim justamente para salvar sua linhagem (e as
linhagens a ele submetidas) e preservar seus súditos da destruição completa. Também
é provável que, como muitos sobas centro-africanos fizeram, ele tenha procurado
alianças para solidificar seu poder e conseguir reconhecimento e respeito de seus
“vizinhos”. As duas possibilidades não são excludentes - e ambas revelam que, nesta
outra margem do Atlântico, havia homens e mulheres que agiam inspirados por uma
cultura política centro-africana.
De modo diferente daqueles que ficaram na África, porém, os homens e mulheres
escravizados no Brasil que fugiram e construíram os mocambos nos Palmares
38
PUNTONI, Pedro. A guerra dos bárbaros. Povos indígenas e as colonização do sertão.
Nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec /Edusp, 2002. Ver também MEDEIROS,
Ricardo Pinto de. Povos indígenas nas guerras e conquista do sertão nordestino no período
colonial. Clio. Recife, v. 27, n. 1, p. 331-361, 2009.
39 Para alguns exemplos desses acordos ver PUNTONI, P. A guerra dos bárbaros…, p.
300-304.
40 Os termos rei e súditos aparecem em vários documentos relativos à história de Palmares,
designando Gangazumba e os mocambos sob seu domínio. Talvez o melhor exemplo seja a
Relação das guerras feitas aos Palmares de Pernambuco no tempo do governador dom Pedro
de Almeida de 1675 a 1678.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
13
encontraram homens que, embora conhecendo a sintaxe política centro-africana,
pois participavam das lides da administração ultramarina, tinham outras maneiras de
pensar e objetivos diversos em relação aos habitantes da América que esperavam
manter sob seu domínio. No Estado do Brasil e em Pernambuco, a cultura política
que informava as ações dos escravos fugitivos - da formação de mocambos ao
fortalecimento das linhagens - encontrava outros elementos, diversos daqueles
existentes na África Centro Ocidental. Ainda que os negros dos Palmares tivessem
sido reconhecidos pelas autoridades coloniais como um poder separado, cujo
governo estava assentado em uma linhagem similar à do reino do Ndongo, as
negociações realizadas em 1678 não necessariamente levavam a uma aliança como
aquelas realizadas com os sobas de Angola.
Vários aspectos da negociação que resultou na elaboração do “papel” examinado
no início desse texto são semelhantes aos acordos com os sobas centro-africanos,
como a devolução de fugitivos ou o compromisso de ajuda militar para submeter os
que não seguissem os termos acordados. Mas Aires de Souza de Castro tentou
transformar os mocambos de Palmares em uma aldeia.41 Ao invés de deixá-los
permanecer nos Palmares, promoveu o descimento dos habitantes dos Palmares para
Cucaú, situado em região mais próxima de Serinhaém - e da sede da capitania. A
presença em Cucaú dos padres oratorianos, ordem missionária por excelência e
bastante ligada aos poderes coloniais em Pernambuco, reforça a hipótese de que o
modelo do aldeamento indígena tenha orientado as ações do governador de
Pernambuco. Outros fatores talvez tenham pesado para determinar o deslocamento
daquelas pessoas, já que as terras de Palmares - seguindo o costume - podiam ser
distribuídas aos participantes mais destacados das campanhas contra os mocambos,
como forma de remunerar seus serviços.
Como disse, não quero enveredar na discussão sobre os termos e os significados
do acordo de 1678, mas tomá-lo como indicativo do modo como sintaxes políticas
foram articuladas no processo de implantação do domínio colonial no Novo Mundo.
O governador de Pernambuco pôde negociar e dirigir-se a Gangazumba por meio de
cartas oficiais expedidas e registradas por sua secretaria de governo porque tratava-se
de estabelecer uma aliança política que pudesse manter o domínio conquistado por
força das armas sobre gente rebelde. Ao agir dessa forma, lançava mão do repertório
de práticas políticas que regulavam o modo como os colonizadores lidavam com as
populações do Novo Mundo. Gangazumba e outras lideranças palmarinas, por sua
vez, puderam compreender o gesto de Aires de Souza de Castro porque conheciam
essa sintaxe política tal como praticada na África Centro Ocidental e conjugaram-na
em função de seus próprios interesses.
41
A hipótese é extensamente analisada em LARA, Silvia Hunold. Palmares & Cucaú. O
aprendizado da dominação. Campinas: Tese de Titularidade UNICAMP, 2009.
ISBN 978-85-61586-70-5
14
IV Encontro Internacional de História Colonial
Como já observei mais extensamente em outra ocasião, os significados da
escravidão e da experiência escrava nem sempre foram levados em conta na análise
das questões políticas imbricadas na história do império colonial português. Talvez
isso tenha ocorrido porque os debates que têm atraído os historiadores do período
colonial ficam muitas vezes distantes daqueles que tratam da história da escravidão,
como se essas fossem duas áreas separadas da historiografia. Como então lembrei,
não se trata apenas de incorporar o tráfico negreiro como parte importante dos
mecanismos da exploração colonial ou de enfatizar os nexos econômicos e políticos
entre a África e o Brasil. Recorrendo aos ganhos analíticos da produção recente
sobre a história da escravidão nas Américas, salientei a importância de incorporar a
experiência escrava na história da América portuguesa.42
Espero ter mostrado nesse breve texto que é possível ir além, ao levar em conta o
peso que as políticas indígenas na América e as políticas africanas tiveram na
constituição das políticas coloniais. É preciso conceder às populações do Novo
Mundo a condição de sujeitos políticos atuantes no processo mais amplo da
colonização, nos dois lados do Atlântico. Dito de outro modo, não há história da
colonização nem do domínio colonial se não considerarmos os interesses políticos,
as lógicas e a atuação daqueles que viviam nas terras conquistadas por Portugal.
As fontes administrativas que todos usamos - como essas cartas registradas na
secretaria de governo de Pernambuco - documentam o modo como essas sintaxes
políticas se articularam: suas fórmulas retóricas, os termos empregados e as praxes
narrativas acionadas mostram como, para ser exercido, o poder colonial precisou
“incorporar” índios e africanos.43 Há uma linguagem política e institucional
registrada nessas fontes que também é preciso conhecer e levar em consideração na
análise e no estudo da história da colonização. Nelas podemos ver o gesto da
dominação colonial, mas também o ponto de vista e as ações dos africanos e dos
índios diante dos europeus.44
Será possível continuar a fazer a história do processo de domínio e exploração
das riquezas do coloniais sem considerar a atuação política das populações do Novo
Mundo?
42
Cf. LARA, Silvia Hunold. Conectando Historiografias: a escravidão africana e o antigo
regime na América portuguesa. In: BICALHO, M. F. e FERLINI, V. L. A. (Orgs.). Modos
de Governar…, p. 21-38.
43 Esse parágrafo é inspirado em THORNTON, J. K. Early Kongo-Portuguese relations: a
new interpretation. History in Africa. Madison, v. 8, especialmente, p.183-186 e 197-198,
1981.
44 Essa perspectiva tem sido explorada com resultados muito interessantes por TAVARES,
Ana Paula e SANTOS, Catarina Madeira (Orgs.). Africae Monumenta. A apropriação da
escrita pelos africanos. Lisboa: Instituto de Investigação Científica e Tropical, 2002,
especialmente p. 471-533; e SANTOS, C. M. Escrever o poder: os autos de vassalagem e a
vulgarização da escrita entre as elites africanas Ndembu…
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
15
População no mundo colonial:
algumas reflexões sobre o espaço luso na América1
Ana Silvia Volpi Scott2
Toda a ciência humana, sem uma possante base demográfica,
não passa de um frágil castelo de cartas, toda História que não
recorre à Demografia priva-se do melhor instrumento de análise
(Pierre Chaunu).
Parti dos dados demográficos para passar às realidades que eles
ocultam; destas realidades das atitudes perante a vida, a idade, a
doença, a morte, os homens de outros tempos não gostavam de
falar, ou até não eram deles conscientes; a análise das séries
numéricas faz aparecer modelos de comportamento até agora
inacessíveis e clandestinos: assim a mentalidade aparece sempre
no fim de uma análise das estatísticas demográficas (Philippe
Ariès).
A Mesa Redonda Plenária “População no mundo colonial” que integra o IV Encontro
Internacional de História Colonial lança o grande desafio de se refletir sobre um
tema que é fundamental para aqueles que estudam o passado americano. A proposta
desse paper é fazer algumas reflexões sobre o espaço americano partir do estudo das
suas dinâmicas populacionais, concentrando sua atenção especificamente no território
sob domínio luso no continente americano.
O mote escolhido para essa reflexão inspirou-se nas duas frases que abrem este
paper. Pierre Chaunu já nos meados dos anos 1970 chamava a atenção para a
importância da contribuição da demografia para os estudos históricos.3 Da mesma
forma, Philippe Ariès aponta a diretriz que tem orientado minhas reflexões em torno
da Demografia Histórica ou História Demográfica,4 através da qual muito mais que
os números, as estatísticas demográficas abrem caminho para desvendar
comportamentos da população que estão muito além das variáveis demográficas
1
Essas reflexões são fruto dos projetos financiados pelo CNPq: Além do Centro-Sul: por uma
história da população colonial nos extremos dos domínios portugueses na América (coordenado por Sergio
O. Nadalin – UFPR) e Família e sociedade no Brasil meridional -1772-1835 (coordenado por Ana
Silvia Volpi Scott). Acrescente-se também o projeto Gentes das Ilhas: trajetórias transatlânticas dos
Açores ao Rio Grande de São Pedro entre as décadas de 1740 a 1790 (coordenado por Ana Silvia
Volpi Scott e com financiamento Fapergs e CNPq). A autora agradece a essas instituições.
2 Programa de Pós-Graduação em História/ Unisinos.
3 CHAUNU, Pierre. Histoire, science sociale. Paris: SEDES, 1974.
4 Apud NAZARETH, J. M. Demografia – a ciência da população. Lisboa: Editorial
Presença, 2004.
ISBN 978-85-61586-70-5
16
IV Encontro Internacional de História Colonial
estritas.5 Como será possível ver, mais adiante, o uso adequado e elaborado de
conceitos demográficos pode dar uma contribuição fundamental para compreensão
da sociedade no passado colonial latino-americano.
Contudo, antes de entrar na problemática privilegiada nesta comunicação, é
importante tecer algumas considerações sobre os elementos que interferem no
comportamento das populações, pois isso nem sempre está claro para os
pesquisadores que não estão familiarizados com a Demografia Histórica ou com os
estudos de população em perspectiva histórica.
Em linhas muito gerais, o estudo do passado colonial americano também pode ser
feito a partir de uma perspectiva demográfica, que leva em conta tanto a estrutura
como a dinâmica da população.
Quando nos referimos ao estudo da estrutura de uma população, qualquer que
seja, estamos nos referindo às características “estáticas”, isto é, a um momento no
tempo, que nos informam sobre o tamanho da população, sua distribuição territorial
e sua composição por sexo, idade, cor, ou características socioeconômicas (são as
chamadas “estatísticas de estoque”). Por outro lado, quando nos mencionamos à
dinâmica populacional, referimo-nos a eventos que modificam estas características,
como são os nascimentos (natalidade), casamentos (nupcialidade),6 óbitos
(mortalidade) e a migração/ mobilidade da população (estatísticas de fluxo).
No que tange especificamente ao mundo de colonização ibérica na América é
necessário sublinhar ainda algumas características compartilhadas pelas populações
radicadas neste espaço. A primeira característica, sem dúvida, é a sua
heterogeneidade, tanto do ponto de vista étnico, quanto cultural e religioso. A
mestiçagem é outro traço distintivo das populações coloniais e, talvez, especialmente
intensa no espaço dominado pela coroa portuguesa.
A presença dominante de formas compulsórias de trabalho também conforma
mais uma característica importante das populações da América de colonização
5 Minha tese de Doutorado, Famílias, Formas de União e Reprodução Social no Noroeste Português,
apresentada ao Instituto Universitário Europeu, em 1998, colocou em prática essa diretriz.
Partiu do estudo das variáveis demográficas, para dar as bases para a reflexão sobre a
reprodução social das populações e das famílias na região noroeste de Portugal entre os
séculos XVIII e XIX, em um contexto de emigração estrutural, que caracterizou aquela região
portuguesa, tendo como pano de fundo a discussão do regime demográfico europeu. A
conjugação de metodologias seriais e microanalíticas possibilitou o estudo aprofundado de
temas que interessam de perto à História Social. A tese foi publicada em Portugal, no ano de
1999, e agora está no prelo a edição brasileira, a ser publicada no âmbito da coleção EHILA
(Estudos Históricos Latino-americanos), numa parceria do Programa de Pós-Graduação em
História da Unisinos com a Editora Oikos.
6 Quando nos referimos à nupcialidade, compreende-se aquela que se dá de maneira
socialmente reconhecida (através do casamento que, por sua vez, legitima a reprodução
biológica).
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
17
ibérica. No caso da América Portuguesa chamamos a atenção também para as
formas de alforria da população escrava, que permitiu o surgimento e incremento da
categoria dos Forros/ Libertos que, ao longo do tempo se tornou mais expressiva,
especialmente em algumas regiões da antiga colônia portuguesa.
As populações fixadas nos territórios ibero-americanos caracterizaram-se da
mesma forma, por uma intensa mobilidade. Tal mobilidade foi resultado tanto da
entrada constante de elementos externos (entrada de europeus e de africanos, por
exemplo), como também dos deslocamentos internos, que foram marca distintiva
dessas populações.7
Os padrões familiares das populações coloniais apresentam também aspectos
específicos, se comparados com aqueles da Europa Ocidental, por exemplo. No
espaço latino-americano as uniões não consagradas pela Igreja e elevadas taxas de
fecundidade ilegítima faziam parte da vivência de muitos indivíduos que, por conta
disso, experimentavam formas alternativas de relacionamento entre os sexos,
baseadas em uniões consensuais estáveis.8 Paralelamente, devido à intensa
mobilidade diferencial masculina, essa sociedade caracterizava-se também por um
percentual significativo de domicílios com chefia feminina.
Em linhas gerais esses são alguns dos traços que definem as dinâmicas
populacionais nas Américas. Vejamos agora o recorte aqui privilegiado, que focaliza
as “populações” no território de domínio luso na América.
População luso-brasileira em perspectiva histórica
O interesse pela história da população esteve presente desde os primórdios da
historiografia brasileira, a partir dos esforços iniciais do Instituto Histórico e
Geográfico do Brasil (IHGB), que procurava compreender o processo de formação
do “povo brasileiro”, como nos informa Sergio Nadalin.9 Para o autor, essa questão
ganhava força no espaço de uma jovem nação que buscava uma identidade própria,
esforçando-se por se dissociar de uma trajetória de três séculos de dominação
europeia. Nesse contexto, parecia fundamental definir as “especificidades brasílicas”,
o que muitas vezes resultava em idealizada valorização dos autóctones. Foi nesse
contexto que a produção historiográfica e literária, de matiz romântica, idealizou o
7 Para o caso luso-Veja-se por exemplo, NADALIN, S. O. A população no passado colonial
brasileiro: mobilidade versus estabilidade. Topoi, vol. 4 n. 7, p. 222-243, jul-dez. 2003.
8 Há uma extensa produção relativa à história da família na América Latina. Apenas a título
de ilustração cito o número especial revista População e Família, vol. 5, 2003, sobre a
família ibero americana; assim como a revista História Unisinos, vol. 11, 2007 com dossiê
temático sobre família latino-americana.
9 Conforme projeto submetido ao CNPq: Além do centro-sul: por uma história da população
colonial nos extremos dos domínios portugueses na América.
ISBN 978-85-61586-70-5
18
IV Encontro Internacional de História Colonial
ameríndio e, ao mesmo tempo, criou o “mito das três raças” fundado no pressuposto
de que as relações étnicas no Brasil sempre se deram harmoniosa e pacificamente.
Nadalin nos revela que, somente tempos depois, na viragem da década de 1960
para a de 1970, é que houve uma mudança substancial nessa interpretação clássica,
que foi resultado do avanço do diálogo de pesquisadores brasileiros com
historiadores e demógrafos europeus, particularmente os ligados às instituições
francesas e inglesas. A partir daí, foram introduzidos em determinados centros de
pesquisas no Brasil, as novas formas de a historiografia tratar a matéria “população”.
Sobressaem neste contexto os nomes de Maria Luiza Marcílio, assim como as
contribuições fundamentais do grupo reunido na Universidade Federal do Paraná
(UFPR), sob a direção de Altiva Pilatti Balhana e Cecília Maria Westphalen.
No entanto, para nossos objetivos, partiremos das considerações elaboradas por
Maria Luiza Marcílio, em capítulo intitulado “A população no Brasil Colonial”, que
integra a coleção História da América Latina (organizada por Leslie Bethell).10
Naquela oportunidade a autora chamava a atenção para o fato de que o estudo e a
reconstituição da população brasileira durante a era colonial, seu tamanho no
decurso de três séculos, seus componentes regionais e seu ritmo de padrões de
crescimento era uma tarefa que “só muito recentemente começava a interessar
estudiosos brasileiros”.
Um dos obstáculos que havia dificultado o estudo da população em perspectiva
histórica, sem dúvida, estava atrelado à disponibilidade de fontes documentais
apropriadas. Por conta disso, a autora propunha uma classificação dos períodos da
história do Brasil, para efeito de estudo da demografia retrospectiva, mostrando que
estudos mais acurados de demografia só seriam possíveis a partir da segunda metade
do século XVIII, quando as fontes se tornariam mais abundantes. Contudo, somente
no último quartel do século XIX que, de fato, começaram a ser produzidas com
regularidade as fontes propriamente demográficas, isto é os Censos (1872 é o ano do
primeiro recenseamento nacional, único no período escravista) e, o Registro Civil de
nascimento, casamentos e óbitos (instituído a partir de 1890).11
Em que pesem as dificuldades relativas à disponibilidade de fontes e a limitação
dos estudos sobre população elaborados até então, Marcílio apresentava as
características básicas da demografia do Brasil colonial, distinguindo três padrões
10
Publicado originalmente em inglês pela Cambridge U. Press, em 1984. A versão brasileira
da coleção saiu em 1999. Veja-se: MARCÍLIO, M. L. A população do Brasil Colonial. In:
BETHELL, Leslie. História da América Latina: A América Latina Colonial. São Paulo:
Editora da USP; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, vol. II, 1999, p. 311-338.
11 O registro anteriormente era da competência da Igreja (sob o padroado régio), constituindo
o conjunto composto pelos registros paroquiais de (batizado, casamento e óbito). A
classificação propõe o chamado período pré-estatístico (para os primeiros depois século e
meio da colonização), o período proto-estatístico (1750 a 1872) e, finalmente, o período
estatístico, a partir de 1872.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
19
demográficos das populações coloniais: 1) o padrão da elite colonial, em grande parte
europeia e por definição “branca”; 2) o padrão vinculado à demografia escrava,
especialmente nas regiões de grande lavoura, atreladas ao mercado de exportação e
na região mineira; 3) o padrão demográfico do setor pobre da população livre,
envolvida em atividades produtivas marginais à economia de exportação.
Essa proposta baseava-se nos resultados dos estudos que se valiam, sobretudo, da
exploração das conhecidas Listas Nominativas de População ou Maços de
População, disponíveis para a Capitania-Província de São Paulo (que, grosso modo,
cobriam também a região do atual estado do Paraná entre os anos de 1760 e
1840/50), e Minas Gerais em alguns anos específicos. Poucos dos estudos feitos
haviam utilizado as fontes paroquiais, e aplicado a metodologia clássica da
Demografia Histórica: a reconstituição de famílias, proposta por Louis Henry e
Michel Fleury.
Mesmo assim, em que pesem as muitas limitações, a aplicação dos métodos e
técnicas da Demografia Histórica permitiu, posteriormente, avançar no
conhecimento dos comportamentos das populações coloniais radicadas notadamente
no sudeste brasileiro, assim como foi possível também explorar o período posterior à
passagem do século XVIII para o XIX, adentrando inclusive no século XX, através
do estudo de grupos de imigrantes, tais como descendentes de alemães, italianos e
ucranianos. Deve-se sublinhar também, que pouco ou nada se conhece a respeito das
dinâmicas populacionais do período anterior finais do XVIII e aos anos oitocentos
e/ou vivenciadas nas demais partes do país, assim como pouco, ou quase nada se
avançou no conhecimento relativo às populações indígenas.12
A contribuição do Grupo de Pesquisa Demografia & História para o estudo
da história da população brasileira
Diante desse quadro lacunar e desequilibrado relativo aos estudos da população
brasileira em perspectiva histórica, um grupo de pesquisadores de variadas
instituições resolveu agregar esforços em torno de uma iniciativa inédita, visando
contribuir para o avanço do conhecimento sobre a história da população brasileira
no período colonial. Trata-se do projeto de longa duração, proposto pelo Grupo de
Pesquisa (CNPq) “Demografia & História”, preocupado com a investigação dos regimes
demográficos que caracterizaram o passado brasileiro.
12
Em 2005 foi publicada uma reflexão crítica sobre os quarenta anos de Demografia
Histórica no Brasil, onde os autores aprofundam essa discussão. O artigo publicado na
REBEP pode ser acessado em http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v22n2/v22n2a09.pdf.
Assinam a publicação Carlos Bacellar, Ana Silvia Volpi Scott e Maria Silvia C. B. Bassanezi.
ISBN 978-85-61586-70-5
20
IV Encontro Internacional de História Colonial
Diferentemente do que se poderia imaginar a discussão dos regimes demográficos
vai muito além do estudo das variáveis demográficas estritas, uma vez que esse
conceito define-se como
o conjunto de relações e de mecanismos que estão na base da
organização social quer da reprodução biológica de uma
população, quer da reprodução do conjunto de relações
mediante as quais se regula a apropriação social (e a distribuição)
dos meios de vida dessa população. Essa formulação um tanto
abstrata visa sublinhar o fato de os comportamentos
demográficos não se verificarem num vácuo e de o seu
enquadramento social – em primeiro lugar, no âmbito do
sistema familiar – ser em muitos casos de importância
decisiva para a determinação das dinâmicas
demográficas.13
O projeto de abrangência nacional em andamento no âmbito do GP Demografia
& História, padroniza os procedimentos metodológicos para a coleta e o tratamento
das fontes documentais, compostas pelos registros paroquiais (assentos de batizado,
casamento e óbito) possibilitando análises comparadas no tempo e no espaço. Com
base na exploração sumária e amostral das fontes selecionadas o Grupo de Pesquisa
Demografia & História pretende avançar na discussão a respeito dos regimes
demográficos diferenciados do passado brasileiro.
Assim, na primeira etapa da proposta do GP, almeja-se contribui para sanar o
flagrante desequilíbrio no conhecimento da história demográfica brasileira,
concentrado na região sudeste. Optou-se, portanto, por privilegiar, inicialmente, as
fontes paroquiais referentes ao período colonial e circunscritas às regiões Norte,
Nordeste e ao Extremo sul.14
A padronização de formulários para a inserção das informações em bancos de
dados informatizados criados e utilizados pelos pesquisadores integrados ao grande
projeto foi o passo inicial. Tal estandardização é condição sine qua non para facilitar o
trabalho de coleta nas fases posteriores do grande projeto do grupo, tendo em vista a
necessidade de garantir a maior eficiência possível no levantamento de dados, a
melhor qualidade no cruzamento dos mesmos e para evitar duplicação de esforços.
13
ROWLAND, Robert. População, família, sociedade – Portugal, séculos XIX-XX.
Oeiras: Celta Editora, 1997, p. 14. Grifos nossos.
14 Para aprofundar a discussão que dá as bases para o projeto, veja-se: NADALIN, S. O. et al.
Más allá del Centro-Sur: por una historia de la población colonial en los extremos de los
domínios portugueses en América (siglos XVII-XIX). In: CELTON, Dora; GHIRARDI,
Mónica; CARBONETTI, Adrián. (Org.). Poblaciones históricas: fuentes, métodos y líneas
de investigación. Rio de Janeiro: ALAP Editor, 2009, p. 137-153.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
21
Tal procedimento viabiliza o desenvolvimento de análises comparativas no
espaço e no tempo e o estabelecimento de generalizações que possam fornecer
subsídios confiáveis para testar nossas hipóteses relativas aos diferentes regimes
demográficos que caracterizariam as populações do passado brasileiro.
Paralelamente às atividades de organização, crítica e descrição das fontes,
pretende-se empreender diversos esforços no sentido de divulgar a proposta do
grupo nas diversas instituições de pesquisa das regiões selecionadas. O grupo se
propõe a organizar encontros e palestras com vistas a estimular a realização de
pesquisas com a documentação levantada e de constituir uma rede nacional de
pesquisadores na área de história demográfica.
Desafios e avanços no estudo das dinâmicas populacionais no passado
brasileiro
A discussão relativa aos diferentes regimes demográficos vem na esteira das
reflexões de Marcílio sobre os padrões demográficos no passado brasileiro. Além da
análise das características da população colonial, no texto referido anteriormente,
Marcílio desenvolveu uma reflexão mais alargada sobre a temática15 que foi retomada
por Sergio Nadalin vinte anos mais tarde e que deu as bases teóricas para o projeto
que está em curso.16 O autor parte da hipótese da coexistência de diferentes regimes
demográficos, que foram concebidos a partir de sua diversidade regional e de suas
características específicas. Essa proposta é o ponto de partida para as reflexões dos
pesquisadores que integram o projeto.
Essas hipóteses deverão ser comprovadas a partir do levantamento amostral dos
assentos paroquiais para as diferentes regiões do país, o que permitirá a reflexão
sobre a validade da discussão sobre os regimes demográficos que teriam vigorado no
passado colonial. Parte-se de um conjunto de dez tipos, a seguir discriminados, com
suas respectivas características:17
o
Regime demográfico “paulista”: caracterizaria a
população que se aventurou no sertão, caracterizado por um
tipo de migração que, por meio de seus fluxos, construíam
caminhos e plantavam arraiais; migrações em família, geralmente
fundada na mestiçagem, acompanhavam também os escravos,
índios e negros;
15
MARCÍLO, Maria Luiza. Sistemas demográficos no Brasil do século XIX. In: MARCÍLIO,
M. L. (org.) População & sociedade. Evolução das sociedades pré-industriais. Petrópolis:
Vozes, 1984, p. 193-207.
16 NADALIN, S. O. História e Demografia: elementos para um diálogo. Campinas:
Associação Brasileira de Estudos de População – ABEP, 2004.
17 Ibidem, p. 133 e segs.
ISBN 978-85-61586-70-5
22
IV Encontro Internacional de História Colonial
o
Regime demográfico das “plantations”: vigoraria no
interior do sistema, possivelmente generalizado até o XVIII,
destacando-se a autarquia do engenho. Regimes demográficos
restritos seriam concernentes às camadas senhoriais e aos
escravos da plantation; Haveria a possibilidade de um regime de
mortalidade original fundado na concentração de escravos,
facilitando a transmissão de epidemias;
o
Regime demográfico da escravidão: caracterizado
pela complexidade das flutuações da produção, tráfico,
continuidade do fluxo, reforço da cultura africana no Brasil,
repercussões da fecundidade, morbidade/mortalidade dos
escravos, razão de sexo, estrutura etária da população,
possibilidades postas pelo casamento, famílias escravas mais ou
menos estáveis, e as características das próprias senzalas;
o
Regime demográfico da “elite”: como refere, diria
respeito aos comportamentos demográficos da elite senhorial e
dos grupos sociais próximos à aristocracia colonial: grupos com
patrimônio a zelar e a transmitir, estratégias complexas para
atingir esses objetivos. Sistema matrimonial seria caracterizado
pelo adiamento do casamento dos varões aliado ao precoce
casamento das mulheres, esperança de vida mais alta, opção pela
consanguinidade;
o
Regime demográfico das sociedades campeiras:
fundados nas autarquias do gado ligados às plantations (tríade
latifúndio, patriarcalismo, escravidão), mas com especificidades
relativas ao caráter mais nômade dos seus componentes,
densidade demográfica mais rala da estância. O gado avança e
com ele, o senhor e sua família, os agregados, os peões, o
mestiços, os negociantes ligados ao sistema. Clima de guerra, em
face das tensões criadas com os aborígenes;
o
Regime
demográfico
das
economias
de
subsistência: estruturado em função das plantations e das
estâncias, grupos de população dedicavam-se a viver do que
plantavam e vender o excedente, eventualmente ligados a
atividades sazonais;
o
Regime demográfico das “drogas do sertão”: regime
restrito aos colonos que se aventuravam na colheita das drogas
do sertão e outros produtos demandados pela Metrópole,
estabelecendo uma relação muito especial com os indígenas;
também ajudaria a compreender as migrações que se fariam na
região em função exploração da borracha, no XIX;
o
Regime demográfico das secas do sertão:
peculiaridades climáticas, postular um regime demográfico
fundado no regime de secas do sertão nordestino, articulado às
economias de subsistência e à criação do gado, caracterizado
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
23
pela grande mobilidade gerada pelas fomes periódicas que
assolavam a região;
o
Regime demográfico restrito aos colonos açorianos:
registrar formas de organização familiar e do domicílio, os
sistemas de parentesco rompidos com as migrações e que foram
reconstruídos nas economias de regime familiar na colônia;
o
Regime demográfico das economias urbanas:
próprio do litoral e em grande parte fundados na dependência
do comércio e dos portos (especialmente depois de 1808) e a
cultura urbana mineira. Mobilidade que inaugura o sistema pode
fazer esse regime ser aparentado com o “paulista”. É possível
ainda, equacionar um regime demográfico “mineiro”; cuja base
desenvolve-se em função de especificidades regionais muito
características.
Como foi sublinhado anteriormente, o projeto “Além do centro-sul” (referido na
nota 1) está priorizando estudos relativos aos extremos da América Portuguesa.
Temos em andamento subprojetos que focalizam freguesias dessas regiões, que
utilizam programa informatizado especialmente desenvolvido para a equipe de
pesquisadores efetuar a coleta padronizada dos dados, o NACAOB.18
Um desses subprojetos está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Pará
e a equipe é coordenada por Antônio Otaviano Vieira Júnior, que coleta a
documentação composta pelos assentos paroquiais de paróquias de Belém.
No extremo sul, atualmente estão em andamento dois subprojetos. O primeiro
tem como espaço privilegiado a paróquia da Madre de Deus de Porto Alegre, entre
os anos de 1772 e 1835. Está em adiantado estágio de coleta dos dados: todos os
assentos de casamento já foram inseridos. Em fase final está a coleta dos assentos de
batizado e de óbito.19 O segundo projeto trata especificamente da população de
origem açoriana que se radicou em algumas freguesias da Capitania do Rio Grande
18
O programa foi desenvolvido por Dario Scott, que coordena, no âmbito do GP
Demografia & História toda a parte técnica. Para informações sobre o programa, veja-se:
SCOTT, Dario & SCOTT, Ana Silvia Volpi. Cruzamento Nominativo de Fontes: desafios,
problemas e algumas reflexões para a utilização dos registros paroquiais. XV Encontro
Nacional de Estudos Populacionais. Caxambú: ABEP, 2006; SCOTT, Dario & SCOTT,
Ana Silvia Volpi. NACAOB: una opción informatizada para historiadores de la familia. In:
CELTON, Dora; GHIRARDI, Mónica; CARBONETTI, Adrián. (Org.). Poblaciones
históricas… Rio de Janeiro: ALAP Editor, 2009, p. 171-185.
19 Desse projeto já resultaram diversas comunicações e artigos, assim como o seu material
subsidiou uma dissertação de Mestrado e três Trabalhos de Conclusão de Curso,
apresentados na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente está em andamento
mais uma tese de Doutorado e uma dissertação de Mestrado que exploram os dados da
Madre de Deus.
ISBN 978-85-61586-70-5
24
IV Encontro Internacional de História Colonial
de São Pedro na segunda metade do século XVIII. Aqui estamos trabalhando, além
da freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre com as freguesias de Viamão e Itaqui
e a pesquisa está em sua primeira etapa. Nossa atenção está voltada, inicialmente,
para os assentos de casamento e batizado.
Enfim, o aprofundamento da discussão sobre a população no mundo colonial
demanda, de acordo com nosso ponto de vista, um investimento maior na reflexão
sobre os diferentes regimes demográficos que coexistiram no passado brasileiro.
Somente um debate alimentado pela exploração das fontes paroquiais poderá
fornecer algumas das repostas sobre a dinâmica populacional na América portuguesa
e como essa impactou nos sistemas familiares que se organizaram no espaço luso.
A exploração sumária dos dados coletados para a Madre de Deus já confirmou
que algumas das características demográficas estavam presentes também na região do
extremo sul da colônia lusa na América.
A atual cidade de Porto Alegre, capital do estado mais meridional do Brasil - o
Rio Grande do Sul - teve sua origem na freguesia da Nossa Senhora da Madre de
Deus de Porto Alegre. Localizada às margens do Guaíba, na região conhecida à
época por “Campos de Viamão”, Porto Alegre, conforme Sandra Jatahy Pesavento20
teve sua origem na sesmaria de Santana, recebida por Jerônimo de Ornelas em 1740.
Inicialmente a região que se caracterizaria pelas estâncias de criação de gado para o
mercado interno, por conta da necessidade de animais para abastecimento e
transporte na região de Minas Gerais, que à época vivia o auge da exploração
aurífera.
Em 1772, o Porto dos Casais foi elevado à condição de freguesia (denominada
São Francisco dos Casais), desmembrando-se de Viamão. Em 1773, finalmente,
passa a ser denominada como “freguesia da Madre de Deus de Porto Alegre”, ao
mesmo tempo em que conhece nova etapa de desenvolvimento com a chegada dos
migrantes açorianos, fugidos dos conflitos militares originados da invasão espanhola
do Rio Grande em 1763. A partir daí foram demarcados lotes, ruas e estradas,
reservando-se uma área denominada de Alto da Praia (atual Praça da Matriz), para a
instalação dos primeiros equipamentos públicos e, paralelamente, foram distribuídas
datas de terra aos açorianos.
De um povoado tranquilo, na encruzilhada dos caminhos, a freguesia de Nossa
Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre seria alçada a Capital do “Continente”
em 1773, vila em 1809 e cidade em 1822.
A forte mobilidade populacional e o crescimento acelerado da população por
conta da entrada de contingentes de fora da capitania e do reino, em maior
proporção sexo masculino, ficaram comprovadas pelos dados levantados: em 1780 a
população da freguesia ultrapassava, por pouco, os 1.500 habitantes; em 1822
20
PESAVENTO, Sandra Jatahy (coord.). Memória Porto Alegre: espaços e vivências. Porto
Alegre: UFRGS; Prefeitura Municipal, 1991.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
25
alcançar cerca de 12.000 habitantes, como também pela análise da naturalidade dos
homens e mulheres que se casaram na Madre de Deus.
Em relação à natalidade aqui também encontramos elevadas taxas de fecundidade
ilegítima, com uma peculiaridade interessante. Enquanto na década de 1770 a
ilegitimidade rondaria os 30%: desse percentual, 29,4 seriam as crianças naturais e os
expostos somariam 0,8%; na década de 1810 os números continuariam altos, em
torno de 26,4%, mas a distribuição teria sofrido uma alteração digna de nota: as
crianças registradas como naturais teriam tido uma queda significativa, baixando para
19,5%, enquanto que o número de crianças expostas (abandonadas, sem a
identificação de seus pais,) teria subido para quase 7%. Seria essa mudança resultado
da crescente urbanização da freguesia?
Esses últimos indicadores, relativos à fecundidade ilegítima, mostram a
importância das relações entre homens e mulheres que se davam fora do âmbito do
matrimônio reconhecido e legitimado pela Igreja.
O cruzamento dos assentos paroquiais com róis de confessados também nos leva
a perceber outras facetas dessa população. Através do rol de confessados da
freguesia para o ano de 1782 verifica-se que, quase 19% dos fogos, eram chefiados
por mulheres.
A exploração dessa fonte confirma as transformações importantes que ocorreram
na freguesia no último quartel do século XVIII. A população total cresceu, assim
como o número de fogos, embora o tamanho médio do domicílio tenha registrado
pequena queda. O espaço ocupado foi sendo ampliado e redesenhado. De acordo
com o rol relativo ao ano de 1779, a população se distribuía em duas ruas: a Rua da
Praia e a Rua Nova. O grosso da população concentrava na Rua da Praia (82.%).
Pelo mapa apresentado por Clovis Oliveira, relativo ao ano de 1772, outras ruas são
arroladas. Mas a informação do rol de 1779 limita-se a mencionar somente aquelas
duas.21
Clóvis Oliveira afirma que já no início da década de 1770, grandes transformações
teriam marcado aquela localidade: em 1772, por Pastoral do Bispado do Rio de
Janeiro o povoado, conhecido como Porto dos Casais (açorianos que lá se haviam
fixado em 1752), era elevado a Freguesia. E o capitão Engenheiro Alexandre José
Montanha havia sido designado para demarcar a ‘praça do novo lugar’, bem como
traçar as primeiras ruas e as ‘meias datas’ que seriam destinadas aos colonos. Cada
uma delas correspondia a uma área de 135,5 hectares (616m de frente por 2.200m de
fundo).22
Por outro lado, pelo rol de 1782, podemos perceber uma mudança na
organização do espaço urbano e os entornos “rurais”. A população já se aglomerava
21 OLIVEIRA, Clovis Silveira. Porto Alegre a cidade e sua formação. Porto Alegre:
Gráfica e Editora Norma, 1985.
22 Ibidem, p. 23.
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
26
em oito áreas distintas: as Ruas da Praia, da Igreja e Rua Formosa; as áreas
identificadas como Arsenal, Campo da Tumasa, Cristal, Passo d’Ornellas, Fora do
Portão, e arrolava-se, por fim, o Destacamento de Infantaria da freguesia. Mais da
metade (51.5%) se concentrava nas três ruas. A maior aglomeração fora desse núcleo
central eram os moradores instalados ‘Fora do Portão’ com 17.1%. Seguiam-se os
moradores no Capão da Tumasa com 12.0%, no Arsenal que reunia 7.5%, no Cristal
com 6.8% e no Passo d’Ornellas com escassos 2.2%. O destacamento de infantaria
da freguesia reunia 48 soldados, correspondendo a 2.8% da população total arrolada
no referido ano de 1782.
O coronel José Marcelino de Figueiredo, que governou a Capitania do Rio
Grande de São Pedro entre 1769 e 1780, tem um papel importante nessa
transformação, por conta de diversas ações: a transferência da capital de Viamão para
Porto Alegre em 25 de julho de 1773, a construção de uma linha de fortificações para
defender a freguesia, a abertura de fontes públicas e outras medidas como o
incremento a plantação de trigo, promoção do estabelecimento de fábricas, moinhos,
estaleiros, instalação do Arsenal, onde se procedia a feitura de espadas, conserto de
pistolas e confecção de fardamento para a tropa. Do mesmo modo, a linha de
fortificações em volta do casario serviu também para delimitar a ‘zona urbana’.23
Portanto, pelos finais da década de 1770, com as ruas delineadas e os colonos
açorianos organizados, Porto Alegre consolidava sua vocação urbana e, em 1794,
registra-se a instalação do primeiro local organizado para divertir a população – a
Casa da Comédia – que em 1797 passou a se chamar Casa da Ópera.
Assim, os espaços se diversificam, a população aumenta, e as crianças nascem em
maior número (a média de batizados entre 1773 e 1780 foi 72,7; enquanto que entre
1781 e 1790 foram 112,6 batizados por ano).
Com base nesses e em outros dados que estão sendo coletados procuraremos,
portanto testar e refinar a hipótese relativa ao regime demográfico característico
dessa população, comparando-o, oportunamente, a outras áreas estudadas pelos
integrantes do Grupo de Pesquisa. Isso, seguramente, contribuirá para enriquecer o
nosso conhecimento sobre as populações da América lusa, subsidiando, a partir do
cruzamento com outras fontes quantitativas e qualitativas, inserções no campo da
História Social.
23
Ibidem, p. 31-38.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
27
A importância do porto do Rio de Janeiro nos séculos XVI-XVII para a
expansão e consolidaçao dos lusos na fronteira da América Meridional
Luiz Guilherme Scaldaferri Moreira1
Este artigo é parte resumida de minha dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Neste trabalho procuramos traçar o perfil dos capitães das fortalezas da Baía
de Guanabara, na segunda metade do século XVII. Do mesmo modo, analisamos o
processo de escolha daqueles agentes empreendidos pelo Conselho Ultramarino e
pela Coroa lusa. Considerando que o estudo tinha como foco a História Social
abordamos as fontes por meio da chamada Nova História Militar.2 Para dar conta
desta empresa, precisávamos situar nossos agentes no espaço físico, tanto nas
fortalezas como na própria baía de Guanabara. Por isso, era vital entender um pouco
das condições materiais das fortalezas da capitania do Rio de Janeiro, particularmente
das duas mais importantes, Santa Cruz e São João. Veremos aqui como este cenário
era visto pelos viajantes, pelos agentes estatais (Coroa, governador-geral, governador
da capitania, Senado da Câmara etc.); as condições físicas das fortalezas e de seus
armamentos; um breve histórico e seus estilos arquitetônicos peculiares.
Comecemos pela sua importância estratégica. Os dois fortes,3 Sta. Cruz e S. João,
localizam-se na entrada da Baía de Guanabara, que banha o porto da cidade do Rio
de Janeiro. O de Sta. Cruz encontra-se na cidade de Niterói, do lado direito de quem
chega ao recôncavo pelo Oceano Atlântico, região conhecida no século XVII como
banda “d´além”. Já o de S. João fica aos pés de um dos principais pontos turísticos
do município do Rio de Janeiro, o famoso bondinho do morro Pão de Açúcar,
atração construída no século XX, no bairro atualmente conhecido como Urca. Lá do
alto conseguimos, ainda hoje, visualizar as duas construções e percebemos que uma
está praticamente de frente para a outra, o que facilitava o controle da circulação dos
navios que chegavam e saíam da urbe.
1
Doutorando em História (UFF) e Professor da Universidade Veiga de Almeida.
TEIXEIRA, N. S. A história militar e a historiografia contemporânea. Revista a nação e a
defesa. Lisboa: Inst. da Defesa Nacional, ano XVI, nº 59, p. 53-71, 1991; WEHLING, A. A
pesquisa da História Militar Brasileira. Revista da Cultura. Rio de Janeiro: Exército
Brasileiro, ano I, nº 1, p. 35-38, jan/jul 2001; COELHO, E. A instituição militar no Brasil.
Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais (BIB). Rio de Janeiro:
ANPOCS, 1º Semestre de 1985; HESPANHA, A. (Coord.). Nova História Militar de
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004; CASTRO, C.; IZECKSOHN, V. e KRAAY, H.
(orgs.). Nova História Militar Brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2004; e MOREIRA, L. G.
S; LOUREIRO, M. A ‘Nova História Militar’, o diálogo com a História Social e o
Império Português. (texto mimeo), 2011.
3 Utilizamos os termos forte, fortaleza, fortins e etc. como sinônimos.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
28
IV Encontro Internacional de História Colonial
Nada melhor do que depoimentos coevos de viajantes que por lá passaram, para
nos dar uma ideia de como era este cenário. Um anônimo viajante francês, ao
transitar pelo porto da cidade em 1703, registrou: “A entrada do porto parece-me
bastante bem guardada. Ela é defendida por duas fortalezas [Sta. Cruz e S. João],
entre as quais é necessário passar, o que torna um ataque à cidade tarefa de difícil
execução”.4
Ao continuar a sua descrição sobre a entrada da baía e as qualidades de suas
fortificações, relatou certa particularidade: “Isso se dá graças à estreiteza da
embocadura que dá acesso ao porto e à cidade, embocadura que obriga os navios a
passarem muito próximo da fortaleza de Sta. Cruz.”
Citemos um último exemplo, também de autor anônimo, um dos tripulantes do
navio francês L´Arc-en-Ciel, que lá esteve em 1748, e comentou sobre a fortaleza de
Sta. Cruz: “a mais importante do país, está situada sobre a ponta de um rochedo,
num local onde todos os barcos que entram ou saem do porto são obrigados a
passar”.5
Destes relatos, queremos apenas fazer um breve comentário, que
retomaremos mais adiante. Os viajantes, que já haviam circulado por outros
lugares, conheciam um mundo um pouco mais amplo do que o cenário
descrito. Para nossa surpresa, não fizeram menção à precariedade da
estrutura que encontravam, mesmo os que ficaram alguns dias na localidade,
o que lhes possibilitava conhecer melhor aquela realidade.
Este quadro era compartilhado pelos representantes do Estado luso, como por
exemplo, os engenheiros militares Miguel de L’Escolle e Felipe de Guitan.6 Estes
enviaram, em 1649, à D. João IV, informações sobre a barra da capitania. Diziam
eles:
Agora (…) o que toca a entrada da barra desta cidade (…) fica a
fortaleza de Sta. Cruz (…) situada em cima de um penedo saído
no mar. (…) Sua construção é de um parapeito de pedra (…)
defronte desta fortaleza (…) está o forte de S. João (…).
Construído de um parapeito de uma meia parede por de fora e
de um pouco de terra por dentro. (…) E ficará oposta a (…) de
Sta. Cruz.7
4
FRANÇA, J. M. C. Visões do Rio de Janeiro colonial. Rio de Janeiro: EdUerj, 1999, p.
57.
5 Ibidem, p. 62 e 81.
6 Mais a frente, veremos a importância dos engenheiros militares e, em especial, dos dois
citados.
7 FERREZ, G. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800. Rio de Janeiro:
Serviço de Documentação Geral da Marinha, 1972, p. 157-8.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
29
Por conta deste, e de outros relatos, os monarcas portugueses reconheciam a
importância das duas fortalezas para a defesa da região. D. Pedro II determinou ao
provedor da Fazenda Real da Capitania, Pedro de Souza Pereira, em 1674, que
pagasse aos soldados e aos índios que “existem nas duas fortalezas da barra”, para
que se possa ter uma “melhor defesa delas e sua conservação”.8 A atitude do rei fora
motivada pela representação encaminhada pelo mesmo provedor, que relatava:
haver na dita cidade [do Rio de Janeiro] duas fortalezas [Sta.
Cruz e S. João] na barra distantes da cidade uma légua em que
consiste a total defesa e segurança da praça e os soldados das
quais se não pagam mais que mil e duzentos réis cada três
meses, com que os socorrem da Real Fazenda de Vossa Alteza,
com que não é possível sustentar-se; e assim que esta causa,
como, também, por não terem embarcação os da fortaleza de
Sta. Cruz que só tem serventia por mar estão fugindo
continuamente e deixando as fortalezas ao desamparo; e
porquanto na dita cidade há seis índios do gentio da terra
matriculados nos livros da Real Fazenda de Vossa Alteza com
pretexto de que são para serviço das fortalezas e armazém de
pólvora da cidade dos quais se paga os mesmos socorros que se
dão aos soldados do presídio.9
Segundo António Hespanha as fortificações eram erguidas à custa do trabalho
dos moradores e o dinheiro deveria sair dos impostos cobrados pelo Senado da
Câmara.10 Ao consultarmos algumas de suas deliberações, é possível notar que várias
penalidades eram revertidas para a construção ou manutenção dos fortes.
Neste caso, por exemplo, a vintena do vinho, em 1643, deveria servir “para o
sustento do presídio desta cidade e fortificações.11
8
ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Códice 61, vol. 7, p. 438. Sempre que
possível, optamos por transcrever os documentos utilizando a grafia atual.
9 Ibidem. Ibidem.
10 HESPANHA. Nova História Militar de Portugal…, p. 180-1. Posição compartilhada
por RODRIGUES, V. A Guerra na Índia, em HESPANHA. Nova História Militar de
Portugal…, p. 250.
11 PREFEITURA MUNICIPAL DO DISTRICTO FEDERAL (PMDF). O Rio de Janeiro
no século XVII – accordãos e Vereanças do Senado da Camara, copiados do livro
original existente no Archivo do Districto Federal, e relativos aos annos de 1.635 até
1.650. mandados publicar pelo Sr. Presidente Dr. Pedro Ernesto. Rio de Janeiro:
Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1935, p. 69-70.
ISBN 978-85-61586-70-5
30
IV Encontro Internacional de História Colonial
Igualmente, senhores de engenho e lavradores de cana que, em 1646, não
cultivassem mandioca, contribuindo para o desabastecimento da farinha, teriam que
ser penalizados em 50 cruzados “para a fortificação desta praça”.12
Durante algum tempo, nos anos de 1640, muito se discutiu acerca da construção
da fortaleza da Laje e dos recursos monetários para sua edificação. Por isso, alguns
criminosos eram multados e a quantia paga direcionada para este fim. Destarte, em
1646, o Senado da Câmara vetava que “nenhuma negra (…) traga saia nem gibão de
seda, nem brincos de ouro com pena de seis mil réis, pagos da cadeia. E de seda ou
brinco que se lhe acharem perdidos, o que tudo se aplica para a fortaleza da Laje”.13
No mesmo ano também se proibiu a “venda de aguardente da terra (…) com
pena de 6000 réis pagos da cadeia (…) a qual pena se aplicará a metade (…) para a
fortaleza da Laje”.14 Negava-se aos negros que carregassem pelas ruas da cidade pau
e faca, sob “pena de 2000 réis pagos a cadeia, a metade para as obras da (…)
fortaleza da Laje”.15
Em 1649, depois do parecer do engenheiro Miguel de L’Escolle, abandonou-se a
ideia da construção do dito forte e as penalidades voltaram a ser destinadas para
todas as fortificações.16
A construção dos fortes de Sta. Cruz e S. João havia sido planejada pela Coroa
em 1584, logo após a fundação da cidade por Estácio de Sá (1565). Salvador Correia
de Sá, “o velho”, em seu 2º período como governador do Rio de Janeiro (15781598),17 iniciava a construção de uma fortaleza na ponta leste, que recebeu o nome
de N. S. da Guia. O governador consultou a Corte para saber se era preferível
fortificar o Rio de Janeiro, o que acabou ocorrendo, ou mandar povoar Cabo Frio.
Salvador Correia de Sá, então, começou o plano de fortificar a Laje, localizada na
entrada da barra.18 No entanto, ao consultar o engenheiro militar italiano Batista
Antonelli, este lhe aconselhou a construir duas fortalezas, uma em cada lado da baía.
12
Ibidem. Ibidem, p. 109.
Ibidem, p. 131.
14 Ibidem, p. 132.
15 Ibidem, p. 134.
16 Ibidem, p. 178-9.
17 BOXER, C. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola – 1602-1686. São Paulo:
Editora Nacional, 1973, p. 420.
18 Durante todo o século XVII, vários governadores fracassaram na tentativa de edificar a
fortaleza da Laje. Ela só viria a ser erguida nos setecentos. A Laje é um costado de pedra que
se localiza na entrada da barra, exatamente entre a fortaleza de Sta. Cruz e de S. João. Cf.
FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…
13
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
31
O mesmo engenheiro elaborou a planta das fortalezas e enviou para o soberano
português que aprovou e autorizou suas construções.19
Ela foi restaurada pelo governador Martim Correia de Sá (1623-1632),20 quando
recebeu o nome de Sta. Cruz. A reforma contou com índios tutelados pelos jesuítas e
foi fiscalizada pessoalmente por Mem de Sá que transferiu o governo a Gonçalo
Correia de Sá, seu irmão.21
Joaquim Serrão destacou que a ligação dos Sás com o Rio de Janeiro vinha desde
a sua fundação por Estácio de Sá, passando pelas reformas empreendidas por
Martim de Sá, momentos antes da Restauração Portuguesa, em 1637, quando
empresta 60.000 cruzados para aperfeiçoar as fortalezas da cidade.22
Naquele momento, havia um contexto marcado pelo medo da expansão dos
batavos para além das capitanias do norte, quando houve grande preocupação em
fortalecer a proteção de toda a costa da América lusa. Contudo, a ligação e o
domínio dos Sás nos postos das fortalezas já vinham desde o início do século.23
A fortaleza de S. João ficou completa em 1618 e ampliada pelo governador
Sebastião de Brito Pereira em 1651. O governador requereu aos moradores que
ajudassem com um ou dois negros para a empreitada.24 O forte novamente foi
reformado em 1675, no governo de Matias da Cunha.25
19
VARNHAGEN, F. História Geral do Brasil. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1956,
6ª edição, tomo I, p. 372.
20 Pai de Salvador Correa de Sá e Benevides Cf. BOXER. Salvador de Sá e a luta pelo
Brasil e Angola – 1602-1686…, p. 410 e 420.
21 COARACY, V. O Rio de Janeiro no século XVII. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965, p.
59-60.
22 SERRÃO, J. V. Do Brasil filipino ao Brasil de 1649. São Paulo: Cia. Editora Nacional,
1968, p. 231 e AHU - Rio de Janeiro, cx. 1, doc. 81, 80, 78, 79, 38.
23 FRAGOSO, J. A Nobreza da República: Notas Sobre a Formação da Primeira Elite
Senhorial do Rio de Janeiro (Séculos XVI e XVII). Topoi. Rio de Janeiro, 7 Letras, p. 76-77,
2000.
24 Como podemos ver nas atas do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, o uso de negros e
índios em obras públicas era comum. Neste corpo documental é possível ver deliberações a
cerca da reforma da cadeia da cidade, em 1640; a construção do aqueduto da Carioca, ao
longo do século, entre outras construções urbanas. (PMDF. O Rio de Janeiro no século
XVII – accordãos e Vereanças do Senado da Camara…, p. 35-6, 36 e 43).
25 COARACY. O Rio de Janeiro no século XVII…, p. 48, 142 e 194.
ISBN 978-85-61586-70-5
32
IV Encontro Internacional de História Colonial
Planta da capitania do Rio de Janeiro, de 1631
Fonte: João Teixeira Albernaz (o avô). Atlas do Estado do Brasil. Mapoteca do Itamaraty.
Agora que já conseguimos observar como os contemporâneos viam o cenário em
que atuavam nossos personagens, podemos mostrar como era representado. A
imagem acima retrata a barra da capitania. Notemos que para os navios adentrarem a
baía era necessário que passassem bem próximo à fortaleza de Sta. Cruz, como é
explicado no texto que compõe a gravura.
A preocupação com a defesa, em todo o período colonial, era uma constante por
parte dos reis lusos, sobretudo naquele contexto de meados do XVII. Afinal de
contas, não podemos esquecer que a parte dos rendimentos da Coroa vinha do
comércio ultramarino. Manter as rotas comerciais do Império era vital e muitas
destas rotas passavam pelo Rio de Janeiro. Com isso, os governadores gerais
frequentemente remetiam ao rei informações a respeito do estado das fortificações
em sua área de atuação, visto que: “O governador-geral foi definido como chefe
supremo da administração colonial, com ênfase nas suas funções militares, sendo o
posto de comandante da tropa sua atribuição fundamental”.26 Esta não era a única
função militar que detinha. Entre as inúmeras atribuições do governador-geral, duas
eram de suma importância: 1) “Zelar pela boa manutenção dos armamentos
existentes nas capitanias” e; 2) “Executar obras de fortificações para a defesa da
terra”.27
26
GOUVÊA, M. F. Governo Geral. In: VAINFAS, R. (dir.) Dicionário do Brasil colonial
(1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 265.
27 SALGADO, G. (Coord.). Fiscais e meirinhos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p.
171.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
33
Contudo, os governadores-gerais não eram os únicos responsáveis pela defesa do
território, os capitães e governadores de capitania também o eram. Constavam de
suas funções:
a) “Informar ao governador das armas e munições existentes na capitania e se
estão necessitando de ajuda”28 e;
b) “Visitar as fortalezas e armazéns existentes na capitania, (…) bem como fazer
um levantamento sobre o estado das instalações, equipamentos e reparos
necessários, dando de tudo notícia ao governador-geral do Estado do Brasil”.29
Esta característica também aparece na documentação local. Sendo assim, o
Senado da Câmara, ao se reunir para decidir quem assumiria o governo da capitania
temporariamente, em 1644, enfatizava a necessidade de nomear alguém que “(…)
governasse assim no político como na guerra, no que acuda as ocasiões (…) de sua
defesa, no que continuem com as fortificações (…) em conformidade das ordens de
Sua Majestade”.30
O escolhido, Duarte Correa Vasqueanes, ao assumir o oficio, prometeu, entre
outras coisas, “defender esta cidade contra to(dos os inimi)gos de nossa Santa Fé e
desta Coroa conforme sua obrigação”.31
Diogo de Campos Moreno – sargento-mor e capitão da Costa do Brasil –
cumprindo com sua obrigação, enviou de Salvador, em 1609, um relatório ao rei,
dizendo que aquela cidade estava pessimamente equipada. Logo, deveriam ser
realizadas as obras que haviam sido recomendadas pelo engenheiro militar Francisco
Frias de Mesquita e que foram remetidas para a Europa, ajustadas e corrigidas pelos
engenheiros militares Turriano e Tibúrcio Spanhocchi (engenheiro-mor da Espanha),
em 1606.32
O mesmo procedimento fora adotado pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz
Cesar de Menezes, em 1689, que escreveu ao monarca dando conta das condições
das fortificações e das companhias daquele presídio. Em sua resposta, o rei enfatizou
que:
vendo o papel que me fizeste e o que nele me representa (…) e
do estado em que se acham as fortalezas e soldados desse
presídio e artilharia me pareceu dizermos e ordenarmos, como
por esta o faço, que enchais a força das companhias de
infantaria e das do presídio dessa praça e suas fortalezas com
aquele número dos soldados de lotação que a Câmara se
28
Ibidem. Ibidem, p. 146.
Ibidem, p. 243.
30 PREFEITURA. O Rio de Janeiro no século XVII– accordãos e Vereanças do Senado
da Camara…, p. 82, grifo nosso.
31 Ibidem. Ibidem, p. 83, grifo nosso.
32 MENDONÇA DE OLIVEIRA, M. As primitivas defesas da cidade de Salvador. Revista
da Cultura. Rio de Janeiro: Diretoria de Assuntos Culturais, ano VII, nº 12, junho de 2007.
29
ISBN 978-85-61586-70-5
34
IV Encontro Internacional de História Colonial
obrigou a sustentar pelas imposições, quanto for mais possível a
respeito do procedimento das ditas consignações e, da mesma
maneira, proceder assim os oficiais de artilharia que forem
necessários para a defesa e conservação das forças desse gênero,
(…) dando por conta da Fazenda Real fazer as carretas cobertas
e todos os reparos para as peças da artilharia que achando seus
serviços e pelos meus os efeitos da Fazenda Real mandeis
consertar e reformar as ruínas que se acharem nessas fortalezas,
de que são de depender a conservação de sua praça e em que se
tem notícia que há necessário peças de artilharia pela praia,
escolhais destas as que vos parecerem podem ter melhor
serventia e as mandará por nas fortalezas e, com este meio, se
remediará a necessidade que se praz.33
A necessidade de defesa da região por parte dos lusos se devia a um duplo medo:
primeiro, o “Mar Tenebroso”, recentemente conquistado e, segundo, a floresta
tropical. Destes cenários poderiam emergir, a qualquer momento, piratas e índios,
respectivamente.
Defesa e colonização andavam de mãos dadas, sendo impossível pensar uma sem
a outra. Para este binômio era vital o conhecimento de vários fatores, a saber:
marítimos, geográficos, climáticos, culturais entre outros. A proteção não só da
cidade como de toda a costa com suas rotas comerciais foi uma preocupação
recorrente por parte dos monarcas.34 Deste modo, nos seiscentos “sempre houve
necessidade de proceder a obras e reparações”35 das fortalezas da cidade.
Característica que também aparece na historiografia que se debruça sobre o tema, em
especial o trabalho de Gilberto Ferrez.36
A urgência de defesa também era discutida no Senado da Câmara. Durante os
anos de 1640, seus membros se reuniram com o governador e com os notáveis da
cidade, entre eles figuras importantes no campo militar, como por exemplo, os
capitães das fortalezas.37
Para tal, uma das figuras principais eram os engenheiros militares. Beatriz Bueno
sublinhou que os desenhos feitos por estes agentes nos permitem apreender não só
“aspectos formais e simbólicos da arquitetura e do urbanismo oficiais implantados
nas conquistas”, mas “entrever os diferentes momentos da política de colonização e
expansão dos tentáculos do Império português nas entranhas do Brasil”. Por meio
33
ANRJ. Códice 61, vol. 9, p. 49.
Aqui, naturalmente incluímos os monarcas hispânicos que, durante a União Ibérica (15801640), também eram reis de Portugal.
35 COARACY. O Rio de Janeiro no século XVII…, p. 60.
36 FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…
37 PREFEITURA. O Rio de Janeiro no século XVII– accordãos e Vereanças do Senado
da Camara…, p. 49-52, 68-71, 101, 109, 122-4, 137 e 187.
34
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
35
de suas gravuras produziam conhecimento e, ao mesmo tempo, se apropriavam e
controlavam o território, possibilitando aos monarcas ausentes materializarem-se nas
conquistas. Suas representações não eram publicadas e permaneciam restritas às
esferas estatais. Há poucos desenhos do Brasil feitos pelos engenheiros militares nos
quinhentos e seiscentos. As gravuras que eram enviadas para a Europa deveriam ser
aprovadas ou pelo Conselho de Guerra ou pelo Ultramarino, para que
posteriormente fossem colocadas em prática.38 É o que podemos ver no documento
enviado pelo Senado da Câmara ao rei, em 1649:39
Carta dos oficiais da câmara da cidade do Rio de Janeiro ao rei [d. João IV] sobre
o envio das plantas da cidade e das fortalezas do Rio de Janeiro, tiradas pelos
engenheiros Miguel de L’Escolle e Filipe de Guitan, para se determinar a melhor
forma de se fortificar esta capitania, informando a falta de artilharia necessária aos
moradores para defesa desta praça.40
Felipe Guitan, um engenheiro militar francês a serviço de Portugal, veio para o
Rio de Janeiro em 1649, para fortificar a cidade, seguindo as ordens do governadorgeral conde de Vila-Pouca, Antônio Telles de Menezes, juntamente com o
engenheiro militar Miguel de L’Escolle, em razão do medo da invasão batava.41
Miguel de L’Escolle serviu como engenheiro militar, na capitania do Rio de Janeiro,
pelo prazo de três anos a partir de 1648.42 Acreditamos, segundo informações
contidas nas atas do Senado da Câmara, que tenha desembarcado na cidade em 1649,
proveniente de Lisboa.43 Logo que chegou, começou a inspecionar os fortes. Na
vistoria que realizou na fortaleza de Santa Luísa, que havia recebido algumas
intervenções, acabou determinando a sua demolição, por “não vir a servir”.44
38 BUENO, B. Desenho o desígnio – o Brasil dos engenheiros militares. Oceanos. Lisboa:
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, nº 41, p. 41 e
47, 2000.
39 Este, no entanto, já era um costume do período filipino. Na obra de Ferrez podemos ver
vários exemplos de plantas remetidas para a Europa, para serem consertadas, emendadas ou
refeitas. Para citar somente um exemplo, em 1635, o Conselho de Portugal encaminhou ao rei
recomendações para que mandasse vir do Rio de Janeiro “uma planta daquela capitania e das
fortificações que tem e de novo tem feito e se vão fazendo em tão boa forma que se possa
ver por ela ou como tudo esta obrado. E se há de emendar ou acrescentar (…)” Cf.
FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…, p. 124.
40 AHU-Rio de Janeiro, cx. 2, doc. 124-A e AHU_ACL_CU_017, Cx. 2, D. 195.
41 FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…, p. 26.
42 TAVARES DA CONCEIÇÃO, M. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço
e a Aula de Fortificação. Oceanos. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, nº 41, p. 170, jan/mar 2000.
43 PREFEITURA. O Rio de Janeiro no século XVII– accordãos e Vereanças do Senado
da Camara…, p.172.
44 Ibidem. Ibidem, p. 175-6.
ISBN 978-85-61586-70-5
36
IV Encontro Internacional de História Colonial
As intervenções de L’Escolle não foram importantes apenas no campo militar.
Alguns autores o consideram o primeiro urbanista do Rio de Janeiro, devido às
modificações nas “ruas, [nas] valas de esgotamento, [na] muralha de defesa, [nas]
praças, [nas] estradas de acesso”. Entretanto, sua principal participação se deu nos
projetos militares, pois foi o primeiro especialista em fortificações que atuou no Rio
de Janeiro.
Para Ciro Cardoso e Paulo Araújo, no século XVII, o Rio de Janeiro apresentava
um grande crescimento urbano, fruto da importância cada vez maior de seu porto e
das rotas mercantis que passavam por ali, tendo com isso, uma preocupação mais
efetiva com a sua infraestrutura. Em 1625, começavam a surgir regras urbanas para a
construção de casas na cidade baixa, preservando o traçado das ruas; drenavam-se
algumas lagoas; reformava-se a cadeia da cidade (1640);45 abriam-se ruas, como por
exemplo, a rua da Vala (1641) e a rua do Cano (1646); iniciava-se a construção do
aqueduto da Carioca (1673);46 criava-se um serviço de correios na cidade; e
cristalizava-se uma estratificação social do espaço, com a formação de bairros bem
definidos, entre outras mudanças.47 Parte desse crescimento fora consequência da
tomada de Pernambuco pelos holandeses. Assim, o governador Rodrigo de Miranda
Henriques escrevia ao Rei Filipe III, em 1634, dando conta das modificações
existentes na capitania: “Esta cidade tem crescido depois da tomada de Pernambuco
muito em gente e comércio e riqueza”.48
L’Escolle já havia atuado no restauro e construção de outros fortes na Província
do Minho, em razão da necessidade de fortificar as fronteiras terrestres com a
Espanha, e das Guerras de Restauração (1641-1668).49 Para além da importância da
Restauração, Rui Bebiano sublinhou que:
pelos finais do século XVII não existia na Europa exército no
qual a engenharia não desempenhasse papel determinante e o
português desenvolveu muito cedo, por imposição das
circunstâncias vividas durante as campanhas de Restauração,
essa mesma componente.50
45
Ibidem, p. 35-36, 38 e 43.
Respectivamente, Rua Uruguaiana, Rua 7 de Setembro e Arcos da Lapa (CARDOSO &
ARAUJO. Rio de Janeiro. Madri: Mapfre, 1992, p. 67).
47 CARDOSO, C. & ARAUJO, P. Rio de Janeiro…, p. 67.
48 FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…, p. 123.
49 TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a
Aula de Fortificação…, p. 32.
50 BEBIANO, R. A Guerra: o seu imaginário e a sua deontologia. In: HESPANHA, A.
(Coord.) Nova história militar de Portugal…, p. 49.
46
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
37
A defesa da região alentejana havia sido deixada de lado durante o período
Filipino.51 As fortalezas precisavam de reformas, em virtude de seu abandono e
porque “a arquitetura militar conhecia exemplar renovação”.52 Os projetos de
revitalização incluíam equipamentos necessários para a guerra, tais como: hospital,
quartéis, paióis etc. Esses anexos passavam a ser vistos como capitais para o bom
funcionamento da estrutura de guerra. Começava a existir um planejamento cada vez
mais amplo, abandonando-se a improvisação. As tradicionais requisições
compulsivas de abrigo para os soldados eram descartadas.
Os lusos procuravam atualizar-se científica e tecnicamente com o que de mais
moderno existia. Engenheiros e militares franceses e holandeses foram contratados
para que houvesse uma “oxigenação” no processo descrito.53 Dois destes
personagens foram L´Escolle e Charles Lassart, francês que se tornou engenheiromor do Reino (1641).
A preocupação de defesa não era apenas na Europa. Os Braganças também
focavam a América. Havia certa urgência em suprir as demandas de engenheiros
militares para dar conta de várias frentes de atuação as quais não se podia
negligenciar. Contudo, a contratação de estrangeiros para a tarefa esbarrava na falta
de recursos. Os gastos não eram apenas no emprego de homens. Reformas ou a
construção de novas fortalezas dependiam de muito cabedal. Durante os seiscentos,
os governadores do Rio de Janeiro sempre reclamavam da precariedade em que se
encontrava o sistema defensivo da capitania. Assim, pediam o envio de mais homens,
equipamentos, reformas e ampliação dos fortes. Requisições estas que, quase sempre,
não eram atendidas por falta de recursos. Ao mesmo tempo, o custo da defesa ficava
a cargo dos moradores, em especial a manutenção de seus fortes, fortinhos, baluartes
etc., como era comum em todo o Império.54 Voltemos aos engenheiros militares. D.
51
Hespanha sublinha que antes da Restauração o perigo vinha do mar com os piratas
marroquinos, ingleses ou holandeses. A principal linha de proteção se situava na costa e,
portanto, a preocupação de defesa se localizava naquela região, que não só concentrava o
efetivo militar, mas os fortes construídos ou reformados. (HESPANHA. Nova história
militar de Portugal…, p. 32).
52 TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a
Aula de Fortificação…, p. 32.
53 Não foram somente os engenheiros militares estrangeiros que foram contratados, militares
experientes também o foram, como por exemplo, o conde de Schomberg (Prússia), que teria
que reorganizar todo o Exército português (TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da
guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a Aula de Fortificação…, p. 32).
54 FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…; HESPANHA. Nova
história militar de Portugal…, p. 180-1; BICALHO, M. F. A cidade e o império. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 199, texto bastante parecido aparece em BICALHO.
As Câmaras ultramarinas e o governo do Império. In: FRAGOSO, J., BICALHO, M. F. e
ISBN 978-85-61586-70-5
38
IV Encontro Internacional de História Colonial
João IV criou, em 1641, a “Aula de Artilharia e Esquadria”, no Paço da Ribeira que,
em 1647, foi transferida para a Ribeira das Naus com o nome de “Aula de
Fortificação e Arquitetura Militar”.55 O objetivo era formar engenheiros militares
para atuarem em todo o Império. Assim, o monarca, em 1649, escreveu ao general
de artilharia, André de Albuquerque, perguntando sobre o que fazia o engenheiro
militar holandês Timermans, contratado para servir de professor:
e porque Eu desejo saber se Timermans (…) ensina a alguns
naturais a sua arte, os discípulos que teve, e o fruto que desta
doutrina tem resultado, vos recomendo me aviseis e procureis
que haja particular cuidado em que os naturais aprendam e se
façam práticos nesta Arte (Arquitetura Militar), para que não
estejamos dependendo de estrangeiros com os quais se fazem
tão grandes despesas.56
Timermans veio para o Brasil com a missão de “preparar 24 alunos para as
funções de engenheiro, inclusive de fogo”, no período de 1648 a 1650.57 Ao que
parece, não conseguiu alcançar o seu objetivo, pois os profissionais que atuaram na
América ou eram estrangeiros ou tiveram sua formação em Portugal.58 A carência de
engenheiros militares lusos obrigava-os, assim como em vários ofícios reais, a
circularem por todo o Reino, embora os melhores fossem mandados para a
América.59
Deste modo, começava a se delinear de forma mais clara um sistema de defesa
suprarregional, que não contava com todas as cidades fortificadas, mas sim
“cabeças”, que tinham a função de resguardar uma determinada região mais ampla.60
Assim, o porto do Rio de Janeiro, já no século XVII, por ser o principal da região sul
da América portuguesa, apresentava para além da importância comercial uma grande
GOUVÊA, M. F. (orgs.) O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa
(séculos XVI–XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 199.
55 TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a
Aula de Fortificação…, p. 36.
56 APUD TAVARES DA CONCEIÇÃO. Ibidem, p. 37-8.
57 Ibidem, p. 49 e 170.
58 BUENO, B. & REIS, N. Cidades e fortes coloniais. Revista da Cultura. Ano II, nº 3, p.
47, 2002.
59 TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da engenharia no Brasil (séculos XVI a
XIX). Rio de Janeiro: Clavero, 1994, p. 10 e; BUENO E REIS. Cidades e fortes coloniais…,
p. 47.
60 TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a
Aula de Fortificação…, p. 30.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
39
relevância militar.61 A principal função do governador da capitania era a defesa de
toda a parte sul da América lusa, juntamente com as suas rotas mercantis. Sob a
perspectiva de “cabeça” da região, podemos entender três acontecimentos que
tomaram corpo a partir da cidade do Rio de Janeiro, responsável por mandar tropas
para a defesa de outras localidades. O primeiro, em 1615, quando se expulsou
definitivamente os franceses, com a instalação da cidade de Cabo Frio, conjuntura
marcada pela própria fundação da urbe fluminense. Segundo, em 1648, quando se
reconquistou Angola, com a expedição montada por Salvador Correia de Sá e
Benevides.62 E terceiro, com a criação da Colônia de Sacramento, em 1680, na região
do rio da Prata.63
De acordo com este sistema, os engenheiros eram vitais, posto que atuavam nas
construções militares e também nas batalhas. Luís Serrão Pimentel foi um dos
engenheiros militares lusos que mais se destacou. Sua obra Methodo lusitanico de
desenhar as fortificaçoens das praças regulares e irregulares foi publicada em 1680. Ela criava
um modelo luso de praça de guerra e foi difundido após a Restauração. Sua
preocupação residia na flexibilização e adaptação das condições reais existentes,
buscando o equilíbrio entre o real e o possível, uma vez que:
A extrema amplitude geográfica e cronológica do império
colonial obrigou, até pela sua velocidade, à adopção expedita de
procedimentos flexíveis, pouco favoráveis à formalização
teórica de modelos demasiados rígidos, sem previsível eficácia
em espaços diversificados.64
Esta ideia fora compartilhada pelo engenheiro militar João de Balesteiros.
Durante todo o século XVII, quando se discutia a fortificação e a defesa da barra do
Rio de Janeiro, um dos projetos era construir a fortaleza da Laje, que seria erguida
61 SAMPAIO, A. Na encruzilhada do Império – hierarquias sociais e conjunturas
econômicas no Rio de Janeiro (c. 1650 – c. 1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001,
p. 140 e; CARDOSO, C. & ARAUJO, P. Rio de Janeiro. Madri: Mapfre, 1992, p. 72.
62 Sobre algumas diretrizes e decisões tomadas pelo Senado da Câmara no Rio de Janeiro, que
passavam tanto pelo envio da expedição de Salvador Correia de Sá e Benevides, que
reconquistaria Angola (1648), até o de alimentos para a região. Cf. PREFEITURA. O Rio de
Janeiro no século XVII– accordãos e Vereanças do Senado da Camara…, p. 49 e 173.
63 Em nossa dissertação analisamos os perfis dos capitães das fortalezas e observamos a
circulação destes agentes dentro deste conceito de “cabeça”. Assim, tinham o Rio de Janeiro
como “sede” e circulavam por áreas subordinadas: Angola, Espírito Santo, Cabo Frio e etc.
Este sistema não era novidade. Afonso de Albuquerque, no século anterior, havia pensado a
defesa da Índia por meio deste preceito. O sistema permitira a diminuição de gastos. Cf.
RODRIGUES, V. A Guerra na Índia, p. 203.
64 TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a
Aula de Fortificação…, p. 25-6.
ISBN 978-85-61586-70-5
40
IV Encontro Internacional de História Colonial
somente no século seguinte. O projeto fora feito por Guitan e L’Escolle e havia sido
remetido para a metrópole. Balesteiros ficou responsável pelo aval final sobre o
projeto e elaborou algumas alterações para a sua execução. Não queremos destacar
aqui as suas interferências na planta, mas a sua concepção de que era necessário
conhecer a região e adaptar um modelo pensado por quem não a conhecia. Vejamos
seu parecer: “para que não se seguisse nenhum erro fiz a planta da plataforma (…),
não para que absolutamente se execute por este tamanho, mas para que sirva de
guia”.65
Deste modo, mantinha-se uma tradição do período filipino que
primava pela fusão dos estilos. De um lado, a ortodoxia do
urbanismo castelhano e, de outro, a “morfologia urbana
brasileña (versión “tupi” de las influencias ibéricas).66
Voltemos a Pimentel. O engenheiro havia se formado nas “Aulas de Esfera do
Colégio de Sto. Antão”. Muitos professores desta instituição eram portugueses,
alemães, ingleses, irlandeses e, especialmente, italianos e flamengos. Um de seus
principais docentes foi o jesuíta batavo, João Cosmander, que participou ativamente
da campanha de fortificação portuguesa pós-1640. Nestas “Aulas” foram
introduzidas inúmeras modificações e inovações na engenharia militar ibérica. Uma
delas era a substituição de uma “escola italiana”, de construção de fortes, por uma
“escola flamenga”, nos anos de 1630. Muitas destas novidades foram colocadas à
prova nas batalhas da Restauração Portuguesa.67
A obra de Pimentel, em sua essência, revelava “um apurado equilíbrio entre a
tradição portuguesa e o corpo teórico internacional mais actualizado”, atingia ainda
um objetivo essencial “explicitamente esclarecido, a fixação de um método português
de fortificação, fundamentado e fundamentador da especificidade de uma Escola
portuguesa”. Ela mesclava conhecimento prático, pois Pimentel havia participado de
batalhas na Restauração, e teórico, em razão da sua formação no Colégio de Santo
Antão.68
65
FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…; HESPANHA. Nova
história militar de Portugal…, p. 21 e 144. Não entraremos aqui na discussão apresentada
por Ferrez sobre a autoria do mesmo. Para alguns historiadores, posição não compartilhada
por este autor, o projeto era dos engenheiros Filipe de Guitan e Miguel de L'Escolle.
66 JAYO, A. H. Brasil, una construcción hispánica – el papel de la Unión de las Coronas en la
definición de um urbanismo original ibérico. In: I Simpósio Luso-Brasileiro de
Cartografia Histórica, s/d, p. 15.
67 TAVARES DA CONCEIÇÃO. A praça da guerra aprendizagens entre a Aula do Paço e a
Aula de Fortificação…, p. 30-1.
68 Ibidem. Ibidem, p. 36.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
41
Seu “Methodo” fora tão bem desenvolvido que continuou a ser usado até o
século seguinte. Surgia o estilo português denominado de “Estilo Chão”, “uma
arquitetura de raiz maneirista adaptada ao contexto português e com uma feição
castrense fruto do pragmatismo dos seus conceptores”.69 O conceito de guerra era
pensado com foco na defesa em detrimento ao ataque e baseava-se no conceito de
“praças fortes/cabeças” com a clara divisão entre espaços de fronteiras e espaço
centralizado.
O esforço empreendido pelo Estado luso para a criação dessas aulas era vital,
como já vimos, pois era urgente formar um quadro de engenheiros e técnicos lusos
para que se diminuíssem os gastos com a contratação de estrangeiros. Neste sentido,
há um esforço por “popularizar” a formação de engenheiros. O oficio,
tradicionalmente, era destinado à formação de uma elite e, portanto, direcionada aos
fidalgos. Com a crescente necessidade de pessoal especializado, passava a haver uma
ampliação das origens sociais. Os jovens que substituíram os fidalgos eram
recrutados no próprio Exército dentro dos que apresentavam aptidão. Possuíam uma
formação teórica e prática e começavam a carreira como “ajudantes” dos
engenheiros. Este modelo, no fim do século XVII, foi levado às conquistas: na
Bahia, em 1696; no Rio de Janeiro, em 1698; no Maranhão, em 1699 e; no Minho e
Pernambuco, em 1701.70
As inovações não chegavam a Portugal somente desta forma, com os professores
lusos lendo obras estrangeiras. Apesar da “aula de artilharia e esquadria” o quadro de
engenheiros militares ainda era precário. Algumas consultas continuavam a ser feitas
a estrangeiros e são bastante elucidativas da preocupação da Coroa em termos de
defesa e de uma busca da “modernidade”. Mais uma vez, vejamos a documentação,
da qual extraímos uma citação longa, porém bastante rica:
O secretário de Estado Pedro Vieira da Silva remeteu a este
Conselho [Ultramarino] com ordem de Vossa Majestade para se
ver e consultar o que parecer, a cópia de um Capítulo de carta
de Arnaut de Hondelate, escrita de Bayena de França, em 9 de
julho passado. Nela lembra a Vossa Majestade que as fortalezas
do Rio de Janeiro (que diz que tem visto) não são fortalezas
para defender armada que a aquela praça for de propósito,
porque as rodas da artilharia estão sempre ao sol e a chuva e os
soldados que as guardam, são as três partes forçados e ficam
cinco ou seis anos sempre nas fortalezas, pelo que se chegar
ocasião de serem acometidas de inimigos, mais depressa se hão
de por da sua parte, que da nossa, que os artilheiros serão
69
70
BUENO. Cidades e fortes coloniais…, p. 48.
Ibidem.
ISBN 978-85-61586-70-5
42
IV Encontro Internacional de História Colonial
somente sete ou oito e tais, que o fazendo condestável um não
valem os mais outros.
Ao Conselho [Ultramarino] pareceu dizer a Vossa Majestade
que o que aponta Arnaut de Hondelate, do estado das fortalezas
do Rio de Janeiro, é certo, porque assim o referiu o Conselheiro
Salvador Correa de Sá, e o viu quando passou por aquela praça
vindo de Angola. Pelo que parece que Vossa Majestade deve
mandar que em cada uma das fortalezas, de Sta. Cruz, e S. João,
que são as da Barra, haja cem soldados de presídio para sua
defesa. E na cidade, oitocentos, e destes oitocentos assistam
cada dois meses cinqüenta no Cabo Frio, e cinqüenta na Ilha
Grande. E nas ditas duas fortalezas cada mês se remudem as
companhias, indo assistir uma cada mês além da infantaria de
sua dotação. E que haja nelas tantos artilheiros, como peças
tiverem cada uma. E dois condestáveis em cada uma. E que
para se poder governar esta infantaria, haja dois ajudantes
numerários. E para governar a gente miliciana outros dois
ajudantes supranumerários, que não vençam mais que o soldo
de alferes reformados. E que Vossa Majestade mande que o
provedor da fazenda com o ministro que o governador lhe
nomear, vão fazer vistoria nas carretas e mais petrechos da
artilharia para sua defesa. E que logo se trate do remédio de
tudo, que será fácil, e muito difícil de restaurar se a praça se
perder. Lembrando a Vossa Majestade que só esta capitania esta
intacta dos inimigos, sendo que por natureza é a mais
defensável. E das mais importantes por está causa. Em Lisboa a
9 de dezembro de 655.
Salvador Correa de Sá e Benevides
Francisco de Vasconcelos da Cunha
Diogo Lobo Pereira
À margem a ordem do rei: Diga-me Conselho o que se poderá executar de tudo o
que aponta esta consulta, e o que se poderá também tentar no Brasil, e de que sendo
respeitantes as necessidades do Reino e daquele estado, em Lisboa 26 de janeiro de
656.71
Neste documento podemos ver o secretário de Estado português recebendo o
parecer de um engenheiro francês que se encontrava em seu país natal. Há uma série
de recomendações que incidem basicamente em aumentar o efetivo e a forma como
era recrutado e remunerado. Atentemos para o silêncio em relação à estrutura física
das fortalezas e da qualidade das armas. Não há comentário sobre questões técnicas
da artilharia, ou seja, se o armamento disponível era o apropriado. Criticava-se a
71
FERREZ. O Rio de Janeiro e a defesa do seu porto, 1555-1800…, p. 174-178.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
43
conservação e abrigo que se dava a ele. O mesmo já havia ocorrido entre 1649-50,
quando, com as reformas planejadas por Miguel de L´Escolle e Filipe de Guitan,
foram mandadas plantas para o engenheiro militar francês, Pedro Pelifique, dar seu
parecer sobre as fortalezas.72
Lembremos que Ferrez nos mostra uma série de relatos feitos pelos governadores
do Rio de Janeiro que sempre dão conta do péssimo estado das fortificações daquela
capitania.73 Como vimos no início do artigo, o engenheiro francês e outros tantos
viajantes que por aqui passaram conheciam outros cenários. Em seus relatos não há
menção à existência de uma diferença, especialmente no que diz respeito à estrutura
física, entre as realidades. Portanto, somos levados a acreditar que talvez fosse bem
pequena. Do mesmo modo, pensamos que os relatórios feitos pelos governadores,
que mostravam a precariedade da capitania, devam ser vistos com outros olhos.
É o que também percebeu Hespanha ao analisar o cálculo dos efetivos reunidos
nas guerras e batalhas portuguesas nos séculos XIV a XVII, “(…) o desejo de
valorizar a vitória faz subavaliar os efectivos próprios ou o desejo de reputação os
faz aumentar”.74
É claro que a estrutura não era ideal, realmente deveria haver carência de quase
tudo. Mas esta devia ser sentida em outras praças, que não somente as lusas. As
condições materiais na Europa, até mesmo pelo desenvolvimento tecnológico da
época, não eram de uma sociedade industrializada, como temos hoje. Deste modo,
os governadores, a fim de valorizarem seus serviços, deveriam “carregar na tinta”
nos seus relatos. Afinal, conseguir sucesso na defesa de uma praça tão importante
como o Rio de Janeiro, com pouco ou nenhum recurso, lhes daria mais prestígio do
que defender uma praça bem equipada.
72
Ibidem. Ibidem.
Ibidem, p. 185-6.
74 HESPANHA. Nova história militar de Portugal…, p. 23. Esta percepção também
aparece nos relatos das batalhas da Restauração Pernambucana, ver também VAINFAS, R.
Traição. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.
73
ISBN 978-85-61586-70-5
44
IV Encontro Internacional de História Colonial
A “chave de prata do Brasil”: o rio da prata como a fronteira sul da
América Portuguesa
Paulo César Possamai1
A política de expansão rumo ao Rio da Prata que a Coroa portuguesa adotou a
partir da Restauração, foi legitimada pela criação da diocese do Rio de Janeiro, uma
importante vitória diplomática do príncipe regente D. Pedro junto à Santa Sé. Os
limites da nova diocese seguiam instruções que já apontavam o Rio da Prata como o
limite sul do Estado do Brasil. No memorial em que Lourenço de Mendonça,
administrador eclesiástico do Rio de Janeiro, escreveu, por volta de 1630, sobre a
necessidade da criação de um bispado na cidade, descrevia a costa brasileira correndo
da boca do Rio da Prata até o cabo do Norte, na província do Maranhão e Rio das
Amazonas.2 Efetivamente, a Prelazia do Rio de Janeiro, criada em 19 de julho de
1576, tinha como limite sul o Rio da Prata, o que foi confirmado um século depois,
quando da criação do bispado do Rio, em 22 de novembro de 1676, pela bula Romani
Pontificis, na qual Inocêncio XI estabeleceu o alcance da nova diocese que, do
Espírito Santo, seguia “até o Rio da Prata, pela costa marítima e pelo sertão”.3
A confirmação, obtida através da bula que criara a diocese do Rio de Janeiro, de
que o território em litígio que corria de Cananéia ao Rio da Prata fazia parte do
Brasil, legitimou a tentativa de fundar uma povoação na região platina. Outro fator
favorável à retomada pelos portugueses do velho projeto de ocupar as margens do
Rio da Prata foi a decadência acentuada do poderio militar espanhol verificada nessa
época. A soma desses fatores, aliada à necessidade de metal precioso, motivou a
Coroa portuguesa a passar à ação.
Em 1677, o príncipe D. Pedro instruiu secretamente o tenente-general Jorge
Soares de Macedo a visitar Paranaguá, a fim de determinar o valor de supostas minas
de prata, e de lá passar ao Rio da Prata, onde deveria erguer uma fortificação na ilha
de São Gabriel.4 Entretanto, por duas vezes, tempestades obrigaram a frota de
Macedo a regressar ao porto de Santos, de onde saiu a expedição. Na terceira
tentativa, uma tempestade ainda maior dispersou a frota, sendo que quatro
embarcações conseguiram regressar, enquanto outras três foram dar à ilha de Santa
1
Doutor em História Social pela USP. Professor da Universidade Federal de Pelotas.
ALMEIDA, Luís Ferrand de. A Diplomacia Portuguesa e os Limites Meridionais do
Brasil (1493-1700). Coimbra: Universidade de Coimbra, 1957, p. 54.
3 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1945, vol. VI, p. 534.
4 RODRÍGUEZ, Mario. Dom Pedro of Braganza and Colônia do Sacramento, 1680-1705.
Hispanic American Historical Review. Durham, vol. XXXVIII, nº 2, p. 179-208, p. 187188, May 1958.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
45
Catarina. Em Santos, Macedo foi informado de que deveria seguir para o Rio de
Janeiro, a fim de entrar em contato com o recém-empossado governador, D. Manuel
Lobo, que entrementes havia sido escolhido por D. Pedro para empreender a nova
fundação.5
Seguindo as instruções de Lisboa, assim que Lobo tomou posse do governo do
Rio de Janeiro, em 9 de maio de 1679, ele tratou de dar início à preparação da
expedição que viria a fundar a Colônia do Sacramento. O governador ordenou o
recrutamento compulsório de quantos homens pôde capturar no Rio: operários,
aprendizes, comerciantes, mendigos e mesmo os presos, aos quais foi concedido o
perdão em troca do alistamento.6 A câmara da cidade não deixou de protestar ao rei
contra o procedimento do governador, pois, a fim de evitar o serviço militar, muitos
agricultores e operários fugiram para as matas,7 abandonando os engenhos,
prejudicando desse modo a economia local.8
A pequena frota chegou sem maiores problemas à ilha de São Gabriel em janeiro
de 1680. Porém, ao tomar conhecimento da chegada da expedição, o governador de
Buenos Aires, D. José de Garro, enviou ao seu encontro uma comissão a fim de
requerer ao comandante dos navios que abandonasse as terras do rei de Espanha,
pois se não o fizesse com toda a brevidade, usaria da força para desalojá-lo da região.
D. Manuel Lobo não deixou de demonstrar firmeza na discussão que se seguiu entre
portugueses e espanhóis sobre a posição em que a linha de Tordesilhas passava no
sul da América, encerrando-a com a afirmação de que sem a ordem expressa do
príncipe regente, não voltaria atrás um passo.9
Além da oposição dos espanhóis, o governador encontrou problemas com
indisciplina dos homens que trouxe do Rio de Janeiro. Se houve violência no
recrutamento, o príncipe regente tentou garantir a boa vontade dos recrutas,
ordenando a D. Manuel Lobo que pagasse um mês de soldo adiantado aos oficiais e
soldados, enquanto os efetivos da cavalaria deveriam receber dois meses
5
PORTO, Aurélio. História das Missões Orientais do Uruguai. Porto Alegre: Selbach,
1954, parte I, p. 387-388.
6 MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. A Colônia do Sacramento (1680-1777). Porto
Alegre: Globo, 1937, vol. 1, p. 42.
7 A prática de buscar nas matas refúgio contra o recrutamento compulsório continuou a ser
comum durante bastante tempo. Em 1722, o governador do Rio de Janeiro informou que
não tinha homens disponíveis para enviar a Colônia “e caso que os houvesse, estes mais
facilmente desertam fugindo pelo mato, como tinha mostrado a experiência”. Cf. Consulta do
Conselho Ultramarino de 17/03/1722. IHGB, Arq. 1.1.21, ff. 75v.-76.
8 COARACY, Vivaldo. O Rio de Janeiro no Século XVII. Rio de Janeiro: José Olympio,
1944, p. 191.
9 ALMEIDA, Luís Ferrand de. A Diplomacia Portuguesa e os Limites Meridionais do
Brasil (1493-1700)…, p. 116-117.
ISBN 978-85-61586-70-5
46
IV Encontro Internacional de História Colonial
adiantados.10 Contudo, o fundador não demorou a se queixar da “incapacidade da
gente que trouxe do Rio de Janeiro”, soldados que, até então, “considerava maus só
no militar os experimentei malíssimos em todas as suas ações”, o que não surpreende
se nos lembrarmos da forma como foi feito o recrutamento. Reclamou ainda que,
aproveitando-se da enfermidade que padecia, “os brasileiros se licenciaram tanto que
desobedeciam a seus oficiais”. Segundo Lobo, os melhores soldados eram os
reinóis,11 já que, com poucas exceções, os brasileiros “iam muito pouco às faxinas e
nelas trabalhavam o que queriam, que era muito pouco, e com aquela calma que no
Brasil costumam fazer todas as coisas”.12
Tendo em vista a resistência dos portugueses, o governador de Buenos Aires deu
ordem para a mobilização do exército espanhol, solicitando também a ajuda de três
mil índios requisitados às missões jesuíticas. Na madrugada de 7 de agosto iniciou-se
o ataque, que se destacou pelo massacre realizado pelos índios de todos os
portugueses que continuaram a resistir, somente escapando os que se refugiaram na
igreja e D. Manuel Lobo, salvo pela intervenção do comandante espanhol, Vera y
Muxica.
Alguns historiadores, como Henrique Alexandre Fonseca13 e Azarola Gil,14
definiram a escolha das terras de São Gabriel como um grave erro de estratégia,
acreditando que uma fundação em Maldonado ou Montevidéu teria maior chance de
resistir aos ataques dos espanhóis. Outros, como Capistrano de Abreu,15 Rego
Monteiro16 e Luís Ferrand de Almeida17 defendiam que o objetivo da Coroa em
10
Regimento de D. Manuel Lobo. In: MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. A Colônia do
Sacramento…, vol. 2, p. 7.
11 Das quatro companhias que formavam a guarnição de Sacramento no tempo de D. Manuel
Lobo, uma fora recrutada na metrópole, enquanto as outras foram formadas no Brasil. Cf.
ALMEIDA, Luís Ferrand de. A Colônia do Sacramento na Época da Sucessão de
Espanha. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1973, p. 51.
12 D. Manuel Lobo ao Príncipe Regente, 21/09/1680. In: MONTEIRO, Jonathas da Costa
Rego. A Colônia do Sacramento…, vol. 2, p. 33.
13 FONSECA, Henrique A. A Colônia do Sacramento. Lisboa: Academia da Marinha, 1985,
p. 4.
14 AZAROLA GIL, Luis Enrique. La Epopeya de Manuel Lobo. Madrid: Compañía IberoAmericana de Publicaciones, 1931, p. 30.
15 CAPISTRANO DE ABREU, João. Sobre a Colônia do Sacramento. Introdução a Simão
Pereira de Sá. In: História Topográfica e Bélica da Nova Colônia do Sacramento do
Rio da Prata. Rio de Janeiro: Leuzinger, 1900, p. XXVII.
16 MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. A Colônia do Sacramento…, vol. 1, p. 39.
17 “A fundação da Colônia do Sacramento, em 1680, não foi um episódio súbito e isolado,
mas sim o termo lógico de um processo com profundas raízes históricas, que chegam até ao
Tratado de Tordesilhas e aos problemas relacionados com a sua aplicação no Novo Mundo”.
ALMEIDA, Luís Ferrand de. Páginas Dispersas: Estudos de História Moderna de Portugal.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1995, p. 163.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
47
fundar uma povoação em frente a Buenos Aires revelou o desejo de marcar o ponto
extremo das pretensões de Portugal. No nosso ponto de vista, a escolha das terras de
São Gabriel como o sítio da nova fundação portuguesa obedeceu antes às
conveniências que o local oferecia ao comércio ilícito com Buenos Aires, que a uma
busca de estabelecer limites e ocupar terras, embora essas finalidades fossem
oficialmente apontadas como a razão da criação de Sacramento.
A enseada de Colônia era o porto da margem norte mais próximo a Buenos
Aires, ao mesmo tempo em que era o último ponto onde as naus transoceânicas
podiam chegar. Dali em diante a navegação deveria ser feita em pequenas
embarcações, que podiam internar-se nos pequenos canais do delta do Paraná e
passar pelos bancos de areia sem grandes problemas. Essas eram vantagens
essenciais para o progresso do comércio ilícito.18 Justamente por isso, a ilha de São
Gabriel era um antigo refúgio de piratas e contrabandistas, principalmente dos
holandeses,19 situação que não deve ter sido ignorada pelos portugueses, uma vez
que eles eram os principais agentes do comércio ilícito no Rio da Prata.
Provavelmente o desejo de se adiantar aos holandeses, que ambicionavam
estabelecer-se na região,20 também contribuiu para a escolha da ilha que, segundo o
regimento de D. Manuel Lobo, era “a de melhor surgidouro, fundo, com água, lenha,
sítio sadio e fácil ao desembarque dos navios e resguardo dos tempos, e dentro da
demarcação e senhorio desta Coroa” [grifo nosso].21 Se o Regimento proibia a abertura do
comércio com os espanhóis, o mesmo taxava em cinco por cento as mercadorias que
“eles queiram introduzir”, exceto prata, ouro e mantimentos. A mesma cobrança
deveria incidir sobre as mercadorias vendidas aos castelhanos, ordenando o Príncipe
Regente que “os despachos das entradas e saídas se farão pelo escrivão e tesoureiro
deste apresto com livro separado e rubricado por vós para se ter toda a conta e razão
que convém”.22
Portanto, antes que estabelecer limites, circunstância que justificava a fundação no
regimento de D. Manuel Lobo, pensamos que a Coroa planejava então criar um
entreposto através do qual seria reaberto o lucrativo comércio ilícito com Buenos
Aires. Como a rede comercial já estava instalada, se inverteram as etapas que os
portugueses seguiram durante o século XV na Guiné e no século XVI na Índia,
18
DIFIRERI, Horacio A. Buenos Aires: Geohistoria de una Metropoli. Buenos Aires: UBA,
1981, p. 18 e 63.
19 RIVEROS TULA, Aníbal M. Historia de la Colonia del Sacramento. Apartado de la
Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Montevideo, tomo XXII, p.
39, 1959.
20 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O Expansionismo Brasileiro e a Formação dos
Estados na Bacia do Prata. São Paulo: Ensaio; Brasília / UnB, 2ª ed., 1995, p. 39.
21 O Regimento de D. Manuel Lobo (1678). In: MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. A
Colônia do Sacramento…, vol. 2. p. 8.
22 Ibidem, p. 12.
ISBN 978-85-61586-70-5
48
IV Encontro Internacional de História Colonial
quando trataram de estabelecer feitorias comerciais. Se antes, primeiro procuravam
ativar o comércio para um ponto do litoral que depois seria fortificado para defender
o monopólio régio,23 no Prata, a fortificação precedeu o estabelecimento do
entreposto.
Por sua vez, o domínio da navegação do Rio da Prata poderia facilitar aos
portugueses a conquista do território banhado por seus afluentes, a fim de obter o
controle da linha de comunicações entre Buenos Aires e as minas do Alto Peru. Para
Portugal, enquanto potência mercantil, a noção de fronteira era móvel, já que estava
ligada à expansão dos seus interesses econômicos.24 Logo, eram plenamente
fundados os receios dos espanhóis de que, com a fundação de Colônia, os
portugueses procuravam dominar o acesso ao Vice-Reino do Peru e por isso não
mediram esforços para desalojá-los do estuário platino.
Com a destruição de Sacramento, no mesmo ano da sua fundação, parecia ter
acabado melancolicamente o sonho da Coroa portuguesa de reabrir o lucrativo
comércio com o Rio da Prata e, ao mesmo tempo, aumentar seu poder através do
domínio e exploração de uma vasta região ainda não ocupada por nenhuma potência
europeia. Entretanto, o príncipe D. Pedro não aceitou pacificamente a situação.
Enviou um ultimatum à Espanha, que, dentro de quinze dias, teria de dar satisfação
do ocorrido, castigar o governador de Buenos Aires, libertar os prisioneiros e
devolver o território ocupado.25
A situação internacional não era favorável à coroa espanhola que tentava fazer
frente à ambição francesa de hegemonia europeia, por isso ela cedeu às pressões dos
portugueses e, em 7 de março de 1681, foi assinado em Lisboa o Tratado
Provisional. O tratado regulamentava ainda que se nomeariam comissários em igual
número para ambas as partes para que, dentro de dois meses, se reunissem numa
conferência na qual seriam definidos os limites do meridiano de Tordesilhas. Caso os
comissários não chegassem a nenhum acordo dentro de no máximo três meses, a
disputa seria resolvida pelo Papa, que teria um ano para arbitrar a questão.26
Embora as conferências realizadas em Elvas e Badajoz, na fronteira lusoespanhola, não chegassem a nenhuma conclusão, pois os representantes de ambos os
países empenharam-se unicamente em fazer valer os interesses de seus soberanos, a
fundação de Sacramento trouxe à tona o problema dos limites das possessões
ibéricas na América, esquecido desde fins do século XVI. Os debates concentraram23
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes: Formação do Brasil no Atlântico
Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 75.
24 Sobre a política expansionista portuguesa nas bacias platina e amazônica, consultar:
BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O Expansionismo Brasileiro e a Formação dos
Estados na Bacia do Prata…, p. 43-52.
25 RIVEROS TULA, Anibal M. Historia de la Colonia del Sacramento…, p. 81-82.
26 Tratado Provisional de 1681. Revista do IHGB, vol. 352, p. 914-928, 1986.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
49
se nas diferentes interpretações do Tratado de Tordesilhas. Os espanhóis defendiam
que as 370 léguas estipuladas pelo tratado fossem contadas a partir da ilha de São
Nicolau, a mais central do arquipélago de Cabo Verde, enquanto que os portugueses,
ao contrário do que haviam defendido na junta de 1524, quando queriam garantir um
avanço a leste, agora insistiam que a contagem deveria começar a partir da ilha de
Santo Antão, a mais ocidental delas, a fim de assegurar o máximo avanço a oeste.27
Outra discussão que não teve consenso referia-se à forma de contar as léguas.
Nessa época existiam diferentes tipos de contagem das léguas, variando em cada país
e até mesmo entre os pilotos de uma mesma nação.28
Se as grandes variações verificadas nos mapas deviam-se antes à dificuldade de
precisar corretamente as medidas e não a uma falsificação premeditada, como foi
apontado por alguns historiadores de países vizinhos, não podemos deixar de
observar que os cartógrafos e cosmógrafos portugueses pareciam estar mais
engajados na defesa dos interesses de seus soberanos que os seus colegas espanhóis,
já que sempre defenderam o domínio português sobre o Rio da Prata.
Entre os espanhóis notamos uma vacilação considerável. Consultados pela Coroa
espanhola em agosto de 1680, o cosmógrafo D. Alonso de Bacas Montoya deu seu
parecer de que a linha de Tordesilhas cortava ao meio a ilha de Maldonado,29
enquanto o piloto-mor da Casa de Contratação de Sevilha defendia que a linha
passava por São Vicente.30
Nesse momento, a diferença de atitudes entre os cosmógrafos portugueses e
espanhóis pode ser explicada pelo engajamento dos primeiros numa política
expansionista agressiva que visava alargar ao máximo o domínio da Coroa em
direção às minas do Alto Peru enquanto que os espanhóis, donos das minas e sem
grande interesse em um alargamento territorial que não prometia grandes riquezas,
mantiveram-se numa postura defensiva, mas decidida a deixar os portugueses fora do
Rio da Prata, o principal caminho para as minas a partir do Atlântico.
Embora não se chegasse a um acordo com respeito ao alcance da linha de
Tordesilhas, o Tratado Provisional permitiu a reconstrução de Sacramento pelos
portugueses. Para povoá-la, um decreto real, assinado em 29 de outubro de 1689,
ordenou que os homens e as mulheres condenados ao degredo no Brasil podiam ter
27
CORREA LUNA, Carlos. Campaña del Brasil. Buenos Aires: Archivo General de la
Nación, 1931, t. 1, p. LXI.
28 GARCIA, Fernando Cacciatore de. Fronteira Iluminada. Porto Alegre: Sulina, 2010, p.
30.
29 Informe del Catedratico de Cosmografía Don Alonso de Bacas Montoya. Sevilla, 9 de
Agosto de 1680. In: CORREA LUNA, Carlos. Campaña del Brasil…, p. 285-287.
30 Informe de Don Juan Cruzado de la Cruz y Messa. Sevilla, 13 de Agosto de 1680. In:
Ibidem, p. 287-288.
ISBN 978-85-61586-70-5
50
IV Encontro Internacional de História Colonial
suas sentenças comutadas para a Colônia do Sacramento,31 para onde foram
enviados quinze homens em 25 de janeiro de 1690.32
Além da Coroa, o governo do Rio de Janeiro também costumava enviar
degredados para lá. Em 1685, um bando do governador condenou ao degredo para
Sacramento qualquer pessoa que fosse apanhada mascarada nas ruas do Rio, devido
ao grande número de abusos e violências causadas pelos mascarados.33 Em 1690, o
governador D. Francisco Naper de Lencastre enviou do Rio de Janeiro doze
mulheres solteiras, “algumas degredadas pela justiça e outras desimpedidas e
escandalosas, para lá casarem, como já o vão fazendo”.34 Esperava-se que na Colônia
do Sacramento as mulheres solteiras, condenadas ao degredo por pequenos crimes,
prostituição ou “comportamento escandaloso”, se casassem com os soldados, dando
origem a famílias estáveis que garantissem o sucesso da política de povoamento.
Em 1699, o governador Sebastião da Veiga Cabral reclamou ao rei que, dos
soldados que pedira ao Rio de Janeiro, “só doze eram capazes, e os mais inúteis, por
despidos e descalços, e outros mulatos”. O preconceito de Veiga Cabral contra os
soldados mulatos não deixou de ser severamente reprovado pela Coroa, que
estranhou a atitude do governador de Sacramento, respondendo-lhe que “ainda que
fossem mulatos, como destes se componha a maior parte do Brasil, e não haverem
muitos outros de diferente qualidade, e neste Reino, em que podia haver muito maior
escrúpulo, serviram muitos, e ocuparam postos”.35
A falta de apreço pelos soldados brasileiros ia mais além do que o simples
preconceito dos oficiais e governadores, reinóis em sua maioria. O recrutamento
compulsório que visava à obtenção da maior quantidade de homens possível no
menor tempo, ao mesmo tempo em que tinha por objetivo livrar as cidades dos
elementos indesejados, foi o principal elemento responsável pela baixa qualidade do
soldado recrutado na América portuguesa.
Entretanto, as expectativas de aumentar a presença lusa no Prata estavam
destinadas a malograr em consequência da mudança da política europeia. Em 1700,
com a morte de Carlos II, terminou o ramo espanhol da dinastia de Habsburgo e
deu-se a ascensão dos Bourbons ao trono da Espanha. Um novo tratado buscou o
apoio de Portugal à nova dinastia espanhola em troca de concessões no Rio da Prata.
31
ALDEN, Dauril. Royal Government in Colonial Brazil with Special Reference to the
Administration of the Marquis of Lavradio. Berkeley - Los Angeles: University of
California Press, 1968, p. 70.
32 MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. A Colônia do Sacramento…, vol. 2, p. 54.
33 COARACY, Vivaldo. O Rio de Janeiro no Século XVII…, p. 201.
34 D. Francisco Naper de Lencastre ao rei, 30/05/1690. In: ALMEIDA, Luís Ferrand de. A
Diplomacia Portuguesa e os Limites Meridionais do Brasil… p. 524.
35 D. Pedro II a Sebastião da Veiga Cabral, 22/11/1699. In: Ibidem, p. 560.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
51
O Tratado de Aliança entre Portugal, França e Espanha foi assinado em 18 de
junho de 1701. Entre outras coisas, D. Pedro II garantia o testamento de Carlos II,
comprometendo-se a fechar os portos portugueses aos navios das nações que
contestassem sua legitimidade. Em compensação, Portugal assegurou pleno direito a
Sacramento, independentemente da discussão sobre os limites da linha de
Tordesilhas.
Pelo Tratado, Filipe V cedia a D. Pedro II a Colônia do Sacramento, mas o item
que especificava “como ao presente a tem” criou margem para que o governador de
Buenos Aires e o vice-rei do Peru entendessem que o reconhecimento do domínio
português não deveria se estender além dos campos adjacentes à fortaleza. Isso
criava dificuldades para a concretização dos planos de ocupação de Montevidéu e
Maldonado, que a Coroa portuguesa entendia fazer parte do território de Colônia o
qual, na sua interpretação, abrangia toda a margem norte do Rio da Prata, ligando-se
ao Brasil pelo sertão e incluindo até mesmo as missões do Uruguai, que se
pretendiam manter após a troca dos jesuítas espanhóis por portugueses.36
O Tratado de Aliança não durou muito tempo, pois foi anulado quando os
portugueses mudaram sua política de alianças e passaram a apoiar o candidato
austríaco à coroa espanhola, rompendo com Filipe V. Apesar das pressões da
Inglaterra e da Holanda, a adesão portuguesa ao lado dos austríacos fez-se somente
após longas negociações, sendo assinada em 16 de maio de 1703. Pelo acordo, em
caso de vitória dos aliados, a França seria forçada a renunciar às suas pretensões
sobre as terras situadas entre os rios Oiapoque e Amazonas e a Espanha cederia
algumas cidades da Estremadura e da Galícia e reconheceria a soberania portuguesa
sobre toda a margem norte do Rio da Prata, o qual passaria a servir de limite aos
domínios de ambas as Coroas.37
A troca de alianças deu origem a um novo ataque do governador de Buenos Aires
à Colônia do Sacramento, que foi abandonada aos espanhóis em 1705, quando a
população e guarnição foram embarcadas rumo ao Rio de Janeiro. Porém, dez anos
após, o Tratado de Utrecht, que selou a paz entre Portugal e Espanha, ordenou a sua
devolução aos portugueses.
Os plenipotenciários portugueses na Holanda foram o conde de Tarouca e D.
Luís da Cunha. Tarouca buscou mais do que simplesmente a devolução de Colônia
na negociação com os espanhóis, pois visava garantir a expansão da colonização
portuguesa no Rio da Prata:
Porque escrevendo ouvi da parte de El Rei de Castela que se
não dissesse no tratado Colônia, pois já não havia tal Colônia,
36
ALMEIDA, Luís Ferrand de. A Colônia do Sacramento na Época da Sucessão de
Espanha…, p. 213-221.
37 Ibidem, p. 255-256.
ISBN 978-85-61586-70-5
52
IV Encontro Internacional de História Colonial
mas dissemos o terreno donde estava a Colônia, daqui tirei a
ocasião para uma grande negociação, e nesta água em volta,
como se diz vulgarmente encaixei um plural dizendo o território
e a Colônia; esta malícia não percebeu o Duque de Osuna38
[plenipotenciário espanhol], nem o embaixador de França e
assim passou o plural; e assim direi a VS.ª o desígnio com que o
fiz. El Rei nosso senhor não possuía mais que a Colônia
simplesmente, antes quando ultimamente lha cedeu Felipe 5º
pôs-lhe uma cláusula dizendo como al presente la tiene – de sorte
que não possuíamos de jure um palmo de terra fora da Colônia,
mas presentemente em virtude desta paz há de El Rei entrar de
posse, há de fortificá-la, há de começar a lograr toda a
campanha e terra que lhe parecer e se os castelhanos quiserem
embaraçar-lhe há de responder-lhes que aquele território lhe há
de ser cedido juntamente com a Colônia e que não põem em
dúvida a que se faça a demarcação pois que no tratado de paz se
vê que não só lhe deram a Colônia mas o território.39
Contudo, a notícia da entrega da “Colônia do Sacramento e seu território”,
segundo os termos do tratado, não foi bem recebida em Buenos Aires. O cabildo
escreveu ao rei que a devolução de Colônia aos lusos resultaria num gravíssimo
prejuízo à coroa espanhola e aos habitantes das províncias de Buenos Aires, Paraguai
e Tucumã, assim como também aos índios das missões jesuíticas.40 Para o
governador de Buenos Aires, o território de Colônia, não delimitado pelo Tratado de
Utrecht, era somente o coberto pela artilharia da praça. Segundo ele, se antes os
portugueses tinham o usufruto da campanha, o mesmo não passava de roubo, o que
seria evitado com o povoamento da margem norte do Rio da Prata pelos
espanhóis.41
38 O colega de Tarouca em Utrecht, D. Luís da Cunha, considerava Osuna “ignorante incapaz
de conduzir os interesses que representava porque ‘não havendo jamais lido um só tratado,
não devia expor-se a fazê-lo”. In: CLUNY, Isabel. D. Luís da Cunha e a ideia da
Diplomacia em Portugal. Lisboa: Horizonte, 1999, p. 37.
39 CLUNY, Isabel. O Conde de Tarouca e a Diplomacia na Época Moderna. Lisboa:
Horizonte, 2006, p. 319. Sobre a diplomacia em Portugal durante a Idade Moderna consultar:
FARIA, Ana Leal de. Arquitectos da Paz: A Diplomacia Portuguesa de 1640 a 1815. Lisboa:
Tribuna, 2008.
40 Resolución capitular de pedir a S. M. que en vez de la Colonia se entregara ‘otra cosa de
menos atraso y perjuicio a sus reales haberes. Buenos Aires, 20/11/1715. In: In: CORREA
LUNA, Carlos. Campaña del Brasil…, p. 452-453.
41 Carta de D. Balthasar García Ros, gobernador interino de Buenos Aires al rey… Buenos
Aires, 07 /12/1715. In: CORREA LUNA, Carlos. Campaña del Brasil…, p. 453-457.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
53
Na tomada de posse, o governador Manuel Gomes Barbosa expôs o que os
portugueses entendiam como sendo o território de Colônia: “tanto para a parte do
norte, por onde se continua atualmente o domínio de Portugal, como para a parte do
leste, e foz do Rio da Prata”.42 Por isso pediu aos comissários espanhóis a retirada da
guarda do rio San Juan, situada a cinco léguas de Sacramento. Recebeu uma negativa
com base no argumento de que o território da Colônia do Sacramento se restringia
ao alcance de um tiro de canhão disparado da fortaleza, ideia do governador de
Buenos Aires aprovada pela coroa espanhola. Seguindo as ordens de Lisboa, Gomes
Barbosa fez registrar seu protesto contra a limitação imposta pelos espanhóis e deu
início às obras de reconstrução da fortaleza.
Para povoar a região, a Coroa promoveu a ida de sessenta casais de imigrantes da
província portuguesa de Trás-os-Montes. Os homens foram incorporados ao regime
de ordenanças, mas para manter os efetivos da tropa de linha continuava-se a
depender dos homens recrutados no Rio de Janeiro. Em 1718, o governador Manuel
Gomes Barbosa queixava-se ao vice-rei do Brasil que muitos dos seus soldados eram
aleijados e doentes.43 Escreveu também à Coroa sobre a grande quantidade de
desertores que resultava da má qualidade da tropa, composta por soldados novos e
mulatos, sendo em sua maioria “degredados, uns por ladrões e outros por vários
crimes”. Por isso achava melhor que se fizesse o recrutamento em Portugal e nas
ilhas. Ainda achou necessário acrescentar que os recrutas não deveriam desembarcar
no Rio de Janeiro “por não tomarem a língua da terra, que só desta sorte me parece
não desertarão, por não saberem o viver do Brasil”.44
Um decreto, datado de 1722, suspendeu o exílio para o Estado do Brasil,
incluindo a Colônia do Sacramento.45 Talvez esse decreto tenha sido expedido em
resposta ao pedido que o governador Manuel Gomes Barbosa fez à Coroa no ano
anterior para que cessasse o envio de degredados para a Colônia do Sacramento,
“por ser esta casta de gente os que desinquietam e reduzem todos os mais a que
fujam”.46
Entretanto, embora cessasse o envio de exilados do Reino para Colônia, até a
década de 1770 os governadores do Rio de Janeiro, e depois os vice-reis que viviam
nessa cidade, continuaram a remeter civis e soldados como degredados para
42
Protesto do governador da Colônia do Sacramento, Manuel Gomes Barbosa, feito a D.
Balthasar Garcia Ros, governador de Buenos Aires, 29/01/1721. In: MONTEIRO, Jonathas
da Costa Rego. A Colônia do Sacramento…, vol. 2, pp. 58-59.
43 Gomes Barbosa ao marquês de Angeja, 16/04/1718. In: MONTEIRO, Jonathas da Costa
Rego. A Colônia do Sacramento…, vol. 2, p. 67.
44 Gomes Barbosa ao rei, 15/12/1718. AHU, Colônia do Sacramento, cx. 1, doc. 40.
45 COATES, Timothy J. Degredados e Órfãs: Colonização Dirigida pela Coroa no Império
Português (1550-1755). Lisboa: CNCDP, 1998, p. 143-144.
46 Consulta do Conselho Ultramarino de 06/031722. IHGB, Arq. 1.1.21, ff. 67-67v.
ISBN 978-85-61586-70-5
54
IV Encontro Internacional de História Colonial
Sacramento.47 Como exemplo de um crime punido com o exílio em Colônia, citamos
um bando do governador Aires de Saldanha de Albuquerque que, em 1724,
condenava a três anos de degredo os negros forros que vendessem peixe sem licença
nas praias do Rio de Janeiro.48
A política da colonização por meio do envio de casais, patrocinada pela coroa
portuguesa, não supriu o problema do desequilíbrio entre os sexos, gerado pela
grande concentração de soldados numa pequena povoação. A prática de forçar as
pessoas que chegavam ao Rio de Janeiro sem passaportes (com a intenção de seguir
para Minas Gerais) a emigrar para Colônia foi iniciada a partir do acordo feito no Rio
entre o governador nomeado de Sacramento, Antônio Pedro de Vasconcelos, e Aires
de Saldanha, governador do Rio de Janeiro, como uma forma de incrementar o
número de agricultores em Colônia, sem criar novas despesas para Fazenda Real.
Vasconcelos argumentava que, como era grande o número de pessoas que
continuamente chegavam àquele porto em busca de novas oportunidades no Brasil,
“nenhuma violência se lhes fazia de os mandarem para esta terra”.49
Com a aplicação desse método, Aires de Saldanha conseguira prender muitas
pessoas e, se libertou algumas delas, ainda assim Vasconcelos conseguiu levar
consigo para o Prata trinta ilhéus. A ideia de Antônio Pedro de Vasconcelos acabou
por tornar-se prática comum entre os governadores do Rio de Janeiro, que
continuaram a enviar os imigrantes indesejados para Colônia. Em novembro de 1724
chegaram mais sete casais50 e, em1728, o governador do Rio de Janeiro remeteu para
Colônia uma nova “leva de ilhéus”, em compensação pelo envio do soldado José de
Nunes.51
Essa política de incrementar o povoamento de Colônia através do envio de casais,
voluntários ou não, teve novo desdobramento quando a coroa portuguesa decidiu
fundar uma nova povoação no Rio da Prata. Ao saber “do intento que tinham os
castelhanos de fortificarem Montevidéu, com o que fica cortada e exposta a dita
Colônia [do Sacramento]”, D. João V ordenou ao governador do Rio de Janeiro o
envio de uma fragata guarda costa a fim de fortificar o local, se ele ainda não
estivesse ocupado. As instruções eram precisas: se os espanhóis já tivessem ocupado
Montevidéu, mas não pudessem se defender da expedição, reforçada pela tropa de
Sacramento, o rei ordenava que “os faça desalojar e se meta da posse do dito sítio
[…] por pertencer sem disputa alguma aos domínios desta coroa”. Porém, se a força
espanhola fosse maior que a portuguesa, a fragata “dissimulará o intento com que ia,
47
ALDEN, Dauril. Royal Government in Colonial Brazil with Special Reference to the
Administration of the Marquis of Lavradio…, p. 70, n. 32.
48 Bando do governador Aires Saldanha, 16/11/1724. ANRJ, cód. 60, vol. 14, ff. 84v.-85.
49 Vasconcelos ao rei, 25/09/1722. AHU, Colônia do Sacramento, cx. 1, doc. 76.
50 Consulta do Conselho Ultramarino de 21/01/1726. IHGB. Arq. 1.1.21, f. 346v.
51 Vahia Monteiro a Vasconcelos, 24/09/1728. ANRJ. Cód. 87, vol. 3, f. 155.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
55
cruzando alguns dias naquelas costas e fazendo entender aos mesmos castelhanos
[que] lhe fora preciso chegar àquele sítio a dar caça aos piratas que o infestavam”.52
Embora disposto a expandir seus domínios no Rio da Prata, D. João V não
garantiu ajuda ao governador do Rio de Janeiro como havia previsto seu pai, quando
do primeiro projeto de ocupação de Montevidéu. O governador Aires de Saldanha e
Albuquerque comunicou ao rei que escolheu os melhores soldados da guarnição para
embarcar na fragata: cento e cinquenta soldados e alguns oficiais. Escusava-se
dizendo não se atrevia a enviar mais gente, embora soubesse da necessidade, por que
a guarnição do Rio de Janeiro compunha-se de somente seiscentos homens, “entre
os quais há muitos velhos quase estropiados e muitos soldados novos”.53 Para o
comando da expedição foi escolhido o mestre de campo Manuel de Freitas da
Fonseca.
Quando chegaram à enseada de Montevidéu, em novembro de 1723, os
portugueses encontraram uma lancha espanhola que não tardou a levar a Buenos
Aires a notícia da presença dos lusos na região. Ao tomar conhecimento da ocupação
portuguesa, o governador de Buenos Aires escreveu ao governador de Sacramento
protestando contra o fato, mas não perdeu tempo em iniciar os preparativos para
desalojar os portugueses da nova fundação.54
Por isso, os portugueses não tiveram tempo de concluir a fortificação, mesmo
que tivessem os materiais necessários, pois no dia seguinte ao seu desembarque
apareceu uma tropa de trinta índios missioneiros e, em dois de dezembro, chegaram
cerca de duzentos soldados espanhóis, os quais recebiam constantes reforços no
cerco aos portugueses. Por sua vez, o governador de Colônia enviara somente
quarenta cavaleiros, dos quais pedia de volta dez e avisava que a comunicação por
terra era perigosa e que os espanhóis tratavam de cortar a ligação fluvial entre a
Colônia do Sacramento e Montevidéu.
A fome atormentou os expedicionários depois que os inimigos tomaram os
cavalos e o gado enviados pelo governador de Colônia. Segundo Fonseca, dos
mantimentos que havia, “achou-se que só vinte dias podiam durar, dando só meia
ração, porque além de irem poucos, tinha apodrecido parte deles”. As informações
do mestre de campo mostram como estava mal organizada a expedição, não somente
por falta de apoio logístico como também por falta de pessoal, “pois só tinha 150
soldados e poucos artilheiros, uns sem terem visto fogo e outros sem nenhum
52
D. João V para Aires de Saldanha, 29/06/1723. In: Revista do IHGB, tomo 32, p. 22-25,
1869.
53 Aires de Saldanha para o rei. Ibidem, p. 23.
54 MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. A Colônia do Sacramento…, vol. 1, p. 186.
ISBN 978-85-61586-70-5
56
IV Encontro Internacional de História Colonial
exercício”.55 Com poucas forças e sem apoio naval, Manuel de Freitas da Fonseca
decidiu abandonar Montevidéu em 19 de janeiro de 1724, decisão aprovada pelos
oficiais da expedição. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Fonseca e seus oficiais
foram presos na fortaleza de Santa Cruz por ordem do governador.
Ao escrever ao Secretário de Estado, o governador do Rio de Janeiro pôs a culpa
do fracasso da expedição na “desordenada retirada que o mestre de campo Manuel
de Freitas da Fonseca fez de Montevidéu”. Dizia que tinha enviado um navio de
socorro com soldados, mantimentos e munições, mas que ao chegar ao destino
encontrou-o já ocupado pelos espanhóis.56
A coroa portuguesa procurou então recuperar Montevidéu através da diplomacia.
Porém, a conjuntura internacional de então lhe era desfavorável. As principais
potências europeias estavam reunidas na conferência de Cambrai (1720-1725), numa
tentativa de resolver as discórdias criadas pelo Tratado de Utrecht, que provocaram
uma guerra entre a Espanha e a Quádrupla Aliança (Inglaterra, França, Holanda e
Áustria) em 1719. O fato de Portugal ter permanecido neutro no conflito gerou
preocupações de que não seria aceito na conferência. Entretanto, foram enviados
para representar o monarca português os mesmos diplomatas que estiveram em
Utrecht, o conde de Tarouca e D. Luís da Cunha.
Em 1724, Tarouca defendia que se deveria “fechar o Brasil entre dois grandes
rios Amazonas e Prata e, por esse modo preservar toda aquela costa”. Sua atuação no
congresso visava garantir a posse do litoral, mesmo que deixando a campanha da
Banda Oriental aos espanhóis.57 Em Lisboa, o secretário de Estado, Diogo de
Mendonça Corte Real, insistia nas suas instruções que a margem norte do Rio da
Prata deveria ser considerada domínio exclusivo de Portugal. Escreveu ao conde de
Tarouca dizendo que por “baliza dos domínios de uma e outra coroa a dita Colônia e
de tudo que ficava para a boca do Rio da Prata ficava pertencendo a esta coroa, pois
nós nunca pretendemos que Castela nos desse nos seus domínios praça alguma, mas
que nos deixassem edificar nos que nos pertenciam” [grifo nosso].58
Apesar dos esforços, a diplomacia portuguesa não conseguiu o que queria em
Cambrai. Porém, a recusa de Luís XV em se casar com a infanta espanhola provocou
uma mudança completa nas relações luso-espanholas. A mão da infanta foi então
oferecida ao príncipe do Brasil, futuro D. José I. Por sua vez, Portugal ofereceu a
mão da infanta portuguesa ao príncipe das Astúrias, futuro Fernando VI. Nas
55
Carta de Manuel de Freitas Fonseca, 20/03/1724. In: CORTESÃO, Jaime. Alexandre de
Gusmão e o Tratado de Madrid. Rio de Janeiro: Instituto Rio Branco, parte III, tomo I,
1950, p. 123-128.
56 Aires de Saldanha a Corte Real, 30/05/1724. In: CORTESÃO, Jaime. Ibidem, p. 129-130.
57 CLUNY, Isabel. O Conde de Tarouca e a Diplomacia na Época Moderna…, p. 411.
58 Corte Real ao Conde de Tarouca, 04/07/1724. In: CORTESÃO, Jaime. Alexandre de
Gusmão e o Tratado de Madrid…, p. 253-254.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
57
instruções a José da Cunha Brochado, enviado a Madri a fim de negociar o
casamento dos príncipes, em 1725, D. João V insistiu para que ele obtivesse o
reconhecimento do domínio português sobre a margem norte do Rio da Prata,
dizendo que “só da Colônia para a parte do ocidente é que se há de limitar o distrito
dela, até o tiro de canhão da sua fortaleza, e por que da dita fortaleza para a mesma
parte começa o território de Castela”. Da Colônia do Sacramento para o Oriente
começava o domínio português: “e [como] no sobredito território se inclui
Montevidéu, deveis solicitar que El Rei Católico mande expedir as ordens necessárias
ao governador de Buenos Aires para que retire a gente que ainda ocupa injustamente
aquele sítio”.59
Entretanto, as negociações para os casamentos dos príncipes incluíam a proposta
de uma aliança ofensiva e defensiva entre Espanha e Portugal, coisa que não
agradava à coroa portuguesa. Por sua vez, não era do agrado da coroa espanhola a
entrega da Banda Oriental aos portugueses. Cunha Brochado encontrou muita
dificuldade em conseguir concessões da Espanha no Rio da Prata e confessou em
carta ao Cardeal da Cunha que era melhor “largar a Colônia que não vale nada e não
tem utilidade nem serventia mais que para dar-nos desgostos e cedo ou tarde hão de
tomá-la”. Por isso, era de opinião de que “para largar a Colônia com mais decoro
podia El Rei dizer que a dava em dote a sua filha e que logo celebrado o desposório
[sic] a mandaria largar a El Rei católico, ainda que o matrimônio não se seguisse”.60
Porém, para D. João V a conservação da Colônia do Sacramento tornara-se “um
ponto de Estado e de honra”.61 As negociações arrastaram-se até 1729, quando se
deram os matrimônios, sem que eles representassem uma maior aproximação entre
as coroas ibéricas.
Um incidente diplomático em Madri, sem maiores consequências na Europa,
forneceu aos espanhóis um motivo para tentar desalojar os portugueses do Rio da
Prata, dando início ao cerco de Colônia, que se estendeu de outubro de 1735 a
setembro de 1737. O envio de reforços conseguiu impedir a retomada de
Sacramento, mas não teve sucesso em romper o cerco espanhol, que foi mantido
após o armistício, marcando o fim da crescente expansão portuguesa pelo interior do
território. Entretanto, as expedições de socorro fizeram mais do que impedir a
conquista de Colônia pelos espanhóis, pois deram início à fortificação do Rio
Grande de São Pedro, impedindo assim a expansão espanhola na região.
59
Instruções de D. João V a Cunha Brochado, 24/05/1725. In: CORTESÃO, Jaime. Ibidem,
p. 133-142.
60 Cunha Brochado ao Cardeal da Cunha, 09/08/1725. In: CORTESÃO, Jaime. Ibidem, p.
150-151.
61 CORTESÃO, Jaime. O Tratado de Madrid. Brasília: Edições do Senado Federal, 2001, p.
310.
ISBN 978-85-61586-70-5
58
IV Encontro Internacional de História Colonial
Se os casamentos reais não serviram para aproximar as coroas ibéricas no
momento da sua concretização, futuramente dariam seus frutos, pois, a ascensão de
Fernando VI ao trono espanhol possibilitou a redação do Tratado de Madri, que
traçaria novos limites entre os domínios espanhóis e portugueses na América,
deixando de lado a discussão sobre o alcance da Linha de Tordesilhas e a delimitação
do território da Colônia do Sacramento.
Fundada com o objetivo explícito de levar a fronteira sul do Brasil ao Rio da
Prata, não podemos descartar os objetivos econômicos que levaram à criação de
Sacramento nas proximidades da ilha de São Gabriel, um dos pontos mais favoráveis
ao contrabando com Buenos Aires. Embora muitas vezes aventado na
correspondência de autoridades do Rio de Janeiro com Lisboa, o comércio com os
espanhóis não deveria ficar explícito nas justificativas da nova fundação, pois seria
uma afronta direta ao exclusivo comercial pretendido pela coroa espanhola nos seus
domínios ultramarinos.
Durante todo o período de ocupação portuguesa a Colônia do Sacramento esteve
em estreita dependência do Rio de Janeiro, de onde vinham povoadores, militares,
mantimentos, munições para a praça e mercadorias para a venda aos espanhóis,
embora ela tenha sido fundada nas “terras da capitania de São Vicente, nas margens
do Rio da Prata”.62
Sérgio Buarque de Holanda afirmou que a criação de um caminho terrestre entre
a Colônia do Sacramento e o Brasil cedo despertou a atenção das autoridades, a fim
de corrigir “o insulamento em que se encontrava o presídio platino”.63 O primeiro
roteiro de um caminho terrestre para Sacramento é de 1703. Desde então várias
tentativas foram feitas até que, em 1731, Cristóvão Pereira de Abreu conduziu a
primeira tropa de gado com destino ao mercado consumidor de Minas Gerais. Mas
esse era um caminho de tropeiros que não servia para garantir a manutenção da
Colônia do Sacramento, que manteve sua dependência da rota marítima e das
remessas do Rio de Janeiro até sua entrega aos espanhóis em 1777.
62
Para justificar seus direitos sobre a região platina, a coroa de Portugal mandou publicar, em
1681, em português, francês e espanhol, um manifesto intitulado: “Notícia e justificação do
título e boa fé com que se obrou a Nova Colônia do Sacramento, nas terras da capitania de
São Vicente, nas margens do Rio da Prata”. In: Revista de História. São Paulo, vol. LXVIII,
1977, p. 1-32.
63 HOLANDA, Sérgio Buarque de. A Colônia do Sacramento e a Expansão no Extremo Sul.
In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História Geral da Civilização Brasileira Período Colonial. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968, vol. 1, p. 359.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
59
“É de minha conquista e cabe debaixo de minha demarcação”:
o Prata na gestão da monarquia portuguesa (1640-1680)
Marcello José Gomes Loureiro1
Em abril de 1529, portugueses e castelhanos assinavam a escritura de Saragoça. A
avença sanava importantes questões relativas à demarcação dos domínios ibéricos no
Oriente: Portugal reconhecia as Molucas como devidas à Espanha, definindo-se
assim um local específico para o cruzamento do antimeridiano de Tordesilhas, e as
comprava por 350.000 ducados.2 D. João III “se vaió de la necesidad y falta de
dineros, en que se hallava el Emperador el año de 1529 y ofreciendo 350 mil ducados
por su empeño, se concertaron ambos Principes en que por dicha cantidad
quedassen las Islas al Rey de Portugal”.3
Obviamente, quando os portugueses pagaram pelas Molucas, convencionou-se,
antes, que elas não pertenciam originalmente a Portugal, mas sim a Castela. O que é
o mesmo que dizer que o antimeridiano de Tordesilhas passava originalmente a oeste
dessas ilhas. Sendo fixa a distância entre o meridiano e o antimeridiano de
Tordesilhas, definia-se implicitamente o local por onde o meridiano de Tordesilhas
passava na América. A partir do corolário, uma hipótese que pode ser aventada é a
de que pagar pelas Molucas significava definir o meridiano de Tordesilhas de modo
que o Prata pudesse estar na América lusa.4
Seja como for, Castela resolveu povoar a Bacia do Prata inicialmente, por meio
das ações de D. Pedro de Mendoza, patenteado, para tanto, governador e capitão
geral das províncias do Rio da Prata em 1533. Três anos mais tarde, fundava os
povoados de Buenos Aires, na margem direita do Prata, Corpus Christi e Buena
Esperanza. No ano seguinte, fundava-se o mais importante deles no século XVI,
1
Doutorando e Mestre em História Social (PPGHIS-UFRJ).
CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos velhos mapas. Rio de Janeiro: Ministério das
Relações Exteriores, vol I, 1965, p. 332. As cláusulas 5ª e 6ª da Escritura asseguravam a
Portugal também o monopólio da navegação; a cláusula 12ª confirmava o que fora acordado
em Tordesilhas. Cf. Súmula sobre a escritura de Saragoça. Sobre a posse, a navegação e o comércio das
Molucas, entre el-rei D. João III e o imperador Carlos V. Lérida, 23 de abril de 1529; ratificada em
Lisboa em 20 de junho de 1530. Publicada integralmente em SOARES, José Carlos de Macedo.
Fronteiras do Brasil no regime colonial. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1939, p. 99-102.
3 JUAN, Jorge & ULHÔA, Antonio de. Dissertación historica e geografica sobre el
meridiano de demarcion de los dominios entre España y Portugal. Madrid: En la
Imprenta de Antonio Marin, 1749. Apud SOARES. Fronteiras do Brasil no regime
colonial…, p. 89.
4 TAVARES, Luiz Edmundo. O Tratado de Tordesilhas – Contradições. In: LEMOS, Maria
Teresa Toríbio (org.). Além do mar tenebroso: Tordesilhas e o novo mundo. Rio de Janeiro:
UERJ/PROALC, 1995, p. 25-26, p. 33-37.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
60
IV Encontro Internacional de História Colonial
Assunção. Os portugueses, no entanto, não estabeleceram povoações nas margens
do rio, preferindo instalar ou ampliar, nessa mesma década, os núcleos populacionais
de São Vicente, Piratininga e Cananeia.5
Apesar disso, quase vinte anos mais tarde, alguns oficiais régios ainda
consideravam pertencer aos domínios de Portugal a região platina, tanto é que Tomé
de Sousa, depois de viajar ao Brasil, escreveu a Sua Majestade que “de São Vicente
até o Rio da Prata estavão allguas armas de Castela em allguas partes mandeias tirar e
deitar no mar e por as de V.A.” Criando nexos explícitos entre o direito sobre o
Prata e sobre as Molucas, o governador continuava considerando ser portuguesa a
cidade de Assunção:
Parece nos a todos que esta povoação está na demarcação de V.
A. e se Castela ysto neguar, mao pode provar que he Malluco
[Molucas] seu he se estas pallavras parecem a V.A. de mao
esperiquo e pior cosmógrafo terá V.A. muita rezão que eu não
sey nada disto se não deseyar que todo o mundo fose de V.A. e
de vossos herdeiros…6
E D. João III parecia compartilhar dessas ideias; ao menos é o que se percebe
quando se observam duas minutas de cartas suas para João Roiz Correia, de
novembro e dezembro de 1553. Na primeira, em virtude de uma armada que
supostamente partiria de Sevilha para o Prata, escreve que “este Rio da Prata, como
sabeys, he de minha comquista e caye debaixo de minha demarcaçam”.7 Na minuta
de dezembro, a segunda, refere-se categoricamente à Assunção: “os castelhanos do
Peru them feito no Brasil huuma pouoação a que chamam dAsumçam, e sam
ymformado que querem eles daly entrar pela terra dentro a conquistar e descobrir,
por alguma ymformaçam que them de auer ouro na dicta terra”.8 Em seguida,
5 Para Luís Ferrand de Almeida, D. João optou por não estabelecer povoados nas margens do
Rio da Prata por “simples medida de prudência”, temendo assim ações mais contundentes do
imperador Carlos V. Cf. ALMEIDA, Luís Ferrand. A diplomacia portuguesa e os limites
meridionais do Brasil (1493-1700). Coimbra: FLUC, 1957, p. 28.
6 Carta de Tomé de Souza a D. João III; Bahia, em 1 de junho de 1553. In: DIAS, Carlos
Malheiro; GAMEIRO, Roque & DE VASCONCELOS, Ernesto. História da colonização
Portuguesa do Brasil. Porto: Litografia Nacional, vol. III, 1924, p. 366. Apud ALMEIDA,
Luís Ferrand. A diplomacia portuguesa e os limites meridionais do Brasil (14931700)…, p. 38. (Arquivo nacional da Torre do Tombo, Coleção São Vicente, Vol. 3, fl. 313).
7 Minuta de carta de D. João III a João Roiz Correia. Lisboa, novembro de 1553. In: Arquivo
Nacional da Torre do Tombo. Coleção São Vicente, vol. 3, fl. 93-93v. Publicada
integralmente por ALMEIDA. Ibidem, p. 301.
8 Minuta de carta de D. João III a João Roiz Correia. Lisboadezembro de 1553. In: Arquivo
nacional da Torre do Tombo. Coleção São Vicente, vol. 3, fl. 49. Publicada integralmente
por ALMEIDA. Ibidem, p. 302.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
61
solicitava a João Correia que com toda “desimulaçam posivel”, procurasse saber com
algum oficial do Conselho das Índias se essas informações eram verdadeiras.9
A partir da década de 1580, com a União Ibérica, desenvolveram-se linhas
mercantis que conectavam de forma mais regular o Prata, pelo porto de Buenos
Aires, e as praças atlânticas do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e até mesmo de
Angola.10 Pode-se mesmo estimar que, por volta de 1584-1585, era razoável o trato
entre o Brasil, por meio principalmente de São Vicente, Rio de Janeiro e Salvador, e
o Rio da Prata.11
No início do século XVII, esse comércio deveria ter notável regularidade. Ao
menos é que se pode depreender da famosa frase do viajante francês Pyrard de
Laval: “Nunca vi terra onde o dinheiro seja tão comum, como é nesta do Brasil, e
vem do Rio da Prata”.12
Assim, o Prata aparece na agenda política da Coroa portuguesa como um dos
elementos constituintes dos circuitos mercantis do Atlântico sul. Se o principal artigo
atlântico para venda em Buenos Aires eram os escravos de Angola, a prata remetida
por esse porto liquidava parcela do pagamento referente às mercadorias adquiridas
no Oriente, a exemplo de tecidos.13 Tais itens, por sua vez, eram empregados para
aquisição de mais negros em Angola, iniciando-se dessa feita novamente a
engrenagem mercantil atlântica. Dessa maneira, o Prata se vinculava ao tráfico
negreiro duplamente: como área receptora de cativos, por um lado; e como fonte de
recursos para, indiretamente, viabilizar a aquisição de mão de obra em Angola, por
9
Ibidem.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes – formação do Brasil no Atlântico
Sul – Séculos XVI e XVII. São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 77-116.
11 Sobre os portugueses em Buenos Aires, é fundamental a tese de CEBALLOS, Rodrigo.
Arribadas portuguesas: a participação luso-brasileira na constituição social de Buenos Aires
(1580-1650). Niterói: Tese de doutoramento apresentada no programa de pós-graduação em
história da Universidade Federal Fluminense - UFF, 2007.
12 Cf. LAVAL, Francisco Pyrard de. Viagem de Francisco Pyrard de Laval. Contendo a
notícia de sua navegação às Índias Orientais, Ilhas de Maldiva, Maluco e ao Brasil, e os
diferentes casos que lhe aconteceram na mesma viagem nos dez anos que andou nestes países
(1601 a 1611). Com a descrição exacta dos costumes, leis, usos, polícia e governo; do trato e
comércio, que neles há; dos animais, árvores, frutas e outras singularidades que ali se
encontraram. Versão portuguesa correta e anotada por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara.
Edição Revista e actualizada por A. de Magalhães Basto. Porto: Livraria Civilização, 1944, p.
230.
13 Sobre a questão dos tecidos: LAPA, José Roberto do Amaral. A Bahia e a carreira da
Índia. São Paulo: Hucitec, 2000, p. 253-300; e FERREIRA, Roquinaldo. Dinâmica do
comércio intracolonial: Geribitas, panos asiáticos e guerra no tráfico angolano de escravos
(século XVIII). In: FRAGOSO, João; BICALHO, M. Fernanda Baptista & GOUVÊA, M. de
Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos
XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 330-378.
10
ISBN 978-85-61586-70-5
62
IV Encontro Internacional de História Colonial
outro. Não faz sentido pensar a inserção da região na pauta política da Coroa lusa
sem pressupor essa lógica.
Perceba-se então que América portuguesa, Angola e Buenos Aires faziam parte
de uma lógica mercantil, que tinha como eixo axial o próprio tráfico negreiro. Como
se pode verificar na documentação, a questão platina aparece freqüentemente
vinculada a Angola, ou ao Rio de Janeiro ou ainda a Salvador. Portanto, o Prata
somente existia na dimensão política portuguesa se encadeado a outras regiões do
seu Império.
Contudo, a frágil estabilidade das relações comerciais entre Buenos Aires e as
praças atlânticas do império português foi fundamentalmente atingida após a
Restauração dos Bragança de 1640.14
O comércio português no Rio da Prata desintegrava-se na década de 1640, o que
gerava retração monetária na América portuguesa.15 Sem escravos para comercializar,
os agenciadores desse trato não dispunham de seu mais lucrativo item. Com isso,
toda a área que dependia economicamente de Buenos Aires ficava menos irrigada
pelo metal branco, havendo, pois, impasse na circulação monetária na Bacia do Prata.
A carência de escravos também era problema sério para a produção de metal nas
minas potosinas.16
De acordo com uma advertência enviada ao monarca sobre a “conseruação do
estado do Brazil sem prejuízo de partes com aproueitamento da fazenda Real de
Portugal”, a situação monetária da praça de Salvador era alarmante.17 Em 1641,
14
TORGAL, Luís Reis. Ideologia política e teoria do Estado na Restauração. Coimbra:
Biblioteca Geral da Universidade, 2 Vols., 1981; ALVAREZ, Fernando Bouza. Portugal no
tempo dos Filipes. política, cultura e representações (1580-1668). Lisboa: Cosmos, 2000;
VALLADARES, Rafael. Sobre reyes de inverno. El diciembre portugués y los cuarenta
fidalgos (o algunos menos, con outros más). Revista d’Historia Moderna. Barcelona:
Universitat de Barcelona, no 15, p. 103-136, 1995; do mesmo autor: Portugal y el fin de la
hegemonia hispanica. Hispania: revista española de historia. Madri: LVI, núm. 193, p. 517539, 1996; e ainda: De ignorancia y lealdad. Portugueses em Madrid, 1640-1670. Torres de
los Lujanes, n. 37, p. 122-134, 1998.
15 MAGALHÃES, p. 66.
16 Informação de Maserati ao rei de Espanha (janeiro de 1680). Arquivo geral de Simancas.
Estado, legajo 7058, doc 14. Apud ALMEIDA. A diplomacia portuguesa e os limites
meridionais do Brasil (1493-1700)…, p. 91.
17 A carência monetária também era problema sério no Brasil holandês. Exemplo disso é o
fato de que, após 1639, era comum que quatro ou cinco soldados da Companhia das Índias
Ocidentais que estavam em Pernambuco recebessem uma única moeda de grande valor como
soldo, tendo de liquidar a parte que lhes era devida. Nesse mesmo ano, o governador
flamengo e seu conselho solicitaram à Cia o envio de 27.000 florins em moedas de baixo
valor. O medo das armadas espanholas fazia com que a população enterrasse suas reservas
metálicas, agravando a situação. Na tentativa de solução, o governo holandês emitiu
ordenanças, ordens de pagamento que seriam liquidadas após o recolhimento dos impostos.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
63
estavam há dezesseis meses e meio sendo sustentados os exércitos de Camarão e
Henrique Dias, resultando em uma despesa operacional de mais de cem mil réis por
dia.18 Tendo em vista que, no Brasil, subira o preço do açúcar, e no reino baixara, os
mercadores não o compravam, remetendo a Portugal dinheiro e o açúcar mínimo,
suficiente apenas para a liquidação de dívidas.19 Conforme a advertência, em quatro
anos, já havia sido exportado mais de 400 mil reis; e, nesse ritmo, “a dez patacas por
cada pessoa”, em breve não haveria nenhum dinheiro no Brasil e, por decorrência,
soldados para sua defesa e conservação. Mesmo com os “efeittos” da Fazenda Real,
como dízimos, imposições sobre o vinho, baleias, mel e aguardentes, vintenas e
outras rendas e donativos, era impraticável se sustentar os soldados, que recebiam
trinta réis ao dia, sem “dinheiro, em dinheiro”.20
Apesar das “grandes opresois” que estavam sendo aplicadas a mercadores, a
navegantes e, mormente, ao povo, a solução estava em se enviar quinhentos mil
cruzados para o Estado do Brasil, uma metade para a Bahia e a outra para as
capitanias do sul. Ainda de acordo com o documento, as moedas deveriam ser
cunhadas de forma especial, diferentes das do reino, para que somente fossem
reconhecidas e valorizadas nesse Estado, não sendo assim dele exportadas. Seriam
destinadas a comprar exclusivamente o açúcar, pelo que renderiam cerca entre 50 ou
60% a mais. Ao fim, os quinhentos mil seriam transformados em setecentos e
cinquenta mil. Restava apenas obter o dinheiro para o início da operação.21
Na tentativa de por fim à carência monetária, bem como solucionar as principais
questões que permeavam a gestão do Atlântico Sul português, o Conselho de
Guerra, em um documento de 1643, sugeria que o monarca consultasse Salvador
Correia, “que tem grande experiencia e conhecimento das coisas”, para que desse um
parecer sobre como não somente “remediar os danos presentes e futuros”, mas
ainda sobre o modo de como se fazer entrar pelo Rio de Janeiro “alguma prata neste
Reino”.22
Não obstante, elas se desvalorizaram e os especuladores, comprando-lhes a baixo preço,
usavam-nas para pagamento dos impostos e produtos vendidos pela própria Cia. Cf.
WÄTJEN, Hermann. O domínio colonial holandês no Brasil: um capítulo da história
colonial do século XVII. Tradução de Pedro Celso Uchôa Cavalcanti. São Paulo: Cia Editora
Nacional, 1938, p. 324-325.
18 Auertencia pera conseruação do estado do Brazil sem prejuizo de partes com
aproueitamento da fazenda Real de Portugal pera se afeitar dentro de hum anno. Limoeiro de
Lisboa, a 29 de março de 1644. Papeis Politicos – Cod 987 (K VII 3I), fl. 490-490 v. In:
Manuscritos do Arquivo da Casa de Cadaval, doc. 69, p. 33-34.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
ISBN 978-85-61586-70-5
64
IV Encontro Internacional de História Colonial
Salvador defendeu a invasão militar do Prata em seu parecer, mas não sem antes
registrar a importância da reconquista de Angola, já que os negros eram “a
mercadoria que os castelhanos mais necessitam”.23 Quanto à Angola, o ponto
primordial de seu papel incitava a Coroa para que “logo logo mande acudir aquele
Reino”, já que era muito sentida “a falta do comercio de Angola porque sem ela se
prejudica muito as fazendas do Brasil e se aniquila o aumento da Real fazenda assim
no Brasil como neste Reino”.24 Finalmente, quanto ao nordeste, recomendava que
se incentivasse o roubo e a destruição da campanha de Pernambuco, para que os
flamengos aceitassem dinheiro para deixar a região.
O interessante é que os três pareceres dados por Salvador Correia de Sá
retornaram para avaliação no Conselho de Guerra que, de modo geral, concordou
com os seus alvitres. Divergiram somente na questão dos holandeses no nordeste.
Contrariamente ao sugerido por Salvador, o Conselho de Guerra optou por
recomendar ao rei que procurasse a solução para a saída dos holandeses, “gente tão
prevenida”, por via diplomática. 25
Em sua resposta, o Conselho percebera perfeitamente o ponto nervoso da
dinâmica mercantil das rotas do Atlântico, e nesta matéria era sobremaneira taxativo:
“porque sem Angola não se pode sustentar o Brasil, e menos Portugal sem aquele
Estado”.26
Tal opinião circulava com freqüência na corte por esta época. O Padre Vieira era
um dos maiores defensores da importância de Angola. Com uma visão estratégica
singular, escreveu ao Marquês de Nisa em agosto de 1648 que “Todo o debate agora
é sobre Angola, e é matéria em que não hão de ceder, porque sem negros não há
Pernambuco, e sem Angola não há negros”.27 O governador-geral Antônio Teles da
Silva reforçava essas impressões ao escrever ao rei:
Angola, Senhor, está de todo perdida, e sem ela não tem Vossa
Majestade o Brasil, porque desanimados os moradores de não
terem escravos para os engenhos, os desfabricarão e virão a
perder as alfândegas de Vossa Majestade os direitos que tinham
em seus açúcares.28
António Paes Viegas, secretário particular de D. João IV, e um dos mentores do
golpe de 1640, também escreveu dois papéis acerca da problemática imperial. No
23
Ibidem.
Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Cf. Carta ao Marquês de Niza, a 12 de agosto de 1648. In: Cartas de António Vieira. São
Paulo: Globo, 2008, p. 190-192.
28 Cf. Ibidem, p. 222.
24
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
65
primeiro, lembrava que os holandeses estavam muito seguros em Angola, não
havendo quem os “inquietasse”.29 No segundo, defendia que D. João IV deveria
enviar o quanto antes uma armada ao Rio de Janeiro e dar ordens a Salvador Correia
para que procurasse não apenas “entabolar as minas e ouro de lavagem”, mas ainda
que amealhasse mantimentos e gente “que melhor aturasse os ares de Angola” para a
sua reconquista.30 Se possível, deveria retornar com negros africanos à América
portuguesa, mantendo no Rio de Janeiro essa força naval pronta para prestar novos
socorros ao outro lado do Atlântico, contra os holandeses ou contra o rei do Congo.
Ou, então, a armada poderia saquear Buenos Aires, “com que largamente se
pagariam os gastos dela”. Naquele porto poderiam trazer muito cobre, que Salvador
Correia dizia haver em abundância.
Pouco tempo depois, o padre Vieira pressionava o monarca no mesmo sentido de
Salvador Correia e de António Paes Viegas. Segundo o jesuíta, os paulistas deveriam
invadir a Bacia do Prata, tomar várias de suas cidades e conquistar as minas do Peru,
“com grande facilidade e interesse luso, dano e diversão de Castela”.31 Em uma carta
ao Marquês de Niza, Vieira detalhava melhor os seus planos, sugerindo ao Marquês
que escrevesse ao Rei, como ele próprio o faria:
se pode intentar a conquista do Rio da Prata, de que
antigamente recebíamos tão consideráveis proveitos pelo
comércio, e se podem conseguir ainda maiores, se ajudados
[pelos] de São Paulo marcharmos, como é muito fácil, pela terra
dentro, e conquistarmos algumas cidades sem defesa, e as minas
de que elas e Espanha se enriquece, cuja prata por aquele
caminho se pode trazer com muito menores despesas.32
29
Parecer de António Pais Viegas sobre o socorro a enviar a Angola. Cabo Ruivo, a 27 de
abril de 1644. Papeis Politicos – Cod. 987 (K VII 31), fl. 499-499v. In: Manuscritos do
Arquivo da Casa de Cadaval, doc. 71, p. 35.
30 Parecer de António Pais Viegas sobre a recuperação de Angola. Cabo Ruivo, a 28 de abril
de 1644. Papeis Politicos – Cod. 987 (K VII 31), fl. 500-501. In: Manuscritos do Arquivo
da Casa de Cadaval, doc. 72, p. 35-36.
31 Cf. VIEIRA, Antônio. Papel que fez o padre Vieira a favor da entrega de Pernambuco aos
holandeses (1648). In: VIEIRA, António. Escritos históricos e políticos. São Paulo:
Martins Fontes, 2002.
32 Cf. Cartas do Padre Vieira, coordenadas e anotadas por João Lúcio de Azevedo, p.
122. Vieira apresentou na Corte outras idéias radicais a fim de tentar levar ao fim a crise em
Portugal. O padre e outros assessores mais próximos de D. João IV, com o fito de obter
ajuda militar da França, assessoravam o rei a vir para o Brasil. A regência de Portugal seria
dada ao Duque de Montpensier, cuja filha se casaria com o príncipe português D. Teodósio.
Vieira foi inclusive à França com esta finalidade. Sobre isto, conferir CORTESÃO. História
do Brasil…, vol II, p. 114-115.
ISBN 978-85-61586-70-5
66
IV Encontro Internacional de História Colonial
O projeto esboçado por Salvador de Sá, entretanto, não se concretizou neste
momento. Divergindo frontalmente do Conselho de Guerra, o Conselho
Ultramarino emitiu seu parecer após sete meses. Seus membros Jorge Castilho, Jorge
de Albuquerque e João Delgado afirmaram (1644) que quanto a Angola “V.
Majestade tem resolvido o que fazer”; sobre Buenos Aires, lembrava-se que Teles da
Silva já tentara abrir o comércio, sem consegui-lo. E que não convinha “em tempo
de tantos apertos” abrir novas frentes de guerra. Para o Conselho, Portugal deveria
direcionar esforços diplomáticos, econômicos e militares para resguardar o que lhe
sobrava no ultramar, defendo suas possessões de espanhóis e holandeses. No que
concerne ao nordeste, não se mencionou a via diplomática, conforme a orientação
prévia do Conselho de Guerra, mas sim o conflito aberto a partir do envio de
quinhentos homens das Ilhas Atlânticas.33
No caso particular que se apresentou, ainda que o Conselho de Guerra estivesse
envolvido, o assessoramento produzido pelo recém criado Conselho Ultramarino foi
o que prevaleceu.
Enquanto corriam na corte debates acerca do que se priorizar, na Bahia Teles da
Silva escrevia à Câmara de São Paulo, em outubro de 1646, solicitando que se
armasse e prontificasse uma expedição naval. Condicionada ao desfecho das
negociações com os holandeses, deveria “se empreender com esta armada a
conquista do Rio da Prata”.34 Assim, em que pesem as decisões contrárias dos
poderes centrais, manifestavam-se intenções de conquista militar do Prata na
América.
Em meio à crise da ocupação holandesa em Angola, D. João IV chegou a
consultar o Conselho Ultramarino acerca da possibilidade da mútua convivência de
portugueses e holandeses naquela praça, em portos e locais distintos. Nessa consulta,
o voto contrário de Jorge de Albuquerque à permanência dos holandeses foi
decisivo. Conforme o entendimento do conselheiro, “para o bem deste Reyno [de
Portugal], que por todos os meios, se fizesse o possível, para que os Holandeses
Largassem de todo aquele Reino [de Angola], ainda que fosse á custa da fazenda de
Vossa Majestade, e da de seus Vassalos, porque com as utilidades dele, em breves
33
Consulta do Conselho Ultramarino sobre os alvitres apresentados por Salvador Correia de
Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para introduzir o
comércio com Buenos Aires. Lisboa, a 10 de junho de 1644. AHU, Rio de Janeiro, Castro e
Almeida, Caixa no 2, doc. no. 305.
34 Coleção do Registro Geral da Câmara de São Paulo, Vol II, p. 170. Apud ELLIS Jr.,
Alfredo. O bandeirismo paulista e o recuo do meridiano. São Paulo: Cia Editora
Nacional, 2ª Ed., 1934, p. 207. A expedição não foi enviada, porém, devido à necessidade de
se reforçar o Nordeste.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
67
anos se recuperaria”.35 Ou seja, mantinha o Conselho análogo entendimento acerca
da importância trivial de Angola nos fluxos mercantis do Império.
Outro ponto de destaque nessa gestão se refere ao Nordeste. Muito conhecido é
o “papel forte” do Padre Vieira, em que defendeu a entrega de Pernambuco aos
holandeses. Pertinente destacar que o padre falava da entrega do nordeste, mas
incitava uma invasão militar ao Prata. Contudo, outros eram do mesmo parecer. Por
exemplo, em setembro de 1645, Lourenço de Brito Correia, com receio do socorro
que a Holanda enviaria para o Nordeste, aconselhou que ele fosse tão logo evacuado
pelos portugueses, sob risco de se ampliarem as despesas e de se perderem outras
áreas, como a Bahia e as Índias.36 Em 1647, Francisco de Sousa Coutinho prometia
aos Estados Gerais, em nome de D. João IV, restituir todas as praças que os rebeldes
de Pernambuco haviam tomado.37 Em 1648, muitos papéis tratavam na Corte dos
termos em que se assentariam as capitulações com a Holanda. Em outubro, o rei
determinava que as condições dessa capitulação fossem analisadas pelo Conselho da
Fazenda. O Conselho deveria enviar dois ministros para falar com Sua Majestade e,
posteriormente, discutir o assunto com o Padre Vieira com todo o segredo.38
O próprio Conde de Odemira, ao comentar uma das propostas apresentadas por
Francisco de Sousa Coutinho a D. João IV, ainda em outubro, indicava a
possibilidade de entregar Pernambuco, desde que Portugal ficasse com Angola.39
Diante de vários papéis, o Conselho da Fazenda entendeu que se devia buscar a
paz “prepetua firme e segura” com os holandeses, sem que houvesse, entretanto,
ofensas a religião e a reputação do monarca.40 Acreditava o Conselho que, primeiro,
de nenhuma maneira se deviam restituir as praças do Brasil e África. Sem se devolver
as praças, era “ajustado” oferecer dinheiro e drogas para a paz. Concordava que era
preferível a guerra à restituição requerida pelos Estados Gerais.41 Não custa lembrar
35
Sobre as conveniençias q. se devem celebrar com os olandeses no Reyno de Angolla.
Lisboa, a 17 de fevereiro de 1648. AHU, Consultas Mistas, Códice n 24, fl. 110.
36 Papeis politicos – Cod. 987 (k VII 31), fl. 491-492 v. In: RAU, Virginia & SILVA, Maria
Fernanda Gomes da (orgs.). Os Manuscritos do Arquivo da Casa de Cadaval
Respeitantes ao Brasil. Lisboa: Acta Universitatis Conimbriensis, volume I, 1956, doc. 78,
p. 38-40.
37 Papeis Varios, t. 7 – Cod 947 (k VIII Id), fl. 229v-231v. In: Os Manuscritos do Arquivo
da Casa de Cadaval, doc 115, p. 60-62.
38 Ibidem.
39 Papeis Varios, t. 29 – Cod. 874 (K VIII Im) fl. 328v.-331v. In: Os Manuscritos do
Arquivo da Casa de Cadaval, doc 134, p. 74-81
40 Consulta do Conselho da Fazenda sobre as capitulações com a Holanda. Lisboa, a 14 de
dezembro de 1648. Papeis Varios, t. 2 – Cod. 874 (K VIII Im), fl. 340-341. In: Manuscritos
do Arquivo da Casa de Cadaval, doc. 135, p. 81-82.
41 Ibidem.
ISBN 978-85-61586-70-5
68
IV Encontro Internacional de História Colonial
que Salvador de Sá falara em oferecer dinheiro aos holandeses em seu parecer de
1643.
À margem da consulta, D. João IV determinava que se convocasse um tribunal
para que em caso de fracasso das negociações com a Holanda fossem examinados os
meios de defesa do Reino, “tão exhausto de gente e de cabedal”, frente os Estados
Gerais e Castela.42
Em novembro de 1649, Gaspar Dias Ferreira, mercador de muitos anos no
Brasil, apresentou uma alternativa para a feitura da paz em uma audiência com o
rei.43 Considerava a restituição das capitanias reconquistadas e a reocupação do
nordeste opções impraticáveis. Todavia, apostava na “composissão por dinheiro”
para a compra dos territórios, o que também não lhe parecia fácil. Como pontos
negativos em seu assessoramento, o próprio Gaspar lembrava as dificuldades sérias
em se movimentar fundos nessa conjuntura. Por notícia da Holanda, enviadas por
seu primo, Francisco Ferreira Rebelo, advertia que os flamengos consideravam a
compra dos territórios ocupados uma “inormidade indigna de sua reputasão”, já que
o rei apenas não entregava Pernambuco pelas pressões dos vassalos do Brasil.44
Soluções para obtenção de recursos financeiros começavam a ser pensadas. Nesse
sentido, por exemplo, Manuel Fernandes Cruz, antigo morador de Pernambuco,
escreveu longa exposição de motivos ao monarca.45 Por dedução, especulava Manuel
que seria possível incrementar o comércio, única forma de tornar poderoso o Reino,
e “sacar” muita prata e ouro do Peru, devido à vizinhança que tinha com Buenos
Aires, havendo, para esse porto, caminho já aberto e facilidade de se abrir outros. O
fundamento primacial do parecer consistia no seguinte: a Coroa deveria estabelecer o
estanco do trato das peças de Angola para a América portuguesa, por um período de
cinco anos, trazendo-as às custas da fazenda real. Quinze ou dezesseis mil peças
deveriam deixar Angola anualmente, sendo distribuídas cinco mil para Pernambuco,
quatro mil para a Bahia, três mil para o Rio de Janeiro, a um preço de sessenta mil
réis cada uma, e as demais para o Rio da Prata. Já deduzida a mortandade estimada
de escravos, e se considerando somente as que dessem entrada na América
42
Ibidem. Despacho régio à margem. Lisboa, a 24 de dezembro de 1648.
Exposição enviada a el-Rei por Gaspar Dias Ferreira, sobre as possibilidades de se fazer a
paz com a Holanda. Papeis Varios – Cod. 1090 (K VIII Ia), fl. 47-48v. In: Manuscritos do
Arquivo da Casa de Cadaval, doc. 146, p. 87-89.
44 Ibidem.
45 Arbítrio em benefício comum que inculca o modo conveniente para se haver o resgate
desta praça [de Pernambuco] em caso que o holandês a largue por preço de dinheiro; ou bem
se posssa sustentar a guerra, quando pelas armas se liberte; e se socorra com um grosso
empréstimo aos moradores para levantarem os seus engenhos, e os fabricarem sem dispêndio
da fazenda real. Pernambuco, a 20 de agosto de 1650. Papeis Varios, t. 2 – Cod. 1091 ( K
VIII Ib), fl. 1-5v; fl. 18-22; Papeis Varios, t. 34 – Cod. 976 (K VIII Ir), fl. 171-175v. In:
Manuscritos do Arquivo da Casa de Cadaval, doc. 149, p. 90-96.
43
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
69
portuguesa, a receita do período deveria perfazer cerca de sete milhões e quinhentos
mil cruzados.46 Para que os efeitos negativos do estanco não fossem sentidos, os
negociantes reinóis teriam autorização para vender seus artigos em Angola, contando
que nos cinco anos poderiam comercializar escravos africanos no Rio da Prata. Tais
negociantes deveriam poder vender peças em São Vicente, já que os “peruleiros”
costumavam lá negociar. Em decorrência, estaria o Estado do Brasil muito opulento,
porque reteria muita prata “pelo emprego dos açúcares que farão os que por aqui
passarem de volta de Buenos Aires”. Conforme concluía Manuel Cruz, o parecer
buscava de fato o “benefício comum”: não haveria prejuízo a fazenda real; os
vassalos da América não protestariam em virtude de o preço de sessenta mil réis ser
razoável, além de estarem isentos de décimas, fintas e tributos; enquanto os
negociantes do Reino teriam seu prejuízo sanado pela compensação de
comercializarem diretamente com o Prata.47
Mais uma vez, o Prata aparece na gestão do Império, porém agora vinculado ao
levantamento de fundos para a compra do Nordeste.
O fato é que no difícil contexto do pós-restauração, em que D. João VI buscava
se conservar no trono, a noção de auto-regulação, associada à preocupação com o
bom governo, permeava a complexa definição de prioridades da Coroa. Não sem
tensões e fraturas, Conselhos e homens de governo discutiam os caminhos para a
administração patrimonial, militar e financeira do Império. Graças a uma circulação
de informações, refletiam acerca dos espaços que deveriam ganhar destaque na
política ultramarina, explicitando os nexos intrincados de uma monarquia
pluricontinental. Assim, alguns defendiam uma invasão a Buenos Aires, outros
debatiam a conveniência da guerra, da entrega ou da compra de Pernambuco, mas
todos concordavam com a reconquista de Angola.
Se o sonho das Índias sobreviveu no pensamento dos grandes conselheiros do
Reino até fins do século XVII, a idéia maravilhosa de um comércio português no Rio
da Prata, infalivelmente lucrativo e maior responsável pela entrada de moeda na
América, perduraria por anos nas narrativas e despachos de muitos outros homens
de Estado. Com efeito, muitos conselheiros na corte concordavam que a solução
para os problemas portugueses partia da reorganização dos circuitos comerciais do
Atlântico. O Prata se conectava a esse desafio de gestão.
Sem dúvida, um enorme desafio. Sua transpassava o restabelecimento do trato e
tinha início na própria escolha de políticas adequadas para se tentar gerir a região.
Afinal, qual a melhor e mais adequada política a ser implementada com a finalidade
de garantir o acesso aos metais espanhóis? O controle do Prata era um projeto viável
para a monarquia lusa, sobretudo quando experimentava a conjuntura crítica do pósRestauração? A Coroa deveria simplesmente objetivar reter os lucros pulverizados
46
47
Ibidem.
Ibidem.
ISBN 978-85-61586-70-5
70
IV Encontro Internacional de História Colonial
pelos agentes mercantis, sem uma ação direta? Ou deveria, seguindo os conselhos do
Padre Antônio Vieira e de Salvador Correia de Sá e Benevides, intervir militarmente
na região? Até que ponto uma intervenção dessa natureza não causaria uma
desorganização nos fluxos comerciais?
De Lisboa, costumavam chegar orientações para que fosse mantida uma
reaproximação mais efetiva com o Prata. Por exemplo, um ofício do Conde de
Óbidos, datado de 1664, sugeriu ao governador Pedro de Mello que recebesse
cordialmente os navios vindos do Rio da Prata.
Já Alexandre de Souza Freire, governador geral do Brasil, enviou um patacho a
Buenos Aires, a fim de levar a notícia da paz de 1668 com a Espanha;
posteriormente, escreveu ao rei que “(…) em Buenos Ayres se dificulta hoje tanto a
esperança daquele comercio como quando estava impedido com as guerras: mas os
Castelhanos o desejam mais que os Portugueses. O Brasil se perde por falta de
moeda; com qualquer meio que possa haver de irem ali embarcações se há de trazer
prata…”.48 O fato é que a crise monetária na América portuguesa permanecia.
Seja como for, a Coroa, por meio de seus oficiais, estimulava uma reaproximação
com os súditos de Castela na América. Por exemplo, no item 50 do Regimento de 23
de janeiro de 1677, dado ao governador geral Roque da Costa, o príncipe regente D.
Pedro recomendava que os navios que voltassem “das Índias Ocidentaes, Rio da
Prata e Buenos Aires com prata e ouro, e não com outras fazendas de Espanha, lhes
mandará dar entrada, e poderão comerciar nos portos deste Estado, levando em
troca os gêneros dele”. Acerca disso, “porá o governador todo cuidado e
diligência”.49 Texto quase semelhante é reproduzido no Regimento de 1679, dado a
D. Manuel Lobo.
Conforme explica Antônio Carlos Jucá, as tentativas de reaproximação com o
Prata podem ser explicadas pela carência monetária em toda a América Portuguesa.
Ainda seguindo a análise do autor, as dificuldades de restabelecimento do trato com
Buenos Aires se explicam, dentre outros fatores, principalmente pelas complicações
no comércio negreiro entre o Rio de Janeiro e Angola. Com a oferta de escravos
reduzida, em face da competição com o Nordeste pelo mercado angolano, a
capitania do Rio era incapaz de ampliar suas atividades mercantis no Prata.50
Em 1680, contudo, houve uma inflexão na gestão do Prata: a política estatal
retirou da ação particular a responsabilidade maior das iniciativas, determinando ao
48
Carta ao rei de 25 de junho de 1669. Apud ALMEIDA, Luís Ferrand. A Diplomacia
Portuguesa e os Limites Meridionais do Brasil (1493-1700). Coimbra: FLUC, 1957, p. 91.
49 ALMEIDA. A diplomacia portuguesa e os limites meridionais do Brasil (14931700)…, p. 91.
50 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na Encruzilhada do Império. Hierarquias Sociais e
Conjunturas Econômicas no Rio de Janeiro (1650-1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,
2003, p. 143.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
71
governador do Rio de Janeiro que providenciasse a fundação de um centro
burocrático-militar, a Colônia do Sacramento, em frente a Buenos Aires, no lado
oposto a sua margem no Rio da Prata. O que parecia a pretensão de aquecimento
comercial com a hispano-América, todavia, tornou-se longa disputa militar e
diplomática.51
51
POSSAMAI, Paulo César. A vida quotidiana na colônia do Sacramento. Lisboa: Livros
do Brasil, 2006, p. 126-130.
ISBN 978-85-61586-70-5
72
IV Encontro Internacional de História Colonial
As missões austrais: os jesuítas e o poder local nas fronteiras
Maria Cristina Bohn Martins1
Em uma extensa carta ânua, datada de 1743, o padre Pedro Lozano informou ao
Superior da Companhia de Jesus em Roma sobre os trabalhos levados a efeito pelos
seus companheiros na Paracuaria, como se chamava então, a Província Jesuítica do
Paraguai:
“Os anos que se passaram desde que meu antecessor (…) enviou a Vtra Paternidad, em Marzo
de 1735, as últimas Cartas, vão descritas nesta, e para que ao menos seja informado o más
importante daquilo que a Companhia realizou, eu a repartirei em vários capítulos”.2 A partir
deste introito, o autor do texto passou a indicar uma série de pontos que seriam
objeto de sua atenção, figurando entre eles, de maneira especial, as missões de
guaranis, as de chiquitos e as “novas e antigas estações missionárias entre os infiéis”.
Ao dar notícias sobre estas últimas, Lozano se acercava de um tema que era
especialmente caro aos seus superiores, uma vez que, destarte a importância de sua
obra educativa e da atenção que mereciam dos jesuítas as populações hispano-criollas, o
trabalho junto aos índios se constituía em um diferencial da presença do Instituto
nos territórios de além mar. Talvez mais do que em qualquer outro ponto, era neste
que confluíam os interesses da Monarquia e da Ordem, haja vista a importância de
sua ação de vanguarda nas fronteiras, ali onde lindavam os territórios dos reinos
ibéricos, como era o caso, por exemplo, das reduções de Maynas ou do Paraguai. O
mesmo valia, podemos dizer, para as “fronteiras internas”, isto é, para regiões em
que as vilas e povoados dos “brancos” se encontravam “na borda” do mundo dos
“selvagens”, caso das novas missões entre infiéis a que Lozano se refere no
documento.
Isto não significou, como veremos, que os interesses das autoridades civis e dos
padres, ou da Sociedade de Jesus e da Coroa, fossem sempre convergentes e suas
ações sempre coordenadas. Ao contrário, a coerência não era um compromisso
inegociável quando se tomavam decisões de governo e administração relativas a estas
distantes periferias. Efetivamente, o mundo das missões era marcado por
contradições e ambiguidades que se manifestavam em vários níveis,3 entre eles, o das
difíceis mediações estabelecidas entre os jesuítas, a sociedade local e as autoridades
1
CNPq/ PPGHistória – Unisinos, RS
LOZANO, Pedro de. Cartas Anuas de la Provincia del Paraguai. Año 1735-1743.
Traducción de Carlos Leonhardt, S. J. Buenos Aires, 1928. Filme 4683. Tradução digitada,
São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisas/ UNISINOS, 1994.
3 É claro que as maiores tensões residiam nas relações estabelecidas entre os missionários e as
populações indígenas que eles queriam doutrinar, tema, contudo, que não poderá ser tratado
no escopo desta reflexão.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
73
governamentais às quais eles deveriam se reportar. É a partir de considerações neste
âmbito, que encaminho minha contribuição ao que foi solicitado aos integrantes da
Mesa intitulada “As missões o serviço da Igreja ou da Coroa? A experiência jesuíta
nas Américas.”4
“Y lograrian los misioneros el fruto de su zelo, haciéndoles hijos de Dios, y
vassalos de España”5
Na oportunidade em que se instituiu o Vice-Reinado do Rio da Prata, isto é, em
1776, Buenos Aires era, dentre as capitais vice-reinais, aquela que estava mais
próxima das terras sob controle de “índios independentes”.6 Na fronteira meridional
do Império, por exemplo, para além do rio Salado ficava a região que os
contemporâneos chamavam de “tierras adentro”, sendo que as missões jesuíticas aí
erigidas foram projetadas, em certo sentido, para serem um portal de acesso até elas.
Em meio às notícias sobre o trabalho com os índios, Pedro de Lozano informou,
na sua carta, sobre os progressos da redução de Ntra Sra de la Concepción de los Pampas,
recém fundada (1740) às margens do referido rio, a aproximadamente 150 km ao sul
da cidade. Este espaço, uma extensa planície que é parte da “campanha
bonaerense”, havia se convertido, ao longo do século XVIII, em palco de intensa
competição em torno da apropriação dos rebanhos “cimarróns”, o gado selvagem
cuja proliferação natural fora favorecida pelas especiais condições ambientais do
pampa. De acordo com Lozano, três anos após as tratativas conduzidas com um
grupo de caciques7 para o início da missão, o povoado prosperava: os índios
cooperavam na edificação do “pueblo” e, mais que tudo, participavam da instrução
religiosa com raro afinco.
Juntavam-se todos pela manhã e pela tarde e se lhes explicava a
doutrina. Para que ela fosse melhor absorvida, faziam com que
rezassem em voz alta. […] os adultos por desejarem também
receber o sacramento, se aplicavam com entusiasmo a aprender
(…), instigando que fizessem o mesmo os seus filhos e até
4
Talvez correndo o risco de não atender exatamente aos termos mais estritos da questão
proposta pela Mesa, estarei refletindo sobre as relações entre a Companhia -entendendo-a
como esfera do poder religioso-, e as autoridades civis da cidade e da governação, pensando
nestes como representantes da sociedade local e da monarquia, respectivamente.
5 SANCHEZ LABRADOR, Jose. Paraguay Cathólico. [1772] Los indios pampa-puelchespatagones. Buenos Aires: Imprenta de Coxi Hermanos, 1910, p. 149.
6 WEBER, David. Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración.
Barcelona: Crítica, nota 47, p. 101.
7 Da parcialidade dos “pampas”, Don Lorenzo Machado, Don José Acazuzo, Don Lorenzo
Massiel e Don Pedro Milán; da parcialidade dos “serranos”, o cacique Don Yahati.
ISBN 978-85-61586-70-5
74
IV Encontro Internacional de História Colonial
castigando-os se era preciso (…) Assim, já em suas casas de
noite, repetiam as lições do dia, as vezes procurando o padre,
mesmo que fosse muito tarde, para que lhes explicasse o que
não entendiam.8
Os religiosos estavam assim, “maravilhados (…) com os bons resultados obtidos, e isto com
gente que por dois séculos tinha sido mas dura que rochas; parecía agora haver chegado o momento
(…) para sua conversão”.9 Seguindo a sua narrativa, encontramos que as principais
ameaças que pesavam sobre a missão, proviriam dos ataques de grupos indígenas a
ela contrários, informação que nos remete para o complexo e heterogêneo panorama
étnico da pampa-patagônia nesta época. Neste ponto a ajuda do governador se
mostrava essencial, tendo o mesmo destacado 40 “soldados” para defender os
missionários e seus catecúmenos.
Sabemos entretanto, que 12 anos passados da sua fundação, a redução foi
abandonada e não faltaram queixas dos jesuítas relacionando o ocaso da sua “missão
austral”, à falta do necessário apoio por parte das autoridades de Buenos Aires,
especialmente de seu cabildo e dos “vecinos” que este representava.
Sugiro aqui que esta situação - a princípio particular e episódica - pode nos ajudar
a refletir sobre a dificuldade de encontrarmos respostas unívocas para a questão
estabelecida por esta Mesa: isto é, sobre como podemos localizar o trabalho da
Companhia de Jesus, como estando a serviço da Coroa ou da Igreja. Se é certo que
as políticas coloniais das monarquias ibéricas contaram com o apoio da Ordem para
a “pacificação” e catequese dos índios - para a sua “conquista espiritual” -, também o
é que a relação entre o Instituto e as autoridades civis esteve submetida a tensões.
Assim devemos levar em conta aqui, como alertou Marshall Sahlins, que a prática
“tem uma dinâmica própria”, capaz de alterar significados tradicionais.10
O que proponho é justamente perscrutar a razão pelas quais as formas e
condições específicas em que se desenvolveu a chamada “missão austral” não
tenham permitido que este projeto se desenvolvesse nos termos em que foi pensado.
Tampouco, que ele reproduzisse, como se desejava, a estabilidade alcançada pelos
chamados “Trinta Povos” em que, também pela ação missionária jesuítica, foram
reduzidos os índios guaranis. Antes disto contudo, quero esclarecer que tenho plena
consciência de que os desdobramentos experimentados por esta missão estão
irrevogavelmente conectados às circunstâncias das sociedades indígenas às quais ela
se dirige. “Pampas” e “serranos”11 como eram chamados estes grupos, tinham, na
8
LOZANO. Cartas Anuas de la Provincia del Paraguai…, p. 599- 600.
Ibidem..
10 SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 7.
11 “Desconcertante” é o termo usado por David Weber para descrever a prodigiosa variedade
de nomes com que os cronistas e estudiosos espanhóis classificaram os grupos indígenas da
atual Argentina. Ver: WEBER. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración…,
9
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
75
década em questão, uma larga experiência para com a sociedade colonial,12 e seus
movimentos de aproximação ou rechaço das missões são igualmente essenciais para
compreendermos a forma como elas existiram e porque foram finalmente
abandonadas. Esta análise todavia, sem a qual a admito que a compreensão deste
tema é parcial e incompleta, exigiria um exame que não cabe nos termos propostos
por esta Mesa.
Missões para “poner freios a los índios del sur”
De acordo com vários testemunhos,13 a missão austral iniciou a partir de um
pedido de proteção feito às autoridades de Buenos Aires por um grupo de caciques
pampas, cujos acampamentos (“tolderias”) se viam ameaçados pelo panorama de
violência desatado na campanha buenairense nas décadas centrais do XVIII.14 O
cabildo da cidade por sua vez, encaminhou as negociações para o governador,
confiando “en el conocido celo [dos jesuítas] para al servicio de ambas Majestades”.15
p. 434. Concordando com ele, creio ser imporatnte assinalar que as “etiquetas” étnicas criadas
naquela oportunidade, atendiam ao imperativo de nomear por parte dos conquistadores,
missionários, administradores, etc. Isto é, elas simplesmente não levavam em conta as formas
pelas quais compreendiam a si próprios, os grupos que estavam sendo nomeados. Como não
é nosso interesse discutir aqui este delicado problema da nominação dos grupos indígenas
americanos, questão complexa e que retém a atenção de diversos especialistas, indicamos
apenas que, em linhas gerais, os “pampas” correspondiam aos ocupantes dos vastos campos
ao sul de Buenos Aires, enquanto como “serranas” eram identificadas as sociedades que, mais
próximas da Cordilheira dos Andes, compartilhavam muitos traços com a cultura dos grupos
daquela região. Já o termo “aucaes”, no mais das vezes, se refere aos índios da cordilheira.
12 Esta experiência havia contribuído para operar profundas transformações na sua cultura
material e simbólica, sendo a adoção do cavalo apenas a parte mais visível de um processo
muito mais amplo. Sobre este tema ver: MANDRINI, Raúl J. Las transformaciones de la
economía indígena buenairense. In: Huellas en la Tierra. Indios, agricultores y hacendados
en la pampa bonaerense. Tandil: IEHS, 1993, p. 45-74.
13 LOZANO. Cartas Anuas de la Provincia del Paraguai…; SANCHEZ LABRADOR.
Paraguay Cathólico…; FALKNER, Tomas SJ. [1774] Descripción de la Patagonia y de
las partes contiguas de America del Sur. Buenos Aires: Hachette, 1974. CARDIEL, Jose.
Diario de viaje y Misión al Río Sauce realizado en 1748. Buenos Aires: Imprenta y Casa
Editora Coni, 1930.
14 Embora incorrendo em risco de grosseira simplificação, podemos apontar que a rarefação
do gado selvagem impulsionou a expansão das estâncias de criação sobre os territórios em
que eles costumavam ser “caçados” por brancos e índios. Estes últimos por sua vez,
passaram a realizar assaltos (“malones”) às propriedades dos colonos em busca do recurso que
era item de grande importância em sua vida material e práticas simbólicas.
15 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Bs As, Apud: BRUNO, Cayetano. Historia de La
Iglesia en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Don Bosco, v. 5, 1740-1778, p. 58.
ISBN 978-85-61586-70-5
76
IV Encontro Internacional de História Colonial
Em resposta a isto, D. Manuel de Salcedo, se dirigiu ao Provincial Antonio Machoni,
que aceitou a solicitação das autoridades civis.
Esta decisão não deve ter sido tomada sem que os padres ponderassem sobre a
sua conveniência diante do crescente tensionamento nas relações entre a Ordem e a
Monarquia, especialmente por conta das medidas regalistas ditadas pelos Bourbons
espanhóis. Talvez como em nenhuma outra região das Índias de Castela, a política
missionária dos jesuítas no Prata era alvo de detida atenção por parte das autoridades
metropolitanas. Novas e velhas denúncias do excesso de autonomia e autoridade de
que desfrutavam os padres junto aos índios de suas reduções, do uso indevido que
fariam do trabalho destes, bem como de que as missões geravam riquezas canalizadas
em prol da Ordem e não da Coroa, contribuíam para intensificar o “anti-jesuitismo”
e preparar o ambiente em que ela acabou expulsa dos domínios espanhóis na
América (1767).16
É muito provável que considerações em torno da oportunidade de melhorar o
trânsito de que desfrutavam no momento junto aos poderes civis, tenham pesado
para a decisão de levar adiante a catequese destes índios que eram tidos como “la
pesadilla de Buenos Aires”,17 numa missão que os jesuítas, embora autorizados por
cédula real datada de 21 de maio de 1684, ainda não haviam promovido. O fato é
que, provavelmente equilibrando o interesse em expandir o raio de ação da
Companhia, com a necessidade de capitalizar ações que a promovessem diante do
governo, o Provincial aceitou o apelo para a “redução” dos pampas mediante o
cumprimento de algumas condições: que os índios fossem assinalados “en cabeza del
Rey”, isto é, que não estivessem sujeitos ao trabalho servil; que para que isto fosse
assegurado, o “pueblo” não fosse instalado muito próximo de Buenos Aires; que aos
moradores da cidade não fosse permitido o trato direto com os índios reduzidos; e
que, em caso de necessidade, o governador enviasse ajuda militar para a defesa do
povoado.
As primeiras condições assinaladas permitem compreender que, tal como nas
missões de guaranis, os padres entendiam que a missão só teria sucesso se eles
fossem um elemento de interposição entre os colonos -e seu interesse sobre o
trabalho servil dos nativos- e os índios. Se lembrarmos que as missões são um
elemento da política colonial espanhola, esta parece ser um primeiro elemento de
16 O ambiente assim descrito não estava, é claro, restrito à Espanha. Como se sabe, também
em Portugal muitas vozes creditaram o atraso do país à influência dos jesuítas. A mais
destacada delas, do Marquês de Pombal, era especialmente crítica quanto à situação das
populações indígenas que, no Brasil, viviam sob a tutela dos padres. Tendo ele determinado a
expulsão dos jesuítas em 1769, a nova orientação para as regiões coloniais foi a de
assimilação dos índios à sociedade colonial. Por parte da monarquia espanhola a medida de
expulsão resultou do Decreto de 27 de Fevereiro de 1767 de Carlos III.
17 BRUNO. Historia de La Iglesia en la Argentina…, p. 57.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
77
incongruência e fonte de conflito entre os interesses civis e religiosos. Os êxitos
alcançados pela Ordem na política de fronteiras dos espanhóis, contudo,
recomendavam os jesuítas e suas missões como alternativa para a crescente
conflitividade da região da pampa bonaerense nestes meados do XVIII.
Numa época em que as autoridades metropolitanas conduziam várias ações de
reconhecimento do espaço, expansão e defesa das fronteiras do império, também as
autoridades de Buenos Aires estavam rompendo com a política de caráter mais
defensivo que ofensivo, e de lentos movimentos em direção ao sul, adotada
tradicionalmente para com os grupos nativos da região. Até então, diferentemente de
Asunción, por exemplo, Buenos Aires tivera pouca tradição na política de
evangelização, não se envolvendo diretamente na catequese dos nativos das regiões
austrais. As condições de uma paz cada vez mais precária com os índios, contudo, e
as dificuldades de uma política militar para a fronteira, vão indicar que as missões se
constituíam um recurso bastante próprio para lidar com o problema e instituir a
presença branca nas áreas em litígio.
Acolhidas as condições ditadas pela Ordem por parte do governador e dos
“regidores do cabildo” da cidade, os padres Manuel Querini e Matias Strobel foram
encarregados de fundar aquela que seria Concepción de los Pampas, reunindo 300 índios,
entre homens, mulheres e crianças. Durante alguns meses, donativos foram
coletados entre os principais da cidade e, em maio de 1740, as estruturas do povoado
começaram a ser erguidas.
Muito simples, elas se limitaram inicialmente aos tradicionais “toldos” [tendas] dos
índios que foram distribuídos em ruas demarcadas a partir da praça central, espaço
que uma cruz de madeira assinalava ser o mais importante da localidade e onde os
padres localizaram seu primeiro “altar”. O fosso defensivo ao redor do “Pueblo” e
dois pequenos canhões doados pelo governador, indicavam a precariedade de sua
situação. Uma carta do Pe Strobel de outubro daquele ano, informava que já estavam
ali 350 índios, e que algumas casas de madeira e adobe iam sendo erigidas, assim
como uma igrejinha que substituiria a primitiva capela, que fora feita de um toldo de
couro.18 Ao mesmo tempo, dera-se início ao trabalho de catequese que, como já
vimos, despertava otimismo:
grandes e pequenos frequentam a igreja, ouvem a missa, rezam
a doutrina cristã e o rosário da Virgem; na quaresma deste ano
de 1742, todos os adultos cristãos se confessaram e os mais
capazes também comungaram. (…) Muitos tem se confessado
por devoção e pelo desejo que têm de viver na graça de Deus.19
18
Apud: Ibidem, p. 59-60
Memoria de los PP Querini y Strobel, Concepción de Nuestra Señora, 20.XI.1742. Buenos
Aires, AGN, Documentos de la Biblioteca Nacional, leg 189, ms 1827.
19
ISBN 978-85-61586-70-5
78
IV Encontro Internacional de História Colonial
Notícias desta natureza contribuíram para a expedição de cédulas reais
(novembro e dezembro de 1741, novembro de 1743) apoiando as iniciativas até
então levadas adiante, e estimulando os missionários a ampliar sua ação “por los
campos dilatados del sur”,20 de forma que nos anos seguintes seriam fundadas Nra
Señora del Pilar (1746) e Nra Sra de los Desamparados (1750). O apoio do governador
Don Miguel de Salcedo fazia crerem os padres na possibilidade de expandir as
reduções até o estreito de Magalhães.21
Este dinamismo contudo, logo encontrou seus limites e, no período de pouco
mais de uma década em que transcorreu a “missão austral”, podemos localizar
repetidas informações sobre as várias dificuldades que conduziram ao seu abandono.
A melhor compreensão sobre estes desdobramentos implica, sem dúvida, tomar
em conta as respostas indígenas ao que lhes era solicitado para viver em redução:
adotar a fé cristã, os códigos morais e culturais dos brancos, o sedentarismo, etc.
Sobre isto os registros dos padres apontam para o que podemos entender como o
desinteresse dos índios, tanto para com os povoados e suas necessidades materiais,
quanto para com a doutrinação e compromissos religiosos que teriam que assumir.
Os jesuítas traduziram a tudo isto como decorrência de um apego irracional às suas
“superstições”, bem como de seu “genio andariego” e pouca inclinação ao trabalho
e à disciplina.
Confirmavam assim, antigos conceitos sobre as populações nativas, às quais eram
acrescentados novos qualificativos depreciadores típicos do XVIII. Para os
espanhóis desta época, aqueles que não haviam sido submetidos não eram apenas
índios: eram “selvagens” e “bravios”.
Sabemos que o propósito de transformar os indígenas destas periferias em
“vassalos produtivos” da Coroa era elemento central no desenho das políticas
metropolitanas. Ao lado disto se buscava estabelecer relações comerciais pacíficas
com eles, e garantir que não entabulassem alianças com inimigos da Espanha. Por
sua vez, os moradores da cidade, ao lado de incluí-los em relações de comércio,
queriam dar fim aos ataques que levavam pânico para a sociedade colonial.
Entretanto, em agosto de 1745, o Provincial Bernardo de Nusdorffer escrevia que o
fruto do trabalho “no era correspondiente al cuidado con que se han aplicado los dos
20
SANCHEZ-LABRADOR. Paraguay Cathólico…, p. 90. É preciso considerar que as
iniciativas dos padres envolveram, também, a realização de viagens de exploração, como
aquela que conduziu a Fragata Real San António pelo litoral sul da atual Argentina, entre
dezembro de 1745 e abril de 1746. Três jesuítas -os Padres Quiroga, Strobel e Cardiel -,
acompanhados de cerca de 80 soldados, marinheiros e tripulantes- , deveriam verificar as
possibilidades de expandir missões pelo território da pampa-patagônia, bem como as
potencialidades econômicas de tais regiões, segundo os interesses e necessidades
metropolitanos. Sobre este tema ver: CARDIEL. Diario de viaje y Misión al Río Sauce
realizado en 1748…
21 LOZANO. Cartas Anuas de la Provincia del Paraguai…, p. 591.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
79
padres que les asisten, por ser gente vagabunda, inconstante, ingrata y muy dada a la
embriaguez”.22
Este entendimento porém, não implicava em deixar de atribuir responsabilidade a
outros fatores que, para os padres, contribuíam com que as missões austrais não
alcançassem sucesso, sendo o primeiro deles a ação dos “pulperos”, os comerciantes
de aguardente. Segundo os jesuítas, o desejo de adquirir bebidas alcoólicas
mobilizava os índios em prejuízo da catequese e do trabalho. Além disto, a bebida
lhes turvava o juízo, acirrava conflitos e estimulava a desobediência. Mais do que se
queixar, os padres solicitam medidas que pudessem alterar esta situação.
Foi assim que, segundo informa o Pe Sanchez Labrador, o cabildo eclesiástico de
Buenos Aires impôs a excomunhão aos comerciantes “que vendiesen aguardiente á
dichos índios ó se llevasen á sus tierras, ó les hablasen mal de la conducta de los
Misioneros”.23A iniciativa contudo, encontrou forte oposição e o cabildo civil
apresentou petição para supressão da pena, “por el justo rezelo que se tiene que esta
prohibición sea causa de que se quebrante la Paz que con dichos Indios se tiene, la
que sirve de sosiego para todo el Vecindatario”.24 Diante disto, as pressões se
avolumaram até que a medida foi anulada”.25
Quero chamar a atenção para o embaralhamento das posições entre as
autoridades religiosas e civis e, dentre estas últimas, entre o governador e o conselho
da cidade. Isto é, se havia consenso de que o “perigo indígena” deveria ser contido e
que os “selvagens” deveriam ser submetidos, o mesmo não se observa quanto às
estratégias de ação para tanto, nem quanto a que interesses deveriam ser contornados
para apoiar os padres em sua “missão por redução”. Mais ainda, se para os
estancieiros a presença de missões nas proximidades da cidade era motivo de
desconforto, para os pequenos comerciantes ela era vantajosa.
Passados pouco mais de dez anos da fundação da primeira delas, as três missões
estavam abandonadas. Ataques de grupos indígenas inimigos foram o motivo direto
da renúncia de levar adiante a missão austral, mas os padres também lamentaram
amargamente aquilo que entenderam como falta de apoio da cidade para colocar
obstáculo ao comércio de bebidas, bem como para organizar a defesa de “Concepción”,
“Pilar” e “Madre de los Desamparados” .
Escrevendo posteriormente aos acontecimentos acima narrados, Jose SanchezLabrador recapitulou os últimos dias de “Nuestra Señora de la Concepción de los Pampas”
e os assaltos que o povoado sofreu determinando seu abandono. Segundo descreve,
assediados pelos homens do cacique Felipe Yahati, os jesuítas enviaram pedidos de
22
Apud BRUNO. Historia de La Iglesia en la Argentina…, p. 61.
SANCHEZ-LABRADOR. Paraguay Cathólico…, p. 43 e 207 respectivamente.
24 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, apud: SANCHEZ-LABRADOR, op.
cit., p.207
25 Apud SANCHEZ-LABRADOR. Paraguay Cathólico…, p. 207-208, nota 53.
23
ISBN 978-85-61586-70-5
80
IV Encontro Internacional de História Colonial
socorro ao governador. Enquanto muitos de seus oficiais aproveitavam para
demonstrar posição contrária aos jesuítas,26 o dirigente determinou que o Mestre de
Campo Don Lázaro Mendinueta e um grupo de milicianos, fossem resgatar os
padres e as 25 famílias de índios cristãos que permaneciam na missão,
providenciando sua escolta até Buenos Aires.
Sanchez-Labrador indica estar muito ciente da fragilização política da Companhia
naquele momento e assinala que os esforços de reverter a situação dos povoados
foram prejudicados pelas “inumeráveis calúnias” que se levantavam contra os
jesuítas. Parecia, segundo ele, que “el infierno se había conjurado para mover a los
españoles que debían proteger la misión, a que por todos los modos se enpeñasen en
perseguirla”.27 O sacerdote reclama que enquanto as missões existiram os opositores
dos jesuítas acusavam-nos de usá-las para enriquecimento próprio e de que agiam de
acordo com os índios para “saltear los caminhantes”; depois, com o seu abandono,
os missionários foram incriminados de tê-las desamparado por não extraírem dali
suficientes proventos. O quadro geral de acusações aos jesuítas e das respostas que
eles davam a elas, não era, portanto, significativamente diferente do que se
observava em outras áreas de missão.
Em 13 de fevereiro de 1753 a escolta retirou os últimos habitantes de
“Concepción”; em 12 de agosto do mesmo ano, uma carta do Padre Barreda escrita
desde Córdoba, sede do mais importante colégio da Companhia no Prata, trazia as
derradeiras notícias sobre estes povoados:
La redución de los Pampas se perdió por no haber acudido a
tiempo los gobernadores con tropas, conforme ordenaban las
reales cédulas (…). Y sucedió que, cuando quisieron ejecutarlo,
fue con tan poca prudencia y ninguna caridad, que antes de
perseguir a los infieles os soldados mataram alguns índios
cristãos e, por causa disto, os demais (…) se uniram com os
infiéis, desampararam o povoado e destruíram a redução, sem
que as rogativas dos padres pudesse conter a imprudência dos
soldados …
26
“Concurrieron los oficiales al Fuerte en el que habita el Gobernador para enterarse de la
novedad. Al oír que era petición de Socorro para la Reducción de los Pampas, todo se redujó
a chanzas festivas, por las species que tenian con dicha Reducción; y sus misioneros”.
SANCHEZ-LABRADOR. Paraguay Cathólico…, p. 159-160
27 SANCHEZ-LABRADOR. Ibidem, p. 160
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
81
“el Gobernador se acordó que era soldado, y con desden respondio que el Rey
no estaba para hacer gastos”28
Efetivamente, em 1752, pouco antes de ser abandonado o último dos povoados
austrais, o cabildo de Buenos Aires havia criado uma “divisão de guerra” com três
companhias de 50 homens cada, de forma a sustentar a pugna contra os índios.29 A
relação com as populações nativas da campanha bonaerense orbitava definitivamente
para a esfera da guerra, com os fortins substituindo as missões e acompanhando a
política metropolitana de efetivar o controle do Estado sobre os territórios de
fronteira.
Evidências desta nova orientação já podiam ser sentidas nos anos imediatamente
anteriores. Quando o padre Manuel Arnal, procurador dos jesuítas para a Missão
Austral, solicitou ao governador Don Jose de Andonaegui que este intercedesse
junto ao Rei, em favor das missões, que “eran pobríssimas por ser las tierras esteriles
(…) [y] que era necessario tener varias cosillas con que agasajar à los Infiles”, este
respondeu como autoridade militar que era:
Oyendo esto el Governador se acordo que era soldado, y con
bastante desden respondió, que el Rey no estaba para hacer
gastos; y encarandose con muestras de algun e ojo à los índios,
les dijo: que no faltaban sables con que cortarles las cabezas; ni
pólvora, y balas con que hazerles guerra, en caso que
buenamente, y sin gastos del Rey, no se hiciesen cristianos.30
O fracasso das missões de “pampas e serranos” apenas confirmou a noção que a
ciência do XVIII vinha cunhando acerca dos “selvagens” americanos (e que a
historiografia acompanhou até muito recentemente), isto é, de que faltava a estes
índios “aptidão” para a vida civilizada. Para além da recusa a esta conclusão dado o
seu óbvio caráter etnocêntrico, sugiro que devamos atentar para a complexidade do
panorama em que se situaram estas missões, o qual não permite respostas fáceis para
a questão do seu insucesso. Mesmo que olhemos exclusivamente para o campo dos
colonizadores, não há como deixar de perceber a existência de interesses variados e,
no mais das vezes, discordantes sobre elas.
28
Ibidem, p. 144.
IGLESIAS, Mirian. Misiones jesuiticas al sur del Rio Salado. Sociedad indigena bonaerense
y politica de frontera colonial. In: NORMANDO CRUZ, Enrique. Anuario del Iglesia,
Misiones y religiosidade colonial. ACEI 1. Jujuy, 2000, p. 60-79, p. 64.
30 SANCHEZ-LABRADOR.
Paraguay Cathólico…, p. 144. O missionário está se
referindo ao pedido feito aos jesuítas por uma “embaixada” de cinco caciques “patagões”
[Quilusquil, Taychoco, Chanal, Pagá e Sacachu] em dezembro de 1751, para “fundarles
pueblo”.
29
ISBN 978-85-61586-70-5
82
IV Encontro Internacional de História Colonial
A começar pelo interior da própria sociedade de Buenos Aires, é possível verificar
que o interesse de certos setores, como o dos “pulperos” por exemplo, não
coincidia com os dos estancieiros e grandes comerciantes. Os pequenos negociantes
conformaram aí um espaço comum ao dos indígenas no qual, ainda que a paz fosse
volátil e as posições sempre arriscadas, entabularam-se relações comerciais que eram
satisfatórias para ambos os lados. Já os demais compreenderam o perímetro com o
mundo autóctone como uma divisória entre a selvageria e a civilização, a qual deveria
ser anulada com a eliminação do “perigo indígena”, noção que dirigiu a política de
fronteiras da Argentina no século seguinte. O interesse das autoridades civis
orientou-se no sentido de estabelecer a jurisdição do Estado nestas áreas, e quando a
colaboração com os padres da Companhia não resultou nos frutos esperados, o
apoio às missões foi cancelado.
De outra parte, os jesuítas haviam assumido a proposta de constituir uma nova
área de catequese nestes territórios certamente movidos pela sua “missio”, isto é, pelo
compromisso de anunciar o Evangelho e contribuir para a salvação das almas.
Entretanto, pesava também nas decisões dos Superiores da Ordem, a consideração
sobre a melhor forma de atender a esta obrigação. Desta maneira, o critério da
necessidade deveria ser avaliado quando se dava início a um novo campo de missão
como fizeram os jesuítas do Colégio de Buenos Aires por volta de 1739. Isto
sgnificava sopesar sobre como e onde melhor se poderia repartir a “vinha do
Senhor”, tomando em conta critérios como necessidade, urgência e meios para tanto.
Embora os jesuítas tivessem permissão, desde 1684, para evangelizar nos territórios
da pampa-patagônia, suas iniciativas na área passaram a ter sistematicidade, como
vimos, apenas a partir de 1740.31
Como sabemos, também, embora a ação jesuítica nos territórios castelhanos do
Novo Mundo se afirmasse na busca de conjugar o serviço a Deus e ao Rei, tal
compatibilidade nem sempre foi tranquila. Nestas décadas centrais do XVIII, em
que se avolumavam as dúvidas sobre a lealdade da Companhia aos monarcas e sobre
a contribuição que seus membros aportavam à política colonial, a ideia de atender ao
pedido do governador de contribuir para a “redução” dos índios austrais deve sido
um forte estimulador.
31 Segundo uma Carta do padre Antonio Machoni, este
retardamento se deveu às
dificuldades de obter apoio por parte do Governador de Buenos Aires. Ver: Carta de Antonio
Machoni, desde Córdoba ao Padre Francisco Retz, datada de janeiro de 1739. O documento
também considera o fato de terem os padres concentrado suas atenções nas sociedades
chaquenhas que estavam situadas no centro da Província. Cf. Transcrição de um fragmento
de la Carta de Antonio Machoni al P. Francisco Retz, Prepósito Geral da Compañía de Jesús
(Roma). Apud: MARTÍNEZ MARTÍN, Carmen. Las reducciones de los pampas (1740-53):
aportaciones etnogeográficas al sur de Buenos Aires. Revista Complutense de Historia de
América. Madrid: Editorial Complutense, n. 20, p. 145-167, 1994.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
83
Uma cédula real de 1741, expedida depois da fundação de “Madre de los
Pampas” portanto, assinalava o apoio da monarquia ao esforço dos padres em
“fundar una nueva República Cristiana en aquella vasta extension de terreno, que
limita por el sur el Estrecho de Magallanes”.32 No mesmo sentido, segundo a Ânua
de Pedro de Lozano a que fizemos menção no início deste texto, o governador de
Buenos Aires concluiu que esta seria “una ocasión excelente para los Padres probar
que no buscaban otra cosa sino servir a Dios y al Rey”.33 Provavelmente as
autoridades jesuíticas em Buenos Aires pensaram o mesmo. Contudo, esta
coincidência de interesses não foi suficiente para garantir o alcance dos objetivos
assinalados. Outros fatores intervenientes, especialmente aqueles dos atores locais,
testaram os limites da política oficial assim desenhada.
Quando foram alvo de ataques de grupos indígenas contrários às missões, os
padres não encontraram o apoio que demandaram para manter os povoados que
foram abandonados progressivamente entre 1751 e 1753. As datas são sugestivas, e
se localizam entre os anos da assinatura do Tratado de Madrid e o início da guerra
que moveram os guaranis das missões do Paraguai contra as disposições do acordo
negociado por Portugal e Espanha. Sabemos que os jesuítas discordaram
publicamente do Tratado e que foram tidos como responsáveis diretos pela
insubordinação dos nativos. As ordens que receberam de forçar a evacuação dos
índios cristãos dos territórios assinalados pelo Tratado de como sendo portugueses
doravante, devem ter parecido muito duras de serem cumpridas pelos homens que
viam nos “pueblos” de guaranis o exemplo mais bem sucedido da “missão por
redução”. O quanto se debateram entre atender ao que ditava o Rei e o que pediam
suas consciências, pode ser apenas aventado a partir da documentação. Mas
podemos sim calcular a repercussão deste panorama nas tão menos expressivas
missões austrais, que nunca haviam sido completamente aceitas pelos moradores e
autoridades da capital da governação.
O Padre Jose Quiroga chega a insinuar que o abandono à própria sorte das
missões austrais deve ser entendido a partir desta conjuntura. Afirma ele: “Con
ocasión de la demarcación proyectada entre las dos Coronas de España y Portugal,
no pudiendo el Gobernador (…) enviar soldados para la defensa, fueron
desamparados y destruídos los pueblos que esaban hacia al sur a cargo de los Padres
de la Compañía”.34
Durante o curto tempo em que existiram, os povoados foram vistos como
indesejáveis e perigosos “pontos avançados” dos indígenas, de onde os “selvagens
poderiam passar informações estratégicas sobre as defesas da cidade à seus parentes.
32 Apud: IGLESIAS. Misiones jesuiticas al sur del Rio Salado. Sociedad indigena bonaerense
y politica de frontera colonial…, p. 71.
33 LOZANO. Cartas Anuas de la Provincia del Paraguai…, p. 590-591.
34 SANCHEZ-LABRADOR. Paraguay Cathólico…, p. 249.
ISBN 978-85-61586-70-5
84
IV Encontro Internacional de História Colonial
Do ponto dos proprietários de terra bonaerenses, com a manutenção de Concepción de
los Pampas, Pilar e Madre de los Desamparados, os padres prestavam um desserviço ao
Rei e à ordem colonial. Para os jesuítas de outra parte, certamente, a defesa das
missões os colocava ali onde eles sempre defenderam estar: a serviço do Rei e da
Igreja, operando para trazer os índios para a seara da cristandade e civilização. Este
papel entretanto, tão bem definido na teoria, na prática mostrava um forte potencial
de ambiguidade, ao qual a análise não pode se furtar se levar em consideração, para
além do que dita a norma, as experiências dos atores e o peso da cena local.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
85
Daniel Concina e Diego de Avendaño: dominicanos e jesuítas no debate
sobre o probabilismo jurídico na América do século XVII
Rafael Ruiz1
Contexto histórico
O probabilismo surgiu como uma tentativa de resposta ao impasse criado perante
um texto do dominicano Bartolomé Medina com um comentário sobre a Prima
Secundae de Tomás de Aquino afirmando que lhe parecia lícito seguir, quando em
estado de dúvida, uma opinião provável em detrimento de outra mais provável.2 Este
comentário irrompeu de tal modo na sociedade do século XVII que dividiu a Igreja
em diversos sistemas morais, que defendiam formas distintas de se proceder em
relação à dúvida.3
Para entender esse impasse, é preciso considerar que muitos funcionários reais,
dentre eles aqueles que tinham de administrar a justiça, com frequência
encontravam-se diante de um enorme número de leis, e, mais, de opiniões, doutrinas
e glosas, muitas vezes opostas, com relação a uma mesma lei. Diante dessa
circunstância, os juízes não sabiam qual delas seguir e pediam, não propriamente aos
juristas, mas aos teólogos, orientações concretas sobre como proceder diante de um
estado de dúvida ou incerteza com relação a saber qual deveria ser não só a opinião a
ser seguida, mas a conduta certa à hora de prolatar as suas sentenças.
Logicamente esse problema com relação ao estado de dúvida da consciência não
era algo apenas restrito ao campo jurídico. Em geral, qualquer fiel católico poderia
encontrar-se nessa situação com relação ao tipo de conduta que deveria ser seguido,
numa situação concreta, para fazer a coisa certa e não pecar. Contudo, o problema
que nos interessa aqui está circunscrito à esfera da administração da justiça na
América.
1
Agradeço à FAPESP pelo auxílio JP concedido para a realização desta pesquisa. Prof. de
História da América da Universidade Federal de São Paulo.
2 CONCINA, Daniel. Historia Del Probabilismo y Rigorismo. Dissertaciones
theologicas, morales, y criticas, en que se explican, y defienden de las sutilezas de los
modernos probabilistas los principios fundamentales de la TheologiaChristiana.
Dividida em dois volumes, Traducida al idioma castellano y añadida en muchas
partes de las obras del mismo autor por el P. D. Joseph Sánchez de la Parra, Tercera
Impresión, en Madrid, en la oficina de la viúda de Manuel Fernández, 1773, p. 9.
3 Cf. PINCKAERS, Servais Théodore. Las fuentes de la moral cristiana: su método, su
contenido, su historia. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, 2000, p. 329-333 e
DELUMEAU, Jean. A confissão e o perdão: as dificuldades da confissão nos séculos XIII a
XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 104-110.
ISBN 978-85-61586-70-5
86
IV Encontro Internacional de História Colonial
Os teólogos moralistas posicionaram-se a partir de três sistemas morais, que
poderiam ser resumidos nos seguintes tipos: Probabiliorismo (do latim: o mais
provável) era a tendência que seguia a mais provável das opiniões; Tuciorismo (do
latim: o mais seguro), a que apenas seguia a opinião favorável à lei; e, por fim, aquela
tendência que aceitava que uma opinião apenas provável pudesse ser a correta
mesmo havendo outra mais provável era chamada de Probabilismo.
Resumindo brevemente os princípios do Probabilismo, poderíamos dizer que
consistia no entendimento de que
- a prudência, considerada a virtude por excelência dos juízes, só seria bem
exercida se aqueles que tinham a obrigação de dar sentenças agissem com
probabilidade;
- o agir prudente e provável por parte dos juízes implicaria ter em consideração a
ocasião, as pessoas e as circunstâncias concretas de cada caso a ser julgado;4
- as leis precisariam ser interpretadas antes de serem aplicadas e, sendo que
existiam inúmeros comentários, glosas e interpretações diferentes com relação a uma
mesma lei, poderia concluir-se que uma lei duvidosa não teria força de lei.
Na prática, como era quase que impossível aplicar as leis de forma geral aos casos
americanos, os quais se mostravam bem específicos,5 era muito fácil encontrar
jurisprudentes com opiniões diferentes acerca de uma mesma lei e, portanto, a praxe
de relativizar o conteúdo das leis e interpretá-las seguindo qualquer uma das opiniões
possíveis, permitia aos juízes uma enorme margem de negociação, flexibilização e
composição dos seus próprios interesses, dos interesses das elites locais e os da
Coroa.
É dentro desse âmbito e desse contexto que me parece interessante aprofundar
no debate sobre o Probabilismo. Para tanto, e para facilitar a sua compreensão neste
trabalho, procurarei falar primeiro da obra de Concina, já na metade do século
XVIII, quando o debate estava arrefecendo, e, depois, analisar a obra de Avendaño,
tido por todos os autores como um probabilista do mundo americano, na metade do
XVII.
Antes disso, parece-me necessária uma explicação metodológica: quando o debate
historiográfico em torno à história colonial se desenvolve nos diferentes trabalhos,
pesquisas e Congressos, parece-me que sempre se parte da ideia de que as leis, os
regimentos, as cartas régias e quaisquer outros documentos legislativos tinham
autoridade por si próprios e, consequentemente, os historiadores tendem a analisar
4
RUIZ, Rafael. Duas percepções da justiça nas Américas: Prudencialismo e Legalismo. In:
Anais eletrônicos do VII Encontro Internacional da ANPHLAC Vitória. Vitória: VII
Encontro Internacional da ANPHLAC, 2008.
5 Ibidem. Os espaços da ambiguidade: os poderes locais e a justiça na América espanhola do
século XVII. Revista de História. São Paulo, 163, p. 81-101, ago/dez 2010.
.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
87
essas leis e a verificar o seu cumprimento ou não, tecendo a partir daí as suas
próprias considerações. Contudo, não me parece que seja levado em consideração o
fato de que durante um longo tempo, entre os séculos XV e metade do XVIII, pelo
menos, a praxe judiciária dava uma extrema atenção às glosas, os comentários e, em
resumo, às diferentes interpretações que, sobre uma mesma lei, os juristas e teólogos
foram estabelecendo ao longo dos séculos. Nesse sentido, o importante seria não
propriamente a lei, mas a lei comentada, a lei glosada ou a lei interpretada. Por isso,
esta comunicação procurará mostrar a importância desse aspecto específico da
juridicidade moderna, principalmente quando se estudam questões relacionadas com
a norma e a praxe no mundo americano.
Daniel Concina e a sua crítica ao Probabilismo
Em 1773, no mesmo ano em que foi suprimida a Companhia de Jesus pelo Papa
Clemente XIV, foi publicada na Espanha a obra do dominicano Daniel Concina,
Theologia Christiana Dogmático-Moral, compendiada en dos tomos, traduzida para o
castelhano. Na introdução, o tradutor da obra queixava-se de que a maior parte dos
juristas e teólogos eram partidários da interpretação probabilística da lei, que, na sua
opinião, era a responsável pelo estado de corrupção e de decadência em que se
encontravam não apenas os indivíduos, mas também os Estados, de tal forma que se
podia afirmar que “passaram os séculos de ouro, e sucederam-lhes os de barro e
corrupção”.6
Para Daniel Concina, entre 1620 e 1656 configura-se o período de auge e
decadência desse sistema moral.7 Trata-se do período da internacionalização do
probabilismo, que foi acompanhado pelo florescimento de uma literatura
especializada em casos de consciência, na qual a vertente probabilística preponderou.
Delumeau afirma que o sucesso foi tão grande a ponto de se configurar como uma
revolução moral, pois construiu-se um novo paradigma a respeito da teologia moral,
quando esta passou a ser discutida em graus de probabilidade.8
A partir de 1640, para Concina, a crítica anti-probabilística tomou força graças ao
probabiliorismo, principalmente na Espanha e na França.9 Como falei acima, este
sistema moral defendia que, em caso de dúvida, devia-se optar sempre pela mais
provável das opiniões. Nesse caso, portanto, não servia qualquer uma das opiniões,
mas apenas a que fosse tida como mais provável. Os probabilioristas, assim como
Concina, consideravam que os probabilistas socavavam a força coativa da lei,
porque, para eles –para os probabilistas- era suficiente uma única opinião de algum
6
CONCINA, Daniel. Historia Del Probabilismo y Rigorismo…, p. I, n. 1.
Ibidem, p. 10-17.
8 DELUMEAU, Jean. A confissão e o perdão…, p. 107.
9 CONCINA, Daniel. Historia Del Probabilismo y Rigorismo…, p. 15-16.
7
ISBN 978-85-61586-70-5
88
IV Encontro Internacional de História Colonial
doutor, teólogo, canonista, ou jurista, para interpretar de forma mais suave ou mais
relativa o texto da lei. E sempre podia –e, de fato assim aconteceu- ser encontrada
uma opinião que legitimasse a probabilidade de um juiz decidir se não à margem da
lei, pelo menos, de uma forma adaptada às suas conveniências.
A partir de 1656, sempre seguindo a Concina, a crítica ao probabilismo tornou-se
preponderante. Este é o ano da publicação das Provinciais de Pascal, nas quais a quinta
e a sexta epístola foram dedicadas a uma crítica feroz e satírica ao probabilismo.10
Para além dessa obra, que se tornou referência no que diz respeito à crítica ao dito
sistema, os dominicanos proibiram o ensino da doutrina probabilista e se seguiram
diversas condenações papais a proposições probabilistas. Segundo Concina, em
1665, o Sumo Pontífice Alexandre VII condenou 28 proposições, no ano seguinte
foram mais 17 condenadas; em 1679, o então Papa Inocêncio XI condenou 65
proposições probabilistas de diversas áreas.11
A questão central que me interessa tocar neste trabalho é perceber em que
medida um sistema teológico-moral teve consequências na praxe judiciária na
América do século XVII, ou, por outras palavras, perceber a estreita e intrincada
relação existente entre o fenômeno religioso-teológico e o fenômeno políticojurídico.
De acordo com o dominicano, os probabilistas colocavam-se numa cômoda
situação, porque, de acordo com a sua doutrina, não era necessário seguir nem a
opinião sobre a qual não pairasse dúvida alguma (um juízo absolutamente certo da lei),
nem a opinião que fosse tida como mais provável (nem sequer aceitam aquele juízo que nos
apresenta a obrigação mais verossímil). Para eles bastava com decidir conforme à sua
própria consciência (porque colocam a certeza da saúde no testemunho da própria consciência).12
Para seguir a própria consciência, os probabilistas defendiam a necessidade de
que os juízes (e as pessoas, em geral) fossem prudentes, porque a conduta adequada
em cada caso concreto somente poderia ser vista por meio do exercício da virtude da
prudência. Tratava-se, portanto, de uma tradição aristotélica, posteriormente
retomada por Tomás de Aquino, também dominicano, para quem a prudência era
“uma virtude da razão prática e não da razão especulativa”,13 de maneira que, para
que um juiz fosse prudente e acertasse a decisão justa, era preciso não apenas que
conhecesse a lei em geral e os princípios jurídicos universais, mas principalmente os
casos e as circunstâncias concretas de cada caso: “E assim é necessário que a
10
DELUMEAU, Jean. A confissão e o perdão…, p. 110.
CONCINA, Daniel. Historia Del Probabilismo y Rigorismo…, p. 17-44.
12 Ibidem.
13 AQUINO, Tomás de. A prudência: a virtude da decisão certa. Tradução, introdução e
notas de Jean Lauand. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 5.
11
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
89
prudência conheça os princípios universais da razão e também que conheça esses
singulares sobre os quais versam as ações”.14
Parece-me que é interessante destacar que, conforme Concina, mesmo depois das
inúmeras proibições pontifícias, havia um grande número de teólogos – por volta de
70 -, e alguns de muito renome, que continuavam defendendo o probabilismo,
dentre os quais cabia destacar, porque era unanimidade entre todos esses teólogos, o
Pe. Diana que, de acordo com Concina, além de defender esse sistema, “ensinava
que o juiz poderia escolher, dentre duas opiniões prováveis, aquela que fosse mais do
gosto do seu amigo, mesmo que a mais provável fosse a contrária”,15 contudo, o
dominicano, na sua obra, não mencionava nenhuma citação em que Diana, ou
qualquer um de seus seguidores, defendesse exatamente a possibilidade de escolher a
opinião da pessoa amiga, mas é fato que Diana era considerado um dos grandes
autores probabilistas e que suas posições defendiam a possibilidade de os juízes
escolherem qualquer uma das opiniões que fossem consideradas como prováveis.
Parece-me que não é difícil de perceber como essa forma de pensar, atribuindo à
consciência dos magistrados locais o poder de decidirem prudentemente sobre as
formas de aplicação ou não aplicação das leis metropolitanas, permitindo que se
interpretasse uma lei régia de acordo com a convicção em consciência do juiz
tornava-se um instrumento legal, que colocava nas mãos das autoridades locais o
poder não apenas de executar e adaptar as leis, mas principalmente o poder de
ignorá-las e, inclusive, de não obedecê-las.16
Penso que essas questões levantadas foram suficientes para entender os
parâmetros dentro dos quais se desenvolveu o debate sobre o Probabilismo.
Gostaria, agora, de mostrar como um teólogo probabilista,ou pelo menos assim
considerado pela maioria dos autores, posicionava-se dentro desse debate.
Diego de Avendaño e o Probabilismo
O jesuíta Diego de Avendaño (1592-1688) foi um teólogo, jurista e filósofo
hispano-peruano, considerado como um dos principais representantes do
pensamento colonial ibero-americano. Nas bibliotecas dos colégios jesuítas das
cidades de Lima, Arequipa, Trujillo, Ica, Huamanga, Huancavelica, Potosi, La Paz e
Cochabamba, um século depois da publicação da sua obra Thesaurus indicus, foram
encontrados um total de 82 exemplares das suas obras, colocando-o, portanto, entre
14
Ibidem, p. 5-6.
CONCINA, Daniel. Historia Del Probabilismo y Rigorismo…, p. 95.
16 RUIZ, Rafael. Hermenêutica e justiça na América do século XVII. In: XXVI Simpósio
Nacional
de
História
–
ANPUH,
São
Paulo,
Julho
2011.
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300290841_ARQUIVO_Hermeneutic
aejusticanaAmericadoseculoXVII(ANPUH).pdf
15
ISBN 978-85-61586-70-5
90
IV Encontro Internacional de História Colonial
os autores encontrados com mais frequências nessas bibliotecas, entre Platão,
Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Suárez.17
Avendaño tinha um profundo conhecimento das circunstâncias locais, fruto da
sua posição na cidade de Lima no século XVII. Fora discípulo de um grande jurista,
Solórzano Pereira, famoso autor da Política indiana, e foi reitor do colégio San Pablo,
de Lima e Presidente da Real Audiência de Lima.
Thesaurus indicus é uma obra de fôlego.18 São seis tomos, que foram publicados em
Amberes, em latim, em 1668, e que apenas recentemente foram traduzidos ao
castelhano pelo historiador Ángel Muñoz García. O seu conteúdo dá uma boa
panorâmica da sociedade peruana e a sua dinâmica social e econômica, bem como da
administração de justiça, tratando da função e da figura dos corregedores, juízes,
Cabildos, encomenderos, mercadores, mineiros, protetores de índios, etc… Pareceme que basta conhecer um dos títulos da sua extensa obra para entendermos melhor
qual seria o seu ponto de vista. Assim, por exemplo, Oidores y Oficiales de la hacienda
(De los oidores régios, o senadores de las cancillerias de Indias y de las obligaciones que pesan sobre
sus conciencias e Sobre los oficiales reales para la administración del patrimônio real em Indias, y
sus obligaciones em el fuero de la consciencia).
Um dos pontos mais relevantes para entender a figura de Avendaño e a sua obra
consiste em perceber que estamos lidando com um período histórico em que a moral
individual está intrinsecamente ligada à sua função pública ou, por outras palavras,
estamos num período em que não era concebível que uma figura pública, um juiz,
por exemplo, tivesse uma vida particular à margem da sua função e da sua
consciência privada. Portanto, o público e o privado coligavam-se e misturavam-se
de tal forma que, como afirma Paolo Prodi, “ainda não existia uma separação entre o
pecado e o delito, entre a desobediência à lei da Igreja e à do Príncipe”.19
Um dos pontos que mais chama a atenção quando lemos a sua obra (por
exemplo, nesse volume dedicado aos Ouvidores) é a insistência e a preocupação do
autor com a figura do juiz, principalmente com tudo aquilo que diz respeito ao
âmbito da moralidade e da consciência do mesmo. Dessa forma, além de elencar
uma série de condições e de requisitos que, hoje e agora poderíamos denominar de
“ordem pública”: não ter nascido na jurisdição da audiência; não casar-se com
mulheres de sua jurisdição, nem com familiares de seus companheiros de audiência;
17
GARCÍA, Angel Muñoz. Diego de Avendaño, filosofía, moralidad, derecho y política
en el Perú colonial. Lima: Fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, 2003, p. 14.
18 AVENDAÑO, Diego de. Oidores y oficiales de hacienda – Thesaurus Indicus.
Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, (EUNSA), Vol. I, Tìt. IV y V, 2003.
19 PRODI, Paolo. Uma história da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 182.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
91
não casar seus filhos dentro de seus distritos; não ter dois ofícios nas audiências; não
conferir ofícios a seus parentes, etc, Avendaño preocupava-se também com a
conduta moral ou religiosa dos ouvidores e dos juízes, com a sua assistência à Missa,
as suas confissões, as suas virtudes e qualidades que, também hoje e agora,
poderíamos denominar de “ordem privada”.
Não é muito de se estranhar porque, por exemplo, uma alegoria publicada por
Juan de Matienzo, famoso relator da Chancelaria de Valladolid e, mais tarde, ouvidor
da Audiência de Charcas, e mais conhecido por sua obra Gobierno del Perú, de 1567,
pode dar uma ideia do que se pensava e se esperava de um “bom juiz”, justo e
honesto.20 Sua obra Dialogus Relatoris et Advocati Pintiani Senatus, publicada em
Valladolid em 1558, teve uma boa difusão ao ponto de ter tido uma terceira edição
em Francfort-sur-le Main, em 1623:21 o juiz era como a árvore, onde o solo fértil seria
a nobreza de linhagem; as raízes seriam o temor a Deus, a ciência do direito e a
experiência da prática processual; o tronco estava formado pela fortaleza, o
desprendimento dos bens, a imparcialidade e a suspicácia; a crostra da paciência e da
humildade; a seiva da verdade, da fidelidade e o segredo; os galhos seriam os oficiais e
servidores do juiz que executavam as suas ordens; o fruto maduro da eloquência, da
afabilidade e da cortesia ; as folhas da prudência e, finalmente, o fruto maduro da
justiça e da equidade. Desenhava-se assim a ideia de que as sentenças justas
nasceriam, quase que de forma natural e espontânea, como resultado do conjunto de
virtudes morais que teria o juiz ou, se quisermos de outra forma, pensava-se que para
que a justiça fosse possível não bastavam as leis nem as Cédulas reais, mas que era
absolutamente necessário que os juízes tivessem virtudes e qualidades morais.
E ainda no fim do século XVIII, em 1785, publicava-se em Madri a obra do
jurista Guardiola y Sáez, El Corregidor perfecto y juez exactamente dotado de las calidades
necesarias y convenientes para el buen Gobierno,22 onde o autor recorrendo a toda a tradição
20
Acompanho nesta questão a interpretação de Eduardo Martiré, na sua obra Las
Audiencias y la Administración de Justicia en las Indias. Del iudex perfectus al iudex
solutus. Buenos Aires: Librería Histórica, 2009, onde analisa o artigo de VALLEJO, Jesús.
Acerca del fruto del árbol de los jueces. Escenarios de la cultura del ius commune. In: Anuario
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 2, p. 19-46,
1998.
21 MARTIRÉ, E. Las Audiencias y la Administración de Justicia en las Indias. Del
iudex perfectus al iudex solutus. Buenos Aires: Librería Histórica, 2009, p. 75.
22 A obra completa tem um título mais minucioso: GUARDIOLA Y SÁEZ, L.,
El
Corregidor perfecto y juez exactamente dotado de las calidades necesarias y
convenientes para el buen Gobierno económico y político de los pueblos y la más
recta administración de justicia en ellos, y avisado, entre otras cosas, de las muchas
cargas y obligaciones de su Oficio: conforme todo a las Leyes Divinas, Derecho Real
de España, y Reales Resoluciones hasta ahora publicadas sobre la nueva Planta y
ISBN 978-85-61586-70-5
92
IV Encontro Internacional de História Colonial
anterior, e traçando uma linha de continuidade com as Siete Partidas entendia que “o
juiz, de acordo com as nossas leis pátrias é o homem bom, que é colocado para
mandar e fazer direito e julgar os pleitos”.23 E, sendo assim, Guardiola entendia que
o juiz deveria
ser sóbrio, modesto, agradável, benigno, cortês e afável.
Não devia ser iracundo, altivo, nem cruel nem excessivamente
duro e severo com os súditos; grave e temperado e com
medida, nos gestos, passos e palavras, no asseio, adorno e
compostura. Nem muito falador, nem jactancioso de si
próprio, cauto e distante dos erros dos seus antecessores.
Nem pomposo, nem presunçoso; não devia ser amigo de
novidades, nem precipitado ou negligente, nem crédulo, nem
excessivamente incrédulo. Deveria ser recatado e não
suspeitoso, nem malicioso, nem astuto. Casto, pouco dado
a convites, especialmente convites privados, sem ter
amizades estreitas, desculpando-se por não participar dos
jogos, bailes e outras diversões impróprias do seu ofício.
Não devia ser orgulhoso, austero, nem muito triste ou
melancólico. Nem extremado, nem singular nas suas
deliberações. E, em definitivo, devia procurar que a sua meta
fosse o bem comum da República, a observância das leis e a
defesa dos súditos, sem esquecer o socorro dos pobres, o amor
dos órfãos, a veneração dos templos, a proteção das
virtudes, o rápido despacho dos negócios e demandas,
julgando sempre o justo sem distinção de pessoas cuidando
ao mesmo tempo da fidelidade, diligência, limpeza e
bondade dos oficiais “24.
Ou seja, desde o código das Siete Partidas, de meados do século XIII, até, pelo
menos, a metade do século XVIII, pensava-se que o juiz, para cumprir sua função
de dar sentenças justas, deveria ser, antes de tudo uma pessoa possuidora de todas as
virtudes morais. E, tendo todas essas virtudes, o juiz deveria sentenciar de forma
prudente, tendo em conta as circunstâncias do caso e os costumes do local, por isso
que, normalmente, haveria soluções e sentenças diferentes dependendo de cada caso
concreto.
Alguns exemplos, citados por Avendaño, poderiam ser ilustrativos. Analisemos,
primeiro, o clássico exemplo de aceitar ou não presentes e gratificações. Avendaño,
particularmente, achava que, para a imagem do juiz, não seria bom aceitar nenhum
Escala admirable de los Corregimientos y Alcaldías Mayores de estos Reynos. Madrid:
Imprenta y Librería de López, 1785.
23 Ibidem, p. 32-33.
24 Ibidem, p. 129-131.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
93
tipo de presente. As leis eram bastante duras sobre isso, mas Avendaño alertava que,
por se tratar das Índias, era preciso se observar o que demonstrava o costume.
E o costume indicava que as únicas pessoas que não podiam de jeito nenhum
presentear aos ouvidores eram os advogados, procuradores e relatores, porque isso
denotaria suborno (ou, no minimo, comprometeria o julgamento do juiz, forçando
de alguma forma a imparcialidade) e seria um escândalo e, mais ainda, obrigaria a sua
consciência, de forma que teoricamente nenhum ouvidor decente conseguiria dormir
sabendo que estava sendo aliciado, chantageado ou subornado.
Por outro lado, qualquer ouvidor sabia que era costume entre os índios oferecer
presentes e que eles se ofendiam sobremaneira se estes fossem recusados. E causaria,
ainda por cima, na opinião de Avendaño, um grande mal para a republica ofender tão
gravemente aos índios. Portanto, concluía o jesuíta, sabe-se que a intenção de um
advogado ao presentear um juiz é torta, porém, a intenção de um índio, ao seguir o
seu costume de presentear qualquer um que seja, inclusive um juiz, não é torta nem
contém malícia e, por isso, os presentes dos índios poderiam, sim serem aceitos.25
Parece-me que, com este exemplo, fica claro como, nos juízos, era preciso ter em
conta as intenções, as pessoas e as circunstâncias de todos os envolvidos e essa
percepção, e consequente decisão, necessariamente flexibilizava a aplicação da lei.
Outro exemplo bastante comum nas Índias era a questão do casamento dos
Ouvidores reais. A lei era bastante clara e rigorosa: o Ouvidor não poderia casar com
mulheres que morassem dentro do território da sua jurisdição. Se casasse, perderia o
cargo.
Avendaño, porém, considerava que, de fato, os Ouvidores não poderiam contrair
casamento com mulheres que tivessem vínculos de parentesco e de moradia dentro
do espaço geográfico da sua própria jurisdição, contudo, como casar não era pecado,
os Ouvidores que não levassem em conta essa proibição poderiam perder o cargo,
mas nem por isso cometeriam pecado.
A partir dessa proposição, o teólogo e jurista jesuíta passava a discutir os motivos
de por que não poderiam casar (ou seja, quais seriam as razões de conveniência para
viver de acordo com essa norma legal) para, depois, considerar que, dependendo do
lugar onde o caso acontecesse, os motivos seriam mais ou menos graves, mais ou
menos coativos. Dessa forma, acabava concluindo que, dependendo da situação e do
lugar, daria até para casar e continuar no cargo.
Interessa-me aqui mostrar a forma do raciocínio de Avendaño, utilizando, ele
mesmo, um tipo de argumentação – por meio de citações de autores e de doutores,
que já em si é claramente probabilista:
Puede objetarse además que tal opinion opuesta es probable,
25
AVENDAÑO, Diego de. Oidores y oficiales de hacienda – Thesaurus Indicus…, p.
88 e seguintes.
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
94
cosa que sostiene com otros el P. Molina, supra § Contrariam
sententiam; y el P. Sánchez aduce en su favor varios autores en
la citada Disp. 25, afirmando que es probabilísima. Pero esto no
es objeción; pues, según el mismo P. Molina, la opinión opuesta
es más común, tal como dijimos; y, según el P. Sanchez, más
probable, defendiéndola innumerables autores; luego quien
actúa de acuerdo con ella cuida suficientemente su conciencia,
como para que no debamos condenarlo como reo de pecado
mortal”.26
Outra questão delicada era tudo o relacionado com o pagamento de impostos nas
minas. A lei geral também era conhecida: as minas pertenciam aos Reis, pois, por
natureza, estavam destinadas ao uso comum e não ao privado. Os Reis entregavam-nas
aos particulares, reservando para si o quinto e, em alguns casos, o décimo.
Tudo isso era claro e conhecido, mas a partir daí é que começava a argumentação do
jesuíta para dizer que de acordo com muitos doutores, umas vez que as minas eram
entregues pelo Rei, então, passavam a ser dos particulares, não estando estes, portanto,
obrigados em consciência a pagar os impostos. Por outro lado, também havia muitos
doutores que afirmavam que se o Rei as entregava com a condição do pagamento do
quinto, então, sim, deveriam pagar o imposto. Como vemos, a argumentação jurídica
seguia os princípios da retórica probabilista: alguns autores opinavam de uma forma, e,
outros, opinavam o contrário. Dentro desse espectro de opiniões, qual delas deveria ser
seguida?
A opinião de Avendaño seguia a do célebre jurista Solórzano Pereira: “No siendo las
circunstancias las mismas, no debe observarse el rigor de las contribuiciones: lo pide la equidad, la razón lo
pone de manifesto y lo confirma también la autoridad de los autores”.27 Por outras palavras, e apenas
para deixar mais claro o entendimento da questão: os Ouvidores e juízes deveriam
atentar para as circunstâncias de cada caso e, então, tendo em conta o princípio da
equidade e as diferentes opiniões dos diferentes doutores sobre a matéria, poderia decidir
sem observar o rigor da lei.
Gostaria de me referir a um último caso para mostrar como o probabilismo abria
uma grande margem de ambiguidade, permitindo que os juízes decidissem de uma
maneira ou de maneira contrária, sem nenhum tipo de problema: trata-se dos casos em
que se discutia o que fazer com a herança de um clérigo defunto.
Avendaño explicava que, embora a lei fosse explícita determinando que os bens
deveriam ser encaminhados para obras pias na Espanha, ele entendia que havia muitos
costumes diferentes no Peru, onde muitas províncias costumavam declarar que os bens
de clérigos defuntos deveriam ficar ou para a paróquia local ou para o colégio dos padres.
Diante desse impasse, considerava que se fosse feito como em Lima, onde um juiz,
26
27
Ibidem, p. 259-261.
Ibidem, p. 353.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
95
decidindo conforme à prudência, sentenciara que se entregasse metade dos bens do
defunto para saldar as dívidas e a outra metade para o herdeiro legal, se agiria
corretamente, e que se fosse decidido que prevalecesse o costume local e que os bens,
portanto, fossem destinados na íntegra para a paróquia local, também se agiria
corretamente.28
Ou seja, numa situação frequente e comum como era a repartição da herança dos
bens dos clérigos defuntos, Avendaño opinava pela multiplicadade de soluções e
sentenças, dado que as variáveis que deveriam ser levadas em conta não se reduziam
apenas ao indicado na lei, mas era preciso também atender aos costumes locais, à opinião
dos jurisconsultos e, principalmente, à deliberação prudente do juiz, mesmo que isso
significasse agir de uma forma em um caso e de outra forma diferente em outro caso.
É importante entender que o que Avendaño defendia não era o que hoje
chamaríamos de “arbitrariedade”. O probabilismo não defendia a ideia de que os juízes
julgassem acintosamente ou conforme suas preferências pessoais. O que estava em
questão era precisamente que as leis não eram a única fonte que estabelecia o direito (o
que era justo) e que normalmente sempre era necessário interpretar a lei conforme ao
caso concreto.
Talvez o que melhor possa resumir a posição do que seria um juiz probabilista seja a
afirmação que García Muñoz fez sobre Diego de Avendaño: “Basta que uma opinião
seja provável, para que, sem mais, Avendaño a aceite, e, na maioria dos casos, a siga”.29
Considerações finais
Espero ter mostrado como o Probabilismo foi um debate que se desenvolveu
principalmente no âmbito da Teologia moral católica e que, por isso mesmo, seria
conveniente desenvolver mais estudos que não deixassem de lado essa esfera do
conhecimento teológico.
Também espero ter mostrado como as consequências desse debate não ficaram
restritas apenas ao campo moral, religioso e teológico, mas exerceram profunda
influência na esfera jurídica e, especificamente, no campo da administração da justiça e
nas decisões judiciais sobre o que seria justo ou injusto, de maneira que se poderia
afirmar que a Teologia moral católica foi responsável pelo estabelecimento das relações
sociais, econômicas e políticas na construção da sociedade americana.
As categorias de “prudência”, “consciência”, “arbítrio”, “circunstância” e “costume”
não eram apenas simples conceitos morais, mas principalmente jurídicos, permitindo aos
administradores da justiça, na América do XVII, uma ampla margem de negociação,
adaptação e flexibilização das leis régias, de acordo com os seus interesses locais.
28
29
Ibidem, p. 175.
Ibidem, p. 30.
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
96
Antônio Vieira e a diplomacia da Restauração portuguesa
Ronaldo Vainfas1
Guerra ou paz: os impasses de 1648
“É melhor ter com eles (holandeses) guerra declarada do que paz fingida”. Foi o
que escreveu Manoel de Moraes, em outubro de 1648, emitindo um dos mil pareceres
que o hesitante rei D.João IV solicitava aos que tinham experiência em assuntos
holandeses.2 Era tempo de pareceres solicitados pelo rei sobre se convinha ou não
ceder o Brasil às Províncias Unidas dos Países Baixos em troca da paz. Aliás, como
escreveu Evaldo Cabral de Mello, em O negócio do Brasil, quem hoje compulsa os
códices seiscentistas nas bibliotecas e arquivos portugueses, “topa invariavelmente com
manuscritos sobre as pazes da Holanda”.3
O texto de Manoel de Moraes apresenta os ingredientes de um parecer formal sobre
a questão. Manoel se dirigiu ao rei: “Isto escrevo como fiel vassalo de Sua Magestade,
como quem correu todas aquelas terras, tratou todas aquelas gentes, e lhes conhece de
experiência as condições”. Texto oficial e segredo de Estado: “sob censura”. Sendo o
assunto a famigerada “paz com a Holanda, Manoel começa o texto louvando a paz,
enquanto princípio, nela vendo a raiz da prosperidade dos povos. Mas não a paz com
os holandeses, dizia, que eram povos “variáveis, inquietos e mal intencionados”. Só
fazem a paz enquanto lhes convêm – acrescentou - e ao menor descuido “quebram as
leis dela”. O mote do seu texto se pode resumir no argumento citado no início: “é
melhor ter com eles (holandeses) guerra declarada do que paz fingida”.
Manoel refutou, portanto, o que considerava os quatro pontos essenciais do tratado
“entreguista” que Portugal negociava com os holandeses, afirmando que na Europa, se
fosse possível, a paz era benvinda. Mas no sul, isto é, no Brasil, somente a guerra
resolveria o impasse. Considerou inaceitável que Portugal cedesse aos holandeses
território tão rico em engenhos de açúcar, tabaco, pau-brasil e mantimentos variados.
Alegava que Portugal não precisava da Holanda para nada, pois tudo que vendiam no
Brasil vinha de outras partes, a aguardente da França, as munições da Dinamarca ou
Hamburgo, o ferro da Suécia. Em contrapartida, a Holanda não podia viver sem o sal
1
Universidade Federal Fluminense.
2
A “Resposta aos holandeses” foi descoberta por Eduardo Prado na Secção de Manuscritos
da Biblioteca Nacional de Lisboa. Códice 1551, fls 59 a 63. Eduardo Prado fê-la copiar na
íntegra, sendo o texto mais tarde publicado por Afonso de Taunay nos Anais do Museu
Paulista. São Paulo, tomo I, p. 119-143, 1922. Há outra cópia do mesmo documento na
Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa. Códice 2694, fls 37-42.
3 MELLO, Evaldo Cabral de. O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste,
1641-1669. Rio de Janeiro: Topbooks, 3a ed. revista, 2003, p. 143.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
97
de Setúbal e sem a riqueza do Brasil. Considerou também absurda a exigência de
indenização de guerra ao rei, pois não fora D.João IV quem ordenara o “levantamento
da terra” contra os holandeses. A rebelião havia sido iniciativa dos moradores em “boa
consciência”. Tão boa consciência quanto a que os mesmos holandeses haviam
mostrado, ao se rebelarem contra a tirania dos castelhanos, como eles gostavam de
repetir. De modo que, se a revolta dos holandeses contra a Espanha havia sido justa,
também o era a rebelião movida pelos luso-brasileiros contra a Holanda.
Manoel de Moraes retomou o argumento usado à farta pelos embaixadores de
d.João IV em Haia, a saber, o de que os holandeses haviam conquistado aquelas partes
do Brasil no tempo em que Portugal era cativo de Castela. Cativeiro injusto, pois a
legítima sucessão, em 1580, cabia à Casa de Bragança (e nisto Manoel de Moraes
repetiu um dos argumentos de seu texto pró-restauração de 1641. Quase deu vivas, ao
saudar o “Duque de Bragança, hoje por graça de Deus, o poderoso monarca El Rei D.
João, o quarto, nosso senhor”. E se os holandeses alegassem, como alegavam, que a
insurreição feria a trégua estabelecida em 1641, valia lembrar que foram eles os
primeiros a rompê-la, tomando Angola, São Tomé e o Maranhão.
Manoel de Moraes também pôs em xeque a superioridade militar holandesa,
inclusive a naval, embora admitisse que o inimigo tinha mais navios. Mas a madeira
usada nos navios portugueses era melhor, ajuizou. Quanto ao combate em campo raso,
os holandeses eram, Segundo ele, um desastre. Ilustrou seu argumento citando a
batalha do Monte das Tabocas, de que ele mesmo havia participado; a vitória facílima
dos portugueses no Maranhão, em 1643; o fracasso de Nassau na Bahia, em 1638; o
triunfo de Salvador Correa de Sá em Angola, em 1648. Aos holandeses, de fato, só
restava a posse de Olinda e do Recife no início de 1649.
Manoel de Moraes fez o seu parecer. Tinha larga experiência em assuntos
holandeses, pois vivera oito anos em Harderwijk, Leiden e Amsterdã a serviço da
Companhia das Índias Ocidentais, antes de regressar a Pernambuco, como contratador
de pau-brasil. Era ex-jesuíta, expulso da Companhia de Jesus por ter se passado aos
holandeses, em 1635, razão pela qual seria preso e processado pela Inquisição, acusado
de calvinismo. Quando escreveu seu parecer, tinha saído há poucos meses no auto-defé celebrado no Terreiro do Paço, vestindo hábito penitencial com insígnias de fogo.
Estava nas últimas, mas arrependido de seus erros passados e na expectativa de, quem
sabe, ser recrutado como conselheiro do rei ou capitão nas guerras pernambucanas.
Tudo, é claro, em troca de alguma modesta mercê.4
A guerra liderada por João Fernandes colheu vitórias decisivas de 1645 a 1649. As
duas batalhas dos Guararapes, em especial, travadas entre abril de 1648 e fevereiro de
1649, confinaram os holandeses em Olinda e Recife. O mais estava perdido.
Entrementes, em agosto de 1648, Salvador Correia de Sá tinha reconquistado Angola,
4 VAINFAS, Ronaldo. Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
ISBN 978-85-61586-70-5
98
IV Encontro Internacional de História Colonial
partindo do Rio de Janeiro. O império holandês na África e no Brasil estava ferido de
morte.5
Voltando a 1641: entre negociações e conspirações
Nos começos da Restauração, porém, a situação de Portugal era periclitante. O
próprio Manoel de Moraes, quando estava na Holanda, teve a oportunidade de
acompanhar as primeiras negociações entre Portugal e os Estados Gerais dos Países
Baixos. Corria o ano de 1641, a restauração portuguesa era recentíssima, a guerra
contra a Espanha estava deflagrada. D.João IV enviou embaixador para Haia negociar
com os holandeses.
Estando em curso Guerra dos Trinta Anos, e sendo a Holanda inimiga histórica da
Espanha, contra a qual Portugal então lutava, os conselheiros de D.João IV julgaram
razoável propor aos holandeses a devolução dos territórios que outrora pertenciam a
Portugal antes da União Ibérica. O embaixador Tristão de Mendonça Furtado chegou
em Haia no início de 1641. Era homem de nobreza e de guerra que tinha esposado a
causa da restauração desde o início. Mas como diplomata era fraco ou pelo menos foi
esta a impressão que dele ficou, em Portugal, por suas gestões em Haia.
O máximo que conseguiu foi assinar um tratado, em 12 de junho de 1641, em cujo
artigo 24 os holandeses admitiam, vagamente, que os territórios do ultramar outrora
portugueses poderiam ser objeto de futura partilha ou troca. Futuro incerto.
Estabeleceram, ainda, neste tratado, uma trégua de dez anos, fixando, porém, que, em
caso de hostilidades, os súditos do Príncipe de Orange não poderiam ser levados à
Inquisição por motivo de sua confissão religiosa. Portugal também cedeu neste ponto,
e vale dizer que os tais súditos da Casa de Orange protegidos pelo acordo eram
basicamente os judeus portugueses transferidos de Amsterdã para o Brasil. A sólida
Talmud Torá, congregação dos judeus portugueses em Amsterdã, pressionou os Estados
Gerais, que por sua vez pressionaram o embaixador português, e até a isto se vergou a
diplomacia portuguesa em 1641.
Quanto à trégua de dez anos, os holandeses a romperam no mesmo ano do tratado.
Entre agosto e novembro de 1641, as armas de Maurício de Nassau conquistaram
Angola, incluindo Luanda, Benguela e os portos satélites de São Tomé e Ano Bom.6
5
BOXER, Charles. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-1886. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1973.
6 Sobre as conquistas holandesas na África, ver ALENCASTRO, Luis Felipe de. O trato dos
viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, cap. 6, p.
188-246; RATELBAND, Klaas. Os holandeses no Brasil e na costa africana: Angola,
Kongo e São Tomé, 1600-1650. Lisboa: Vega, 2003, p. 109-145; SILVA, Alberto da Costa e.
A manilha e o libambo: a África e a escravidão de 1500 a 1700. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2002, p. 407-450.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
99
No mesmo mês de novembro, os holandeses tomaram o Maranhão. O domínio
holandês no Brasil atingiu, o apogeu, abarcando território do Sergipe ao Maranhão,
além do conrole dos portos africanos essenciais para o tráfico de escravos. A
colaboração das elites luso-brasileiras no Pernambuco, por sinal, nunca foi tão intensa
como nesta época. Tempo da chamada pax nassoviana.
Tudo corria muito mal para os portugueses neste início da Restauração. Felipe IV
se armava até os dentes para esmagar a rebelião portuguesa, embora estivesse às voltas
com a revolta catalã. Não fosse a revolta da Catalunha e as coisas ficariam ainda piores
para Portugal. Estava derrotado no ultramar, o império oriental esfrangalhado, e no
Brasil também se perdera o Maranhão. E, mais grave, tinha perdido Angola. Um
desastre. Até os mais fervorosos adeptos da Casa de Bragança consideravam difícil
manter a soberania portuguesa sem recursos ultramarinos para combater a Espanha.
Não admira que a fação pró-hispânica da nobreza lusitana, por sinal muito
numerosa, tenha tentado derrubar o rei, ainda em 1641, facilitando as coisas para
Felipe IV. Afinal, boa parte da “nobiliarquia grande” do reino mantinha-se fiel ao rei
de Espanha. Vários deles se tinham estabelecido em Madri durante a União Ibérica e
outros tantos se refugiaram na Espanha após a aclamação de d. João IV, por eles
julgada um golpe de Estado. Felipe IV de Espanha buscava compensar generosamente
tais lealdades com “mimos e promessas”, certo de que tais homens seriam a base para a
recuperação do reino rebelde.
Da lealdade a Felipe III à conjura contra d.João IV o passo foi curto. Foi
conspiração respeitável, cuja liderança foi aribuída a d.Luiz de Noronha e Menezes,
marquês de Vila Real e primeiro conde de Caminha, títulos que herdara do irmão d.
Miguel Luiz de Menezes. A Casa de Vila Real era antiga, com titulação concedida ainda
no início da dinastia de Avis e acrescida do ducado no tempo de Felipe II de Espanha.
O marquês de Vila Real era, sem dúvida, o nobre mais titulado entre os conjuradores,
mas não foi o grande articulador do golpe contra d. João IV. Os grandes articuladores
do golpe foram, antes de tudo, o arcebispo de Braga, portanto Cardeal primaz do
reino, D.Sebastião de Matos Noronha, e Belchior Correia de Franca, fidalgo da Casa
Real por serviços prestados em Tânger, Pedro Baeça da Silveira, tesoureiro da
alfândega de Lisboa e cunhado e outro grande articulador, Diogo Brito Nabo, também
fidalgo da Casa Real.
As articulações começaram ainda em dezembro de 1640 e se adensaram nos meses
seguintes. Em julho de 1641, o grupo de conjurados já incluía Rui de Matos e
Noronha, primeiro conde de Armamar; Nuno de Mendonça, segundo conde do Vale
dos Reis; Antônio de Ataíde, segundo conde de Castanheira; Jorge de Mascarenhas,
vedor da Casa Real no reinado de Filipe IV, filho de d.Jorge de Mascarenhas, marquês
de Montalvão e ex-governador do Brasil; d.Agostinho Manuel de Vasconcelos, criado
da Casa Real brigantina; João Soares de Alarcão, mestre-sala da Casa Real filipina;
Gonçalo Pires de Carvalho e seu filho Lourenço Pires de Carvalho, provedor das obras
reais; Antônio de Mendonça, comissário da Cruzada, frei Luis de Mello, bispo de
ISBN 978-85-61586-70-5
100
IV Encontro Internacional de História Colonial
Malaca, na Índia; Cristovão Cogominho, Guarda-mor da Torre do Tombo; Antônio
Correia, oficial da Secretaria de Estado; Diogo de Brito Nabo, ex-alcaide de Ceuta, e
Manuel Valente de Vilasboas, escrivão de Setúbal.
Enfim, para terminar, sem esgotá-la, a lista de conjurados, vale citar d. Francisco de
Castro, ninguém menos do que o Inquisidor geral de Portugal, nomeado no tempo dos
Filipes.7 A Inquisição era francamente filipina, tendo se fortalecido imensamente
durante a União Ibérica. Basta dizer que o sobrinho de Felipe II de Espanha, o
Cardeal-Arquiduque Alberto de Áustria foi, quase ao mesmo tempo, Inquisidor Geral e
vice-rei de Portugal, entre 1583 e 1593. D. Pedro de Castilho foi também Inquisidor
Geral e duas vezes Vice-Rei de Portugal no reinado de Felipe III de Espanha (15981613). D.Miguel de Castro, por sua vez, além de arcebispo de Lisboa, pertencia aos
quadros da Inquisição quando foi nomeado duas vezes presidente da Junta
Governativa, instituição que substituiu pro tempore o Vice-Reinado, e terminou a carreira
como deputado do Conselho Geral do Santo Ofício, órgão máximo da Inquisição
portuguesa. Não é de surpreender, portanto, que a Inquisição tenha se aliado com a
Casa de Habsburgo contra as pretensões brigantinas em 1640 e conspirado contra o rei
em 1641.8
Em 28 de julho de 1641 foi descoberta a conjura, cujo objetivo era enviar uma
Jornada Real (filipina) desde Espanha até as fronteiras do reino, simultaneamente à
deposição de d.João IV. Todos os nobres e fidalgos envolvidos na conspiração haviam
obtido importantes mercês de Felipe IV de Espanha ou engrandecido as titulaturas, no
caso de nobres de cepa antiga. Lideravam ou integravam, em posições estratégicas,
importantes redes clientelares ligadas à Casa dos Habsburgos, temendo perder
privilégios com a ascensão da nova dinastia em Portugal.
A repressão brigantina foi atroz, sobretudo contra os nobres e fidalgos. No caso do
clero, o cardeal primaz d. Sebastião de Matos Noronha foi encarcerado na Torre de
Belém, morrendo na prisão no mesmo ano de 1641. O inquisidor d. Francisco de
Castro foi preso, porém libertado em 1643. Quatro nobres foram degolados em
cerimônia pomposa realizada no Rossio, em Lisboa, no dia 29 de agosto de 1641. O
primeiro a ser executado foi d. Luís de Noronha, marquês de Vila Real, e logo seu filho
d. Miguel de Noronha, jovem de 27 anos que, na verdade, não tinha jogado papel
importante na conjura. O conde de Armamar foi o terceiro degolado e, por fim,
d.Agostinho Manuel, que custou a morrer porque o cutelo havia perdido o fio. As
execuções prosseguiram na Rua dos Escudeiros à frente do Palácio da Inquisição com
7
COSTA, Leonor Freire & CUNHA, Mafalda Soares da. D. João IV. Lisboa: Círculo de
leitores, p. 114-117.
8 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições. Lisboa: Círculo de Leitores,
1994, p. 111.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
101
o enforcamento de dois fidalgos, Manuel Valente de Vilasboas e Diogo de Brito Nabo,
que tiveram seus corpos esquartejados e as partes espalhadas pela cidade.9
1642-1645: da negociação à insurreição
Ao final de 1641, além da Restauração ter sido frontalmente contestada, Portugal
caminhava mal nas chamadas “pazes com Holanda”. Ruim com o tratado, pior sem ele.
Os portugueses nunca haviam perdido tanto no Atlântico, nem no tempo da União
Ibérica, apesar dela. Tristão de Mendonça Furtado foi removido do posto e não tardou
a morrer, sem nenhuma glória. Foi substituído por Francisco de Andrade Leitão,
diplomata de carreira do Portugal restaurado, desembargador da Casa de Suplicação,
servira na Suécia, na França de Richelieu, e representou Portugal nas negociações de
Munster.
Francisco de Andrade Leitão chegou em Haia, em 1642, fazendo jogo duro,
denunciando nada menos que 13 violações do acordo de 1641, exigindo a pronta
devolução dos territórios portugueses no Atlântico, a começar por Angola e pelo
Maranhão, as últimas conquistas flamengas. Não conseguiu nada, salvo promessas
ainda mais vagas, mas pelo menos fez com que as coisas ficassem claras. Os holandeses
não tinham a menor intenção de devolver qualquer território aos portugueses, porque a
Companhia das Índias tinha investido fortuna imensa nestas conquistas. Por qualquer
devolução, por mínima que fosse, Portugal pagaria preço altissimo: o sal de Setúbal,
indenizações elevadas, privilégios comerciais aos holandeses no negócio do açúcar.
Francisco de Andrade Leitão foi substituído por Francisco de Souza Coutinho,
embaixador realista e prudente. Sabia que o caso era de paciência e que as “pazes com
Holanda” não dependiam de acordo bilateral de credibilidade duvidosa. Era preciso
considerar o desfecho da Guerra dos Trinta Anos; aguardar se a Espanha reconheceria,
enfim, a soberania dos Países Baixos calvinistas; examinar o avanço da guerra de
Restauração contra a mesma Espanha; negociar o apoio do Papa Urbano VIII, que não
reconhecia D.João IV como rei português, mas tampouco reconhecia o governo dos
hereges holandeses; negociar com a França, que emergia como principal potência
continental; aguardar o desfecho da guerra civil na Inglaterra, que mais tarde seria uma
fiadora mais ou menos discreta da independência portuguesa.
Não por acaso, enquanto negociava com Holanda, Portugal multiplicou missões
secretas a vários Estados, do que dá notícia detalhada Edgar Prestage no seu clássico
As relações diplomáticas de Portugal com a França, Inglaterra e Holanda de 1640 a 1668.10 A
prioridade máxima, para os diplomatas portugueses, era garantir a soberania dos
9
COSTA, Leonor Freire & CUNHA, Mafalda Soares da. D. João IV…, p. 127.
PRESTAGE, Edgar. As relações diplomáticas de Portugal com a França, Inglaterra e
Holanda de 1640 a 1668. Coimbra: Imprensa Nacional, 1928, p. 196-197.
10
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
102
Braganças, o que implicava guerra na península e diplomacia na Europa. O melhor do
Oriente estava perdido. E talvez fosse preciso ceder boa parte do Brasil e da África.
Francisco de Souza Coutinho foi embaixador em Haia de 1644 a 1649, e constatou
o que já se sabia em Lisboa. Os holandeses não estavam dispostos a ceder, embora o
Brasil estivesse começando a dar prejuízo. E, para a Holanda, o Brasil era nada mais,
nada menos, que um negócio da Companhia das Índias Ocidentais, a WIC. Na
verdade, o comércio exportador do Brasil para a Holanda atingiu seu auge justamente
em 1642. A exportação de açúcar branco, por exemplo, que passava das 14 mil caixas,
em 1641, caiu para menos de 11 mil, em 1643, e não passou de cerca de 8 mil, em
1644. Cairia ainda mais, de forma vertiginosa, nos anos seguintes.11
A rebelião luso-brasileira no Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu
em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João
Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses.
Houve grande adesão da “nobreza da terra”, entusiasmada com esta proclamação
heróica. Nosso Manoel de Moraes foi um dos que aderiu, embora não pertencesse à tal
nobreza, pois nesta altura explorava o pau-brasil sem pagar um tostão aos holandeses.
Aderiu com fervor à revolta. Saiu à frente das tropas na batalha do Monte das Tabocas,
em agosto de 1645, como capelão da guerra, crucifixo na mão, exortando a soldadesca
a entoar a Salve Rainha. Pela Virgem Maria e por Santo Antônio, a insurreição
pernambucana haveria de ser uma “guerra da liberdade divina”, grande lema dos
rebeldes.
Paz declarada, guerra fingida: 1645-1649
Vale inverter, nesta altura, o titulo do presente artigo, pois esta fórmula parece
exprimir melhor o novo impasse estabelecido com a irrupção da “guerra da liberdade
divina” em Pernambuco. Isto porque, oficialmente, Portugal e Paises Baixos estavam
em paz arrastando negociações diplomáticas, sendo que os portugueses custaram a
admitir o estado beligerante dos luso-brasileiros, preferindo atribuir as “alterações
pernambucanas” à insesatez de poucos rebeldes. Fingia-se não haver a guerra que se
travava no Brasil, ao menos enquanto esta farsa era possível de ser encenada.
Mas no trancurso da rebelião, os endividados de Pernambuco haveriam de dar
enorme ajuda à diplomacia portuguesa, ao deflagrarem a guerra restauradora. Diria
mesmo que deram apoio crucial, a médio prazo, para a própria restauração no reino.
Mas é claro que tais benefícios não seriam imediatos. Os holandeses protestaram
muitíssimo contra a audácia da rebelião pernambucana e exigiram do embaixador
português a imediata cessação das hostilidades e punição exemplar dos rebeldes. Neste
ponto, a situação se inverteu. Francisco de Souza Coutinho prometia tudo aos
11
WÄTJEN, Hermann. O domínio colonial holandês no Brasil. (original de 1938). Recife:
Companhia Editora de Pernambuco, 3a ed., 2004, p. 494 e segs.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
103
holandeses, mas não fazia nada. O governador da Bahia, Antônio Teles da Silva,
prometia mandar tropas para conter os rebeldes pernambucanos e, na verdade, enviava
reforços para a rebelião.
O impasse durou alguns anos mais. Em 18 de setembro de 1645, por exemplo, com
a capitulação holandesa no Forte Maurício, em Penedo, 200 prisioneiros de guerra
foram enviados a Lisboa. Entre eles, seis judeus portugueses que, como súditos do
Príncipe de Orange, estavam protegidos pelo acordo de 1641, e não podiam ser
levados ao Santo Ofício. De nada valeu, outra vez, o acordo. D.Pedro da Silva e
Sampaio, bispo da Bahia, mandou os presos para a Inquisição, do que resultou
tremendo quiprocó diplomático.
Pressionados pela Talmud Torá de Amsterdã, os embaixadores holandeses exigiram
a imediata liberação dos presos. D.João IV pressionou a Inquisição, sua inimiga, que
teimou em não liberar nenhum deles. O rei escreveu duas vezes para os holandeses
dizendo que nada podia fazer em matéria de fé, que era foro privativo da Inquisição,
prometendo, no entanto, fazer o possível para libertá-los. Os Estados Gerais exigiram
a libertação de todos, sem exceção. D.João IV conseguiu liberar a metade. Os outros
três judeus que permaneceram presos, saíram no auto-da-fé de dezembro de 1647, o
mesmo, aliás, em que saiu o ex-jesuíta Manoel de Moraes.
Vieira contestou frontalmente a Inquisição e, com isto, só fez acirrar o conflito
entre jesuítas e inquisidores, bem como a oposição do Santo Ofício ao rei. Mas, em
matéria diplomática, Vieira era mais prudente. Diante do avanço arrasador dos rebeldes
pernambucanos nos Guararapes e da reconquista de Angola pelos portugueses, os
holandeses ameaçaram entrar em guerra contra D.João IV. Estavam dispostos a
bloquear Lisboa e até mesmo a se aliar com a Espanha. Inimiga histórica dos
holandeses, a Espanha havia reconhecido, em 1648, a independência batava.
Ainda antes da segunda batalha dos Guararapes, em julho de 1648, Sousa Coutinho
recebeu exigências duríssimas dos comissários dos Estados Gerais. Entre outras, a
restituição de todos os territórios que possuía a WIC em 1641, mais concessões
territoriais na África e até a caução do morro de São Paulo, no litoral baiano; pesadas
indenizações de guerra, incluindo o pagamento anual de mil caixas de açúcar, branco e
mascavado, pelo prazo de dez anos; pagamento das dívidas que os colonos tinham
com a WIC e particulares flamengos; neutralização de uma faixa de dez léguas na
fronteira dos territórios holandeses, onde os portugueses não poderiam erigir
fortificações.
Francisco de Sousa Coutinho amoleceu, apoiado em Antônio Vieira, e
resguardando o desejo pessoal de D.João IV. O rei preferia pagar aos holandeses ou
perder de vez suas ricas possessões no Atlântico do que arriscar-se a perder a Coroa.
De todo modo, o embaixador fez reparos pontuais às exigências holandesas, embora
tenha concordado com o essencial delas, em documento firmado a 19 de agosto de
1648.
ISBN 978-85-61586-70-5
104
IV Encontro Internacional de História Colonial
Souza Coutinho e Vieira foram acusados de “Judas de Portugal” e de vendidos aos
holandeses. Manoel de Moraes, embora alquebrado, acusou-os, sem citá-los, de
“prendados dos holandeses”, logo ele, que tinha sido funcionário da WIC por oito
anos! Manoel de Moraes, sempre atento às circunstânciais, apoiou os valentões
liderados por Pedro Fernandes Monteiro, e pelo bispo de Elvas, D.Manoel da Cunha.
Aos holandeses só restava fazer a guerra.
Soberania brigantina, império possível: o Papel Forte de Vieira
Antônio Vieira defendeu a diplomacia portuguesa no célebre parecer conhecido
como Papel Forte, no início de 1649, insistindo na entrega do Brasil. Nele Vieira rebate
cada um dos argumentos esgrimidos pelos “valentões”, sobretudo os do Procurador da
Fazenda Real, Pedro Monteiro Fernandes. O texto distribui a matéria em quatro pontos,
correspondentes, cada qual, a uma grande questão envolvida no debate.
No primeiro ponto, Vieira defende o tratado firmado com os holandeses,
refutando especialmente duas críticas dos “valentões”. Quanto à crítica de que,
cedendo Pernambuco aos holandeses, Portugal estaria abandonando seus vassalos aos
hereges, Vieira alegou que nem por isso faltariam padres católicos para zelar pelo
alimento espiritual dos fiéis, como alias tinha ocorrido durante a maior parte do
domínio holandês na região. Quanto à crítica de que a capitulação portuguesa
interromperia o trabalho de propagação da fé entre os índios, Vieira replicou alegando
que “já antes de lá irem os holandeses, não havia conversões nem propagações da fé
por falta de gentios”. As aldeias da região, prossegue Vieira, eram de índios já cristãos
e a maior parte deles tinha seguido Felipe Camarão no exílio baiano.12
Vieira certíssimo no primeiro ponto, pois o acordo firmado na Paraíba, firmado
em 1634, tinha garantido liberdade de consciência e de culto para os portugueses que
permanecessem nas conquistas holandesas. Foi mesmo admitida pelo Conselho
Político do Recife, orgão máximo da WIC no Brasil, a presença de clérigos seculares e
religiosos de diversas ordens, com exceção dos jesuítas. O célebre frei Manuel Calado
do Salvador, autor de O valeroso Lucideno (1646), chegou a ser um dos interlocutores
privilegiados, para não dizer amigo, de Maurício de Nassau.13
O mesmo não se pode dizer do argumento vieiriano relacionado à missionação.
Antes de tudo porque havia grupos indígenas não catequizados, a exemplo dos tapuias,
parte deles aliada dos holandeses na guerra pernambucana. Os tarairius, por exemplo,
12
Papel que fez o Padre Antônio Vieira a favor da entrega de Pernambuco aos holandeses.
In: PÉCORA, Alcir (org). Escritos históricos e políticos do Padre Antônio Vieira. São
Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 338-341.
13 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Tempo dos flamengos: influência da ocupação
holandesa na vida e na cultura do Norte do Brasil. (Original de 1947). Recife: Massangana, 3a
ed. Aumentada, 1987.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
105
liderados pelo chefe Janduí, se destacaram no massacre de católicos perpetrado em
Cunhaú e Uruaçú, no Rio Grande do Norte.14 Por outro lado, impossível desconhecer
uma a cisão entre os potiguares: de um lado Felipe Camarão, de outro Pedro Poti, este
último convertido ao calvinismo. A missionação calvinista junto aos índios potiguares
e tabajaras tinha avançado bastante no período holandês,15 em parte ancorada nos
métodos da Companhia de Jesus.16 Um dos principais jesuítas da missionação
pernambucana, o padre Manoel de Moraes, foi talvez o grande artífice desta tradução
do jesuitismo para o calvinismo, ao se passar para o lado holandês no final de 1634.
Foi Manoel de Moraes quem propôs o Plano para o bom governo dos índios ao conselho
diretor da WIC, em Amsterdã, em grande parte adotado pela Igreja Reformada em
Pernambuco.17
Antônio Vieira não poderia ignorar esses fatos, sobretudo porque as
conseqüências da conquista holandesa no tocante à religiosidade indígena foi matéria
de vasta correspondência jesuítica inclusa no Codice Brasile depositado nos arquivos do
Vaticano. De todo modo, se Vieira estava mal informado sobre o assunto, não
tardaria a inteirar-se do problema como visitador da Companhia de Jesus nas partes
do norte, nos anos 1550-1560. Chegaria a chamar a serra de Ibiapaba, no Ceará, de
“Genebra dos sertões”, tamanha era a aparente obstinação calvinista dos tabajaras ali
refugiados.
Ainda na defesa do tratado, Vieira considerava que os insurretos se haviam
rebelado por conta própria, sem consultar o monarca, de sorte que d.João IV não
tinha nenhuma obrigação de socorrer os rebeldes. Ao argumento de que os rebeldes
lutavam para erradicar a heresia da terra, Vieira replicou de modo implacável: os
principais que moveram a guerra o fizeram “porque tinham tomado muito dinheiro
aos holandeses e não puderam ou não o quiseram pagar”.18 Não resta dúvida de que
Vieira estava coberto de razão nesse ponto.
Na mesma linha de argumentação, Vieira condenou os pernambucanos por terem
aberto nova frente de batalha, quando os portugueses já sofriam para sustentar a
guerra contra a Espanha. Radicalizando sua oposição à revolta, desqualificou a tese de
que holandeses deveriam restituir Pernambuco porque somente a tinham conquistado
quando Portugal era dominado pela Espanha, inimigo comum de lusos e flamengos,
14
BOOGAART, Erns van den. Infernal Allies: the Dutch West India Company and the
Tarairiu – 1631-1654. In: J. M. Siegen et al (orgs). A humanist prince in Europe and
Brazil. The Hague: The Government Publishing Office, 1979, p. 519-538
15 SHALKWIJK, Frans Leonard. Igreja e Estado no Brasil Holandês. Recife:
FUNDARPE, 1986.
16 RIBAS, Maria Aparecida Barreto. O leme espiritual do navio mercante: a missionação
calvinista no Brasil holandês. Niterói: Tese de doutorado em História defendida na
Universidade Federal Fluminense, 2007.
17 VAINFAS, Ronaldo. Traição…, p. 120-121.
18 Papel que fez o Padre Antônio Vieira…, p. 342.
ISBN 978-85-61586-70-5
106
IV Encontro Internacional de História Colonial
além de questionar o direito português àquelas capitanias unicamente com base na
antiga concessão do papa (ratificada pelo Tratado de Tordesilhas). Adotando posição
pragmática, afirmou sem rodeios que “o que dá ou tira os reinos do mundo é o direito
das armas, cujas leis ou privilégios são mais largos; e segundo este direito, costumam
capitular os príncipes quando um deles é menos poderoso”.19 Estava convencido,
nessa altura dos acontecimentos, de que os holandeses tinham mesmo algum direito
às capitanias conquistadas no Brasil e o melhor seria reconhecê-lo.
Por outro lado, Vieira insistiu no fato de que “o levantamento da terra” tinha
destruído boa parte da economia pernambucana, arruinado lavouras e engenhos. Se,
antes da revolta, Pernambuco e demais capitanias da WIC produziam cerca de 1/3 as
riquezas do Brasil, embora ocupasse território não superior a 10% do território
colonial, depois dela tudo se tinha reduzido à metade. Não seria grande dano ceder
território tão arruinado aos flamengos, pensava Vieira, além do que, em pouco tempo
não haveria mais recursos ou mantimentos para sustentar a guerra no Brasil. O
melhor era ceder, como o próprio Vieira fizera no tratado acordado em Haia. Tudo o
que se gastasse com indenizações e concessões aos holandeses, inclusive no tráfico de
escravos angolanos, seria pouco em relação aos benefícios de que o reino poderia
desfrutar.20
No segundo ponto do Papel Forte, dedicado a contraditar os meios propostos pelos
“valentões” para inviabilizar a restituição de Pernambuco, Vieira põe em dúvida o
pretexto de que os moradores de Pernambuco se recusavam a consentir nela, bem
como o presumido perigo dos pernambucanos buscarem o apoio de outro príncipe na
falta de socorro português. Tudo isso, segundo Vieira, não passava de falácia.
Também julgava inviável, nessa altura, tentar comprar Pernambuco “por três ou
quatro milhões de cruzados”, simplesmente porque os holandeses não admitiam mais
negociar com os portugueses em matéria territorial. Não confiavam na capacidade
portuguesa de honrar a dívida. Não queriam perder as capitanias onde haviam
investido tantos recursos. Não queriam ver manchada sua reputação internacional
com tamanho vexame.21 A crise tinha chegado a tal ponto, segundo Vieira, que a
única saída era aceitar o ultimatum holandês.
Isto posto, Vieira não teve dúvida em recomendar a restituição, ao invés da guerra,
ao dissertar sobre o terceiro ponto de seu Papel Forte. Considerou que a WIC ainda era
muito mais poderosa do que imaginavam os defensores da guerra e, se Portugal
insistisse em desafiá-la, os Estados holandeses se aliariam à companhia de comércio
para derrotar Portugal e conquistar o Brasil inteiro. Facilmente os holandeses fariam
duas Armadas, uma para atacar a costa portuguesa, outra para tomar o Rio de Janeiro
19
Ibidem, p. 346.
Ibidem, p. 349-354.
21 Ibidem, p. 364-366.
20
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
107
e a Bahia.22 Vieira realmente substimava a capacidade de resistência dos lusobrasileiros e superestimava o poderio holandês. Parecia esquecer-se da resistência
baiana em 1625, na célebre Jornada dos Vassalos, ou do fracasso da expedição contra a
mesma Bahia, em 1638, comandada por Maurício de Nassau. A Bahia, por exemplo,
tinha sempre resistido aos ataques holandeses. E os holandeses estavam praticamente
reduzidos a Recife e Olinda em 1649.
Mas Vieira não estava interessado em valorizar as vitórias de uma guerra
condenava. Temia, sim, pela sorte de Portugal, exclusivamente empenhado em
preservar a coroa de d.joão IV. Seu grande receio era perder a guerra contra a Espanha,
sobretudo se o reino fosse obrigado a enfrentar uma guerra marítima contra a Holanda.
Utilizando sua brilhante retórica Vieira afirmou: “O maior reino que tem hoje a
Europa, mais rico e mais poderoso, mais unido e menos exposto a seus inimigos, é o
de França; o menos rico, o menos poderoso e o mais dividido e mais exposto é o
nosso; e é coisa muito para maravilhar que se não atreva França com Castela e
Holanda, e que nos atrevamos nós”.23
No quarto e último ponto, Vieira se dedica a enumerar com detalhes as fragilidades
militares de Portugal, comentando as condições da Armada e o estado de 87 praças e
fortalezas no Brasil, África e Ásia. Descontado o exagero derrotista, Vieira traçou
excelente retrato da precariedade defensiva do império português. Neste particular,
Vieira não se esqueceu das derrotas, como a da Armada do Conde da Torre, entre
outros desastres militares.24
O parecer final que deu ao rei foi, portanto, favorável à entrega de Pernambuco,
Paraíba, Itamaracá e Rio Grande do Norte aos holandeses, e mais o Sergipe, exceto
uma terça parte dele a ser comprada por dinheiro. Além disso, apoiava o pagamento
das dívidas que os moradores tinham contraído junto à WIC, assegurando ser possível
renegociá-las em prazos mais largos ou com pagamentos em açúcar. Vieira também
recomendava ceder na questão angolana, facilitando o tráfico de escravos para
Pernambuco e admitindo que os holandeses erigissem fortaleza em Angola.25 Também
os súditos do Príncipe de Orange presos pelo Santo Ofício deveriam ser libertados, se
os houvesse, como exigiam os Estados Gerais.
No entender de Vieira, Portugal não tinha a menor condição de garantir sua
soberania em face da Espanha e, ao mesmo tempo, enfrentar a Holanda nos mares.
Não tinha homens, não tinha dinheiro, não tinha navios e, se escolhesse este caminho
suicida, não teria juízo também. Mais sensato seria entregar Pernambuco e demais
capitanias nordestinas aos holandeses e concentrar esforços na Bahia e capitanias do
sul, sobretudo Rio de Janeiro. Vieira considerava que muito bem fariam os senhores
22
Ibidem, p. 367-368.
Ibidem, p. 371.
24 Ibidem, p. 379-398.
25 Ibidem, p. 399-400.
23
ISBN 978-85-61586-70-5
108
IV Encontro Internacional de História Colonial
pernambucanos ou paraibanos se migrassem para a Bahia ou para o Rio, levando
consigo suas fazendas e seus escravos. Garantido o tráfico com Angola, dizia Vieira,
esta parte da América continuaria a florescer para o bem de Portugal. Em termos
estritamente politicos, Vieira parecia trabalhar com a noção de um “império possível”
que nada lembra o Quinto Império por ele anunciado na sua obra providencialista.
Estaria Vieira rascunhando, neste arrazoado, a idéia de um império colonial português
centrado no Atlântico Sul?26
O desfecho do imbroglio: nobreza da terra, henriques e camarões
Poucas palavras para concluir, começando por dizer que este tremendo problema
militar e diplomático não foi resolvido na corte portuguesa, entre pareceres e reuniões.
Nem com o Papel forte de Vieira, nem com o papel fraco de Manoel de Moraes.
Resolveu-o, em primeiro lugar, a Inglaterra de Cromwell, que declarou guerra à
Holanda, em 1652, inviabilizando o esforço de guerra holandês no Pernambuco.
Salvador Correia de Sá, em segundo lugar, deu também contribuição enorme, ao
reconquistar Luanda, Benguela e São Tomé, em 1648, retirando dos holandeses o
controle do tráfico africano. E, por fim, os generais da insurreição pernambucana
deram o golpe decisivo. João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros e Martim
Soares Moreno, pela nobreza da terra. Felipe Camarão, à frente dos índios potiguares,
com o pomposo título de “governador geral de todos os índios do Brasil”. Henrique
Dias, general do Terço negro, com seu título barroco de “governador dos negros,
crioulos e mulatos do Brasil”. A Insurreição Pernambucana fez pela restauração mais
do que todos os diplomatas de D. João IV.
26
Quase um século depois, Nas Instruções Inéditas a Marco António de Azevedo Coutinho, d. Luís
da Cunha afirmou que por ser “florentíssimo e bem povoado aquele imenso continente do
Brasil”, deveria o rei de Portugal tomar o título de “imperador do Ocidente” indo ali
estabelecer-se. E, disse mais, que “o lugar mais próprio para sua residência seria a cidade do
Rio de Janeiro que, em pouco tempo viria a ser mais opulenta que a de Lisboa”.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
109
De corpo e alma: o vínculo entre freiras e confessores nos conventos
portugueses do século XVIII
Georgina Silva dos Santos1
Em 1497, graças a uma conversão coletiva, súbita e involuntária, ordenada pelo
rei D. Manoel, os judeus portugueses passaram todos de uma única vez à condição
de cristãos-novos. Desde então, as lideranças religiosas de origem judaica atuaram na
clandestinidade, com relativa tolerância das autoridades portuguesas, até o
estabelecimento da Inquisição, em 1536. Diferentemente do caso espanhol, onde os
nichos judaizantes estavam praticamente erradicados nas primeiras décadas do século
XVI, devido à repressão inquisitorial iniciada em 1480, em Portugal, os núcleos
criptojudaicos mantiveram-se ativos durante o Quinhentos.
A perseguição implacável do Santo Oficio levou muitos cristãos-novos à fogueira
e condenou centenas ao degredo no ultramar, deflagrando uma diáspora. Para
escapar das malhas da Inquisição, muitos descendentes dos judeus espanhóis
exilados em Portugal, em 1492, buscaram abrigo na Espanha quando se deu a União
Ibérica (1580- 1640);2 outros atravessaram a fronteira em direção ao Império
Otomano; alguns partiram para o norte da África; uns se estabeleceram na América;
outros tantos se deslocaram para o norte da Europa, radicando-se em Amsterdã,
onde regressaram ao judaísmo.3
Nos limites do Império português, o culto à lembrança dos ancestrais perpetuouse na recordação das vicissitudes sofridas pela imposição do batismo cristão e pela
manutenção de práticas e crenças de origem judaica, transmitidas pelo grupo familiar.
Restrito aos domínios da oralidade, confinado ao espaço privado e aos limites da
ilegalidade, o judaísmo foi paulatinamente reduzido à celebração de certas datas
comemorativas, à observância de interdições alimentares e de ritos funerários. Neste
circuito, as mulheres desempenhavam papel importantíssimo. Fosse porque no
Antigo Regime o gênero feminino definia-se, essencialmente, pela condição de
esposa e mãe, fosse porque a desarticulação dos pólos de doutrinação do judaísmo
flexibilizou a divisão dos papéis masculino e feminino na transmissão da Lei.
1
Universidade Federal Fluminense.
A eficácia dos tribunais espanhóis em erradicar os nichos judaizantes no século XV havia
abrandado a onda de perseguições e deixado como legado um marranismo residual que
ganhou novo fôlego com o afluxo de criptojudeus portugueses. A chegada destes grupos
desencadeou, entretanto, nova vaga de prisões e condenações que atravessou os séculos XVI
e XVII.
3 KAPLAN, Yosef. Judíos Nuevos em Amsterdam – estudio sobre la historia social e
intelectual del judaismo sefardí em el siglo XVII. Barcelona: editorial Gedisa, 1996.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
110
IV Encontro Internacional de História Colonial
A base doméstica do criptojudaísmo permitiu às mulheres o exercício de uma
liderança religiosa estranha à religião hebraica. Distantes da parentela de origem,
simularam o papel de “rabi” na família que formaram, em educandários ou em
conventos, onde reproduziram o que viram e ouviram na casa paterna. Circulando
entre espaços regulados pelo Estado ou pela Igreja, estas mulheres atuaram como
“intermediários culturais” e foram agentes fundamentais na produção da linguagem
religiosa marrana.
A sobrevivência material, a intenção de superar a indigência social e a necessidade
imperiosa de escapar às garras da Inquisição levaram muitos cristãos-novos a fraudar
genealogias, a casar suas filhas com cristãos-velhos ou encaminhá-las para ordens
religiosas. A trajetória de freiras de origem judaica revela estratégias de integração
social das famílias de cristãos-novos em Portugal durante o século XVII e traços de
uma religiosidade híbrida, tipicamente marrana, que encontrou no ambiente
conventual um espaço privilegiado para sua propagação.
A memória oficial descreveu, no entanto, a população feminina residente nos
conventos portugueses como mulheres de origem fidalga, obedientes à regra
monástica e célebres por sua reputação impoluta. As leis da cancelaria régia, as visitas
episcopais e os fundos documentais dos tribunais da Inquisição lusa, onde a questão
do judaísmo foi preocupação central, superando de longe quaisquer das outras
práticas heréticas perseguidas pelo Santo Ofício, revelam, porém, outra face da vida
conventual destes tempos. As conversações com homens e mulheres estranhos às
comunidades religiosas nas grades do locutório e a existência de casas particulares
nos domínios dos mosteiros, facultavam o descumprimento dos votos de obediência,
pobreza e castidade, facilitando, inclusive, a formação de conventículos compostos
por freiras de origem cristã-nova, divididas entre a religião judaica e a cristã.
Entre 1605 e 1674, pelo menos 76 freiras cristãs-novas, de véu preto, foram
levadas aos cárceres do Santo Ofício. Ou seja, entre o perdão geral de 1605 concedido pelo papa em benefício da comunidade de cristãos-novos e negociado a
peso de ouro ( 1 milhão e 700 mil cruzados), pelo rei Filipe III - e a suspensão do
tribunal do Santo Ofício pelo sumo pontífice, em 1674, no reinado de d. Afonso VI,
a maioria das investidas da Inquisição no ambiente conventual foram motivadas pela
busca e apreensão de religiosas judaizantes. Com a reputação arranhada após a
suspensão das atividades até 1681, o tribunal refreou a perseguição às freiras cristãsnovas, até mesmo porque muitos conventos passaram a adotar a limpeza de sangue
como um dos critérios de admissão das internas.
O marranismo conventual, ao que tudo indica, foi um fenômeno seiscentista,
estimulado pelos perdões gerais e inibido posteriormente pelo triunfo da segregação
racial imposta às cristãs-novas. Mas o interesse da Inquisição sobre o ambiente
monástico feminino manteve-se no século seguinte. Concentra-se, em fins do século
XVII e na primeira metade do século XVIII, na disseminação da doutrina
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
111
molinosista, decorrente muitas vezes da relação que as freiras mantinham com seus
confessores.
Ao contrário do pietismo, corrente religiosa que sublinhava a importância da
autodisciplina, do rigor ascético, da obediência aos preceitos da Igreja tridentina para
atingir a santidade e obter a comunhão com Deus, o molinosismo baseava-se no
quietismo. Tinha, portanto, como princípio a completa submissão à vontade divina,
enxergando o homem como um produto passivo da vontade de Deus, razão pela
qual seria inútil seu esforço pessoal para obter a santificação. Para atingir um estado
completo de paz e de arrebatamento espiritual, o Guia Espiritual do teólogo Miguel
de Molinos ( 1628-1696), publicado, em Roma, em 1675, recomendava a oração
mental, a suspensão da palavra e a contemplação para alcançar a união mística.
Molinos punha em cheque assim “a indolência da tradição”, ou melhor, o ascetismo
severo e a repetição mecânica de fórmulas tradicionais para atingir a comunhão
espiritual com Deus. Embora sua intenção fosse apenas “abstratizar ao máximo a
relação teofânica”,4 dispensando os condicionamentos formais da devoção, ou seja, a
ascese repetitiva e mortificante, sua doutrina foi considerada herética.
A bula pontifícia que condenou o molinosismo, em 1687, acusou seu mentor de
fomentar o desprezo à prática das virtudes e de estimular a ociosidade espiritual por
valorizar em demasia a passividade. Acusou-o também de suspender o freio moral
dos fiéis estimulando-os à irresponsabilidade, à desobediência e ao desregramento
sexual. Submetido à torturas, Molinos capitulou diante dos inquisidores e admitiu as
acusações que lhe eram imputadas. Foi condenado por imoralidade e heterodoxia e
recebeu por sentença recitar, diariamente, as orações do credo e do terço, além de
confessar-se quatro vezes por ano e de se manter em reclusão perpétua. Forçado a
cumprir as práticas que contestara e julgava inúteis, Molinos acabou por falecer nove
anos depois nas masmorras de um monastério romano.
O Guia Espiritual assinado por Molinos foi interpretado de maneira diversa pelos
jesuítas que urdiram sua prisão e que viram no discurso do padre aragonês a
completa desculpabilização da união sexual, inclusive, entre aqueles que envergavam
o hábito de uma ordem monástica. Seus algozes não foram os únicos a interpretarem
deste modo os ensinamentos de Molinos, reduzindo sua doutrina à erotização da
vida religiosa. Em Portugal, o molinosismo conventual foi reduzido ao descumprimento
dos votos de obediência e castidade assumidos por homens e mulheres ao
ingressarem em sua congregação.
Em 1720, pelo menos quatro monjas do Convento de Santa Clara do Porto já
haviam sido seduzidas pelo discurso do sacerdote molinosista Frei João de Deus:
Madre Anna do Rosário, Madre Maria da Piedade, Madre Joana de Jesus e Madre
4 DE LA FLOR, Fernando Rodriguez Apud TAVARES, Pedro Villas Boas. Beatas,
Inquisidores e Teólogos - reação portuguesa a Miguel de Molinos. Porto: Edição do Centro
Inter-Universitário de História da Espiritualidade, 2005, p. 92.
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
112
Luzia das Chagas.5 Em juízo, perante os inquisidores do tribunal do Santo Ofício de
Coimbra, o padre confessou que em certa ocasião tocou o “vaso natural” da Madre
Joana de Jesus, “famosa na virtude, tida e havida e por tal reputada”, à vista de outras
religiosas. Advogou que não procurava escândalo e se o fizera fora para alívio de sua
natureza e como “remédio” e “medicina espiritual”, tal como faziam os cirurgiões,
que nos casos de enfermidade apalpavam e molhavam a mão no “vaso natural” das
mulheres. Para justificar a intimidade, o frei lembrou aos inquisidores que por serem
freiras, as senhoras sentiam-se mais à vontade com seu “padre espiritual” para tocar
em secreto suas partes pudendas do que com um médico propriamente.
As práticas heterodoxas de medicina espiritual empreendidas pelo sacerdote para
curar as clarissas do Porto repetiram-se com outras freiras de outras congregações
religiosas do Minho. Em todas as circunstâncias, frei João de Deus identificou-se
como um “padre”espiritual que ministrava remédios espirituais às senhoras que se
diziam doentes da madre, em geral, com mais de 60 anos. Tendo ele mesmo 73 anos
de idade pode-se supor que o tratamento dispensado às freiras não fossem apenas
molícies de um jogo erótico. É possível que se tratasse de fato de uma leitura
simplificada das idéias de Molinos, cujos ensinamentos “democratizavam”o acesso à
santidade.
Frei João de Deus tinha pretensão de taumatúrgico e dizia ser capaz de operar
milagres. Por isso senhoras sexagenárias deixavam-se tocar por ele. Em um de seus
depoimentos, o sacerdote afirma que Madre Joana das Chagas e Madre Luiza das
Chagas levaram espontaneamente sua mão às suas partes pudendas e que “lhe saíra a
mão toda cheia de peçonha, das mesmas matérias que já têm expelido as pessoas de
espírito”. O frei defendia, portanto, que lhes havia curado de algum mal apenas com
o toque. A mística do Frei João de Deus substituía a ascese rigorosa pelo afago
ligeiro no sexo feminino. A intenção era a de aliviar o corpo de alguma tensão ou
mal estar de modo a apascentar o espírito.
Seria precoce estender esta análise além do exposto, tendo em vista que os
processos ainda não foram lidos integralmente e que há ainda muito a investigar.
Entretanto, cabe aqui registrar um dado que merecerá atenção futuramente. Os
processos que descrevem práticas religiosas típicas do molinosismo são classificadas
pelo Santo Ofício como “molinismo”. Sabe-se, entretanto, que os dois vocábulos
não são sinônimos. O molinismo, doutrina propagada pelo jesuíta espanhol João de
Molina ( 1535-1600), tentava conciliar o livre arbítrio à graça e à onisciência divinas e
nada tinha a ver com a doutrina de Miguel de Molinos. Resta saber se a troca dos
termos foi acidental e deve ser atribuída à ignorância dos inquisidores nesta matéria
ou à desconfiança de que os processos envolvendo as freiras não se encaixavam por
algum motivo na heresia condenada por Roma.
5
ANTT, Inquisição de Coimbra, processo 8893.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
113
Seja como for, o molinosismo se disseminou, em Portugal, entre os dois gêneros,
em diferentes etnias e status social, mas alcançou, em especial, os membros das
ordens religiosas regulares e congregações seculares sob o patrocínio das ordens
terceiras, mesmo depois de sua condenação por Roma, em 1687. Cabe considerar
que os membros do clero feminino e masculino ingressavam no clero, em sua
maioria, a contragosto e a leitura enviesada da doutrina de Molinos facultava o
erotismo da vida religiosa, pois o padre aragonês afirmara que Deus permitia ao
demônio entrar nos corpos de certos homens puros, levando-os a cometer o
pecado carnal, para humilhá-los e conduzi-los à verdadeira transformação. Uma vez
que se tratava de uma “invasão”, “as ações não constituíam pecado, pois não havia
consentimento”.6
Explica-se assim a superposição entre a acusação de molinosismo e pacto
demoníaco, que se encontra no caso da terceira Madre Joana Maria de Jesus, natural
e residente em Viseu, provavelmente em algum recolhimento, de 40 anos, e
processada pelo Santo Ofício em janeiro de 1719. Madre Joana confessou ao seu
diretor espiritual, o padre Amaro de Almeida, que sofria com o assédio do demônio ,
que a “perseguia com luxurias e lhe fazia poluções”. Segundo o confessor, a terceira
pretendia que ele ajudasse nas perseguições, colocando sua mão em suas partes
pudendas para que se apoderasse dela. 7
O desconforto provocado pela observância das horas canônicas, pelos exercícios
de mortificação impostos como penitência espiritual, assim como a observância da
ascese nem sempre foram observados, como demonstram as visitas episcopais aos
conventos femininos.8 A liberdade concedida ao uso e (abuso) do espaço conventual
recorda ao observador que embora o objetivo primevo das casas religiosas fosse a
oração e o trabalho, sua função para a sociedade portuguesa era outra: a de evitar a
partilha dos bens de raiz entre os filhos, garantindo o direito de morgadio ao varão
primogênito.9 A separação involuntária da casa paterna provocava tristeza nas jovens
e às vezes também nos próprios pais. O ingresso de uma moça no convento era
considerado, no século XVIII, uma espécie de morte civil. Ao escrever para o irmão,
em 1728, o 4O Conde de Tarouca expressou-se assim ao lamentar a partida da filha
para um mosteiro: “para o gosto e trato é quase a mesma coisa estar freira ou estar
morta”.10
6 HUNERMMAN, Peter & HOFMMAN, Joseph Apud BELLINI, Ligia. Cultura religiosa e
heresia em Portugal no Antigo Regime: notas para uma interpretação do molinosismo.
Estudos Ibero-Americanos, vol. XXXII, n. 2, p. 193, 2006.
7 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 8280.
8 ANTT, Mosteiro de Sant’Anna de Coimbra – Livro de Visitas do Bispo.
9 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. As famílias e os indivíduos: casa, casamento e nome. In:
História da Vida Privada em Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2010, p. 137
10 Ibidem, p. 141.
ISBN 978-85-61586-70-5
114
IV Encontro Internacional de História Colonial
Embora os mosteiros fossem instituições totais, portanto, reguladas por normas
fixas e habitadas por uma população com horários definidos e funções específicas,11
os critérios utilizados para a admissão das internas eram, muitas vezes, incompatíveis
com a natureza dos serviços conventuais, que exigiam uma postura calcada na
devoção espiritual e na instrução religiosa.
É sabido que muitas freiras e recolhidas redefiniram o espaço de confinamento a
que estavam sujeitas, dando-lhe outro sentido com a conivência das autoridades
religiosas. Cientes da falta de talento de muitas internas para os ofícios divinos,
bispos e prelados das ordens regulares eram tolerantes com o comportamento
heteróclito das freiras, fazendo vista grossa para as visitas masculinas na grade, no
coro e no ralo do convento. O amor freirático, tantas vezes cantado e criticado por
Frei Lucas de Santa Catarina,12 era um produto das regras matrimoniais vigentes na
sociedade lusa e por isso era alimentado gerações a fio pelos membros da nobreza e
segmentos intermédios.
Os conventos portugueses da época moderna abrigaram desregramentos de
variado tipo e infratores de variegado jaez, obrigando a Coroa a arbitrar sobre a
matéria. No rol de leis da chancelaria régia do século XVII (1653) estão previstas
penas graves para quem perturbasse a paz conventual, aliciando as freiras.13 Qualquer
pessoa, de qualquer qualidade ou condição, que fosse achada em algum mosteiro ou
fosse acusada com provas de nele ter estado, durante o dia ou à noite, ou que fosse
surpreendida noutra parte com alguma religiosa em cópula carnal, pagaria com a
própria vida pela ousadia, depois de pagar 500 cruzados ao convento pela ofensa. Os
que levassem recados e cartas para arranjar encontros também pagariam caro pela
alcovitagem. Seriam primeiro açoitados publicamente e, após o castigo, sendo
homens passariam sete anos nas galés e se mulheres cumpririam sete anos de
degredo no Brasil. Aqueles que abrigassem freiras fujonas teriam destino semelhante:
dois anos de degredo nas partes da África, além de pagar duzentos cruzados. A
metade cabia ao acusador e outra seria destinada aos cativos. O trânsito das freiras
era também terminantemente proibido sem a licença do prelado, mesmo que o
objetivo fosse a visita à casa dos pais ou dos irmãos.
O rigor das penas é um indício do quanto eram habituais as transgressões às
normas conventuais no Seiscentos e demonstram o quanto as instituições totais
produzem, por si mesmas, focos de resistência, quando o ingresso do novato é
involuntário. As fugas, os encontros amorosos às escondidas e mesmo o
11
GOFFMAN, Erwin. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Editora Perspectiva,
2003, p. 17-18.
12 RODRIGUES, Graça de Almeida. Literatura e Sociedade na Obra de Frei Lucas de
Santa Catarina ( 1660-1740). Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1983.
13 BNL. Lei sobre o comportamento durante as visitas aos conventos de freiras, [s.l:s.n],
1653. Título factício.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
115
molinosismo revelam a total inadequação das internas à vida nos conventos ou um
ajuste às imposições do claustro. O controle das visitas, mais ou menos espaçadas, a
proibição do contato com o mundo externo, sem a supervisão devida, a
obrigatoriedade da touca branca sob o véu cobrindo a testa, o pescoço e as
queixadas,14 visavam a ruptura da noviça com sua história pregressa, com os papéis
sociais exercidos anteriormente e sua completa adaptação à nova realidade. O uso de
novas vestimentas, a tonsura, a rotina de confissões e a mea culpa procuravam
sublinhar todo o tempo a semelhança entre as integrantes do corpo conventual,
facilitando às dirigentes o controle sobre o grupo.
No limite, pode-se dizer que o cotidiano nos claustros portugueses engendrou,
ideais de santidade e de expressão religiosa nada ortodoxos, ajustados à realidade da
vida conventual feminina. Criminalizados pela Inquisição, esses comportamentos
suscitaram atenção diferenciada do Santo Ofício, ocupando tempos distintos na
cronologia persecutória do tribunal. Os casos de criptojudaísmo ocorreram entre o
perdão geral comprado ao rei Filipe III, em 1605, e a suspensão das atividades do
tribunal, em 1674, seguida da adoção da limpeza de sangue como critério para
ingresso nas casas monásticas femininas. A medida levou à diminuição dos casos de
criptojudaísmo nos conventos e voltou a atenção da Inquisição para a heresia
molinosista. O molinosismo grassou entre os conventos femininos no setecentos,
numa versão simplificada, que desculpabilizava a vida sexual das freiras, pois
ajustava-se ao perfil da esmagadora maioria das internas, cujo ingresso
desconsiderava a vocação das postulantes para o ofício religioso.
14
Constituiçoens Geraes pera todas as freiras e religiosas sojeitas a obediencia da Ordem de
N.P.S. Francisco… fls. 32, 39 e 41.
ISBN 978-85-61586-70-5
116
IV Encontro Internacional de História Colonial
Jesuítas: “os mais perigosos inimigos” da West Indische Compagnie
na América Portuguesa (1624-1654)
Mário Fernandes Correia Branco1
Em fins de maio de 1624, o padre Domingos Coelho, Provincial da Companhia
de Jesus no Brasil, então exercendo seus últimos dias de mandato, voltava à capital
colonial acompanhado de outros religiosos. O Provincial encerrava uma viagem de
inspeção às sedes dos jesuítas situadas nas capitanias ao sul da colônia. A fragata na
qual viajava já se encontrava no litoral da Bahia, quando foi capturada por uma nau
holandesa, pertencente à esquadra enviada pelas Províncias Unidas, cujas tropas
haviam ocupado a cidade de Salvador, poucos dias antes.
Durante todo o tempo em que ficou aprisionado no porão de uma das
embarcações holandesas, fundeadas no porto de Salvador, o Provincial dos jesuítas
foi mantido sob a mais estrita e severa vigilância e submetido a vários interrogatórios.
Durante uma daquelas intermináveis sessões, o padre Domingos Coelho dirigiu-se a
um de seus captores e perguntou-lhe a razão para a prisão dos jesuítas. O holandês
retrucou prontamente, ‘vocês sabem demais, vocês escrevem demais. ’ Esta
comunicação trata exatamente destes padres que sabiam demais e da repressão que
os religiosos da Companhia de Jesus sofreram por parte das tropas das Províncias
Unidas, enviadas ao nordeste brasileiro em 1624 e 1630.2
A história da presença holandesa no Brasil do século XVII tornou-se um tema
bastante frequentado, graças, sobretudo, à vasta e qualificada bibliografia que
suscitou. Do mesmo modo, a disponibilidade de fontes impressas contribuiu para
que novas e instigantes abordagens fossem desenvolvidas, particularmente no que
tange às nuances daquele período que constam dos registros produzidos durante as
lutas que matizaram o Brasil holandês entre 1624 e 1654.
Quanto às fontes jesuíticas, desde os primeiros momentos de sua existência
canônica, as determinações emanadas pela alta direção da Companhia de Jesus, em
Roma, contribuíram decisivamente para o estabelecimento de uma vasta e eficiente
rede de informações, cuja abrangência geográfica alcançava todos os quadrantes de
sua expansão. De fato, a partir de 1556, nas Constituições da Companhia de Jesus, foram
estabelecidas institucionalmente e normatizadas a frequência da circulação das cartas
e a relevância dos assuntos que deveriam ser prioritariamente enviados para a sede
dos inacianos em Roma. Tal iniciativa concedeu às cartas jesuíticas o status de
documentação chave para a compreensão das dinâmicas administrativas e
missionárias dos inacianos.
1
Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Bolsista de Pós-Doutorado
(PAPD – Capes / Faperj). Professor Visitante na Universidade Federal Fluminense.
2 Archivum Romanum Societatis Iesu. Códice Brasilia 8, 352,355.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
117
Por conseguinte, seus missionários tornaram-se os agentes e os observadores
privilegiados da expansão jesuítica, cuja abrangência, nos séculos seguintes, alcançou
escala planetária. Nesse sentido, os jesuítas constituíram-se nos verdadeiros postos
de vanguarda do avanço missionário da Igreja Católica. No entanto, penso que outro
fator merece destaque na correspondência dos Companheiros de Jesus. Refiro-me à
eficiência que os seus integrantes demonstraram para a coleta e o registro sistemático
de informações. Essa característica se desenvolveu ao máximo, graças ao elevado
grau de conhecimento que os inacianos adquiriram acerca das peculiaridades do
cotidiano, da língua e dos costumes das populações nativas, que habitavam
originalmente as terras onde os religiosos passaram a atuar.
Já no século XVII, diante da conjuntura de enfrentamento armado contra os
holandeses no Brasil, não só em 1624, na Bahia, mas principalmente, a partir de
1630, na capitania de Pernambuco e nas demais regiões produtoras de açúcar do
nordeste brasileiro, o sistema de informações dos jesuítas foi levado ao limite. De
fato, durante a guerra de conquista desencadeada pelas tropas e navios das Províncias
Unidas, as cartas dos jesuítas tiveram de cumprir um papel muito mais amplo do que
aquele que se poderia esperar de um simples meio de comunicação institucional
interna. Os missionários da Companhia de Jesus constituíram-se nos elementos
primordiais para a montagem de um eficiente serviço de inteligência, que atuou
infiltrado nas áreas dominadas pelos invasores calvinistas, contribuindo
decisivamente para a expulsão dos holandeses em 1654.
Como se sabe, a maior parte da documentação produzida pelos missionários da
Companhia de Jesus repousa atualmente no Archivum Romanum Societatis Iesu.
Dentre todo este acervo, destaco os códices Brasilia 5 e Brasilia 8, nos quais se pode
consultar boa parte das cartas escritas pelos missionários que viveram o período das
lutas contra os holandeses. No entanto, alguns destes documentos jesuíticos também
podem ser encontrados nos Anais da Biblioteca Nacional. Esse é o caso, por exemplo,
da Relaçam Verdadeira da tomada da Villa de Olinda e lugar do Recife. Ao que tudo indica,
foi provavelmente escrito por um dos jesuítas que então viviam do Colégio de
Olinda.3
Afortunadamente, no entanto, a exemplo do que também ocorreu com as cartas
escritas pelos jesuítas que missionaram no Brasil do século XVI, boa parte da
correspondência jesuítica produzida entre 1600 e 1630, encontra-se publicada graças
ao profícuo trabalho do insigne historiador jesuíta, o padre doutor Serafim Leite
3
Relaçam Verdadeira e breue da tomada da Villa de Olinda e lugar do Recife na costa do
Brazil pellos rebeldes de Olanda, tirada de huma carta que escreveo hum Religioso de muyta
authoridade, & que foy testemunha de vista de quase todo o socedido: & assi o affirma, &
jura; & do mais que depois disso socedeo té os dezoito de Abril deste prezente & fatal anno
de 1630. [original de 1630]. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, vol. 20, p. 125-132, 1898.
ISBN 978-85-61586-70-5
118
IV Encontro Internacional de História Colonial
(1890-1969). Em sua monumental História da Companhia de Jesus, Assistência de Portugal,
1549-1760, podem ser consultadas algumas cartas escritas pelos jesuítas que
testemunharam o ataque desfechado pelos holandeses sobre a cidade de Salvador.
Do mesmo modo, também podem ser consultadas outras cartas que trazem os
relatos, em primeira mão, acerca das lutas pela reconquista da cidade de Salvador em
1625. De fato, a análise destas cartas permite perceber, numa chave de leitura
religiosa, o testemunho vivo dos missionários, pois, apesar de todas as vicissitudes
que enfrentaram, buscaram realçar em seus escritos o favor divino concedido aos
Companheiros de Jesus e seus aliados, nas lutas contra as hostes dos invasores
calvinistas.4
Os religiosos da ordem inaciana participaram de todas as fases da guerra de
resistência movida contra as tropas das Províncias Unidas. Na verdade, é preciso
reconhecer que desde 1624, quando do primeiro ataque à cidade de Salvador pelos
soldados da West Indische Compagnie, os jesuítas apoiaram incondicionalmente as
forças coloniais que se defrontaram com os holandeses. Um inestimável auxílio que
se manteve até que a capital colonial do Brasil fosse reconquistada, em 1625.
Posteriormente, já a partir de 1630, os missionários da Companhia de Jesus atuaram
de maneira semelhante na ‘guerra de Pernambuco’.
Durante aquele longo conflito, é forçoso reconhecer que, apesar de todas as
atividades realizadas pelos inacianos, durante as lutas contra a dominação holandesa,
inúmeros cronistas das guerras de Pernambuco pouco, ou quase nada, relataram
sobre as ações dos religiosos da Companhia de Jesus. As poucas referências que
eventualmente surgem, aqui e ali, nos textos produzidos naquela época, quando
muito, se referem apenas às atividades dos jesuítas ligadas mais diretamente aos
encargos específicos dos religiosos, tais como confissões, missas e procissões. Desde
então, permaneceu o silêncio e a omissão acerca das ações que foram inspiradas,
conduzidas ou realizadas pelos Soldados de Cristo.
Todavia, desarmados os espíritos, creio que não se pode menosprezar a
contribuição ao trabalho dos historiadores, a partir dos relatos escritos pelos
cronistas e pelos religiosos. De fato, foi a partir das informações contidas em suas
obras, muitas delas escritas no calor dos acontecimentos, que se tornou possível aos
historiadores desenvolverem suas análises, permitindo-lhes entender, explicar, e
resgatar, na medida do possível, as nuances daquela realidade distante.
Numa abordagem mais propriamente histórica, também é possível notar que as
cartas escritas pelos padres da Companhia de Jesus, são documentos preciosos sobre
o cotidiano daquela época conflituosa. Graças à riqueza de detalhes divulgados pelos
missionários em suas cartas, é possível ao leitor atento, vislumbrar, para além do
pano de fundo do cenário colonial, o ambiente de incertezas, dificuldades e perigos
4
LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Assistência de Portugal,
1549-1760. Lisboa: Portugália; Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938-1950.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
119
que matizou a atividade dos jesuítas. Do mesmo modo, também podem ser
contextualizadas as ações de todos aqueles homens e mulheres que combateram as
tropas holandesas.
Quanto à West-Indische Compagnie, [Companhia das Índias Ocidentais], desde sua
criação, em junho de 1621,ela sempre se manteve fiel aos seus objetivos de
colonização e comércio mediante conquista. Seu alvo prioritário era a ocupação dos
territórios pertencentes à coroa espanhola nas Américas. Por conseguinte, em 1624, a
WIC atacou e ocupou a cidade de Salvador, sede da administração colonial. No
entanto, a permanência de suas tropas foi efêmera, pois, a capital foi reconquistada
em 1625, no episódio que passou à história com o pomposo título ‘Jornada dos
Vassalos’, cujo comando coube ao fidalgo, D. Fradique de Toledo Osório.
Dentre os inacianos que viveram aquele período conturbado encontrava-se
Antônio Vieira, que embora tenha nascido em Portugal no ano de 1608, veio para o
Brasil ainda criança. A partir de então, Vieira seguiu a mesma trajetória da maior
parte dos filhos dos colonos e dos funcionários da administração régia, tornando-se
aluno externo dos inacianos. Contra o desejo paterno, segundo afirmam alguns de
seus biógrafos, aos quinze anos de idade solicitou seu ingresso formal na Companhia
de Jesus, sendo recebido no Colégio da Bahia pelo padre Fernão Cardim.5
Em 1624, Antônio Vieira iniciava sua vida religiosa como escolástico no Colégio
da Bahia quando a cidade de Salvador foi tomada pelos holandeses. Em virtude da
fragorosa derrota sofrida pelos defensores da capital colonial e perante o inexorável
avanço das tropas da West Indische Compagnie, Vieira, a exemplo dos demais jesuítas
que ali viviam, teve que abandonar a cidade. A retirada foi realizada durante a noite e
sob uma forte comoção popular, agravada pelo incontrolável pânico que se
estabeleceu, inclusive entre os soldados das tropas coloniais que deveriam defender a
cidade contra a investida dos holandeses. Após inúmeras peripécias os religiosos da
Companhia de Jesus finalmente conseguiram refúgio nas aldeias indígenas de São
João e Espírito Santo, localizadas a poucas léguas de distância de Salvador.
A debandada dos jesuítas em direção às aldeias que mantinham no interior da
capitania seguiu um modus operandi previamente estabelecido. De fato, basta lembrar
que desde o início de suas atividades nos trópicos em meados do século XVI, os
missionários da Companhia de Jesus se notabilizaram pela adoção do aldeamento
tutelado dos nativos, que veio a se tornar o locus privilegiado para catequese e
conversão dos brasis ao catolicismo. No entanto, as aldeias e seus habitantes
desempenharam outro papel decisivo para o sucesso do processo de colonização
iniciado nos trópicos. Refiro-me de modo particular à função militar que os índios
flecheiros passaram a desempenhar no sistema defensivo estabelecido pelos agentes
da colonização. Por conseguinte, desde a década de 1550, os nativos das aldeias
5
AZEVEDO, João Lúcio de. História de Antônio Viera. São Paulo: Alameda, 2008, 2 v.
ISBN 978-85-61586-70-5
120
IV Encontro Internacional de História Colonial
jesuíticas participaram de inúmeras expedições punitivas contra as tribos que se
mostraram hostis ao avanço da colonização.
Do mesmo modo, os flecheiros também se mostraram decisivos para a
consolidação da presença lusitana, particularmente nos enfrentamentos às investidas
de corsários e aventureiros europeus. Esse foi o caso, por exemplo, dos temiminó de
Araribóia, cujo auxílio foi imprescindível na guerra movida contra os franceses e seus
aliados tamoio, os quais, em meados do século XVI, sob o comando e inspiração de
Villegaignon, tentaram estabelecer na baía de Guanabara a França Antártica. Já na
Bahia do século XVII, ao se refugiarem nas aldeias do entorno da cidade de Salvador
os jesuítas valeram-se da aliança que haviam estabelecido com as lideranças nativas.
Os aldeamentos jesuíticos mostraram-se suficientemente seguros e deles partiram
inúmeras surtidas de emboscada contra os soldados holandeses que ocupavam a
capital colonial.
No entanto, o padre Domingos Coelho e os seus companheiros de infortúnio
não presenciaram aqueles acontecimentos. De fato, após dois meses de
confinamento nos navios da esquadra holandesa, foram extraditados para a Holanda
em julho de 1624. Ali o grupo de prisioneiros jesuítas foi dividido, parte seguiu para
Dordrecht, outros, dentre eles o provincial, foi recolhido ao cárcere em Amsterdam.
O cativeiro perdurou até 1627, quando os sobreviventes foram libertados mediante o
pagamento de resgate, seguindo então, para Roma e Lisboa. O Provincial retornou
ao Brasil no ano seguinte.
Apesar do tempo que permaneceu prisioneiro em Amsterdam, o padre
Domingos Coelho conseguiu enviar uma carta ao Geral dos jesuítas em Roma, o
padre Múcio Vitelleschi, na qual informava todas as peripécias que enfrentou desde
sua captura. A carta é datada de 24 de outubro de 1624. A narrativa do chefe dos
jesuítas do Brasil segue rigorosamente a ordem cronológica dos acontecimentos a
partir de sua captura. Nesta carta Domingos Coelho teceu amplos comentários sobre
as providências tomadas pelos holandeses no sentido de cooptar o apoio da
população de Salvador, permitindo aos beneditinos, franciscanos e carmelitas que
retornassem à cidade e aos seus mosteiros. Com o mesmo intuito, os comandantes
das tropas de ocupação concederam que os ofícios religiosos dos católicos fossem
realizados, desde que as missas e demais cerimônias fossem celebradas com as portas
das igrejas fechadas. Com indisfarçável orgulho, o Provincial dos jesuítas relatou que
os únicos excluídos das benesses oferecidas aos religiosos pelos invasores, foram os
padres da Companhia de Jesus. Além disso, para regozijo máximo do provincial dos
inacianos, os padres das outras ordens religiosas também não aceitaram as condições
impostas pelos holandeses.
O padre Domingos Coelho descreveu saque que a cidade de Salvador sofreu
pelas mãos dos soldados da West Indische Compagnie, ressaltando a destruição que se
abateu sobre as igrejas, os mosteiros e o próprio Colégio da Companhia de Jesus.
Essas ações foram creditadas pelo jesuíta ao intenso ódio que os calvinistas
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
121
holandeses manifestavam contra a Igreja de Roma. No entanto, embora todos os
templos católicos tenham sido saqueados e todas as suas imagens sacras destruídas,
numa clara manifestação de odio fidei, cabe destacar que, para os padrões daquela
época, o saque das praças conquistadas era o modus operandi adotado pelas tropas
qualquer que fosse a crença religiosa de seus soldados.
De todo modo, as razões para a inegável perseguição movida pelas tropas da West
Indische Compagnie aos religiosos da Companhia de Jesus tinham raízes mais profundas
e foram claramente expostas nesta carta. O Provincial do Brasil relatou as conversas
que teve com inúmeros holandeses durante o tempo em que permaneceu
aprisionado no litoral baiano. Domingos Coelho destacou especificamente um de
seus interlocutores, que se apresentou como mercador em Amsterdam. Esse homem
acusou os religiosos da Companhia de Jesus de se envolverem em assuntos da alçada
dos governantes, pois, segundo suas palavras, os jesuítas ‘escreviam muitos livros que
incentivavam e convenciam os príncipes cristãos a perseguirem e fazerem guerra
contra os calvinistas’.
Em resposta a tais acusações, o superior dos inacianos negou que assim fosse,
alegando que as Constituições da Companhia de Jesus proibiam seus integrantes de
participar dessas atividades. É óbvio que o mercador de Amsterdam não se deixou
levar pelos argumentos do Provincial. Afinal, historicamente as imputações que este
fizera aos jesuítas tinham sua razão de ser. De fato, desde o século anterior, os
religiosos da Companhia de Jesus destacaram-se pela defesa da ortodoxia católica,
frente aos postulados reformistas de Lutero e Calvino. O mesmo se pode dizer
quanto à inegável influência que seus confessores exerceram sobre as consciências
dos membros das casas reais da Europa.
Por outro lado, ainda que o Provincial tenha escrito que esses assuntos foram
abordados em ‘conversas que teve com o comerciante de Amsterdam’, cujo nome
não declinou nessa carta, essas ‘conversas’ eram, na verdade, interrogatórios. Muito
embora tenham sido conduzidos em latim, o que pode indicar que o tal holandês
possuísse alguma instrução de nível superior. Deve-se destacar que o jesuíta não
referiu que tenha sofrido, por parte de seu misterioso interlocutor, qualquer forma de
violência física. Certamente o padre Domingos Coelho não teria deixado esse tipo de
informação fora de sua narrativa, afinal, ele sabia dos riscos que corria naquela
ocasião. Durante aquele interrogatório estabelecera-se um impasse. Por um lado, o
holandês que não acreditava nas alegações do padre acerca das proibições
institucionais que vedavam aos jesuítas a intromissão em assuntos de natureza
política. Por outro lado, em sua defesa, o chefe dos jesuítas do Brasil, jamais poderia
admitir a veracidade de tais acusações, pois as consequências seriam funestas.
Entretanto, destaco outra informação preciosa do Provincial, que ajuda a
compreender as origens europeias da perseguição dos holandeses aos jesuítas no
Brasil. Refiro-me à descrição de um painel que as tropas invasoras colocaram em
posição de destaque no interior Colégio da Companhia de Jesus, mais exatamente na
ISBN 978-85-61586-70-5
122
IV Encontro Internacional de História Colonial
Capela dos Noviços. Segundo a descrição de Domingos Coelho, no quadro estava
pintado o Duque de Alba, ‘com um diabo sobre o sombreiro, mandando justiçar
muitos flamengos, e um jesuíta com uns foles na mão, assoprando com eles nas
orelhas do mesmo Duque’.6
O quadro significava, portanto, que todas aquelas injustiças o Duque fizera
persuadido pelos jesuítas. Sem dúvida alguma, uma imagem vale mais que mil
palavras… . Como se sabe, o Duque de Alba, em fins do século XVI, foi enviado
por Filipe II como o ‘pacificador dos Países Baixos’. Posteriormente, já no século
XVII, os pormenores de suas ações na Guerra de Independência dos Países Baixos,
bem como a participação de jesuítas espanhóis naquela conturbada e violenta
campanha, foram descritas pelo jesuíta italiano, Famiano Strada (1572-1649),
professor de Retórica no Colégio Romano da Companhia de Jesus, em seu livro De
Bello Belgico.7
Durante a ocupação da capitania de Pernambuco, que se estendeu de 1630 a
1654, os invasores reconheceram o perigo que os missionários da Companhia de
Jesus, e as notícias que faziam circular através de suas cartas, representavam para a
sobrevivência do Brasil holandês. Posteriormente, em agosto de 1635, os Herren
XIX, dirigentes máximos da West Indische Compagnie, numa carta enviada aos
integrantes do Conselho Político da WIC no Brasil, determinaram claramente que a
presença dos jesuítas não seria tolerada nas áreas ocupadas pelas tropas das
Províncias Unidas. ‘O perigo dos eclesiásticos’ sempre assombrou o sono dos
dirigentes holandeses. Por conseguinte, os missionários da Companhia de Jesus eram
acusados, com razão devo dizer, de serem os mais perigosos inimigos do Brasil
holandês.
Na verdade, porém, boa parte dessas acusações devia-se à atuação daqueles
religiosos nos ataques contra as tropas holandesas. De fato, os jesuítas sempre
estiveram na vanguarda, fosse animando os soldados da resistência através da
assistência religiosa que prestaram aos combatentes; ou em grupos combatentes,
constituídos de índios flecheiros que viviam nos aldeamentos jesuíticos. Os
flecheiros se tornaram indispensáveis nas surtidas que realizaram contra os soldados
da West Indische Compagnie, graças ao destemor com que combatiam. Nessas ações
alguns jesuítas se destacaram como comandantes dos flecheiros, como foi o caso,
por exemplo, do padre Manuel de Moraes e de seus flecheiros da aldeia de São
6
Archivum Romanum Societatis Iesu. Códice Brasilia 8, 352,355.
Famiano Strada. Famiani Stradae… De bello Belgico de cas prima ab excessu Caroli V Imp.
usque ad initia perfecturae Alexandri Farnesii... Editio novissima, emendatior et accuratior. Juxta exemplar Romae: impressum apud Hermannum Scheus, 1648.
7
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
123
Miguel do Muçuí, e do padre Lopo do Couto, que terá atuação destacada no
Maranhão na década de 1640.8
Por conseguinte, as informações que veiculavam através de suas cartas, bem
como as ações dos missionários jesuítas, serviram como justificativas para as severas
determinações dos Herren XIX, quanto ao tratamento que lhes seria dispensado pelos
soldados holandeses. As ordens dos dirigentes da WIC foram diretas e objetivas,
determinando que todos os jesuítas, sem exceção, ‘deveriam ser mantidos à distância
das nossas terras e proibida a comunicação com os moradores’.9
Os jesuítas da Província do Brasil pagaram um alto preço por seu envolvimento
nas lutas contra as tropas da West Indische Compagnie. As dificuldades e os riscos que
enfrentaram foram registrados em sua correspondência, o que tornou as cartas
daquele período fontes preciosas. De fato, através delas, podemos acompanhar o
cotidiano das lutas contra os holandeses. Dentre todas as cartas escritas durante
aquela época conflituosa, uma delas possui especial importância, permitindo avaliar a
extensão dos danos, em ‘sangue vidas e fazenda’, causados aos jesuítas pelos
invasores holandeses. Refiro-me, particularmente, à carta anua de 1631, na qual
foram relatadas as ações dos religiosos da Companhia de Jesus, que se encontravam
no Colégio de Olinda, quando do ataque da WIC em 1630, e daqueles que
missionavam nas aldeias estabelecidas pelos jesuítas na capitania de Pernambuco.
Esta carta indica com exatidão quantos e quais eram os padres e irmãos coadjutores
que se defrontaram com as tropas holandesas. Permite, portanto, avaliar a extensão
das ações de guerrilha realizadas pela resistência pernambucana, da qual os jesuítas
participaram desde os primeiros momentos da luta.
A tabela número 1, elaborada a partir das informações contidas nesta carta e
demais fontes jesuíticas, traz informações relevantes acerca do número de
missionários da Companhia de Jesus que atuaram na capitania de Pernambuco entre
1630 e 1635, quando foram expulsos pelas tropas holandesas. Não deixa de causar
espanto o fato de que durante todo aquele período conturbado, apenas 35 religiosos
da Companhia de Jesus se defrontaram com milhares de soldados das tropas de
ocupação das Províncias Unidas.
8
VAINFAS, Ronaldo. Traição: um jesuíta a serviço do Brasil holandês processado pela
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
9 Carta do Conselho dos XIX ao Conselho Político. [Amsterdam, 1 de agosto de 1635].
MELLO, José Antônio Gonsalves de. Tempo dos Flamengos: influência da ocupação
holandesa na vida e na cultura do norte do Brasil. Recife: Secretaria de Educação e Cultura Departamento de Cultura, 2 ª edição, 1979, p. 244. (Coleção Pernambucana volume XV).
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
124
Tabela n. 1
Companhia de Jesus em Pernambuco 1630 - 1635
Estabelecimento
Padres Irmãos Total
Colégio de Olinda
13
10
23
Aldeia de São Miguel do Muçuí
Aldeia de Assunção
2
-
2
1
1
2
Aldeia de Santo André
2
2
4
Aldeia de Nossa Senhora da Escada
2
-
2
Aldeia de São Miguel de Uma
2
-
2
22
13
35
Total
Fonte: Archivum Romanum Societatis Iesu.. Códices Brasília 5, ff.135,137; Lusitania 74, f.270.
Em fins de 1635, tornou-se evidente a supremacia das tropas holandesas que
conseguiram expulsar da capitania as forças de defesa comandadas por Matias de
Albuquerque. Por conseguinte, encerrou-se a primeira fase da guerra de resistência.
Nos últimos meses daquele fatídico ano não restava nenhum vestígio dos religiosos
jesuítas nos arredores de Pernambuco. Os missionários sobreviventes seguiram dois
caminhos distintos, a retirada ou a captura. A maior parte deles preferiu acompanhar
as tropas que haviam se retirado para a Bahia, conforme as determinações do
Provincial Domingos Coelho, que naquela ocasião exercia o seu segundo mandato.
Por outro lado, àquela altura dos acontecimentos, um pequeno grupo havia resolvido
permanecer na capitania totalmente ocupada pelas tropas da WIC. No entanto,
acabaram presos e desterrados para as Províncias Unidas. Depois de mais de cinco
anos de luta, ‘Pernambuco estava acabado’, conforme assegurou um dos religiosos
aprisionados pelas tropas holandesas naquela ocasião, o padre Francisco Ferreira, na
carta que enviou do cárcere, em Antuérpia, nas Províncias Unidas.10
A tabela número 2, produzida a partir das informações coligidas na
correspondência jesuítica, apesar da frieza dos números, permite visualizar a
devastação causada pelas tropas holandesas sobre o efetivo de missionários da
Companhia de Jesus na capitania de Pernambuco e nas adjacentes.
10
Carta do padre Francisco Ferreira ao Padre Geral Múcio Vitelleschi, Antuérpia, 26 de
setembro de 1636. Archivum Romanum Societatis Iesu. Códice Lusitania 74, p. 270.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
125
Tabela n. 2
Missionários da Companhia de Jesus em Pernambuco – 1635
Quantidade
%
Retirados para Salvador
11
31,43%
Cativos e Desterrados
7
20,00%
Cativos e Desterrados Mortos no Exílio
Mortos em decorrência dos achaques
sofridos nos cárceres
Mortos por causas naturais entre 1630-1635
9
25,71%
4
11,43
3
8,57%
Mortos em Ação
1
35
2,86%
100%
Situação
Total
Fonte: Archivum Romanum Societatis Iesu. Códices Brasília 8, ff.517,530
Como se pode perceber, dos 35 jesuítas que participaram da guerra de
Pernambuco, entre 1630 e 1635, apenas 11 deles, ou seja, 31,43% retornaram à
Bahia. Durante o mesmo período, outros 20 religiosos da Companhia de Jesus foram
capturados e desterrados para as Províncias Unidas. Desse total de prisioneiros, 13
missionários, representando mais da metade dos jesuítas que caíram nas mãos dos
soldados da West Indische Compagnie, morreram no exílio. Quanto aos demais 4 jesuítas
que morreram em Pernambuco durante a campanha contra os invasores holandeses,
as fontes jesuíticas indicam que três deles acabaram seus dias vitimados pelas
vicissitudes impostas pelo cotidiano dos combates.
Apenas um jesuíta foi relacionado na situação de ‘morto em combate’. Trata-se
do padre Antônio Bellavia (1593-1633). Nascido na Sicília foi admitido na
Companhia de Jesus, em Palermo, no ano de 1610. Concluídos os estudos regulares
partiu de Lisboa para o Brasil em 1622. Mestre em Humanidades e perito na língua
geral era missionário na aldeia de São Miguel de Muçuí, quando do ataque da WIC à
Pernambuco. Posteriormente, durante a guerra de resistência, o padre Bellavia
tornou-se o capelão das tropas que guarneciam o Arraial do Bom Jesus. No dia 5 de
agosto de 1633, durante uma incursão contra as tropas holandesas, realizada pelos
guerrilheiros comandados por Luiz Barbalho, o padre Antônio Bellavia, conforme
consta na certidão assinada pelo general Matias Albuquerque, ‘acabou morto
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
126
gloriosamente, às cutiladas, ao confessar um soldado ferido e lhe não morrer entre o
inimigo herege sem confissão’.11
Os registros inacianos permitem identificar os missionários que pagaram com
suas vidas o pesado tributo cobrado pelos soldados das Províncias Unidas,
notadamente durante a primeira fase da guerra de Pernambuco. Refiro-me à relação
intitulada, Religiosos Mortos no Desterro da Holanda que traz o nome de treze jesuítas
capturados em Pernambuco no ano de 1635, conforme se pode ver na tabela número
3.
Tabela n. 3
Religiosos Mortos no Desterro da Holanda
n°°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nome
Local
Padre Gaspar de Samperes
Cartagena de Índias
Padre Manuel Tenreiro
No mar
Irmão Francisco Martines
No mar
Irmão Afonso Rodrigues
Amsterdam
Irmão Pedro Álvares
Pichilinga
Irmão Afonso Luiz
Flandres
Padre Francisco Ferreira
Cantábria
Padre José da Costa
No mar
Padre Leonardo Mercúrio
No mar
Irmão Manuel Pereira
No mar
Padre Antônio Antunes
Rio de Janeiro
Padre Simão [Pero] Castilho
Santo Antão
Padre Manuel [Gonçalves]
Rio de Janeiro
Ano
1636
1636
1636
1636
?
?
1637
1637
1637
1637
1638
1642
1648
Fonte: Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele . Fondo gessuitico. 3492/1363, n° 6.
Cabe destacar que do mesmo modo que aconteceu com outros documentos
produzidos pelos religiosos da Companhia de Jesus, esta relação dos Religiosos Mortos
no Desterro da Holanda, não se encontrava sob a guarda do Archivum Romanum Societatis
Iesu. De fato, embora se trate de uma fonte preciosa para o entendimento da
11
Testemunho de Matias de Albuquerque, 20 novembro de 1635’. LEITE, Serafim. História
da Companhia de Jesus no Brasil… volume V, p. 352. A carta jesuítica que narra em
detalhes as ações, e a morte em combate do padre Antônio Bellavia, pode ser consultada na
íntegra In: BRANCO, Mário Fernandes Correia. ‘Para a Maior Glória de Deus e Serviço
do Reino’: as cartas jesuíticas no contexto da resistência ao domínio holandês no Brasil do
século XVII. Niterói: Tese de Doutorado em História - Universidade Federal Fluminense,
2010, 294p. Anexo A - ‘Carta do padre Manuel Fernandes, Visitador de Pernambuco, ao
Geral Múcio Vitelleschi, Prepósito Geral da Companhia de Jesus em Roma. 5 de outubro de
1633.’ p. 269, 272.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
127
participação dos missionários jesuítas nas lutas contra os invasores holandeses no
Brasil do século XVII, o códice, no qual foi inserida esta relação nominal, repousava,
desde data incerta, em Roma, no acervo da Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele. Sua
localização somente foi possível em fins da década de 1930, graças aos incansáveis
esforços do insigne historiador jesuíta, o padre doutor Serafim Leite.12
Todavia, apesar da relevância das informações que contém, até o presente
momento, não foi possível saber quem teria sido o autor deste documento. De todo
modo, é possível supor que foi produzido em finais da década de 1640, pois o último
ano registrado é 1648. Mas ainda não foi possível determinar, com exatidão, o local
em que foi escrita, quem a escreveu e qual província jesuítica encaminhou esta
listagem a Roma.
Apesar de todos esses obstáculos, foi possível cotejar as informações contidas
neste documento com outras fontes jesuíticas do período da dominação holandesa
no Brasil. Desse modo, podem ser destacadas destacar algumas particularidades. A
primeira delas se refere ao título abrangente: ‘Religiosos Mortos no Desterro da
Holanda’, todavia, quatro dos jesuítas, cujos nomes estão listados, faleceram quando
já se encontravam fora das Províncias Unidas. Esse foi o caso, por exemplo, do
padre Francisco Ferreira, líder dos jesuítas que haviam decidido permanecer em
Pernambuco, mesmo depois da retirada das tropas de Matias de Albuquerque para a
Bahia. Na verdade, segundo o que consta nos catálogos da Companhia de Jesus,
vitimado pelas sequelas decorrentes dos males contraídos nos cárceres holandeses, o
padre Francisco Ferreira morreu em 1637, no Colégio da Companhia de Jesus em
Santander, na Cantábria, quando se encontrava a caminho de Portugal.13
Quanto ao outro jesuíta, o padre Simão Castilho, relacionado na mesma categoria,
ou seja, ‘morto no desterro da Holanda’ foi possível determinar com exatidão que ele
conseguiu chegar ao Colégio de Santo Antão em Lisboa, onde faleceu, no dia 1 de
novembro de 1642. No entanto, cabe destacar que seu nome correto é Pero Castilho.
Este religioso escreveu um opúsculo intitulado: Partes do Corpo Humano Pella Língua do
Brasil [original de 1613].14
O próximo caso é o do padre Antônio Antunes, que segundo o que consta no
catálogo da província do Brasil de 1631, teria nascido na capitania do Espírito Santo
por volta de 1573. O missionário vivia na aldeia de Santo André, em Pernambuco no
ano de 1630. Sabe-se que o padre Antunes foi capturado pelos soldados da West
Indische Compagnie em 1635. Antunes foi um dos primeiros jesuítas banidos pelas
12
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele. Fondo gessuitico. 3492/1363, n° 6. A Companhia
de Jesus no Brasil e a Restauração de Portugal. In: LEITE, Serafim. Anais da Academia
Portuguesa da História. Lisboa, volume VII, p. 125-161, 1942. [1a série].
13 Archivum Romanum Societatis Iesu. Códice Brasília 8, f.518.
14 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil…, volume V, p. 384;
volume VIII p. 157,158.
ISBN 978-85-61586-70-5
128
IV Encontro Internacional de História Colonial
tropas holandesas que conseguiu retornar ao Brasil, onde desembarcou em fins de
1637. Todavia, restava-lhe pouco tempo de vida. De fato, o padre Antônio Antunes
morreu no Colégio do Rio de Janeiro no dia 20 de janeiro de 1638.15
Já o caso do padre Manuel Gomes, ilustra as vicissitudes e as duras condições
enfrentadas pelos jesuítas que caíram nas mãos dos holandeses. Nascido em Évora,
por volta de 1570 e admitido na Companhia de Jesus no ano de 1586, Manuel veio
para o Brasil em 1595. Já se tornara padre Professo de 4 votos em 1609, quando
participou da Armada de Alexandre de Moura e da conquista do Maranhão, em 1615.
Posteriormente, se transferiu para a Aldeia de Nossa Senhora da Escada, em
Pernambuco, e ali vivia quando os holandeses atacaram a capitania em 1630. O padre
Gomes passou a viver no Arraial do Bom Jesus, onde participou da luta até ser
capturado em 1635. Logo a seguir foi desterrado para as Índias de Castela.
Apesar dos relevantes serviços que prestou a Companhia de Jesus, é incerta a data
em que o padre Manuel Gomes retornou ao Brasil. O seu nome somente reaparece
na documentação jesuítica no Catálogo do Colégio do Rio de Janeiro de 1646, no
qual consta que o jesuíta residia naquele estabelecimento. O padre Manuel enfrentava
os achaques típicos de sua idade, pois, beirava os 75 anos de idade. No entanto, outra
informação existente na mesma fonte é mais reveladora ao indicar, que devido aos
‘tratos’ que o religioso recebera durante o tempo em que foi prisioneiro dos
holandeses, o padre Manuel Gomes ficara louco. De todo modo, segundo se pode
verificar nesta ‘Relação dos Jesuítas Mortos… .’, seus sofrimentos chegaram ao fim
em outubro de 1648.16
Como se pode perceber, os religiosos da ordem inaciana participaram de todas as
fases da guerra de resistência movida contra as tropas das Províncias Unidas. Nesse
sentido, penso que durante o longo período das lutas contra os holandeses, as cartas
dos jesuítas cumpriram um papel muito mais amplo do que simples missivas
institucionais. Tornaram-se, na verdade, elementos primordiais de um serviço de
coleta e difusão de informações estratégicas e militares que, muitas vezes, atuou
infiltrado nas áreas dominadas pelos calvinistas. De fato, ‘o perigo dos eclesiásticos’
sempre assombrou o sono dos dirigentes holandeses, no Brasil e na Europa. Os
missionários da Companhia de Jesus foram acusados pelos holandeses, com toda a
razão devo dizer, de serem ‘os mais perigosos inimigos’ do Brasil holandês.
Por fim, ainda que se possa escrever a história das guerras contra os holandeses
sem fazer qualquer menção à participação dos inacianos, penso que a narrativa estará
irremediavelmente comprometida e incompleta. Por conseguinte, a omissão da
15
Ibidem, volume V, p. 387.
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele. Fondo gessuitico. 3492/1363, n° 6. A Companhia
de Jesus no Brasil e a Restauração de Portugal. In: LEITE, Serafim. Anais da Academia
Portuguesa da História… LEITE. História da Companhia de Jesus no Brasil…,
volume V, p. 388; volume VIII p. 270, 271.
16
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
129
participação jesuítica naqueles confrontos dificulta e empobrece o entendimento e a
análise dos pormenores acerca dos acontecimentos cruciais daquela conjuntura.
Afinal, se por um lado, é necessário reconhecer que os cronistas daqueles episódios
enfrentaram inúmeras limitações de acesso às informações sobre os acontecimentos,
por outro lado, não menos importante, também é correto afirmar que alguns
daqueles homens tiveram motivações pessoais para exaltar os feitos de uns e calar as
realizações de outros.
ISBN 978-85-61586-70-5
130
IV Encontro Internacional de História Colonial
O corpo eloquente da palavra divina: pressupostos e métodos para o
estudo dos aspectos não verbais da pregação (séculos XVI-XVIII)
Guilherme Amaral Luz1
Na “época moderna” (séculos XVI-XVIII), a pregação tornar-se-ia um dos
principais temas com os quais a Igreja Católica pós-tridentina iria se preocupar.
Desde o Concílio de Trento, a Igreja Católica confiou aos bispos atenta vigilância das
pregações. Em Portugal e, em especial, na América Portuguesa, tal necessidade de
vigilância ver-se-ia reforçada e detalhada em diversas Constituições Episcopais, como
as de Porto (1585) e Coimbra (1591), ainda no século XVI; de Lisboa (1640) e
Algarve (1674), no século XVII; e a da Bahia (1707), já no século XVIII.2 No âmbito
da retórica, neste mesmo período, centenas de “manuais” e preceptivas tratariam
com destaque a respeito da “eloquência do púlpito” e não poucas seriam as
tendências da parenética, dependendo, sobretudo, dos ensinamentos das diversas
ordens religiosas.3 Se somarmos a isso tudo as referências à pregação nas
hagiografias, nas cartas entre missionários das diversas ordens, nas vidas de sacerdotes
do reino ou do ultramar e nos diversos textos de polêmica do período, o resultado
seria uma documentação gigantesca, ainda a ser completada por um sem numero de
sermões que circulavam editados ou em manuscritos por toda a Europa.
O objetivo desta apresentação é desenvolver uma hipótese inicial de pesquisa
futura sobre os aspectos não verbais da pregação no Novo Mundo (especialmente no
que diz respeito à atuação da Companhia de Jesus), partindo, inicialmente, de um
estudo (a se iniciar) da iconografia na arte europeia e católica a respeito da eloquência
sagrada entre os séculos XVI e XVIII. A iconografia da pregação é um universo
vasto e variado destinado, entre outras coisas, à educação do olhar, dos gestos e dos
modos para o que deveria ser uma pregação cheia de “eloquência e sabedoria
divinas” e uma audição edificante. Serão considerados os pressupostos a guiar um
estudo da arte e da natureza do pregar católico na “época moderna”, focalizando a
necessidade, a viabilidade e a pertinência da consideração dos seus aspectos gestuais,
cênicos, fisionômicos, quironômicos, imagéticos e “performativos” ao menos no
âmbito das práticas mais ortodoxas, afinadas com as determinações da Igreja. O que
1
Instituto de História – Universidade Federal de Uberlândia.
PAIVA, J. P. Episcopado e pregação no Portugal Moderno: formas de actuação e vigilância.
Revista Via Spiritus, n. 16, 09-44, 2009.
3 KENNEDY, G. A. Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from
Ancient to Modern Times. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1999, p.
265-266. Sobre o caso específico das preceptivas de pregação que circulavam na América
portuguesa e informavam o clero da região, sugere-se: MASSIMI, M. A Pregação no Brasil
Colonial. Varia Historia, n. 21, v. 34, 417-436, 2005.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
131
se irá apresentar, portanto, é ainda uma pesquisa em estágio inicial com todas as
imperfeições e indefinições de um projeto. A sequência deste texto é a reelaboração
de partes de um projeto de pesquisa de pós-doutorado que executaremos ao longo
do ano que vem no Departamento de História da Arte da Universidade de Warwick
(Reino Unido), em parceria com o professor Lorenzo Pericolo.
Nas últimas décadas, os estudos sobre a “Retórica Renascentista” (normalmente
localizada entre os séculos XIV e XVII, compreendendo a Europa cristã como um
todo) tem sido alvo de interesse renovado. Nesse sentido, destacam-se os atualizados
trabalhos de Lawrence Green sobre o percurso das recepções da Retórica aristotélica
na Renascença4 e os de caráter mais geral, como o mais recente livro de Peter Mack5
e estudos de autores tais como Tom Conley,6 Brian Vickers,7 Francis Goyet8 e
diversos outros. Em meio a esta renovação dos estudos da Retórica na Renascença,
Heinrich Plett, em seu Rhetoric and Renaissance Culture, demonstra que as artes de
Retórica se entrelaçaram com artes relativas a diversas mídias de comunicação não
somente de caráter visual, mas também acústico e “performático”, tais como no caso
das artes do teatro e da quirologia.9 Especialmente no campo da pregação, neste
mesmo período, alguns trabalhos vêm explorando as conexões entre imagens e
palavras em contextos espaciais dos mais diversos. Bons exemplos são os trabalhos
de Lina Bolzoni10 sobre as impressões de sermões de Bernardino de Siena e de
Mujica Pinilla a respeito da pregação no “Barroco peruano”.11
Dentre as conclusões que os estudos sobre as imagens nos sermões nos permitem
tirar, está a de que elas colaborariam com o objetivo de tornar a teologia simbólica e
sensivelmente visível e recodificada para os auditórios da época. Esta estratégia pode
4 GREEN, L. D. John Rainolds's Oxford Lectures on Aristotle “Rhetoric”. Newark:
University of Delaware Press, 1986; GREEN, L. D. The Reception of Aristotle’s “Rhetoric”
in the Renaissance. In: FORTENBAUGH, W. W. & MIRHADY, D. C. (ed.). Peripatetic
Rhetoric after Aristotle. Oxford and New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 1994, p.
320-48; GREEN, L. Aristotle’s “Rhetoric” and Renaissance Views of the Emotions. In:
MACK, P. (ed.). Renaissance Rhetoric. London: Macmillan, 1994, p. 1-26.
5 MACK, P. A History of Renaissance Rhetoric. Oxford: Oxford University Press, 2011.
6 CONLEY, T. M. Rhetoric in the European Tradition. Chicago: University of Chicago
Press, 1990.
7 VICKERS, B. In defence of Rhetoric. Oxford: Clarendon Press, 1988.
8 GOYET, F. Le sublime du “lieu commun”: l’invention rhetorique dans la Antiquité et la
Renaissance. Paris: Honoré Champion, 1996.
9 PLETT, H. Rhetoric and Renaissance Culture. Berlin and Washington: Library of
Congress, 2004, p. 295-411.
10 BOLZONI, L. The web of images: vernacular preaching from its origin to St. Bernardino
da Siena. Aldershot: Ashgate, 2004.
11 MUJICA PINILLA, R. El arte y los sermones. In: El Barroco Peruano. Lima: Banco de
Crédito del Perú, 2002, p. 219-323.
ISBN 978-85-61586-70-5
132
IV Encontro Internacional de História Colonial
ser compreendida em sua longa duração como voltada à produzir vivacidade ou
evidência, sugerindo esquemas mentais para práticas de imaginação e de memória,
bem como para a mobilização de afetos e humores adequados aos conceitos
pregados. Um artigo recente de Antonio Alberte aponta que teólogos cristãos da
Antiguidade e do Medievo, como Tertuliano, Agostinho, Ambrósio e Gregório
Magno, interpretaram que recursos plásticos possuíam valor didático, tal como
percebiam a partir da leitura da “Retórica pagã”, e adaptaram tais recursos ao campo
da pregação cristã. O autor argumenta que o uso do visual na pregação fundamentase na concepção de que o visível é uma imagem do invisível e, portanto, tem a
propriedade de instruir e educar. Tal instrução, baseada nesta perspectiva de tornar o
mistério invisível das coisas de Deus percebido pelos sentidos, nunca deixou,
também, de atender às outras funções da eloquência: deleitar – por meio do prazer
da contemplação das imagens – e mover as emoções – por meio daquilo que elas
suscitam na alma.12
As relações entre pregação e artes visuais foram particularmente férteis na
Renascença, em especial no âmbito da pintura, e tem atraído interesse de analistas da
arte do período. É o caso de Michael Baxandall, por exemplo, que, tratando das
representações dos gestos na pintura do Renascimento Italiano, refere-se aos
pregadores coevos como “hábeis especialistas do visual”, uma vez que dominavam o
conhecimento de um conjunto de gestos decodificados capazes de serem
compreendidos em toda a Europa. Baxandall defende que os pintores do quattrocento
e do cinquecento aprenderam com os pregadores a expressar estados emocionais
fisicamente nos corpos e faces representados nas suas obras.13 Os pregadores
daquele tempo preocupavam-se com a relação harmônica a se obter entre gestos e o
estilo da pregação, conforme o decoro, adaptando-se às prescrições a respeito da actio
ou da hypocrisis nas artes retóricas da Antiguidade. Mas, além disso, eles também
estavam atentos quanto às reações emocionais de seus ouvintes, que poderiam se
expressar fisionomicamente. Podemos citar, como exemplo, uma passagem de
Claude d'Abbeville referida por Marina Massimi, na qual o frade Capuchinho, em
missão no Maranhão, reconhece, nos índios, tamanha atenção e afirma que suas
emoções alcançavam de tal modo o âmago de suas almas que elas chegavam a
“brilhar em suas fisionomias”.14
Mas se as artes de pregar, sobretudo no que diz respeito à sua actio, tiveram
implicações sobre o domínio das artes, é possível perguntar e hipotetizar a respeito
do caminho inverso, qual seja: em que sentido as próprias artes visuais permitiram a
12
ALBERTE, A. Relevancia de los recursos plásticos en las artes medievales de predicación.
Rhetorica, vol. XXIX, n. 2, 119-150, spring 2011.
13 BAXANDALL, M. O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da
Renascença. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1991, p. 68.
14 MASSIMI, M. A Pregação no Brasil Colonial…, p. 420.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
133
circulação de um saber sobre a comunicação gestual e facial útil aos pregadores e
modelar para os seus auditórios, educando seus gestos e expressões aos estados
emocionais e aos comportamentos esperados, conforme as demandas de cada
circunstância de pregação/audição. Pode-se conjecturar que tais imagens artísticas
desempenharam papéis em um fenômeno mais amplo de “economia dos gestos” ou
“reforma dos gestos”, que tomou lugar no mundo cristão da primeira modernidade.
Peter Burke foi um dos historiadores a dar importância a este fenômeno, estudandoo em autores tais como Gianmatteo Giberti, Carlo Borromeu, Francesco Barbaro,
Paolo Cortese, Baldassare Castiglione, Giovanni Della Casa, Giovanni Battista Della
Porta, Stefano Guazzo, Hieronymus Turler, Joseph Addison, Antoine Courtin,
Francesco Borromini, Carlos García e muitos outros. Burke identifica em tais autores
não somente um esforço de compreender um “vocabulário psicológico” dos gestos,
mas um esforço, ainda mais importante, de estabelecer ou descobrir uma “gramática
dos gestos”, significando com isso as regras e convenções para a expressão
apropriada.15 No âmbito particular da retórica, a expressão máxima desta “reforma
dos gestos” é aquilo que George Kennedy chama de Movimento Elocucionário nos
séculos XVII e XVIII (abrangendo obras de autores como John Buwler, Thomas
Sheridan, Michel Le Faucher, Louis de Cressoles e outros), que, segundo as palavras
do autor, buscava “atingir alto nível de proferimento (delivery) na pregação e no
teatro”.16
As articulações entre as artes de pregar e as artes visuais também constituem uma
temática bastante adequada à discussão a respeito daquilo que, na historiografia da
arte, vem sendo nomeado como o “Barroco”. Costuma-se reconhecer em Heinrich
Wölfflin o primeiro historiador da arte a conceituar o “Barroco” como uma
concepção de estilo. Em sua obra Renascimento e Barroco,17 o termo indicava um estilo
de pintar oposto ao formalismo “Renascentista” (ou também “Maneirista”),
focalizando mais na expressividade das cores do que no desenho bem delineado.
Wölfflin reconheceu, nos trabalhos de (Peter Paul) Rubens, o paradigma do “estilo
barroco”, enquanto, para a “Renascença”, Rafael (Sanzio) foi considerado o maior
modelo no âmbito da pintura. Esta divisão da arte na primeira modernidade entre
“Renascimento” e “Barroco” como paradigmas opostos é baseada na noção de
“estilo de época”, por sua vez, dependente da concepção de matriz hegeliana –
compartilhada também por outros historiadores contemporâneos a Wölfflin, como
15
BURKE, P. A linguagem do gesto no início da Itália moderna. In: Variedades de
História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 93-112.
16 KENNEDY, G. A. Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from
Ancient to Modern Times…, p. 278.
17 WÖLFFLIN, H. Renaissance and Barroque. Ithaca: Cornell University Press, 1966
[1888].
ISBN 978-85-61586-70-5
134
IV Encontro Internacional de História Colonial
Jacob Burckhardt18 – de “espírito de época”. Nesta direção, era o “Barroco italiano”,
muito mais do que, por exemplo, o “holandês”, aquele que se considerava a
verdadeira “expressão do espírito de sua época”. Ele era, assim, tratado como
epifenômeno da psique social em um momento particular da História, quando
mudava a relação estabelecida entre o “indivíduo” e o “mundo”, um tempo em que
se abria um novo universo para as emoções relativas à aspiração pela redenção das
almas, diante do incomensurável, do infinito, do transcendente.19
Se admitimos a existência de algo como o “espírito do Barroco” ou o “espírito da
Renascença” (ou do “Classicismo”), temos que presumir uma descontinuidade entre
os séculos XVI e XVII não somente em termos de estilo, mas também (e em nível
mais profundo) em termos de psicologia coletiva. Para autores como Benedetto
Croce,20 tal mudança “psico-estilística” (a expressão é nossa) da “Renascença” ao
“Barroco” foi considerada como decadência de uma atitude crítica para outra
conformista diante das realidades naturais e civis e significou uma regressão à
cosmovisão religiosa. Por outro lado, a partir da década de 1970, vários autores,
como, por exemplo, José Antônio Maravall21 e Giulio Carlo Argan,22 vêm criticando
a abordagem tradicional da cultura do Barroco em termos de estilo ou de psicologia.
Ambos admitem que as artes visuais do século XVII devem ser interpretadas como
politicamente articuladas com as práticas civis de persuasão (voltada às “massas”) nas
esferas dos Estados modernos e das mais variadas Igrejas. Isto que poderíamos
nomear uma “virada retórica” no entendimento das artes visuais de fins do século
XVI e do século XVII enfraqueceu as abordagens estéticas e psicológicas a respeito
delas. A partir de então, compreender as conexões entre a cultura visual e a sua
teorização como artes de persuasão derivadas da tradição retórica – tanto de matriz
ciceroniana quanto aristotélica – tem se tornado crescentemente importante.
Neste ponto, a História da Arte tem se articulado à História da Retórica. Se
houve qualquer impacto da Retórica na teorização e nos princípios das artes visuais
do século XVI em diante, alguém poderia se perguntar quais vertentes da sua
tradição estavam em circulação de modo a possibilitar esta operação. Assim, pode-se
hipotetizar que as diferenças entre as artes “Renascentista” e “Barroca” (e também
entre as suas diversas variantes) poderiam ser entendidas nem tanto como de
natureza estilística ou psicológica, mas como reações diferentes a um campo variado
18
BURCKARDT, J. A Cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009 [1860].
19 WÖLFFLIN, H. Conceitos fundamentais de História da Arte. São Paulo: Martins
Fontes, 1989 [1915], p. 12-3.
20 CROCE, B. Storia dell’età Barocca. Bari: Laterza, 1929.
21 MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco: análise de uma estrutura histórica. São Paulo:
EDUSP, 1997 [1975].
22 ARGAN, G. C. Imagem e persuasão. Ensaios sobre o barroco. São Paulo: Companhia
das Letras, 2004 [1986].
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
135
de concepções retóricas disponíveis naqueles tempos. Até certo ponto – sem
simplesmente reduzir as artes visuais à arte retórica – é justo considerar que houve
uma profunda comunicação entre os campos das artes do verbal e do visual na
primeira modernidade, ambas sendo compreendidas como artes de persuasão, ambas
percebidas como meios pelos quais se poderia educar/instruir, agradar/deleitar e
despertar/mobilizar emoções nos seus auditórios.
Considerando a articulação entre Retórica e artes visuais na primeira
modernidade, a arte de pregar desempenhou um considerável papel em, pelo menos,
dois sentidos. Primeiramente, porque ela própria pode ser entendida como uma arte
de persuasão que envolve tanto meios verbais como visuais. Em segundo lugar – e
provavelmente mais relevante – a pregação era uma das práticas que estavam no
centro das preocupações que levaram as pessoas letradas daquela época a investigar a
tradição retórica da Antiguidade. Como argumenta Christian Mouchel, a Igreja póstridentina dedicou um espaço privilegiado para a pregação como instrumento para os
padres darem uma expressão própria ao saber teológico e ao ardor religioso,
destinada à “edificação” de seus auditórios. Reconsiderar o estilo nos quadros
ciceronianos ou da “Segunda Sofística” foi uma maneira de alcançar tal propriedade
de expressão. Outra – às vezes complementar ou radicalmente distinta – foi reforçar
a simplicidade de estilo da “eloquência divina” tal como era lida a partir das
autoridades de São Paulo e de Santo Agostinho. Enfim, de maneira mais geral, a
regra aristotélica da justa medida, no caso, entre a simplicidade e a “veemência
digna” lançou as bases para a conciliação entre a eloquência católica e a profana.23
Nesta direção, Anne Régent-Susini argumenta que “mesmo um [Jacques] Bossuet
celebrará São Paulo como um mestre paradoxal: 'um pregador sem eloquência e sem
aprovação' que se recusa a 'misturar a sabedoria humana com a sabedoria do Filho de
Deus'“. O célebre pregador francês, ao falar da eloquência de Jesus Cristo, “corrige”
São Paulo: “nos admiramos, em Nosso Salvador, a baixeza misturada com a
grandeza”.24
Como se pode perceber, a Retórica da Antiguidade (latina ou helênica) foi
apropriada pela Igreja como um meio através do qual a “eloquência divina” poderia
ser adaptada para uma forma/estilo atrativa aos homens. A fonte de autoridade e de
sabedoria e eloquência verdadeiras ainda continuava sendo compreendida como
efeitos do Espírito Santo sobre o pregador, mas mediada pela eloquência humana.
Tal mediação entre eloquência humana e divina é algo subestimado na História da
Arte na primeira modernidade, especialmente na perspectiva católica. Em outros
23
MOUCHEL, C. Les Rhétoriques Post-tridentines (1570-1600): la fabrique d'une société
chrétienne. In: FUMAROLI, M. (ed.). Histoire de la Rhétorique dans l’Europe moderne
(1450-1950). Paris: Presses Universitaires de France, 1999, p. 431-433.
24 RÉGENT-SUSINI, A. L'Eloquence de la chaire. Les sermons de Saint Augustin à nos
jours. Paris: Seuil, 2009, p. 64.
ISBN 978-85-61586-70-5
136
IV Encontro Internacional de História Colonial
termos, nossa proposta é investigar como as artes visuais lidaram com certos
aspectos da eloquência que não eram possíveis de verbalizar nos termos exclusivos
de uma Retórica humana e “pagã”, mas somente nos termos da relação entre
eloquência humana e divina. Em tal contexto, ser persuasivo é tanto uma questão de
lidar com os preceitos da arte Retórica quanto com os aspectos mais “espirituais” ou
“pneumáticos” da eloquência nas suas possíveis expressões visuais.
Na direção em que propomos, a iconografia da pregação deve ser pensada no
interior de uma teologia do visível ou de uma cultura teológica do visual. Estudando tal
questão em teólogos como Gabriele Paleotti e Roberto Bellarmino, Jens Baumgarten
mostra que a Igreja da Contrarreforma postulava que sem os sacramentos a arte
religiosa não seria possível, bem como os sacramentos não seriam concebíveis sem a
arte. Em outros termos, as artes visuais eram entendidas como meios sacramentais
pelos quais o conhecimento a respeito dos sacramentos poderiam ser acessados
sensível e sensorialmente. Portanto, os artistas se submeteriam a desempenhar um
papel análogo a de um pregador tácito e a agir como um exemplo pessoal de devoção.25
Baumgarten conclui o seu artigo com uma afirmação capaz de resumir isto a que
estamos chamando de cultura teológica do visual. Para ele, a nova percepção católica dos
séculos XVI e XVII relaciona os efeitos emocionais das imagens com os seus
aspectos racionais, quais sejam, aqueles referentes à sua análise e controle.26 Quando
falamos de uma Europa Católica da primeira modernidade, pensamos em um
espaço-tempo particular no qual esta cultura era efetiva e produtiva nas suas
dimensões políticas e religiosas. Numa cultura como esta, em que o pregador é ele
mesmo um modelo para o artista, a pregação não poderia ser ignorada como tema
central para a História da Arte e esta como perfeita contraparte da História da
Retórica.
Resumindo os nossos objetivos, o principal é explorar as interconexões entre a
arte retórica de pregar, os seus componentes visuais e a sua representação nas artes
da Europa da Contrarreforma (sécs. XVI-XVIII), considerando a concepção artística
da “eloquência divina”, particularmente, no interior de uma cultura teológica do visual.
Isso envolve compreender uma gramática de gestos relativos à pregação tal como
artisticamente representada na Europa católica da primeira modernidade e investigar
a simbologia da “eloquência divina” e da “Retórica pagã” como aspectos da pregação
e as suas funções nas artes da Contrarreforma. Com isso, espera-se estabelecer as
bases teóricas para uma próxima investigação dos aspectos não verbais da pregação e
as suas representações visuais pela ordem dos Jesuítas no Novo Mundo.
Um dos caminhos importantes para a nossa pesquisa será o foco sobre os tópicos
convencionais relativos à iconografia da pregação. Especialmente, deveremos prestar
25 BAUMGARTEN, J. A teologia pós-tridentina da visibilitas e o Laocoonte. In: MARQUES, L
(ed.). A Fábrica do Antigo. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008, p. 206.
26 Ibidem, p. 212.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
137
grande atenção nas relações entre a representação visual e as suas fontes escritas,
sobretudo, aquelas de origem bíblica e/ou hagiográfica. Ao mesmo tempo,
deveremos interpretar os arranjos particulares dessas convenções, atentando para
aquilo que Baxandall nomeia “hábitos visuais” de uma cultura em particular.27 No
caso, tais hábitos estão fortemente relacionados ao que já expusemos como cultura
teológica do visual, presente na espiritualidade e na “estética” da Contrarreforma. Assim
procedendo, será possível especular a respeito dos sentidos culturais mais amplos da
pregação, o seu lugar em relação a outras práticas correlatas e as analogias que
assumiu com outros campos da experiência social e religiosa.
Apesar da importância central de tomarmos a análise de cada imagem como um
todo para a nossa metodologia, ela não é suficiente para os nossos objetivos.
Consideramos cada imagem como arranjo particular de motivos e convenções
iconográficas, o que nos leva a ter em conta os três níveis de significado que Erwin
Panofsky identificou para os estudos de “Iconologia”.28 Isto quer dizer que os
simbolismos de cada representação não podem ser interpretados sem referência à sua
iconografia e à sua combinação particular de motivos. Por outro lado, também indica
que os papéis de iconografia e dos motivos estão imbricados na função mais
profunda de um artefato artístico-religioso: a produção de um significado na sua
relação com a fé. Neste sentido, por exemplo, um conjunto de movimentos ou
expressões faciais convencionalmente representado numa cena iconográfica, quando
se tem em conta os seus potenciais observadores, pode produzir certos efeitos,
capazes de agir sobre suas paixões, seus sentidos, seu intelecto e sua vontade. As
referências comuns compartilhadas por artistas e públicos conformam aquilo que
define os efeitos próprios que cada gesto sugerido na cena pode produzir. Estas
referências precisarão ser descobertas e compreendidas no caso específico das
imagens da pregação, o que só se conseguirá por meio da consideração efetiva de um
número significativo de imagens e da comparação entre elas.
A iconografia da pregação forma um enorme universo repleto de uma variedade
estonteante de temas e subtemas. Contudo, em pesquisa prévia por imagens em
alguns bancos de dados on-line (Art and the Bible, Artstor, Biblical Art on the
WWW, British Museum, Europeana, Matriz Net and WGA), percebemos uma
ligação forte entre o tema da pregação e a iconografia de alguns santos principais. É
o caso de São João Batista e de sua pregação no deserto (também representado
muitas vezes como bosques e florestas). Outro caso é o de São Paulo, especialmente
a sua pregação aos atenienses no Areópago, cujo principal exemplo é o cartão de
Rafael (Cf.: fig. 01), concebido em 1515 ou 1516 para servir de modelo a uma
tapeçaria que hoje encontra-se abrigada na Pinacoteca do Vaticano, e que recebeu
27
BAXANDALL, M. O olhar renascente…
PANOFSKY, E. Estudos de iconologia. Temas humanísticos na arte do Renascimento.
Lisboa: Estampa, 1995.
28
ISBN 978-85-61586-70-5
138
IV Encontro Internacional de História Colonial
diversas versões em desenho e gravuras ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. A
importância bíblica de ambos para a pregação é enorme. O primeiro aparece nos
evangelhos como o último dos profetas e o primeiro a pregar a Boa Nova de Cristo,
preparando o caminho de seu Mestre. Junto à atividade da pregação, dedicava-se ao
batismo para a remissão dos pecados, o que o lança também para o início do livro do
Atos dos Apóstolos, no qual o batismo de João vê-se realizado em sua plenitude pelo
“batismo no Espírito Santo”, pelo Pentecostes, que torna os apóstolos divinamente
eloquentes com as suas “línguas de fogo”. Também no Atos dos Apóstolos, São Paulo e
sua pregação são fortemente enfatizados. Já nas suas Epístolas, elabora-se uma das
mais autorizadas concepções de “eloquência e sabedoria divinas” no interior da
Igreja. Acreditamos, assim, que o foco na iconografia destes dois santos pregadores,
sem simplesmente negligenciar outros, poderá fornecer paradigmas gerais para a
consideração da “eloquência divina” no conjunto do corpus de imagens com o qual
iremos lidar.
No caso das missões jesuíticas no Novo Mundo, o modelo apostólico paulino é,
particularmente central, conforme elucida, entre outros, John O'Malley:
O chamado mais urgente [dentre as prioridades da missão
jesuítica] era para agir entre aqueles que não eram cristãos ou
entre aqueles que podiam abandonar o catolicismo por causa da
heresia. Desse modo, assim como o evangelizador Paulo e
os primeiros discípulos de Jesus foram modelos operativos
mais poderosos na auto-imagem do jesuíta do que o modelo do
soldado cristão, sua vocação, como as Constituições colocavam,
era “viajar através do mundo e viver em qualquer parte dele,
onde houvesse esperança de maior serviço a Deus e de ajuda às
almas”. [Jerônimo] Nadal disse-o mais sucintamente: “Paulo
significa para nós o nosso ministério”.29
São João Batista também é significativo como modelo para a pregação jesuítica.
Deve-se considerar, neste caso, a relação que se constitui entre o “batismo de João”
e o batismo pelo Espírito Santo no livro Atos dos Apóstolos. Se o apostolado presente
nas primeiras comunidades cristãs e, especialmente, em São Paulo é um modelo para
a Companhia de Jesus, não é de se espantar que, no âmbito da eloquência, perceba-se
a centralidade dos dons recebidos pelo batismo como meios de comunicar a Boa
Nova a todos os povos.
Dois exemplos podem bem ilustrar o que defendemos aqui. Um deles é a tela de
1690, pintada pelo pintor genovês Baciccio (Giovanni Battista Gaulli) para os
Jesuítas de Roma, a partir de um desenho anterior de (Gian Lorenzo) Bernini, com
29
O’MALLEY, J. Os primeiros jesuítas. São Leopoldo: Editora da Unisinos; Bauru:
EDUSC, 2004, p. 118.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
139
quem trabalhava (Cf.: fig 02). Nesta imagem, São João Batista é representado como
homem de idade viril, de compleição física bem proporcionada e robusta, pregando
ao povo em uma paisagem selvagem e de relevo acidentado. Entre os personagens
que compõem o auditório, além de mulheres lactantes, crianças, homens de posses e
militares (todos muito comuns e com sentidos particulares na iconografia da
pregação deste santo), observam-se mais ao plano central quatro figuras masculinas
provavelmente a representarem os apóstolos André, João (Evangelista), Pedro e
Tiago, oriundos da Galileia, e que se tornaram seguidores de Jesus após o seu
batismo por São João Batista no Rio Jordão. Chegando à cena, ao lado esquerdo,
observa-se Jesus radiante em dourado sobre um cavalo branco bem iluminado. João
Batista, empunhando uma cruz com as inscrições convencionais “ecce agnus Dei”
(“eis o cordeiro de Deus”), aponta seu indicador direito para o céu, num gesto, em si,
repleto de significados. Um deles e o que mais importa ao nosso argumento aqui é
aquele que deriva das Escrituras, em especial, Lc 20, 1-8. Nesta passagem, Jesus é
confrontado por sumos sacerdotes, escribas e anciãos do Templo que lhe perguntam
com que autoridade pregava. Jesus lhes responde com uma outra pergunta, a que os
fariseus preferiram dizer não conhecer a resposta: de onde vinha o batismo de João,
do céu ou dos homens? Ao ouvir o “não sabemos” como resposta, Jesus, então,
também se nega a responder de onde vinha a sua autoridade, deixando subentendido
que tanto o batismo quanto a autoridade de pregar vinham do céu, o que pode ser
facilmente lido a partir da chave do Pentecostes. Ao apontar para o céu, uma das
mensagens de São João Batista no quadro é a de que sua pregação e,
consequentemente, sua eloquência têm origem divina no poder que vem do Espírito
Santo.
São João Batista, como ícone da “eloquência divina”, modelar para os Jesuítas, é
algo que se confirma no outro exemplo que gostaríamos de mencionar. Nos
referimos ao frontispício do manuscrito seiscentista de Mário Alberico da obra De
contexenda orationis libri duo, do Pe. Famiano Strada, S.J., que se encontra no Arquivum
Romanum Societatis Iesu (ARSI), em Roma.30 Strada, conforme autores como Marc
Fumaroli e Aldo Scaglione, representa uma vertente tipicamente jesuítica de
preceitos para a pregação que, ao dar ênfase no apelo às paixões, afasta-se
relativamente de uma postura agostiniana (e jansenista) de pura inspiração divina do
pregador e se aproxima da proposição de um aprendizado correto de aparatos
30
MS. ARSI OPP. NN. 13. Agradeço à professora Hanne Roer por me fornecer informações
sobre este frontispício, quando apresentou a comunicação “Jesuit Rhetoric and the Eloquentia
Divina”, na XVIII Biennal Conference da International Society for the History of
Rhetoric (ISHR), Bolonha, 18 a 22 de julho de 2011. Não reproduzimos a imagem do
frontispício neste texto em função de direitos de imagem.
ISBN 978-85-61586-70-5
140
IV Encontro Internacional de História Colonial
retóricos e lugares comuns advindos do “paganismo”, especialmente da tradição
ciceroniana.31
Neste frontispício, observa-se uma composição similar àquela presente como
abertura a outra obra coeva sobre retórica escrita por um padre jesuíta, Eloquentiae
sacrae et humanae parallela libri XVI, de Nicolau Cassino.32 Importa-nos, em ambos os
casos, as representações da eloquência humana (associada às artes retóricas do
mundo pagão) e da eloquência divina. Em Cassino, a eloquência humana,
representada por uma velha, porta um rolo de papel à mão direita e, com a esquerda,
apresenta um homem viril à sua frente, que simboliza a eloquência divina. Abaixo
dos pés da “velha retórica”, representam-se sereias com livros às mãos, como se os
oferecessem. Abaixo dos pés da viril “eloquência divina”, representa-se uma cena de
raios que caem sobre a terra, onde localizam-se uma casa e uma torre. Acima disso
tudo, representa-se uma personificação da eloquência, que, entronada, segura um
símbolo de Mercúrio com a mão esquerda e uma árvore de frutos com a direita. À
esquerda da eloquência surge outra representação feminina da retórica antiga que,
acompanhada de um pavão, traz uma coroa. À sua direita, surge mais uma
representação masculina da eloquência divina, que, com os olhos vendados, traz uma
oferenda. A alegoria presente no manuscrito de Strada é mais simples. Ao lado
direito, representa-se a eloquência humana como figura feminina acompanhada por
um casal de pequenos pássaros, com uma flor (aparentemente um lírio) na mão
direita e apontando ao chão com a mão esquerda. Do seu lado oposto, representa-se
a eloquência divina e é nela que pretendemos chegar. Segurando uma concha com a
mão esquerda, um longo cajado com a mão direita e acompanhado por um cordeiro
aos seus pés, esta personificação masculina da eloquência divina nada mais é do que
um ícone de São João Batista.
Na simbologia do “Grande Estilo” jesuítico de pregação, portanto, a viril, cega,
frutífera e natural eloquência divina concilia-se com a velha, sedutora, vaidosa e pagã
arte da Retórica. São João Batista parece ajustar-se muito bem como simbologia da
primeira, representando a força que advém dos céus para os frutos da conversão, a
mesma força que tomou São Paulo e os demais seguidores de Cristo batizados no
Espírito Santo para levarem a Boa Nova a toda criatura. Cabe, assim, perceber os
atributos visuais que revelam a presença de tal força nas configurações artísticas dos
pregadores, realizadas nos séculos XVI, XVII e XVIII, de modo a compreender em
31
SCAGLIONE, A. D. The liberal arts and the Jesuit College System. Filadélfia: John
Benjamins Publishing Company, 1986, p. 108.
32 CAUSSIN, N. Eloquentiae sacrae et humanae parallela libri XVI. Paris:
Flexiae/Sebastiani Chappelet, 1619. Disponível em:
http://www.europeana.eu/portal/record/03486/F77E943719312F74D704D1309246A8
87D302A0A1.html. Não reproduzimos cópia do frontispício em virtude de direitos de
imagem.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
141
que sentido eles se apresentam como preceitos da actio retórica católica, em
particular, e jesuítica, de modo específico.
Ilustrações
Figura 1 – Rafael, São Paulo Pregando em Atenas, 1515-6. Cartão (desenho em carvão
colorido sobre papel, guarnecido sobre tela). Victoria & Albert Museum, Londres,
Inglaterra. Disponível em: http://www.vam.ac.uk/users/node/7928
Fig. 2 – Baciccio, Pregação de São João Batista, 1690. Óleo sobre tela 181 X 172 cm.
Musée
du
Louvre,
Paris,
França.
Disponível
em:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Baciccio__The_Preaching_of_St_John_the_Baptist_-_WGA01117.jpg
ISBN 978-85-61586-70-5
142
IV Encontro Internacional de História Colonial
Os Mártires Jesuítas na Ocupação Espiritual do Território,
Séculos XVI a XVIII: América e outras partes
Renato Cymbalista1
Introdução
Sofreram a morte estes bem-aventurados Irmãos pela santa
obediência, pela pregação do Evangelho, pela paz, e pelo amor e
caridade dos seus próximos, a quem foram prestar auxílio […].
Agora sim acreditamos que o Senhor há-de estabelecer aqui a
Igreja, tendo já lançado nos alicerces duas pedras banhadas em
sangue tão glorioso […] serão inundados da maior suavidade ao
verem a Igreja de Deus começar a edificar-se, nestas partes de
infiéis, sobre o fundamento dos Apóstolos e sobre duas pedras
banhadas no sangue de dois Irmãos que viviam na mesma
profissão de vida que eles.2
O trecho acima integra a carta de Anchieta a Inácio de Loyola escrita em março
de 1555, em que relata os primeiros martírios de jesuítas ocorridos no Brasil. Em 24
de agosto de 1554, Pedro Correia despediu-se de seus colegas de Piratininga com
lágrimas de alegria “que parece adivinhava-lhe o coração a boa ventura que por
aquelas matas lhe tinha guardado o céu”. Acompanhado do Irmão João de Souza,
chegando a uma aldeia Tupi em Cananéia, logrou libertar alguns prisioneiros, já
prestes a serem sacrificados, entre eles um castelhano. De lá, rumou à terra dos
Carijós, onde foi bem recebido e obteve a promessa de paz e até mesmo conversão à
fé cristã. Mas entrou em cena o Demônio, “invejoso de tão grandes princípios”: sob
a liderança do espanhol que o Padre havia libertado dos Tupis, os Carijós
amotinaram-se contra os padres, terminando por matá-los, flechados “qual outro
mártir, São Sebastião”.3 Na carta, Anchieta explicita um dos mecanismos associados
à conquista espiritual do mundo para a Igreja Católica pelos missionários da
Companhia: o sangue dos mártires, derramado sobre o solo, era elemento de
conversão das terras pagãs para a cristandade.
O instrumento do “batismo de sangue” é quase tão antigo quanto a Cristandade
Já no século I o martírio assumiu para os cristãos conotações que foram exploradas
1
Renato Cymbalista é arquiteto e urbanista, doutora pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP e professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do
Projeto da FAU-USP.
2 “Carta do Ir. José de Anchieta ao Pe. Inácio de Loyola. São Vicente, fim de março de 1555”.
In: LEITE, Serafim. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil. Vol. II, p. 202-204.
3 VASCONCELLOS, Simão. Vida do venerável Padre José de Anchieta. Vol. I, p. 42-45.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
143
nos séculos seguintes (e em parte até os duas atuais): o mártir garantindo
recompensas no após morte e reconhecimento coletivo em escala e qualidade
desconhecida de outras culturas.4 A narrativa do “Martírio de Policarpo”,
contemporânea ao martírio ocorrido em Esmirna em meados do século II, atribuía
ao mártir o poder de encerrar as perseguições aos cristãos,5 e associava características
maravilhosas ao seu corpo durante e apos o martírio.6 No final do século II, em
plenas perseguições, Tertuliano consolida em sua apologia a imagem do mecanismo
que estabelecia uma relação de causa e efeito entre o martírio e o triunfo da
cristandade, aplicável genericamente e, também sobre territorialidades específicas: “o
sangue dos mártires é a semente da cristandade”, ou seja, as perseguições nada mais
gerariam do que novos cristãos, fundados sobre os sacrifícios dos seus mártires.7
No século IV, quando o cristianismo passa a ser tolerado, dando fim às
perseguições, as fontes primárias e narrativas de martírios quase cessam, iniciando-se
um novo período no culto aos mártires. Conforme a fé cristã tornava-se dominante,
as narrativas foram cada vez mais monumentalizadas, os locais de repouso dos
mártires eram utilizados como lugares de culto e recebiam edifícios suntuosos.
Multiplicavam-se os relatos de milagres ocorridos por força dos mártires e nos
lugares de seu descanso. Amadurecia o culto às relíquias dos mártires e iniciavam-se
os processos de traslado de corpos de mártires e sua fragmentação. A documentação
sobre os martírios instala-se no território da hagiografia, os lugares de martírios e de
sepultamento de mártires adquirem centralidade nas cidades, os gestores dos lugares
4
BOWERSOCK, G. W. Martyrdom and Rome. Cambridge: University Press, 1995, p. 123.
5 “Escrevemos a vós, irmãos, um relato do que passou com aqueles que sofreram o martírio,
especialmente o abençoado Policarpo, que suspendeu a perseguição, como que lacrando-a
com
seu
martírio.”
Martírio
de
Policarpo,
1:1.
Disponível
em
http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/fathers/ante-nic/polycarp/polmart.htm.
Acesso em 10 de maio de 2012.
6 “Quando ele finalizou sua prece, os guardas acenderam o fogo. E uma poderosa chama
brilhou. Nós, que assistimos, vimos a maravilha, e fomos preservados para podermos relatar
a todos o que ocorreu. O fogo assumiu a forma de uma abóbada, como a vela de um navio
inflada pelo vento, formando uma parede ao redor do mártir. E ele estava no centro, não
como carne queimada, mas como […] ouro e prata sendo purificados em uma fornalha.
Sentimos uma fragrância tão perfumada, como um cheiro tão perfumado, como um incenso
ou outra especiaria preciosa. Finalmente, os homens sem lei, vendo que seu corpo não
poderia ser consumido pelo fogo, mandaram um carrasco esfaqueá-lo com um punhal.
Quando isso foi feito, o corpo soltou uma quantidade tão grande de sangue, que apagou o
fogo.” Martírio de Policarpo, 15:1 a 16:2.
7 “Nec quicquam tamen proficit exquisitior quaeque crudelitas vestra; illecebra est magis
sectae. Plures efficimur, quotiens metimur a vobis: semen est sanguis Christianorum”.
TERTULIANO.
Apologeticum,
cap.
50:13.
Disponível
em:
http://www.tertullian.org/latin/apologeticum_becker.htm. Acesso em 15 de maio de 2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
144
IV Encontro Internacional de História Colonial
e das relíquias assumem posições de poder. Se na época de Constantino os cristãos
celebravam cerca de 30 martírios em seu calendário, em breve todos os dias do ano
estavam ocupados por celebrações de martírios. A igreja pós-constantiniana
esforçava-se em legitimar-se como a herdeira da cristandade das perseguições.8
O mecanismo do “batismo de sangue” perpassou os séculos da era cristã e
revelou-se de uma incrível utilidade e resiliência, adaptando-se e sendo acionado de
uma forma ou de outra em todos os contextos geográficos, politicos, econômicos e
teológicos. É ele – sem dúvida instrumentalizado em um contexto específico, mas
intocado em sua essência espiritual – que identificamos na carta de Anchieta a
Loyola.
A seguir mostro como o instrumento da consagração do território foi
intensivamente acionado pelos padres da Companhia de Jesus nos séculos XVI a
XVIII em sua missionação em todo o mundo, não mais evocando os antigos
mártires das primeiras perseguições, mas aplicado às dezenas de jesuítas sacrificados
em todos os continentes no período. Trata-se de uma externalidade específica da
cultura martirológica do início da Idade Moderna, que já foi abordada por diversos
autores, mas aque ainda merece ser mais explorada no contexto da missionação
jesuítica.9
Certamente, dentre todos os atores envolvidos no processo de globalização do
Ocidente e da Cristandade, os jesuítas foram os mais propensos a arriscar e perder a
vida em prol de sua fé, em múltiplas interfaces missionárias com povos de todos os
continents. A diversidade e variedade de contextos e de relações interétnicas entre os
jesuítas e seus algozes de diversas nações – incluindo cristãos protestantes – dificulta
sobremaneira a explicação dos significados e correlações de forces envolvando cada
episódio e martírio, presunção desde já abortada. O que pretendo ressaltar é a
recorrente utilização do instrumento do “batismo de sangue” em um aspecto muitas
vezes mencionado – mas poucas vezes estudado em profundidade – da ação da
Companhia de Jesus: seu caráter global.10
Mostro também como tal processo de caráter globalizante explicitou-se também
na América Portuguesa que – ainda que não tenha sediado grande número de
martírios – revela também um componente martirológico na forma como os padres
da Companhia relacionaram-se com a ocupação do território.
8 MARKUS, Robert. The end of ancient christianity. Cambridge: University Press, 1990, p.
99.
9 BURSCHEL, Peter. Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des Martyriums in der
frühen Neuzeit. München: Oldenbourg Verlag, 2004. GREGORY, Brad S. Salvation at
stake: Christian martyrdom in early modern Europe. Cambridge, Mass: Harvard University
Press, 1999; NEBGEN, Christian. O renascimento do ideal de martírio no início da Época
Moderna. Revista Lusófona de Ciências da Religião, n. 15, p. 129-145, 2009.
10 CLOSSEY, Luke. Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions.
Cambridge: University Press, 2008.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
145
Mártires jesuítas, sementes da cristandade na globalização missionária da Idade
Moderna
Em 1549, o italiano Antonio Criminale foi morto pelos badegás na costa da
Pescaria, na Índia, inaugurando a série de mais de 300 jesuítas sacrificados e
celebrados como mártires. Sua morte foi comparada à de Santo Estevão e reiteradas
vezes associada à frutificação da empreitada cristã:
sendo santo, conservou e aumentou a santidade entre bárbaros,
infiéis, maus e pecadores dando claro testemunho de suas
heróicas virtudes e constancia no bem nos areais e praias da
Pescaria, nas quais liberalmente derramou seu sangue por
defensam da fé católica, oferecendo a Deus a vida como
primícias da fecunda árvore de mártires (da Companhia de Jesus
digo), sendo o primeiro que, em toda ela, assim como na
primitiva Igreja S. Estevam, ofereceu a sua [vida] em
testemunho de fé a Christo N. Redemptor e Senhor.11
Dom João III mandou celebrar na corte portuguesa o martírio de Antonio
Criminal. Comunicou o martírio ao Papa – “que o festejou com júbilos de alegria” –
na mesma carta que informou a conversão do rei de Tamor.12 No mesmo ano de
1549, o bispo de Goa João de Albuquerque, manda carta à rainha D. Catarina
comunicando sobre as atividades dos padres do cabo de Comorim.
Andam em todas estas partes, e as tingiram com o sangue do
cordeiro, com a fé católica convertendo aos infiéis, trazendolhes à memória a paixão de Jesus Cristo, que é o verdadeiro
cordeiro, as quais doutrinas em tempos passados eram muito
apartadas dos corações dos gentios. Neste ano presente teve por
bem Noso Senhor que um Padre desta Congregação de Jesus,
por nome o Padre Antonio, italiano, foi martirizado no Campo
11
“Primeira Parte da Historia dos Religiosos da Companhia de Jesus e do que fizeram com a
divina graça na conversão dos infieis a nossa sancta fee catholica nos reynos e provincias da
India Oriental”. Composta pello Rev. Sebastiam Gonçalvez religioso da mesma Companhia,
portugues, natural de Ponte de Mila. Publicada por WICKI, José S.I. Historia da
Companhia de Jesus no Oriente. Coimbra: Atlântida, vol II, 1960 [1614], p. 28-29.
12 “Primeira Parte da Historia dos Religiosos da Companhia de Jesus e do que fizeram…”, p.
43.
ISBN 978-85-61586-70-5
146
IV Encontro Internacional de História Colonial
do Comorin por uns gentios, que se chamam a sua casta os
badeguás, vassalos do Rei de Bisnaguá.13
O Padre Henrique Henriques, superior da Costa da Pescaria após a morte do
Padre Criminal, também associa a morte e as virtudes do padre ao crescimento da
cristandade na região:
Foi mui grande a vida do Padre Antonio, integerrimo e
castíssimo, […] nunca vi menosprezo do mundo, nem
obediência, como a que elle tinha; assim como em vida foi
pobre, assim na morte quis Nosso Senhor que o fosse, que nem
um lençol houve para o enterrarem. Cá temos para nós que
morreu martir, e pelo serviço que ao Senhor Deus tinha feito
mereceu que o Senhor o agalardoasse de tal morte, porém
ficamos os Padres e Irmãos muito sés e órfãos sem ele. Nele
tinhamos exemplo de todas as virtudes. Os cristãos o sentiram
muito: tinhão eles nele pai […] as novas dos christãos desta
Costa, Deus seja louvado, são boas: vão eles em crescimento.
Cada vez mais vão conhecendo mais as mentiras dos gentios e a
verdade de nossa fé.14
Dali a três anos, outro jesuíta, o Irmão Luiz Mendes, foi também martirizado na
mesma região, motivando novas associações entre o martírio e o crescimento da
cristandade no Cabo de Comorim, como o relato do estado das missões na índia dos
padres Francisco Henriques e André de Carvalho:
El Cabo de Comorin es una costa de setenta leguas poco más o
menos […] y en Punicale, que es uno de los principales lugares
della, situaron los portugueses su habitación, en que nunca uvo
más de hasta sessenta dellos, y de alli, con dos catures por la
mar y algunas pieças de artellaria que tenian en tierra, hizieron
tributaria la principal parte de la costa. Y por tiempo casi toda
ella se convertió, a principio por ministerio de aquellos dos y
otros sacerdotes, y despues en el año de 542 empeçó el P.e
Maestro Francisco [Xavier] con un compañero […] y siempre
continuaron hasta agora los de la Compañia en aquel menisterio;
y dizesse que es ésta la más y mejor christiandad que hasta agora
ay en las partes de la India, por ser de continuo ayudada y
doctrinada. En esta costa han ya martyrizado dos de la
13 Documenta Indica I. Ioannes de Albuquerque Episcopus Goanus, D Catharinae,
Lusitaniae Reginae, Goa, 25 Octobris 1549, p. 532-548.
14 Documenta Indica I. P.H. Henriques, Superior Piscariae, P.Ignatio de Loyola et Sociis.
Punicale 21 novembris 1549, p. 579-580.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
147
Compañia, scilcet, el Padre Antonio Criminal, a lançadas, y al
Hermano Luis Méndez, degollado.15
Sobre esses dois mártires refere-se o Padre Sebastião Gonçalves:
Diz o santo Job que hum sangue toca outro sangue. E o real
profeta David que hum abismo chama outro abismo. O sangue
que o bem-aventurado P. Antonio Criminal derramou […]
tocou ao Irmão Luis Mendes de nossa Companhia pera que
liberalmente vertesse o seu pello augmento e defensão da
christandade; o abismo da misericordia, de que Deos usou com
o primeiro martyr de nossa Companhia, chamou o segundo na
mesma Costa da Pescaria.16
Enquanto o martírio de Luis Mendes circulou principalmente dentro da
Companhia, vimos que o martírio de Antonio Criminale ressoou junto ao Rei D.
João III, a rainha D. Catarina e ao Papa, possivelmente por ser o primeiro, mas
também por uma posição mais alta e por uma trajetória mais destacada na Ordem.
Mas o martírio de Gonçalo da Silveira, ocorrido em 1561, transformou-se em política
de estado, revelando que a relação entre o martírio e a conversão do território podia
ir além de uma figura de linguagem.
Gonçalo da Silveira, de família nobre portuguesa, pregou em Portugal e foi
mandado a Goa em 1555 como Provincial da Companhia. Ao cabo de alguns anos
decidiu ir como missionário ao lendário reino do Monomotapa, correspondente aos
atuais territórios de Moçambique e Zimbábue. Após converter o rei e sua família,
teria sido vítima de uma conspiração. Mouros que viviam na região inspiraram a ira
do rei contra o padre, e este mandou matá-lo. Sobre ele relata o seu biógrafio
Bernardo de Cienfuegos: “Dexò su pátria como otro Abrahão, passo a las Índias Del
Oriente por sembrar la Fe, labrò los cãpos de la infidelidad con su própria sangre, y
remato su Carrera co glorioso martírio”.17
De Trento, onde provavelmente participava da última sessão do Concílio, o geral
da Companhia Diego Lainez escreveu ao Padre Provincial da Índia tratando os
jesuítas mortos como parceiros na conversão das almas. De Francisco Xavier, “que
15
Documenta Indica V. Relatio [PP.Francisci Henriques S.I. et Andreae de Carvalho S.I.]
de missionibus S. I. in Oriente, p. 181.
16 Primeira Parte da Historia dos Religiosos da Companhia de Jesus e do que fizeram…, p.
46.
17 Dedicatória da Vida del bienaventurado Padre Gonzalo de Sylveira, sacerdota de la
Compañia de JESUS martirizado en Monomotapa, ciudad en la Cafraria, de Bernardo
de Cienfuegos. Madrid: Por Luiz Sanchez, 1614.
ISBN 978-85-61586-70-5
148
IV Encontro Internacional de História Colonial
morreu nesta empresa, é de esperar que ajudará do céu com sua intercessão para o
bom sucesso dela”.
E o mesmo digo do bem-aventurado Padre Don Gonzalo, cujo
sangue naquele reino esperamos será como semente, da qual se
há de colher muito fruto pelos que lá depois forem, na
conversão daquelas almas. Com isto V.R. deverá olhar para
estas, assim como para as demais partes, [para] que se
empreguem os nossos poucos operários onde se crê […] será
deles mais servido Deus N.Senhor. 18
Aos jesuítas em missão na África, Lainez envia mensagem semelhante:
Soubemos da mercê que fez Deus N.S. nessas partes ao P.e
Dom Gonçalo, coroando seus trabalhos e virtudes com um fim
tão ditoso. E entendendo que se enviava de novo gente a este
reino, onde ele derramou seu sangue pela ajuda das almas, nos
alegramos in Domino esperando que os enviados hão de colher
muito copiosos frutos do que ele começou a semear.19
O martírio de Gonçalo da Silveira provocou a reação do próprio rei D. Sebastião,
que interpretou o evento como ofensa ao reino e – investido do espírito de cruzada
que caracterizou outras de suas ações – iniciou uma campanha para conquistar o
reino do Monomotapa. Em 23 de janeiro de 1569, um parecer da Mesa de
consciência de Portugal declarou que o Rei, tinha como obrigação defender a sua
república e seus vassalos de injúrias, declarando a investida militar como guerra justa,
destacando que com aquela iniciativa D. Sebastião tinha a intenção de promover a
conversão e a salvação das almas, e “não amplificação de império nem honra própria
ou proveito do príncipe, nem outros particulares respeitos”.20 Três meses depois,
zarpava de Lisboa a armada de Francisco Barreto com a intenção de conquistar o
Monomotapa. A ida de Francisco Barreto foi vista pelo biógrafo de Gonçalo da
Silveira como resposta divina ao martírio:
viniendo despues cõ grande exercito a aquellas partes de
Monomotapa Frãcisco Barreto, Capitã Portugues, hizo q por
decreto del Rey fuessen echados dela Corte de Monomotapa,
18
Documenta Indica V. P I. Lainez Praep. Gen. S. I. P. Antonio de Quadros S. I.,
Provinciali Indiae. Tridento, 1-2 Ianuarii 1563, p. 693-699.
19 Documenta Indica V. P. I. Lainez Praep. Gen. S. I. Sociis in Cafrariam vel Armuziam.
Tridento 6 januarii 1563, p. 700-701.
20 Determinação de Letrados, Almeirim, 23 de janeiro de 1569. Apud CRUZ, Maria Augusta
L. D. Sebastião. Lisboa: Temas e Debates, 2009, p. 180.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
149
todos los Moros, que en ella viviã; y entrado en Sena buscò, por
ordẽ del Rey de Portugal, a todos os que avian cõcurrido en
aquella muerte del P. Gõçalo: y cogiendolos a todos, los cõdenò
a muerte infame, despues de muchos y extraordinarios
tormentos que les dio para terror y exẽplo de otros.
Y es tan grande la benignidad y misericordia de nuestro Dios,
que muchos de aquellos fueron muertos, conociendo la verdad
de nuestra Fê, y mirando por la salvacion de sus almas, pidieron
ser baptizados: y despues de aver recebido el santo baptismo se
fuerõ el cielo, como es de creer. El primero destos fue el Xeque
Ampeo, mas noble de todos, y el mas doctor y aficionado a su
supersticiõ: a este llamavã los Portugueses Can Perro, y quãto al
parecer de todos era mas cõtrario a la ley de Christo, tãto parece
devemos atribuir a las oraciones y sangre del santo P. Gõçalo,
aver recebido nuestra santa ley […] Afirmavan todos, y teniase
por muy cierto, que la bendita alma del santo P. Gonçalo, dese
el cielo avia alcançado de Dios, que Ampeo se apartasse de la
inorancia en que vivia, y fiesse alumbrado con la luz de su
verdad, y en fin de la vida le concediesse dichosa muerte,
aunqueen la vida avia sido tan malo.21
[em 1569, Francisco Barreto] partiu no mês de Novembro de
Lisboa para Moçambique com o titulo de Governador, e
Conquistador das minas de Sofala. Além da nau em que vinha,
trazia outras duas, […] muito bem fornecidas de soldados e dos
mais aprestos necessarios para cavar as minas e prosseguir a
conquista. E porque não quis partir sem Religiosos da
Companhia, os pediu com instância ao Padre Provincial de
Portugal, que com esperanças de ver cultivado aquele campo regado com o
sangue do venerável Padre Gonçalo da Silveira, lhe concedeu o Padre
Francisco de Monclaro, Teólogo e pregador, o Padre Estevão
Lopez Coadjutor espiritual, e dois Irmãos leigos, Gonçalo Diniz
e Domingos Gonçalves [grifo meu].22
No fim de 1561, uma carta de um padre de Goa aos irmãos portugueses em que
implora por operários para as missões aos irmãos portugueses – “os clamores de
Japão e as necessidades de Maluquo, estrago da China, os suspiros de Timor e Solor,
e necessidades de Camboja, Sião, Panaruqua, Java, e todas as mais da banda do sul,
desejar o lume e conhecimento de seu Criador” – refere-se à África como mais bem
21 Dedicatória da Vida del bienaventurado Padre Gonzalo de Sylveira, sacerdota de la
Compañia de JESUS martirizado en Monomotapa, ciudad en la Cafraria…, p. 72-74.
22 SOUZA, Francisco. Do Oriente Conquistado (Lisboa, 1710). In: REIS, João C. (org.)
Empresa da conquista do senhorio do Monomotapa. Lisboa: Heuris, 1984, p. 129.
ISBN 978-85-61586-70-5
150
IV Encontro Internacional de História Colonial
atendida: “[a] Cafraria, onde o grão da palavra do Senhor já está começado de
semear, regado com o sangue do nosso bendito Padre Dom Gonçalo.”23
O primeiro jesuíta martirizado na Etiópia nas mãos dos mouros, o padre André
Gualdanes, morto em 1562, tornou segundo Baltasar Telles aquela missão “mais
brilhante e apetecida”:
mataram-no atraiçoadamente de noite, como se o sol não
quisesse com suas luzes ver e alumiar tão horrendo sacrilégio;
em falta do sol, assistiram as estrelas para acompanhar esta nova
estrela que do jardim da igreja que se fundava em Etiópia, subia
para ser transplantada no céu, que assim chama São Basílio aos
mártires, dizendo que são estrelas do céu e flores da igreja.
Grande foi a crueldade dos mouros, maior era a caridade do
padre, eles deram muitas feridas, porque desejavam dar-lhe
muitas mortes, ele suspirava por oferecer infinitas vidas, porque
nos consta que a tudo vinha oferecido, com ânimo mui liberal,
pelo bem daquela cristanade.
E estas foram as primícias que a missão desta Etiópia mandou
ao céu, este o primeiro religioso da Companhia que em serviço
daquela cristandade acabou a vida e com a finíssima escarlate de tão
precioso sangue começou a sair mais brilhante e a ser mais apetecida esta
missão, desejando muitos dar as vidas para alcançar tal morte, a
qual, por ser morte por obediência em serviço e bem daquelas
almas, como principalmente por sem em ódio de Cristo dada a
ferro, traçada e executada por inimigos de Cristo, podemos com
muito fundamento piamente crer que aquele Senhor, por cujo
amor o padre se ofereceu a perigos tão evidentes, o premiaria
no céu entre aqueles que, por derramar seu sangue, mereceram
as mais preciosas auréolas [grifo meu].24
O obituário do jesuíta inglês George Gilbert, patrono das pinturas de mártires do
colégio inglês de Roma morto em 1583, explicava porque havia tomado a iniciativa
de promovê-las, em meio às intensas perseguições de jesuítas (e de católicos em
geral) naquele reino:
Ele costumava dizer que não apenas havia procurado isto
[realizar a série de pinturas de martírios] por honra daqueles
gloriosíssimos mártires e para manifestar ao mundo a glória e o
esplendor da Igreja [católica] da Inglaterra, mas também para
23
Documenta indica V. Fr. Onuphrius do Caso S. I. Fr. Melchiori Afonso S.I.
Conimbricam Goa 11 Decembris 1561, p. 322.
24 TELES, Baltasar. História de Etiópia. Lisboa: Alfal (Biblioteca da Expansão Portuguesa,
vol. 22), 1989 [1660], p. 276-277.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
151
que os estudantes naquele colégio se espelhassem nos exemplos
de seus predecessors. E, além disso, que com aquelas imagens
dos novos martírios o estado miserável se sua patria [Inglaterra]
seria colocado ante os olhos de todos, movendo-os a rezar a
Deus em favor dela.25
O poeta Henry Walpole esteve presente no martírio do jesuíta Edmund
Campion, quando foi respingado com gotas de sangue do mártir, teria sido
profundamente tocado pelo episódio e escrito o poema “why do I use my paper, ink
and pen”, que foi a ele atribuído e circulou na forma impressa e também em versão
musicada por William Byrd. O poema argumenta: “você pensou que talvez após a
morte de Campion / sua pena cessaria, sua língua adocicada silenciaria / mas você
esqueceu como a sua morte é lamentada / muito além do som da língua e da pena /
Você não sabia que era um imenso privilégio / ter seus talentos preciosos escritos
em sangue”. O impressor do poema teve suas orelhas cortadas e Walpole teve que
fugir da Inglaterra, filiando-se posteriormente à Companhia de Jesus, sendo ele
também martirizado em 1595.26
Às vésperas de ser martirizado juntamente com Rodolfo Acquaviva e outros três
companheiros em Salsete (nas imediações de Goa) em 1583, o padre Pedro Berna,
“cansando já de três anos a plantar nos corações duros daqueles bárbaros a Fé
Cristã”, reclamava que um terreno tão estéril “não demandava apenas o suor, mas
também o sangue de seus agricultores”,27 afirmando que:
[o Salsete] nunca produziria flores de Cristandade, se não fosse
regado com o sangue de Mártires, cuja auréola havia esperado
em algunas ocasiones, com as revoluções de armas desnudas.28
Com efeito, após o martírio dos cinco jesuítas a cristandade começou a florescer
naquelas terras, e milhares de pagãos converteram-se:
Ed egli dunque, ed i Compagni ve lo sparsero
abbondantemente; e non passò un’ anno, che di que’ Barbari
25
ARSI, Angl. 7, 44a-b. Apud BAILEY, Gauvin A. Between Renaissance and Baroque:
Jesuit art in Rome. Toronto: University of Toronto Press, 2003, p. 324-325.
26 KERMAN, Joseph. William Byrd and Elisabethan Catholicism. In: Write all this down:
essays on music. Berkeley/Los Angeles: University of Califórnia Press, 1994, p. 79.
27 Segni Maravigliosi co’quali si é compiacuito iddo di autorizzare il martírio de’
vener. Servi di Dio Ridolfo Acquaviva, Alfonso Pacheco, Pietro Berna, Antonio
Franceschi, e Francesco Araña Della Companhia di Gesu. Roma, Per Antonio de Rossi,
1745, p. 39-40.
28 Los cinco martires de Salsete de La Companhia de Jesus (1701), p. 182. BNP H.G.
2761 P, 1701.
ISBN 978-85-61586-70-5
152
IV Encontro Internacional de História Colonial
vennero Allá Feder oltre a mille e cinquecento. A questi si
aggiunsero nel 1586, e 1587 cinque Popolazioni intere, e quatro
altre nel 1588, battezzandovisi mille e novecento; e lasciandovi
per essere istruiti duemila Catecumeni: con gran giubilo, e
maggiore maraviglia de’ Fedeli, poichè tra quelle Popolazioni
una ve n’era si ostinata nell’idolatria, che il parlavi alcuno di farsi
Cristiano, ed esser subito ammazzato, era tutt’uno.
In Coculin apertasi già Chiesa, un giorno, mentre vi si celebrava
il divin Sacrificio, vennero in truppa i Nobili tutti di un Aldea, e
protesti avanti l’Altare domandarono d’essere istruiti nella Fede
di Cristo, e battezzati. Nel 1590 il numero de’ nuovamente
battezzati fu di tre mila ottocensessantacinque, facendovisi
Christiane alcune altre Aldee, e con tan fervore, che in una
d’esse cinquecento in un giorno battezzaronsi.29
O Padre Andrea Budrioli, autor do depoimento acima, afirmava em meados do
século XVIII: “E é coisa notável que as cartas, que ano após ano mandavam-se
daquela província, e ainda se conservam em Roma, quase todas ao relatarem de
tantas conversões adicionam sempre que são fruto do sangue daqueles benditos
mártires derramado naquele terreno”.30
A água do poço onde os mártires foram atirados foi considerada sagrada, e em
1635 foi edificada por um nobre local uma pequena igreja no local, com um altar
sobre o poço onde foram colocadas imagens dos mártires.31
O Padre Antonio Francisco Cardim, procurador do Japão, celebra os milhares de
convertidos à cristandade no Japão, após o seu solo ser regado dos sangue dos
jesuítas Paulo Miki, Jacob Kisai e João de Goto, martirizados com outros 23
religiosos em 1597 pelo imperador Taicosama:
Do ano de mil quinhentos e noventa e oito, no qual morreu o
tirano Taicosama, até o ano de mil seiscentos e quatorze, em
que a Igreja do Japão tomou alento, e respirou das perseguições
passadas, se escreveram nas listas de Cristo cento cinquenta e
dois mil novecentos e nove japoneses. Nem vos espanteis do
Japão acudir com tão dobrados ganhos e frutos, porque no ano
de mil quinhentos e noventa e nove, quarenta mil almas
receberam água do santo Batismo, e no de seiscentos mais de
trinta mil. É de crer que as searas de Cristo no Japão saíram com esta
fertilidade, e abundância, por serem regadas com o sangue dos Mártires,
29
Segni Maravigliosi co’quali si é compiacuito iddo di autorizzare il martírio de’
vener…, p. 40-41.
30 Ibidem.., p. 42.
31 Ibidem, p. 145.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
153
que o tirano Taicosama no ano de mil quinhentos noventa e
sete coroou com o título de verdadeiros mártires, tomando para
si por gloriosa empresa aquelas palavras, que da primitiva Igreja
afirmou gloriosamente Tertuliano: Plures efficinur quoties
mettimur à vobis, semen est sanguis Christianorum. […] Que
valem o mesmo que dizer: Mais crescemos quando mais somos
perseguidos, porque o sangue dos Cristãos é semente, que dá fruto [grifo
meu].32
O Padre Antonio Francisco Cardim comparava o martírio de Paulo Miki,
crucificado, ao de Cristo, tendo seu sangue da mesma forma semeado o território:
Diríamos se levantássemos os olhos, que no monte de Nagasaki
Christo outra vez fora crucificado, & alanceado, pera de novo
resgatar os Japões […]; morrendo com os olhos pregados no
Céu, já que o corpo estava pregado na cruz, com seu sangue
precioso borrifou as penedias vizinhas a aquele monte, como
espalhando semente de Cristãos, que daquele sangue e daquella
morte sua haveriam de nascer gloriosamente.33
Mesmo com o sangue dos mártires, o século XVII foi cruel para a cristandade no
Japão, que acabou por ser proibida e perseguida. O Padre Cardim termina a
apresentação do seu livro com esperanças de que o sangue derramado no Japão
ajude na reconquista daquele território:
Fico por isso mesmo cheio de esperanças de vindouras
felicidades, pois a uma noite escura sucede o dia alegre, e
formoso; ao inverno rigoroso o verão aprazível: vejo com
esperança, que os olhos de Deus se dobram já, e inclinam cheios
de misericórdia pera o Japão; vejo que os muros de diamante,
com que aqueles Reinos se cercam, vêm caindo obrigados da
força divina, e se abrem as portas ao Evangelho, o comércio se
restitui àquela cidade afligida, a Fé desterrada se torna a chamar,
os campos regados com sangue de Mártires se desfazem em copioso fruto.
Esta única esperança me sustenta, esta consolação me dá alentos
de vida [grifo meu].34
32
CARDIM, Antonio Francisco. Elogios, e ramalhete de flores borrifado com o sangue
dos religiosos da Companhia de Jesus: a quem os tyrannos do Imperio de Jappão tirarão
as vidas. Lisboa: por Manoel da Sylva, 1650, p. 4.
33 Ibidem, p. 30-31.
34 Ibidem, p. 11.
ISBN 978-85-61586-70-5
154
IV Encontro Internacional de História Colonial
Os algozes do Padre Marcelo Mastrilli, martirizado no Japão em 1637,
esforçaram-se por desmaterializar seu corpo e dispersá-lo, mas o discurso do Padre
Antonio Francisco Cardim busca provar que esses esforços foram em vão:
Os algozes executaram sua crueldade ainda contra seu corpo
morto, provando cada um nele os fios de suas catanas; nem foi
muito mostrarem-se crueis nas espadas, porque se mostraram
mais bárbaros ainda no fogo, porque desfizeram em cinzas
aqueles despojos sagrados, que deixou sua tirania, e a estas
cinzas espalharam pelos campos, e pelos rios caudalosos. Bem
está Marcello glorioso, jazeis por lugares diversos, e apartados,
porque estas cinzas vossas não cabem em um só sepulcro; jazeis
desenterradas pelas praias, pera que vos sepultem em si
corações humanos: sois espalhados como semente, pera que esperemos
que hão de nascer daqui tantos Marcellos, quantas gotas de vosso sangue
foram derramadas, e quantas cinzas foram semeadas de vossa fogueira
[grifo meu].35
Ivan Garcia Infanzon associa o mártir Padre Diego Luis de San Vitores, morto
em 1672 nas Ilhas Marianas, com os antigos apóstolos, que com seus exemplos
edificaram a antiga igreja em diversas partes do mundo, na apresentação do livro que
dedica à vida e morte do mártir:
El Señor Omnipotente, y misericordioso […] no cessa de
embiar al mundo, en todos los siglos, Varones Apostolicos
imitadores de los primeros Apostoles, que con su santidad
edifiquen la Iglesia con su exemplo, afervoricen los Fieles, y
conviertan los pecadores. Uno de los que ha dado en este siglo
[XVII] à la Companhia de Jesus, fecunda madre de semejantes
hijos […] es el V. P. Diego Luis de Sanvitores, […]
verdaderamente un nuevo Apostol de barbaras gentes, un
glorioso Martyr, un insigne Doctor, un purissimo Virgen, à
quien adornò el Señor de tantas gracias, y prerrogativas, para
que fuesse digno vaso de eleccion, que llevasse su nombre à
nuevas islas, y pueblos, donde nunca avia sonado la trompeta da
la verdad.36
35
Ibidem, p. 231-232.
GARCIA, Francisco. Vida, y Martirio de el venerable padre Diego Luis de Sanvitores,
de la Compañia de Iesus, primer apostol de las Islas Marianas, y sucessos de estas
islas, desde el año de mil seiscentos y sessenta y ocho, asta el de mil seiscentos y
ochenta y uno. Madrid: Por Ivan Garcia Infanzon, 1683, p. 1-2.
36
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
155
Mártires jesuítas na América: conversão do gentio, reconhecimento do
território e representação cartográfica
A América não foi território diferente do restante do Globo no que diz respeito à
conversão do território pelo sangue dos mártires. Em 1646, com muita dificuldade
na cristianização dos violentos Iroqueses e Hurones no Canadá, os jesuítas
expressavam que apenas com o sangue dos mártires a empreitada seria viável:
“Acreditamos que os planos que temos contra o Império de Satã para a salvação
desse povo só dará frutos se ensopado com o sangue de alguns mártires”37 Com
efeito, os martírios se cumpriram a partir de 1648, motivando a celebração do jesuíta
Paul Raguenau no ano seguinte:
Aceitamos todos esses eventos e dificuldades, pois eles nos
fornecem abundantemente aquilo que viemos buscar neste
canto remoto do mundo. Muitas vezes os selvagens nos
repreendem com a afirmação de que a nossa fé era a única causa
de suas calamidades. É verdade que essa crença sem
fundamento nos causou muito sofrimento, e despertou em
muitos desses bárbaros as hostilidades contra os Padres que
foram assassinados recentemente, ainda assim vemos
claramente que a Cruz que causou a morte do Filho de Deus, dá
vida a essas pessoas, e que as perseguições geraram a Fé. Desde
a morte do Padre Antoine Daniel, que ocorreu em quatro de
julho do ano passado, 1648, até as mortes dos Padres Jean de
Brebeuf e Gabriel Lallemant, que foram queimados e comidos
em 16 e 17 do mês de Março do presente ano, 1649, nós
batizamos mais de 1300 pessoas, e depois dos assassinatos até o
mês de agosto, batizamos mais de 1400. Assim, a Igreja cristã
foi aumentada em mais de 2700 almas em treze meses, sem
contar […] aqueles que foram feitos cristãos em outros lugares.
Então, são verdadeiras aquelas palavras, Sanguis Martyrum semen
est Christianorum, “O sangue dos mártires” – se eles podem ser
assim chamados – “é semente e germe de cristãos”.38
37
Relations des Jésuites. Montreal: Éditions du Jour, vol. 3, 1972. Apud PERRON, Paul.
Isaac Jogues, from martyrdom to sainthood. In: GREER, Allan e BILINKOFF, Jodi (eds)
Colonial saints: discovering the holy in America. New York/London: Routledge, 2003, p.
156.
38 Paul Raguenau, “Relation of what occurred in the Mission of the Fathers of the Society of
JESUS among the Hurons, a country of New France, in the years 1648 and 1649 to the
Reverend Father Hierosme Lalemant, Superior of the Missions of the Society of Jesus in
New France”. In: THWAITES, Reuben Gold (ed) The Jesuit Relations and Allied
Documents. Cleveland: The Burrows Brothers Company, vol. 34, 1898. Disponível em:
ISBN 978-85-61586-70-5
156
IV Encontro Internacional de História Colonial
Ao tomar conhecimento do martírio dos padres Horacio Cechi e Martin de
Aranda em Elicura, na região de Arauco, no Chile em 1612, o padre superior Luis de
Valdívia animou-se ainda mais a catequizar a região:
No desistió el generoso i esforzado pecho del padre Luis de
Valdivia por la muerte de los padres de proseguir los intentos de
proponer los médios de paz a las províncias como cosa que lês
estaba tan bien. Antes, teniendo estas muertes i martírios por gran dicha
i principio de mayor felicidad, sabiendo que la sangre de los mártires
siempre habia sido Riego que fecundaba la tierra de los infieles, confiado
en que desde el cielo ayudarian mas con sus oraciones e
intercesión a sus santos intentos i al buen deseo del rei nuestro
señor que predicando con su viva voz a los índios, llamó luego
para sí al padre Modolell, que estaba en Buena-Esperanza, que
era misionero fervoroso i de espírito apostólico, para que con
otro compañero quedase en Arauco [grifo meu].39
Se a associação entre o martírio e a ocupação do território aproximava a América
dos demais continentes de missionação, em um aspecto a cultura martirológica
americana se diferenciou: os mártires tornaram-se parte da cartografia jesuítica.
Vários dos mapas que os jesuítas produziram como reconhecimento do território
expressam sinais do sangue dos mártires.
É o caso do mapa “Paraquaria Provinciae Soc. Jesu Cum Adiacentib Novíssima
Descriptio”, publicado em 1732 por Johannes Petroschi (figura 1), que reeditava
outro mapa de 1726 e seria ainda reeditado no mesmo ano pelo Padre Antonio
Machoni, em Veneza em 1760 e em língua alemã em 1761.40 A própria dedicatória
do mapa ao Geral da Companhia, Padre Francisco Retz, expunha a relação entre o
sangue dos jesuítas e o território (figura 2): “A Província da Companhia de Jesus no
Paraguai, dedica ao pai em Cristo, o Rev. Padre Francisco Retz, décimo-quinto Geral da Sociedade
de Jesus, o mapa dos territórios cultivados e regados com o suor e o sangue de seus filhos.”41
A menção ao sangue dos jesuítas vai além da metáfora, evocando episódios reais.
O mapa apresenta marcado o local do martírio de Lucas Caballero, evangelizador
http://puffin.creighton.edu/jesuit/relations/relations_34.html. Acesso em 13 de maio de
2012.
39 OLIVARES, Miguel. Los jesuítas en la Patagônia: las misiones en la Araucanía y el
Nahuelhuapi. Buenos Aires: Ediciones Continente, 2005 [1736], p. 70-71.
40 XAVIER, Newton R. A representação cartográfica da Província Jesuítica do Paraguai no
século XVIII. Anais do V Congresso Internacional de História. Maringá, 2011, p. 2462.
Disponível em http://www.cih.uem.br. Acesso em 18 de maio de 2012. Exemplar digital do
mapa em alemão disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal em:
http://purl.pt/103/1/catalogo-digital/registo/209/209.html.
41 Adaptado da tradução de XAVIER, Newton R. Ibidem, p. 2463.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
157
dos índios Manacicas da Missão de Chiquitos e fundador do aldeamento de
Concepcion na Bolívia, morto em 1711. A sinalização é mais do que um sinal
técnico, marca um sítio consagrado pelo próprio mártir. Neste local, Caballero
encontrava-se em missão entre os índios Puyzocas, quando foi traído e ferido de
morte por uma flechada nas costas. Recusou ajuda de um índio convertido que o
acompanhava, pedindo-lhe que o deixasse ali.
y clavando luego en tierra una cruz, que llevaba en las manos, se
puso de rodillas delante de ella ofreciendo la sangre que
derramaba por sus mismos matadores, é invocando los
dulcísimos nombres de Jesús y de María, quebrada y deshecha la
cabeza á grandes golpes de macana, entregó su espíritu en
manos de su Criador el día 18 de Septiembre del año 1711.42
A morte do Padre Caballero motivou uma incursão de soldados vindos de Santa
Cruz de la Sierra, aos modos de “Guerra Justa”. Ao chegarem ao local de martírio do
Padre,
En la mayor oscuridad de la noche vieron, no muy lejos de
donde se habían acampado, una llama en forma de antorcha,
que muchas veces se encendía y apagaba. Maravillados de esto,
apenas amaneció cuando fueron á reconocer aquel lugar, y
hallaron que resplandecía aquella antorcha sobre el cuerpo del
Venerable Padre «que estaba en un pantano en una admirable
postura, hincada en tierra la rodilla izquierda, extendido el pie
derecho en un hoyo del pantano, la cabeza reclinada sobre la
mano siniestra, y delante plantada la cruz, como mirándola.»
Esta vista les acrecentó el asombro y veneración, y más
hallándole entero, fresco é incorrupto, sin despedir mal olor,
que parecía cosa más que natural, habiendo pasado tanto tiempo
de soles ardientísimos, y por otra parte, la humedad del lugar,
que como dije, era un pantano; fuera de que los cuerpos de sus
compañeros estaban ya corrompidos.43
42
FERNANDEZ, Juan P. Relacion historial de las misiones de indios chiquitos que en
el Paraguay tienen los padres de la Compania de Jesus. Asuncion: A. de Uribe, Vol II,
1896 (reedição da primeira edição de 1726 por Geronimo Herran), p. 108.
43 Ibidem, p. 110. Uma outra versão da descoberta maravilhosa do corpo incorrupto de Lucas
Caballero encontra-se relatada em carta ânua da década de 1750, trecho reproduzido em
PAGE, Carlos A. El P. Francisco Lucas Cavallero y su primera experiencia misional con la
reducción de indios pampas. Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba
(Argentina),
nº
24,
p.
429-454,
2007.
Disponível
em
http://www.carlospage.com.ar/?page_id=16, acesso em 19 de maio de 2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
158
IV Encontro Internacional de História Colonial
O mesmo mapa aponta os locais, nas proximidades de Jujuy, na atual Argentina,
onde foram martirizados os padres Gaspar Osório e Antonio Ripario, assassinados
pelos Chiriganos em 1639; e Juan Antonio Solinas e Pedro Ortiz de Zarate (este um
sacerdote não jesuíta), mortos em 1683 pelos índos do Chaco (figura 5). Assinala
também o local onde Alberto Romero foi morto com um golpe de machado na
cabeça pelos índios Zamucos em 1718 (figura 6).44
Na parte inferior de um mapa de 1713 que descreve a missão de Mojos, na atual
Bolívia (Figura 6), são destacadas as biografias de dois jesuítas, acompanhadas de
imagens de seus martírios. Na parte inferior do mapa (figura 7), encontram-se
imagens dos martírios dos padres Cipriano Barace, martirizado pelos Baures em
1702, e Baltasar de Espinosa, martirizado pelos índios Movimas em 1709. As
imagens encontram-se acompanhadas de biografias dos dois padres, destacando-se
que foram fundadores de povoados – Trinidad (Barace) e São Lourenço (Espinoza)
– evocando assim a milenar relação do mártir fundando uma comunidade cristã.
Legendas similares existem também no mapa que consta da obra de Miguel
Venegas sobre a Califórnia (figura 8),45 em que são representados os martírios
ocorridos nas mãos dos índios Pericús em outubro de 1934 na Baixa Califórina,
território do México: Lorenzo Carranco, morto em Santiago de Los Coras (figura 9);
e Nicolas Tamaral, morto na Missão de São José perto do Cabo de São Lucas (figura
10).
O jesuíta italiano Francesco Giuseppe (Ou François-Joseph) Bressani foi enviado
ao Canadá em 1642, e foi capturado pelos iroqueses a caminho do território dos
índios Hurones. Foi torturado e mutilado, mas conseguiu escapar. É de sua autoria
um mapa do Canadá, de 1657(figura 11),46 que traz informações sobre o território,
sobre a vida dos índios do local e também uma imagem do martírio de Jean de
Brebeuf e Gabriel Lalemant, ocorridos em 1649 também nas mãos dos Iroqueses
(figura 12).
44
Dados obtidos em DOBRIZHOFFER, Martin. An Account of the Abipones, an
equestrian people of Paraguay. London: John Murray, vol III, 1822, p. 410-415.
45 VENEGAS, Miguel. Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual
hasta el tiempo presente. Madrid: Viuda de M. Fernández, 1757.
46 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Jesuit_map_NF.jpg. Acesso em
12 de maio de 2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
159
Figura 1 – Mapa da província jesuítica do Paraguai, 1732. Fonte: ARSI,
Piante 2, 004. Figura 2 – Detalhe da fig 1
ISBN 978-85-61586-70-5
160
IV Encontro Internacional de História Colonial
Figuras 3, 4 e 5 – detalhes da figura 1, assinalando o local nas proximidades do
povoamento de Concepción onde Lucas Caballero foi martirizado em 1711; o
local onde foi martirizado Alberto Romero e os locais onde foram martirizados
Juan Antonio Salinas, Pedro Ortiz de Zarate e Antonio Ripario.
Figura 6 – mapa que relata a história da missão de Mojos da Companhia de
Jesus (Peru), 1713. Na parte inferior do mapa, imagens dos martírios dos padres
Cypriano Barapide e Baltasar de Espinosa, martirizados nesse território no início
do século XVIII. Fonte ARSI, Piante 2, 005.
Figura 7, detalhe do mapa da missão de Mojos de 1713. Martírios dos padres Cipriano Barace e Baltasar de Espinosa.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
161
Figura 8 – Mapa que consta do livro Noticia de La Californa, de Miguel Venegas, publicado em 1757.47
47
http://www.raremaps.com/maps/medium/21643.jpg. Acesso em 15 de maio de 2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
162
IV Encontro Internacional de História Colonial
Fig. 9 – martírio de Lorenzo Carranco, Missão de Santiago de los Curas, 1734 e
Fig. 10 – martírio de Nicolas Tamaral, nas imediações do Cabo de São Lucas,
1734. Mapa de Venegas, 1757 (detalhes)
Figura 11 – Mapa de François-Joseph (Francesco Giuseppe) Bressani do
Canadá, 1657. Fonte: Wikimedia Commons. Figura 12 – Martírio de Jean de
Brebeuf e Gabriel Lalemant, ocorrido em 1649 nas mãos dos Iroqueses (detalhe
do mapa de Bressani).
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
163
Não são conhecidos mapas apontando locais de martírios na América
Portuguesa, mas os martírios ocorridos no Brasil, e a caminho do Brasil, foram
também acionados como instrumentos de justificação da ocupação católica do
território. Voltando ao depoimento de Anchieta que abre este texto, fica evidente
que Anchieta tratou os martírios de Pedro Correa e João de Souza dentro de uma
série, como um, dentre muitos, exemplos que conectavam os mártires jesuítas com a
conquista espiritual do mundo pela Igreja católica, especialmente apoiada pela
Companhia de Jesus. Sobre esses mártíres, Simão de Vasconcellos comenta:
Oh almas ditosas! Oh mártires felizes! Primícias do Brasil,
espelho de missionários, lustre de confessores, esmalte dos que
pregam, honra dos Irmãos, glória da Companhia: com vosso
sangue fertilizastes aquelas matas, com vosso exemplo ficam
apetecíveis; e virá dia, em que este sangue brote em grandes
colheitas d’esta gentilidade.48
O martírio de Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros nas Ilhas Canárias em
1570, que ficaram conhecidos como os “Quarenta Mártires do Brasil”, foi peculiar,
pois apontava para a conquista não do território onde foram martirizados, mas das
partes aonde se dirigia o grupo para a evangelização, o Brasil. Louis Richeome
constrói explicitamente a relação entre o martírio do grupo e a missionação no Brasil:
O mesmo Deus pode reparar o estrago que eles fazem, e no
lugar de um justo morto, ele coloca dois, ou mais, que farão o
que os caídos deveriam fazer, como ele realizou após o ano
deste massacre, quando mais de oitenta vestiram a batina em
Roma, e recuperaram à Companhia aquilo que os bárbaros
tentaram destruir. Nos tempos antigos, a cristandade crescia à
medida que os cristãos eram perseguidos e martirizados, como um
doutor antigo disse, o sangue dos mártires é a semente da cristandade e do
campo da Igreja de Deus. E quem pode duvidar, meus caros
irmãos, que as preces e méritos desses mártires fará surgir
muitas quarentenas de outros operários para o Brasil, e que não
tirarão tanto proveito de suas intercessões naquele país em que
não chegaram a se fazer presentes? [grifo meu]49
Um dos companheiros de Azevedo que sobreviveu ao massacre foi Pero Dias,
que seguiu viagem chefiando um grupo de doze jesuítas, mas um ano após o martírio
48 VASCONCELLOS, Simão. Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil e
dos que obraram seus filhos nesta parte do Novo Mundo. Livro I, p. 101.
49 RICHEOME, Louis. La peinture spirituelle Apud: LESTRINGANT, Frank (ed). Le
Theatre dês cruautés. Paris: Chandeigne, 2007, p. 188.
ISBN 978-85-61586-70-5
164
IV Encontro Internacional de História Colonial
de Azevedo, em 1571, foram eles também martirizados. Depois de ter avistado o
Brasil, o navio de Pero Dias foi arrastado por correntes marítimas até as Antilhas.
Retomando a rota rumo ao Brasil, foi atacado pelo corsário João Capdeville, sendo
os doze jesuítas assassinados. Um auto foi composto por Anchieta para celebrar o
martírio, o Diálogo do P. Pero Dias Mártir. Na ausência dos restos mortais dos mártires,
especula-se se o auto foi composto em louvor ao recebimento de uma imagem do
mártir, substituto – e não simples alegoria – ao seu corpo. O terceiro ato do Diálogo é
cantado durante a introdução de uma imagem na igreja. No auto, escrito em forma
de diálogo entre Cristo e o Mártir, o martírio apresenta similaridade com a referência
bíblica ao apóstolo Pedro (Mateus 16:18). Anchieta atribui ao mártir o atributo de ser
uma pedra, sobre a qual se edifica a Igreja Católica. No diálogo, Cristo afirma:
“Pedro Dias pedra é / membro da pedra viva / de onde o edifício deriva / de toda
divina fé”.50
O sangue dos mártires sacralizando o território surge também em um
depoimento do Padre Antonio Vieira, sobre a Ilha dos Joanes (Marajó), em 1654,
onde haviam sido martirizados treze padres da Companhia de Jesus: “Eu vi de longe
a ilha, e confio em Nosso Senhor que cedo se há-de colher nela o fruto, que de terra
regada com tanto sangue e tão santo se pode esperar”.51
Em 1687, em um contexto de exploração do sertão do Cabo do Norte (Amapá) e
de disputas entre portugueses e franceses pelo domínio daquele território, os jesuítas
padres Bernardo Gomes e Antonio Pereira foram deixados na aldeia de Camonixari
para evangelizar os índios. Os índios da aldeia aceitaram bem os padres, mas alguns
índios de aldeias vizinhas revoltaram-se contra a sua presença, Os índios chamados
Oivaneca invadiram a aleia, destruíram e queimaram as casas e mataram os padres
com mais quatro índios, roubando uma canela do Padre Bernardo Gomes para fazer
uma gaita.52
Ao saber do que havia acontecido, o governador Artur Sá de Meneses enviou
uma tropa ao local para conquistar o Cabo do Norte aos índios. A morte dos jesuítas
justificaria a chamada “Guerra Justa”, por ofensa aos súditos do Rei, aos moldes da
reação de Dom Sebastião um século antes daquele acontecimento, ao tomar
conhecimento do martírio de Gonçalo da Silveira. Esse foi o início do processo de
ocupação sistemática daquela região pelos portugueses.53
50 ANCHIETA, José. Diálogo do P. Pero Dias Mártir. In: Teatro de Anchieta. São Paulo:
Loyola, 1977, p. 194-200.
51 VIEIRA, Antônio. Carta ao Padre Provincial do Brasil, 1654. In: HANSEN, João Adolfo
(Organização e introdução). Cartas do Brasil. São Paulo: Hedra, 2003, p. 173-174.
52 BETTENDORFF, João F. Crônica da missão dos Padres da Companhia de Jesus no
Maranhão. Belém: Secretaria da Cultura, 1990 [1698]), p. 431.
53 CHAMBOULEYRON, Rafael, BONIFÁCIO, Monique S., MELLO, Vanice. Pelos sertões
‘Estão todas as utilidades’: trocas e conflitos no sertão amazônico (século XVII). Revista de
História USP, 162, p. 13-49, 1o semestre de 2010.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
165
Considerações Finais
Entre os mais argumentos da santa igreja católica, com que a
sua verdade manifestamente se demonstra, o principal é o
sangue dos mártires constantemente derramado em todo o
mundo, pela série continuada dos séculos que foram correndo
desde os seus princípios até os tempos presentes.54
O trecho acima, apresentado como parte do processo de beatificação de um
mártir da Companhia de Jesus na Sagrada Congregação dos Ritos no início do século
XVIII, expressa a notável resiliência do instrumento do “batismo de sangue” para a
Cristandade, mecanismo em plena vigência mais de 1500 anos após sua cristalização
no final da Antiguidade.
Os muitos exemplos trazidos por este texto revelam os padres da Companhia de
Jesus como protagonistas privilegiados da generalização do instrumento da
conversão do território mediante o sangue dos mártires. A auto-representação dos
jesuítas como novos apóstolos foi, portanto, fortemente lastreada na vocação
martirológica da Companhia. Louis Richeome explicita essas relações ao comentar as
imagens de mártires sacrificados no mundo todo pintadas nas paredes do Noviciado
da Sant’Andrea al Quirinale: “Eles deram suas vidas em nome de Cristo, e tingiram
terras e mares com seu sangue, para que o Sol pudesse nascer e olhar para os
diversos lugares do mundo inabitável”.55
Os exemplos de martírios evocados neste texto não poderiam vir de contextos
mais diversos entre si, e compreender cada um deles em toda a sua complexidade
significa enfrentar um rosário de desafios que excede em muito a capacidade de um
só pesquisador. Ainda assim, tomados em série a partir da forma como os jesuítas os
trataram, essas histórias tão díspares revestem-se de uma notável coerência, desde
que estejamos dispostos a assumir duas características da ação jesuítica: Em primeiro
lugar, a sua dimensão global, ou seja, agências que não pertencem a um ou alguns
contextos específicos, mas que só podem ser compreendidas como fenômeno que
ocorre em todos os lugares, pressupondo leituras trans-territoriais para as quais estamos
pouco treinados; em segundo lugar, a milenar durabilidade – adaptada por certo, mas
preservada em seu sentido básico – da ferramenta do “batismo de sangue” como
instrumento de conversão de territórios para a Cristandade, situando-se em um
campo quase acrônico e desafiando as nossas formas de representar a passagem do
tempo.
54
GALLERATO, João B. Compendio do nascimento, vida e martyrio do servo de Deus João
de Britto (Roma, 1714). História do nascimento, vida e martyrio do Beato João de
Britto da Companhia de Jesus. Lisboa: Typographya de A. S. Monteiro, 1852, p. 197.
55 RICHEOME. La peinture spirituelle, p. 237 Apud BAILEY. Between Renaissance
and Baroque…, p. 66.
ISBN 978-85-61586-70-5
166
IV Encontro Internacional de História Colonial
Carreiras e trajetórias da magistratura letrada que atuou nas Minas
Setecentistas: relações de poder, possibilidades de progressão e corrupção
Maria Eliza de Campos Souza1
Essas trajetórias dependiam muito de um conjunto de relações de poder que eram
tecidas a partir de vínculos criados com grupos de poderosos locais e sua
permeabilidade aos grupos de poder no centro. O ouvidor deveria intermediar
eficazmente no exercício de suas funções os seus próprios interesses, os da Coroa e
os dos poderosos locais. Atuar de forma “virtuosa” nesse intrincado jogo político da
Minas não era tarefa fácil e conforme já amplamente salientado pela historiografia
sobre as Minas, o mais comum era que quase sempre os ouvidores se envolvessem
em conflitos com os diferentes grupos locais e outras autoridades administrativas na
Capitania. Fiscalizar, arrecadar para os cofres da Coroa e administrar a justiça sem
desencadear insatisfações coletivas ou de outras autoridades régias, mantendo-se a
par e como parte, muitas vezes, dos grupos de interesses nos locais eram condições
indispensáveis para a ascensão e enriquecimento e para outros aumentos com o
cargo de ouvidor de comarca nas Minas. Os conflitos envolvendo estes ministros
régios nas Minas, sempre referidos pela historiografia como indício da
desorganização administrativa na região, serão aqui analisados mais como
indicadores das negociações de interesses dos diferentes grupos de poder em questão
numa região, e, sobretudo, como um mecanismo para reajustarem-se interesses
divergentes.
Quanto ao início da carreira e a trajetória até a ocupação do cargo de ouvidor em
uma das quatro comarcas mineiras, o percurso para a maioria dos ministros esteve
relacionado ao acúmulo de experiências em várias localidades do reino, Ilhas e
ultramar. Eram nomeados para ocuparem os ofícios denominados de “primeira
entrância” (instância), ou seja, para exercerem a justiça em âmbito local, junto à
pequenos conselhos ou câmaras como juízes de fora ou também em alguns casos
como juízes de órfãos, juízes do cível e crime, ouvidores, provedores no reino e em
menor número para todos esses cargos no ultramar. Para os ouvidores mineiros a
experiência necessária era adquirida em pequenas localidades no reino.
O período gasto na ocupação desta primeira nomeação, feita geralmente para três
anos, podia ser ampliado já que, embora não tenha sido muito comum reconduções
neste grupo, serviam tempo a mais até que não fossem nomeados substitutos. As
provisões régias para os cargos criavam mecanismos para o prolongamento do
exercício do magistrado, uma vez que, elas eram feitas com as seguintes
recomendações aos ministros para atuarem “…por tempo de três anos e além deles o
1 Doutoranda do programa de Pós-graduação em História da UFMG, bolsista CAPES/20102011 e FAPEMIG 2011/2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
167
mais que houver enquanto não mandar o cotrário” ou “enquanto não mandar tirar
residência”.2 Até meados do século XVIII, era praxe ocorrerem nomeações em
conjunto por períodos regulares, assim permaneceu até o decreto de 23 de outubro
de 1759 em que se permitia fazer nomeações para os cargos à medida em que fossem
ficando vagos, produzindo maior agilidade nas nomeações e também menor tempo
de espera para os ministros que aguardavam a ocupação dos mesmos e ou a
progressão na carreira sem ter que permanecer tanto tempo em cargos menores.3
Traço marcante no percurso dos ouvidores de Minas é que tiveram como
primeira ocupação no serviço régio o cargo de juiz de fora no Reino
predominantemente, sendo menos expressivos os que iniciaram suas carreiras como
juízes de fora no ultramar, como demonstra o quadro que se segue. A maioria dos
ministros chegavam às Minas para exercício como ouvidores de comarca após a 2ª
ou 3ª ocupação em outros cargos, o que confirma ser a experiência um critério
importante para a escolha dos bacharéis além dos aspectos já mencionados quanto
à qualidade como estudantes. Ao todo, 68 ministros que foram para a Minas
acumularam experiências no exercício de uma a quatro ocupações anteriores, além
disso pelo menos quatro ouvidores de Minas possuíam não só a experiência do
acumúlo de outras ocupações anteriores como foram nomeados desembargadores
para terem exercício no lugar de ouvidor das Minas. Apenas doze bacharéis foram
nomeados diretamente para o cargo de ouvidores depois do exame no Desembargo
do Paço, o que implicava custos elevados para o bacharel e riscos para a
administração da justiça conforme será discutido adiante.
Por outro lado também são pouco expressivos os ouvidores que chegaram às
Minas, depois de terem exercido quatro ocupações anteriores, e, portanto, no final de
suas trajetórias como ministros régios, ou já com quase vinte anos de serviços. Esse
foi o caso de João Lopes Loureiro, que leu no desembargo em 1692 e iniciou carreira
como Juiz de fora de Esposende em que foi encarregado da superintendência do
Forte e Fortificações da Marinha, do qual deu boa residência em 1705. Em seguida
foi nomeado ouvidor de Barcelos, cargo em que permaneceu até dar boa residência
em 1709, com nota para os serviços que prestou tendo feito muitos soldados pagos e
predendo desertores deu pronta execução às ordens que lhe foram passadas. Depois
desse período recebe mercê de Cavaleiro Fidalgo,4 pelos serviços mencionados em
1712 e serviu de Provedor de Guimarâes e deu boa residência em 1718. Mesmo
2
ANTT, RGM, D. João V, liv. 06, f.42v.
SILVA, António Delgado da. Collecção da Legislação Portugueza.
Lisboa: Typografia Maigrense, 1828, p. 722 - 723. Disponível em:
http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt.
4 ANTT, RGM, D. João V, liv. 5, fl. 495. Mercê de Cavaleiro Fidalgo pelos serviços prestados
por João Lopes Loureiro, com $750 réis de moradia ao mês e um alqueire de cevada dia. 1711-1712
3
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
168
considerando os intervalos que teve que esperar entre uma nomeação e a outra, o
ouvidor já contava em 1718 com quase vinte anos de atuação no serviço régio.
Recebe a mercê do cargo de ouvidor da Comarca de Vila Rica e Ouro Preto, em
1721, onde faleceu em fins de 1722.5
Quadro 1
Trajetória dos ministros régios até chegarem a Ouvidores de Minas.
Cargos
Auditor Geral ; Auditor de
Infantaria e regimentos
Corregedor no Reino
Desembargador
com
exercício no lugar de ouvidor
de capitania no ultramar
Desembargador
com
exercício no lugar de ouvidor
de comarca em Minas
Intendente
Juiz de Fora em Reino
Juiz de Fora nas Ilhas
Juiz de Fora no ultramar
Juiz das propriedades, crime,
cível e dos órfãos no Reino
Ouvidor em Minas Gerais
Ouvidor no Reino
Ouvidor no ultramar
Provedor no Reino
Provedor no ultramar
Ordem de ocupação dos cargos
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
2
1
2
1
1
2
4
1
46
6
5
6
1
13
1
6
2
12
6
1
33
3
4
1
2
27
6
3
1
1
1
4
1
Fonte: ANTT, DP, Leituras de Bacharéis; Assentos de Leitura, Registro Geral de Mercês; Chancelarias Régias.
A historiografia tem apontado como razão para a predominância de início da
carreira como juiz de fora de pequenas localidades no reino, o fato de serem do
ponto vista político e demográfico menos importantes e com critérios de admissão
de bacharéis menos rígidos do que para localidades mais importantes, como cabeças
de Comarca, sendo por isso, lugares ideais para iniciar a carreira.6 Contudo, há um
5
6
ANTT, DP, Livros de assentos de Leitura de bacharéis, n.129, fl.184v
CAMARINHAS, Nuno, p. 266-267
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
169
outro aspecto, ainda pouco explorado, mas certamente muito relevante para se
entender os percursos da magistratura no reino e no ultramar, sobretudo em início
de carreira. Como já foi salientado, o caminho que levava até a entrada para o serviço
régio era longo e dispendioso para as famílias. Entrar para o serviço régio demandava
um esforço em estratégias para conseguir uma nomeação, uma vez que os critérios
de acesso vincunlavam-se a uma ordem burocrática-profissional mas também a uma
ordem político-social, e também grandes investimentos em quantias que deveriam
ser pagas à Coroa, como novos direitos, para que se exercesse um cargo no serviço
régio. No caso da primeira nomeação, certamente esses valores seriam cobertos pelas
famílias dos ministros, que eram por ocasião de entrada no serviço régio quase
sempre solteiros, e ainda dependentes da fortuna de seus ascendentes. Apenas quatro
desses ouvidores já estavam casados quando fizeram o exame de Leitura de
bacharéis.
A composição dos valores cobrados como novos direitos, por cargos ocupados
pelos ministros, levava em conta uma avaliação dos redimentos que poderiam ser
alferidos através da atuação em cada um desses lugares. Os redimentos,
emolumentos e salários acabavam por definir um valor que deveria ser pago todas a
vezes em que se recebia a mercê de nomeação para exercerem cargos na magistratura
régia. Para muitos cargos em que não era possível fazer o cálculo dos rendimentos
totais em função de propinas e emolumentos variáveis, os ministros assinavam fiança
dos novos direitos a pagar sobre os rendimentos a mais que houvesse. Não se trata
de uma avaliação propriamente dita do cargo, uma vez que não são
patrimonializaveis,7 como eram muitos outros ofícios, mas sim de uma espécie de
imposto calculado sobre os rendimentos que se poderia obter com o exercício do
mesmo. E quando se passava de um cargo cujos rendimentos não propiciavam
melhoras, não se pagavam os Novos direitos.
Os cargos de primeira entrância, em particular aqueles das pequenas vilas no
Reino eram os que demandavam menores quantias em novos direitos, os quais
ficavam mais elevados para as judicaturas em cidades e vilas principais e ainda mais
elevados em determinadas localidades no ultramar. Como exemplo, temos o
pagamento de 288$465 mil réis, mais fiança da mesma quantia, em Novos Direitos
pagos pelo ministro nomeado como juíz de fora da cidade de Mariana em 1747,8 na
7 Não se está falando de ofícios, serventias, que se tinham como propriedade vitalícia e que
em muitos casos eram legados aos filhos, e para os quais muitas vezes se nomeavam
serventuários, em troca de rendimentos. Sobre os quais recaiam também os Novos Direitos
e mais donativos e terças-partes, e que podiam ser concedidos muitas vezes como mercês em
remuneração de serviços prestados ao rei. Discute-se aqui apenas os cargos com provimento
régio trienal e não patrimonializáveis, pois era imprescíndivel para ter acesso a eles uma
formação letrada e a aprovação do Desembargo.
8 ANTT, Chancelarias Régias, D. João V, liv.116, fl. 69, Carta de juiz de fora de Mariana
concedida a Francisco Ângelo Leitão, 6-5-1747
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
170
Comarca de Vila Rica de Ouro Preto, em Minas. Valor exorbitante se comparado
com o que se pagava para assumir o mesmo cargo em qualquer outra localidade no
reino, em média 30$000 mil réis em novos direitos, sendo que em muitas pequenas
localidades o valor não passava de 20$000 mil réis, conforme levantamento feito para
valores pagos em novos direitos ao assumirem os cargos citaddos antes de serem
nomeados para o cargo de ouvidores nas Minas.
Quadro 2
Valores pagos em novos direitos para os cargos de juiz de fora
ocupados pelos ouvidores que atuaram em Minas
Cargo
Juiz de Fora da Cidade de
Funchal
Juiz de Fora da Cidade de
Loanda
Juiz de Fora da Cidade de
Ponta Delgada
Juiz de Fora da Ilha de
Santa Maria
Juiz de Fora da Vila de
Alcacer do Sal
Juiz de Fora da Vila de
Cea
Juiz de fora da Vila de
Couruche
Juiz de fora da Vila de
Fayal
Juiz de Fora da Vila de
Figueira
Juiz de fora da Vila de
Mafra
Juiz de fora da Vila de
Mourão
Juiz de fora da Vila de
Paracatu
Ano
Valor
pago de
Novos
direitos
1798
31$303
1772
95$000
1717
20$000
1790
43$250
1800
100$000
1730
35$000
1739
10$000
1784
30$00
1778
26$666
Fiança de
outra
tanta
quantia
fiança
do valor
total
dos
novos
direitos
Pagou
Novos
direitos
do tempo
que
serviu a
mais no
cargo
20$000
1742
100$000
16$542
X
1748
30$000
1799
129$059
ISBN 978-85-61586-70-5
189$748
Encontros com a história colonial
Juiz de fora da Vila de
Paracatu
Juiz de Fora da Vila de
Santa Marta
Juiz de Fora da Vila de
Santos
Juiz de Fora da Vila de
Terena
Juiz de Fora da Vila de
Viana
Juiz de fora de Almada
171
1802
115$000
1776
X
1786
98$750
1786
26$666
1707
7$500
1722
14$635
Juiz de Fora de Almada
1723
14$625
Juiz de Fora de Almodovar
Juiz de Fora de Castelo
Branco
Juiz de Fora de Couruche
1716
12$750
1708
13$813
1764
23$333
Juiz de Fora de Guimarães
1715
35$000
Juiz de Fora de Landroal
1728
12$875
Juiz de Fora de Mariana
1788
72$416
Juiz de Fora de Mariana
1747
288$465
Juiz de Fora de Mariana
1776
98$750
Juiz de Fora de Monsaraz
Juiz de Fora de Montemor-velho
Juiz de Fora de Ourique
1782
12$875
288$465
145$176
1794
80$269
1720
17$500
Juiz de Fora de Pinhel
Juiz de Fora de Ponte de
Lima
Juiz de Fora de Portimão
Juiz de fora de Rio de
Janeiro
Juiz de Fora de São Miguel
1759
41$666
1720
13$750
13$750
1717
11$250
11$250
1739
69$625
69$625
1720
12$500
12$500
Juiz de Fora de Satarém
1780
26$666
Juiz de Fora de Setubal
1742
39$250
Juiz de Fora de Setubal
1722
13$750
Juiz de Fora de Soure
1721
24$500
ISBN 978-85-61586-70-5
11$908
IV Encontro Internacional de História Colonial
172
Juiz de Fora de Valença do
Minho
Juiz de Fora de Vila de
Campo Maior
Juiz de Fora de Vila de
Castelo Rodrigo
Juiz de Fora de Vila Nova
de Cerveira
Juiz de fora de Viseu
1798
45$947
1731
30$000
1728
25$500
1771
31$666
1730
16$825
Juiz de Fora do Porto
1739
52$500
Juiz de Fora do Porto
Juiz de Fora do Rio de
Janeiro
Juiz de Fora e dos Órfãos
de Salvador
Juiz do Crime da Bahia
Juiz dos Feitos da Coroa e
Fazenda da Casa da
Suplicação (após cargo de
ouvidor)
Juiz dos órfãos da cidade
da Guarda
Juiz dos órfãos do Bairro
Alto
Juiz Geral das
Coutadas(após cargo de
ouvidor)
1748
87$500
1716
37$500
20$660
5$677
16$825
1727
24$548
X
1794
114$686
1758
155$00
1751
50$000
1778
1767
X
13$415
43$333
Nesse sentido, cabe ressaltar que muitos destes ministros iniciavam suas carreiras
no reino também por serem postos mais acessíveis do ponto de vista financeiro. Para
suas famílias, que já haviam suportado o peso da manutenção ao longo da formação
e mais todos os encargos com atos e exames de formatura e no Desembargo do
Paço, arcar ainda com novos direitos elevados era para muitas delas investimento
improvável. Assim, começavam pelos lugares menores no Reino, permaneciam neles
por um período entre 3 a 5 anos, e somente na segunda ou terceira nomeação iam
para lugares em que os rendimentos eram mais elevados mas para os quais também
se pagavam novos direitos maiores, como era o cargo de ouvidor nas Minas.
Para o grupo de ovidores das Minas, esse período como juizes de fora em várias
localidades no reino foi essencial no desenvolvimento futuro de suas carreiras.
Nessas ocupações estruturavam suas famílias e redes sociais e de poder, também
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
173
muito importantes para assegurar nomeações futuras, já que dar boa residência9 ao
final do exercício nesses cargos dependia duplamente dos serviços prestados e das
testemunhas que no processo acabavam definindo a qualidade dos serviços do
magistrado. Para os que entravam no serviço régio sem se casarem, geralmente o
faziam em sua primeira ou segunda nomeação. E quando se casavam com mulheres
da região onde exerciam a judicatura precisavam de autorização régia, o que muitas
vezes constituia impecilho e atraso nas núpcias desses ministros, os quais somente
recebiam a autorização para depois terminassem o exercício do cargo na localidade
de onde provinha a noiva. Na verdade, muitas provisões de cargo, especialmente no
ultramar, determinavam que os ministros não se casassem naquelas localidades, sob
pena de verem nulas as promessas de acederem aos postos mais elevados como os de
desembargadores de tribunais superiores.
Embora fossem cargos cujos rendimentos não eram muito elevados como os de
outros postos no ultramar, foi a partir deles que esses magistrados acumularam o
necessário para investirem na carreira ultramarina, tanto do ponto de vista social
como financeiro, já que os novos direitos pagos para aceder aos cargos em Minas
Gerais eram sensivelmente mais elevados e no caso das ouvidorias demandavam
quantias avultadas conforme tabela seguinte. Apesar de no início do século XVIII,
quando ocorreram as primeiras nomeações para o cargo, o valor do novos direitos
pagos serem baixos e equivalentes aos de outras regiões, logo foram elevados e
depois sofreram variações relativamente pequenas ao longo do século e com
tendência ao aumento dos valores.
9
As residências eram processos de inquirição de testemunhas, abertos na localidade onde
atuaram os ministros régios, conduzido geralmente pelo sucessor que abria a sindicância e
depois enviava aos tribunais superiores que julgavam as residências e aprovavam ou não os
ministros. Ver: SUBTIL, José. O Desembargo do Paço (1750-1833). Lisboa: UAL, 1996, p.
311-320.
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
174
Quadro 3
Novos direitos pagos pelos nomeados ao cargo de ouvidores
Cargo
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca de
Vila Rica e Ouro Preto
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Ano
Valor
pago de
Novos
direitos
Fiança
de outra
tanta
quantia
1748
342$875
342$875
1739
337$500
1721
56$250
56$250
1723
172$875
172$875
1744
333$675
1765
689$167
1758
692$500
1801
250$687
1711
60$000
60$000
1715
16$900
16$900
1718
157$500
1733
847$000
1775
425$000
1718
52$500
1758
425$000
1747
212$500
212$500
1723
57$500
57$500
Fiança
do valor
total
dos
novos
direitos
Pagou
Novos
direitos do
tempo que
serviu a
mais no
cargo
X
52$500
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
175
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Mortes
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
1802
128$000
1733
198$750
1761
337$500
1731
193$200
1779/1791
330$000
1807
204$000
1711
37$500
1740
183$375
1779
388$333
1748
180$000
180$000
1744
6$800
6$800
1713
68$500
1758
425$000
1725
68$572
1802
466$000
198$750
37$500
68$572
1789
X
1729
67$875
1772
425$000
1752
168$750
1720
147$475
1742
195$500
67$875
168$750
195$500
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
176
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Rio das Velhas
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Comarca do
Serro do Frio
Ouvidor da Paraíba
(anterior a Minas)
Ouvidor da Paraíba
(anterior a Minas)
Ouvidor de Vila do
Príncipe
Ouvidor de Vila do
Príncipe
Ouvidor do Azeitão
(Portugal, anterior a
Minas)
Ouvidor Geral da
Capitania do Maranhão
(anterior a Minas)
1738
197$875
1758
294$066
1738
137$500
137$500
1726
62$500
62$500
1720
90$000
1798
222$083
1790
208$384
1765
275$370
1747
152$500
1783
275$840
1772
301$666
1778
266$666
1755
282$500
1705
20$000
1711
18$087
1744
147$500
1732
202$300
1711
27$500
27$500
1733
39$625
39$625
X
152$500
20$000
147$500
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
177
A partir dos dados coletados nos dois quadros anteriores percebe-se a diferença
entre o que era necessário investir para ocupação de cargos no reino e no ultramar,
particularmente nas Minas no século XVIII. Além dos novos direitos serem muito
mais elevados para os cargos nas Minas, e, sobretudo, para o de ouvidor de comarca,
é preciso considerar também os custos com a viagem até as localidades. Muitos
magistrados, nesta ocasião de irem para as Minas, já estariam com suas familias
constituídas e não era raro que os familiares os acompanhassem. Também era
comum receberem mercês de ajuda de custo para as viagens, mas também chegavam
a contrair empréstimos para tal fim. Este foi o caso do ouvidor João Gualberto Pinto
de Moraes Sarmento, que recebeu uma mercê para tomar empréstimo de 6 mil
cruzados para seu transporte e estabelecimento nas Minas, como ouvidor da
Comarca do Rio das Velhas, com sua mulher, sete filhos e cunhados.10 Deu como
garantia no empréstimo os rendimentos sobre o ofício de escrivão da mesa do Sal de
Lisboa, do qual era proprietário, por um período de dez anos. Anteriormente havia
exercido o cargo de juiz de fora de Santarem, mas já era proprietário do ofício citado
mesmo antes de entrar para o serviço régio, o que lhe assegurava rendimentos e uma
condição diferenciada de outros ministros régios.
Apesar do cargo de juiz de fora e órfãos em outras localidades do Brasil
demandarem investimentos superiores aos necessários para os mesmos cargos no
reino, os valores que eram pagos em novos direitos para ocuparem os mesmos
cargos nas Minas superavam os demais. Para o caso do cargo de ouvidor as
diferenças são ainda mais significativas conforme visto, e levando-se em conta que
esses valores se compunham com base nos rendimentos dos cargos, está claro que os
investimentos, por mais elevados que fossem, seriam devidamente recompensados,
como será discutido no capitulo 3, através uma remuneração de serviços generosa.
Pode-se dizer que a trajetória mais comum entre os ministros régios nomeados
para exercerem o cargo de ouvidores nas Minas esteve associada ao exercício do
cargo de Juiz de fora no reino, locais onde acumularam as experiências
administrativas necessárias e o saberes quanto ao funcionamento dos poderes locais,
tão úteis ao contexto das Minas. Além disso, acumulavam valores necessários ao
pagamento dos novos direitos, visto que um número significativo deles pagou o
valor correspondente sem dar fiança, e outros deram fiança apenas da metade do
valor. Para os que constituiram famílias, a maioria o fez ainda quando exerciam esses
cargos e, portanto, criavam laços de sociabilidade nesses locais. Quase não houve
ouvidores que casaram-se em Minas. Raramente o seu percurso passou por outras
áreas do Império, e são poucos os casos de exercício de cargos em outras capitanias
no Brasil com destaque para Paraíba, Bahia e Rio de Janeiro, Pernambuco e
Maranhão. Outra questão a pontuar é que poucos exerceram o cargo de ouvidores
em outras localidades antes de o exercerem nas Minas, assim como poucos
10
ANTT, RGM, D. Maria I, liv. 1, fl.371v. 14-12-1779.
ISBN 978-85-61586-70-5
178
IV Encontro Internacional de História Colonial
ocuparam o posto de corregedores no reino, e cujas as funções eram desempenhadas
nas Minas pelos ouvidores de comarca.
Se para o caso das primeiras nomeações ao serviço régio, eram importantes as
informações sobre os ministros repassadas pela Universidade e todo o processo de
exames no desembargo, para as nomeações seguintes a essas primeiras era
fundamental que o ministro apresentasse comprovações sobre o seu bom
desempenho nos cargos anteriores. Para todos os ouvidores nomeados para as Minas
encontramos a referência de que estavam sendo nomeados por terem servido bem e
dado boa residência dos cargos anteriores, pelas suas qualidades de bom ministro.
Sempre que possível, mencionavam nas petições que dirigiam ao rei nos concursos
de bacharéis outras qualidades importantes na escolha, como ser filho legitímo de
outro ministro e desembargador, fazer menção aos serviços prestados por parentes,
todos aspectos levados também em conta nas nomeações. Entretanto, o traço mais
visível no grupo de ouvidores mineiros era o de serem magistrados já com
experiência anterior e da qual deram boa residência, além disso, como antes foi
mencionado a qualidade de suas formações, e o bom desempenho na Leitura do
Desembargo.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
179
Ouvidores régios e as redes comerciais locais: negócios e conflitos na
capitania do Ceará no século XVIII
Reinaldo Forte Carvalho1
Introdução
A partir do século XVII a grande conveniência das terras dos sertões do Ceará
para a criação do gado, proporcionou rapidamente a ocupação e conquista desta
região através da divisão das sesmarias na capitania para inúmeros representantes da
Coroa portuguesa. A ocupação aos poucos foi acontecendo com a inserção de
algumas famílias que passaram a consolidar a formação de importantes núcleos
familiares dentro do processo de organização social na capitania do Ceará.
A formação dos primeiros núcleos familiares na capitania do Ceará é o ponto de
partida para compreensão de determinados fenômenos referente à organização dos
principais grupos que detinham o poder de mando sobre as terras da capitania.
Partindo desta perspectiva, se descortina assim dados preciosos sobre as formas de
composição, formação e organização social dos poderes locais na capitania do Ceará.
Portanto, estudar a formação das famílias no pano de fundo de suas
historicidades regionais, significa ainda um esforço de síntese, no sentido de compor
um quadro mais amplo, abarcando ao mesmo tempo a reconstituição de suas
experiências de vida local, e nuanças ou conjunturas de inserção nas redes de
sociabilidade e poderes da sociedade colonial.
Em meio a esse contexto de concessão de terras e o processo de povoamento
progressivo na capitania através dos primeiros núcleos familiares que foram sendo
incorporados ao longo das ribeiras do Jaguaribe, Acaraú e Salgado, surgiram diversos
conflitos envolvendo colonos, jesuítas, administradores régios e as populações
indigenas. No processo de ocupação da capitania as populações indígenas passaram a
ser inicialmente inseridas dentro da dinâmica da política colonizadora, no entanto
devido a resistência indígena grande parte das comunidades foram sendo
exterminadas nas “guerras justas” por determinação do poder administrativo da
Coroa portuguesa que ficou marcado na historia como a “guerra dos bárbaros”.
O ímpeto do colonizador português proporcionou o avanço e a expansão da
pecuária para o interior da capitania cearenses através da instalação dos criatórios de
gados as margens das ribeiras tanto do Jaguaribe como do Acarau. Segundo Almir
Leal de Oliveira a expansão da pecuária para o interior da capitania intensificou o
processo colonizador definido pelas diretrizes de povoamento emanadas da política
metropolitana.
1
Professor efetivo UPE. Doutorando UFPE. Bolsista CAPES.
ISBN 978-85-61586-70-5
180
IV Encontro Internacional de História Colonial
Durante a conquista e colonização, a expansão dos interesses
metropolitanos seguiu assim o desenvolvimento da atividade
pastoril: abriram-se os caminhos pelo o sertão, pelas ribeiras dos
rios, gerando povoamento rarefeito e formando as fazendas de
criar. Desta forma se formaram as principais rotas de boiadas,
sendo que a principal se iniciava na foz do Jaguaribe e penetrava
o sertão pela ribeira deste rio até o Cariri, onde se integrava com
outros caminhos coloniais.2
A organização da atividade pastoril e das oficinas de carne seca intensificou
gradativamente o interesse por parte dos criadores na aquisição de mais terras para a
criação de gado no interior da capitania. De acordo com Francisco José Pinheiro que
analisa a formação social do Ceará esse processo consolidou a estrutura do poder
local na capitania através dos principais núcleos familiares que se caracterizavam
dentro do principio “predominantemente agrário, onde o acesso a terra se
transformou em importante elemento de poder”.3
A posse da terra era um elemento fundamental dentro do processo de ocupação e
conquista da capitania devido à exigência da política mercantil no processo de
inserção das fazendas de gado nas ribeiras do Jaguaribe, Acaraú e Salgado.
A adaptação e criação de gados “vacuns e cavalares” às margens das ribeiras da
capitania estrategicamente promoveram a formação e consolidação dos primeiros
núcleos familiares que passaram a definir elementos típicos de organização de uma
sociedade marcada pelos elementos representativos do domínio dos potentados
locais e da exacerbação da prática da violência social.
Outro fator importante na expansão da pecuária, é que, não só a mesma
contribuiu com o processo de povoamento da capitania, como também supria a
necessidade econômica das capitanias que careciam do consumo interno da
produção da carne seca e da salga e secagem do couro. Este fator proporcionou o
surgimento das principais rotas das boiadas que se entre cortavam pelos sertões
adentro das capitanias, interligando-as a outros pólos produtores da economia
interna colonial.
De vassalos do império a senhores das terras nos sertões do Ceará
2
OLIVEIRA, Almir Leal de. “A dimensão atlântica da empresa comercial do charque: o Ceará
e as dinâmicas do mercado colonial (1767-1783)”. In: Anais do I Encontro Nordestino de
História Colonial: Territorialidades, Poder e Identidades na América Portuguesa –
séculos XVI a XVIII. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2006, p. 2
3 PINHEIRO, Francisco José. Notas sobre a formação social do Ceará (1680-1820).
Fortaleza: Fundação Ana Lima, 2008.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
181
Na ocupação das terras da Capitania do Ceará na primeira metade do século
XVIII, a pecuária teve um papel de suma importância no processo de povoamento e
fundação das primeiras vilas e núcleos urbanos que passavam a surgir ao longo deste
período. A margem da ribeira do Jaguaribe foi se estabelecendo inúmeras vilas e as
primeiras fazendas de gados e as oficinas de carne seca. A expansão que a pecuária
promoveu chamou a atenção e o interesse da administração portuguesa para a
Capitania do Ceará em relação ao aumento das exportações de carne seca para outras
capitanias.
A partir da regularização da ocupação da capitania do Ceará, surgiram as
primeiras vilas dentre elas Aquirás, Fortaleza e Aracati. A vila de Aquirás que em
principio serviu de cabeça de termo, e da comarca rivalizava-se com Fortaleza pela
disputa da sede da capitania. As precárias condições, a falta de um porto para ancorar
as naus da Coroa e o pouco adiantamento que teve a vila Fortaleza excitara pela
remoção da sede para a então vila de Aracati que se localizava nas margens da ribeira
do Jaguaribe, principal acesso que interligava facilmente o percurso entre o litoral e o
sertão da capitania.
De acordo com a historiografia cearense o processo de ocupação e povoamento
do território cearense se deu fundamentalmente devido o avanço da atividade da
pecuária nos sertões da capitania que chamou a atenção e o interesse da Coroa
portuguesa que efetivamente passou a distribuir inúmeras cartas de sesmarias.
Segundo Francisco José Pinheiro, a partir da distribuição e doação das cartas de
sesmarias se acentuou predominantemente a inserção dos núcleos familiares nos
sertões da capitania, promovendo assim, o avanço da pecuária. Para o autor, esse
processo contribuiu decisivamente na formação da estrutura fundiária e na
organização dos principais potentados locais nos sertões da capitania do Ceará. De
acordo com Pinheiro, “das 2.472 (duas mil quatrocentos e setenta e duas)
cartas/datas solicitadas, num período de mais de um século e meio, 91% tinham
como justificativa a necessidade de terra para ocupá-la com a pecuária”.4
O avanço da pecuária no interior do Ceará não só contribuiu para acelerar o
processo de povoamento desta região, como também definiu a forma que o governo
metropolitano exerceu na prática seu poder de ocupação, esquadrinhando as terras
da capitania através da distribuição das doações em prol dos interesses mercantilistas,
como cita Pedro Théberge:
Ao passo que os Missionários iam estendendo suas missões para
o interior da capitania, os colonos iam também se apoderando
das terras próprias para a criação do gado, e solicitavam dos
Monarcas portugueses doações ou datas de sesmaria delas. Esta
penetração para o centro sempre se fazia seguindo o curso dos
4
Ibiden, p. 24
ISBN 978-85-61586-70-5
182
IV Encontro Internacional de História Colonial
rios. O Jaguaribe e o Acaraú foram os que se prestaram
primeiramente à estas povoações; por isto é dificílimo adquirirse hoje documentos destas concessões feitas pelos Reis.5
Conforme Théberge o processo de povoamento seguia a risca as regras da Coroa
portuguesa. Pois, o processo de ocupação das terras da capitania do Ceará
inicialmente definiu uma organização social que tem como base na estrutura do tripé:
família, poder e propriedade.
Sobre esta questão João Brígido, relata que na proporção que a capitânia foi se
desenvolvendo, a riqueza tornava os grandes proprietários insolentes, e em
verdadeiros tiranos do sertão:
Dominando hordas selvagens, que tinham reduzido á
obediência, com as armas na mão, longe da autoridade, cuja
acção enfraquecida pela distancia mal se fazia sentir, taes
homens viviam em perfeita licença e dominavam os outros
colonos do modo o mais completo. Nos pontos mais
longínquos, sobre tudo, uma só vontade dominava, era a do
mais rico e mais afamiliado: a lei e o dever eram cousas
inteiramente ignoradas.6
No contexto da ocupação das terras ao sul da capitania, duas famílias se
sobressaem em relação à demonstração de seu poder, prestigio e riqueza. Segundo o
Dr. Pedro Théberge, entre as “mais notáveis famílias que occupavam o interior, duas
merecem a nossa attenção pelo numero de seus membros, pela sua riqueza, pela
clientela que souberam crear, e pela rivalidade calamitosa que as desuniu: são as dos
Montes e dos Feitosas”.7
A trajetória destas famílias ficou marcada nos anais da história do Ceará devido às
práticas de poder exercida por estes grupos que ao longo do processo de organização
foram se constituindo como os principais representantes das elites locais, que “de
modo semelhante aos senhores de engenho, os barões do gado e os magnatas do
interior – os “poderosos do sertão”, como eram chamados – tendiam a se constituir
na própria lei”.8
THEBERGE. P. (Dr.). Esboço histórico sobre a província do Ceará. Edição
fac-sim (1895). – Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 2001, p. 86
5
6
BRÍGIDO, João. Apontamentos para a história do Cariri. Fortaleza: Expressão Gráfica
e Editora Ltda, 2007, p. 34
7 THEBERGE. P. (Dr.). Esboço histórico sobre a província do Ceará…, p. 127.
8 BOXER, Charles R. O império marítimo português, 1415-1825. São Paulo: Companhia
das Letras, 2002, p. 322
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
183
Nestes potentados locais as práticas de poder se constituíam num elemento
integrante no cotidiano social das famílias do sertão do cearense que se enfrentaram
pelos mais torpes motivos. Segundo Antonio Otaviano Vieira Junior, “violência e
família se complementavam num cenário marcado pela fragilidade da presença do
Estado e por um acentuado, quadro de miséria; onde elementos culturais, como
honra e propriedade, forjavam álibis que faziam da família um lócus aglutinador de
demandas violentas”.9
Em um relato marcante sobre a família Feitosa, o viajante inglês Henry Koster na
sua passagem pelo Ceará em 1810 destacou o poderoso prestigio que esta família
detinha na estrutura político-administrativa da região, destacando a violenta ação
militar empregada pelos membros da mesma para resolver as inúmeras querelas:
A família Feitosa ainda existe no interior desta Capitania (do
Ceará) e na do Piauí, possuindo vastas propriedades, cobertas de
imensos rebanhos de gado. No tempo de João Carlos (Augusto
de Oeynhausen Gravenburg, capitão-mor governador do Ceará
de 1803 a 1807), o chefe dessa família chegara a tal poder que
supunha estar inteiramente fora de alcance de qualquer castigo,
recusando obediência às leis, tanto civis como criminais, fossem
quais fossem. Vingavam pessoalmente as ofensas. Os indivíduos
condenados eram assassinados publicamente nas aldeias do
interior. O pobre homem que recusasse obediência às suas
ordens estava destinado ao sacrifício e os ricos, que não
pertencessem ao seu partido, eram obrigados a tolerar em
silencio os fatos que desaprovam. Os Feitosas são descendentes
de europeus, mais, muitos dos ramos têm sangue mestiço e
possivelmente raros são os que não teriam a coloração dos
primitivos habitantes do Brasil. O chefe da família era coronel
de milícias, e podia, ao primeiro chamado, pôr em ermas cem
homens, o que equivale a dez ou vinte vezes esse número numa
região perfeitamente despovoada.10
Em um estudo especifico sobre as relações de poder das famílias locais, Billy
Jaynes Chandler afirma que a família dos Feitosas “estava bem fortalecido pela sólida
9
VIEIRA Jr, Antonio Otaviano. Entre paredes e bacamartes: história da família no
sertão (1780-1850). Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, Hucitec, 2004, p. 20
10 KOSTNER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. Tradução, prefácio e comentários:
Luis da Câmara Cascudo. 12ª Ed. V, I. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza: ABC Editora,
2003, p. 189
ISBN 978-85-61586-70-5
184
IV Encontro Internacional de História Colonial
estirpe e riqueza em terras o suficiente para colocá-lo entre os potentados dos
Inhamuns”.11
Portanto, o processo de organização e ocupação e conquista da região os
primeiros núcleos familiares do sertão cearense se caracterizaram a partir do modelo
de família que é definida pelo nível de dominação local com base nas relações de
poder que envolvem a grande propriedade, as redes familiares e na violência das
ações.
O comércio de carne seca: elites e comerciantes locais nas redes de conexões
mercantis
No inicio do século XVIII, a dinâmica do povoamento do território do Ceará se
intensificou com as expedições de colonos que se dirigiam para o interior da capitania
com o fim de explorar as riquezas das terras dos sertões cearenses. A implantação das
fazendas de gado junto às ribeiras do Jaguaribe e Acaraú proporcionou rapidamente o
desenvolvimento do comércio e organização de núcleos familiares possibilitando
gradativamente o surgimento das primeiras aldeias, vilas, câmaras municipais e
instalação da primeira ouvidoria e provedoria da fazenda real na capitania do Ceará.
A grande conveniência das terras dos sertões do Ceará para a criação do gado
proporcionou rapidamente a ocupação e conquista desta região através da divisão
das sesmarias na capitania para inúmeros representantes da Coroa portuguesa. A
ocupação aos poucos foi acontecendo com a inserção de algumas famílias que
passaram a consolidar a formação de importantes núcleos familiares dentro do
processo de organização social na capitania do Ceará.
O processo de ocupação e povoamento do território cearense se deu
fundamentalmente devido o avanço da atividade da pecuária nos sertões da capitania
que chamou a atenção e o interesse da Coroa portuguesa que efetivamente passou a
distribuir inúmeras cartas de sesmarias. Segundo Francisco José Pinheiro que faz
uma analise da formação social no Ceará a partir da distribuição de sua estrutura
fundiária, afirma que a doação das cartas de sesmarias e o avanço da pecuária
contribuíram decisivamente na organização da capitania. Para o autor, “das 2.472
(duas mil quatrocentos e setenta e duas) cartas/datas solicitadas, num período de
mais de um século e meio, 91% tinham como justificativa a necessidade de terra para
ocupá-la com a pecuária”.12
A adaptação e criação de gados “vacuns e cavalares” às margens das ribeiras da
capitania estrategicamente promoveram a formação e consolidação dos primeiros
11 CHANDLER, Billy Jaynes. Os Feitosas e o sertão dos Inhamuns: historia de uma
família e uma comunidade no Nordeste do Brasil – 1700-1930. Fortaleza: Edições UFC:
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, p. 50
12 PINHEIRO, Francisco José. Notas sobre a formação social do Ceará…, p. 24
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
185
núcleos familiares que passaram a definir elementos típicos de organização de uma
sociedade marcada pelos elementos representativos do domínio dos potentados
locais e da exacerbação da prática da violência social.
Outro fator importante na expansão da pecuária, é que, não só a mesma
contribuiu com o processo de povoamento da capitania, como também supria a
necessidade econômica das capitanias que careciam do consumo interno da
produção de carne seca. Este fator proporcionou o surgimento das principais rotas
das boiadas que se entrecortavam pelos sertões adentro das capitanias, interligandoas a outros pólos produtores da economia interna colonial.
Neste processo de ocupação a pecuária teve um papel de suma importância no
processo de povoamento e fundação das primeiras vilas e núcleos urbanos que
passavam a surgir ao longo deste período. A margem da ribeira do Jaguaribe foi se
estabelecendo inúmeras vilas e as primeiras fazendas de gados e as oficinas de
charqueadas. A expansão que a pecuária promoveu chamou a atenção e o interesse
da administração portuguesa para a Capitania do Ceará em relação ao aumento da
venda de carne seca para outras capitanias.
De acordo com Rafael Ricarte da Silva, a pecuária teve uma importância
fundamental na ocupação da capitania do Ceará como elemento de integração entre
os espaços. Segundo o autor, esse processo de integração “possibilitou aos sujeitos
históricos envolvidos no trato da atividade pecuarista uma movimentação entre as
estradas e ribeiras, em suas investidas às concessões de terras, nas negociações do
gado e nas idas e vindas destes para as fazendas e feiras onde as transações
aconteciam”.13
A partir da regularização da ocupação da capitania do Ceará, surgiram as
primeiras vilas dentre elas Aquirás, Fortaleza e Aracati. A vila de Aquirás que em
principio serviu de cabeça de termo, e da comarca rivalizava-se com Fortaleza pela
disputa da sede da capitania. As precárias condições, a falta de um porto para ancorar
as naus da Coroa e o pouco adiantamento que teve a vila Fortaleza, excitara nos
grupos de elites de comerciantes de carne seca pela remoção da sede para a então vila
de Aracati que se localizava nas margens da ribeira do Jaguaribe, principal acesso que
interligava facilmente o percurso entre o litoral e o sertão da capitania.
De acordo Gabriel Parente Nogueira a criação da vila de Santa Cruz do Aracati
em 1748, foi o único caso que tinha como “justificativa a busca do controle das
atividades econômicas desenvolvidas na localidade, neste caso específico, a produção
13
SILVA, Rafel Ricarte da. Formação da elite colonial dos Sertões de Mombaça: terra,
família e poder (século XVIII). Fortaleza: UFC (Mestrado), 2010, p. 73
ISBN 978-85-61586-70-5
186
IV Encontro Internacional de História Colonial
e comercialização de carnes-secas e couro que se fazia na localidade do porto dos
barcos, próxima à foz do rio Jaguaribe.14
Conforme Leonardo Cândido Rolim que analisa a produção de carne seca na
ribeira do Jaguaribe afirma que os “fretadores e donos de barcos que ali aportavam
trazendo produtos que já haviam chegado de outras partes da América Lusa, ou até
mesmo do outro lado do atlântico, inseriam a vila de Santa Cruz do Aracati numa
dinâmica do império Português, representando assim o enraizamento de interesses
dos agentes mercantis de Pernambuco naqueles sertões”.15
Segundo Gabriel Parente Nogueira, a partir do processo de criação de vilas na
capitania entre os anos 1699 e 1802, percebe-se de que forma as elites locais, foram
sendo gradualmente incorporadas na dinâmica colonizadora em termos políticos, às
malhas de poder do Império português ao longo do século XVIII.
Entretanto para o autor, a criação das vilas “constituiu-se como um instrumento
de controle do Estado português sobre as elites locais que foram se formando ao
longo do processo de conquista da terra”. Para Gabriel Parente Nogueira esse
processo foi se efetivando como uma “forma de disciplinar o poder local, como um
instrumento de arregimentação de vassalos à lógica política do Império, por meio da
qual, o acesso aos postos de poder camarários se constituíam como um meio
privilegiado de arregimentação de poder e distinção pelos membros destas elites”.16
Segundo Gabriel Parente Nogueira, a lógica política do Império definia desta
forma a hierarquização dos poderes locais no contexto da capitania:
Tendo como referencial o processo de criação de vilas na
capitania entre os anos 1699 e 1802, pudemos perceber de que
forma a capitania do Siará grande e suas elites locais, foram
sendo gradualmente incorporadas, em termos políticos, às
malhas de poder do Império português ao longo do século
XVIII. Observamos, entre outros aspectos, que a criação de
vilas na capitania constituiu-se como um instrumento de
controle do Estado português sobre as elites locais que foram se
formando ao longo do processo de conquista da terra; sendo a
criação de vilas uma forma de disciplinar o poder local, como
um instrumento de arregimentação de vassalos à lógica política
do Império, por meio da qual, o acesso aos postos de poder
camarários se constituíam como um meio privilegiado de
14
NOGUEIRA, Gabriel Parente. Fazer-se nobre nas fímbrias do império: práticas de
nobilitação e hierarquia social da elite camarária de Santa Cruz do Aracati (17481804). Fortaleza: UFC, 2010, p. 56
15 ROLIM, Leonardo Cândido.“Matar, salgar e navegar: produção e comércio das carnes
secas na vila de Santa Cruz do Aracati – Capitania do Siará Grande, 1767-1793”. Anais do
XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011, p. 13
16 NOGUEIRA, Gabriel Parente. Fazer-se nobre nas fímbrias do império…, p. 65
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
187
arregimentação de poder e distinção pelos membros destas
elites. No caso da capitania do Siará grande, pudemos perceber
que (excetuando-se caso de Aracati) o desenvolvimento urbano
local não se configurou efetivamente como justificativa
preponderante para a criação de vilas no Siará grande no
período estudado, já que este processo ligou-se a diversas
motivações e interesses, em muitos casos mais associados à
implementação na capitania de diretrizes políticas gerais que em
motivações de caráter fundamentalmente locais.17
O avanço da pecuária no interior do Ceará não só contribuiu para acelerar o
processo de povoamento desta região, como também definiu a forma que o governo
metropolitano exerceu na prática seu poder de ocupação, esquadrinhando as terras
da capitania através da distribuição das doações em prol dos interesses mercantilistas
No final do século XVIII a retração das exportações de carne seca para outras
localidades e a decorrência de longos e freqüentes períodos de secas na capitania,
foram os primeiros sinais mostrando que o ciclo da pecuária começava a diminuir
consideravelmente. Neste momento, despontava no horizonte uma nova alternativa
econômica: o algodão.
Ouvidores e poderes locais: negócios e conflitos
A partir do processo de colonização, a gestação dos primeiros núcleos familiares e
o surgimento dos principais grupos de potentados locais, a Coroa portuguesa passou a
estabelecer as bases do corpo político administrativo na capitania do Ceará, como a
criação das primeiras vilas com suas casas de câmaras e pelourinhos, ouvidorias e
demais instituições administrativas. Diante deste quadro aumentaram não apenas as
queixas contra as violências dos capitães mores, mas os conflitos entre todas as esferas
de poder. Explicitando, dessa forma, os múltiplos interesses que se formaram com os
quais a Coroa tinha de lidar.
A continuidade do estado de injustiça que predominava na capitania adentrou o
século XVIII e foi apreendido pelas palavras do desembargador Cristóvão Soares
Reimão. Em missão ao Ceará o magistrado verificou uma série de irregularidades
como: as ações arbitrárias e parciais dos juízes e do escrivão da câmara, o suborno do
escrivão pelo capitão-mor, a facilidade de se cometerem crimes, o furto de mulheres
indígenas pelos moradores, a utilização da mão-de-obra indígena mediante o
pagamento de animais para o capitão-mor e mais vexações. Além disso, o
desembargador protestou contra o procedimento dos oficiais de impedir a medição
das terras da ribeira do Jaguaribe e a recusa do capitão-mor em fornecer os livros de
registro das sesmarias da capitania.
17
Ibidem, p. 67
ISBN 978-85-61586-70-5
188
IV Encontro Internacional de História Colonial
O remédio sugerido por Soares Reimão foi à realização de correições na capitania
pelo menos a cada três anos e a criação de um juiz e de um escrivão de notas para a
ribeira do Jaguaribe. A resposta régia informava que a incumbência de fazer correições
já fora determinada, porém não cumprida, e ratificava a decisão anterior: a suspensão e
a sindicância do capitão-mor, além de ordenar a investigação das denúncias. Situação
bastante reveladora da dificuldade da Coroa em garantir o exercício da justiça na
capitania seja pelo isolamento geográfico ou pela ingerência dos funcionários régios.
Para suprir essa demanda político-administrativa foram criadas sob o mesmo cargo
a Ouvidoria e a Provedoria do Ceará em 1723, rompendo a dependência em relação à
Ouvidoria da Paraíba e à Provedoria do Rio Grande. Em 1725 a capitania ganhou sua
segunda vila, Fortaleza, também situada junto à costa e, em 1738, foi instalada a
primeira vila no interior do território, Icó.
A administração político-administrativa da capitania inicialmente era regida pelo
Capitão que exercia a função basicamente militar no resguardo das terras dos
ouvidores somente foi criada no século XVIII, mas especificamente no ano de 1723,
com a nomeação de José Mendes Machado, conhecido pela alcunha de “Tubarão”.
No caso de José Mendes Machado, os problemas de jurisdição contribuíram para
uma atuação muito rápida do magistrado, impedido o mesmo de cumprir com o
tempo determinado de sua administração, devido a uma sublevação das lideranças
locais juntamente com os moradores da ribeira do Jaguaribe e o apoio do Capitãomor.
O relato do Dr. Pedro Théberge sobre este caso revela elementos significativos
em relação aos conflitos que envolviam o ouvidor. Para o cronista, os conflitos entre
o ouvidor e os representantes do poder da capitania são decorrentes da ação enérgica
do mesmo em fazer cumprir as devidas prerrogativas da lei na cobrança dos
impostos nas correições que realizava por toda a capitania. Segundo o autor, as
medidas tomadas pelo ouvidor entravam em choque com os interesses de seus
opositores, que segundo o autor “eram acostumados desde muito tempo a exercerem
impunemente toda espécie de prevaricações”.18
Segundo Théberge, com a correição na vila do Aquiras, o ouvidor sofreu
oposição da parte do Juiz ordinário Zacharias Vidal Pereira, que se opôs, a pretexto
de se achar ainda na Ouvidoria da Paraíba, cuja jurisdição tinha cessado de direito
por ocasião da posse do novo magistrado. Para o Dr. Pedro Théberge, esta “querela
terminou com o juiz ordinário preso, motivo que acirrou os ânimos dos habitantes e
potentados locais da capitania contra o Ouvidor da comarca que continuou no
exercício de suas funções”.19
As várias denúncias e representações enviadas ao Conselho Ultramarino e ao rei,
acusando José Mendes Machado de desmando político contra os habitantes da
18
19
THEBERGE. P. (Dr.). Esboço histórico sobre a província do Ceará…, p. 133
Ibidem, p. 133
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
189
capitania, acionaram os dispositivos jurídicos da administração metropolitana contra
o ouvidor. Estes dispositivos inicialmente tinham caráter investigativo, no decorrer
do processo dependendo das informações, chegava a efeito às severas punições. O
acionamento dos dispositivos jurídicos se dava através da instituição dos mecanismos
de poder quando iniciava as investigações preliminares sobre as denúncias, passando
pelas correições, deposição do cargo, retirada dos autos de devassas e residência até,
o julgamento final do processo pelo Desembargo do Paço.
Em relação ao Ouvidor José Mendes Machado, depois das investigações
preliminares, o ouvidor-geral da Paraíba Manuel da Fonseca e Silva em visita a
capitania, a mando do rei realizava a primeira correição contra o ouvidor. Em carta
de 29 de fevereiro de 1725, o ouvidor da Paraíba denunciava o excesso de violência
cometida por José Mendes Machado contra os “miseráveis habitadores”, da capitania
onde ocorreram muitas e cruéis mortes, destruições de fazendas, e perda gravíssima
dos dízimos a Vossa Majestade. A correição realizada contra o ouvidor revela
aspectos interessantes que compunham o cotidiano tenso e conflituoso em que
viviam representantes da administração política da capitania do Ceará, apesar de ter
sido realizava pelo Ouvidor da Paraíba que mantinha redes de influência e
sociabilidades com os poderes administrativos da capitania que eram opositores a
José Mendes Machado. No contexto do mundo colonial os conflitos geravam uma
atmosfera de vigilância mútua que contribuía com a descoberta de casos escusos e
omissos presentes nos discursos proferidos durante as investigações locais e nas
cartas enviadas ao rei e ao Conselho Ultramarino, que sempre se transformava em
motivos de processos e devassas nas mesas dos conselheiros e inquiridores do Reino.
Com o término da investigação inicial sobre os desmandos do ouvidor José
Mendes Machado, o Procurador da Coroa Antônio Rodrigues da Costa julgou
achando conveniente pela deposição do ouvidor e a prisão dos culpados pelas
inquietações. O conselheiro foi mais adiante, e sugeriu a repreensão do governador
de Pernambuco por não ter enviado ajuda rapidamente para deter a revolta.20
Era bastante comum haver falha na aplicação da prática das correições, tendo em
vista a possibilidade da formação de conchavos entre as partes envolvidas nos casos
em que alguma irregularidade viesse a público. A Coroa não hesitava em confrontar
os depoimentos dos envolvidos nos mais extensos processos.
Sobre esta questão, no caso de José Mendes Machado, encontra-se anexo à
documentação uma carta de João Pestana da Távora, morador da capitania que sai
em defesa do magistrado informando ter se retirado do Ceará por estar com sua vida
ameaçada por uma família, que com apoio do capitão-mor Manuel Francês, andava
amotinando e constrangendo o povo21. O denunciante acusava o Capitão mor por
proteger grupos locais, e perseguir a aqueles que se contrapunham a estes
20
21
AHU_ACL_CU_006, caixa 2, doc. 87.
Ibidem.
ISBN 978-85-61586-70-5
190
IV Encontro Internacional de História Colonial
potentados. Afirmava também, que naquela ocasião teria solicitado ajuda ao
governador de Pernambuco, mas teve seu pedido negado sob a justificativa do
mesmo haver prometido aos sublevados prender o ouvidor e seus parciais.
No cruzamento dos relatos sobre os conflitos de jurisdição surgem elementos que
caracterizam como as redes de influência fortaleciam as relações de cumplicidade
entre os indivíduos do mesmo grupo a partir da multiplicidade dos interesses que
envolvia a política administrativa da capitania do Ceará.
Segundo Barão de Studart, o denunciante “João Pestana da Távora era conhecido
como o mais violento partidário que servia ao ouvidor José Mendes Machado, com
quem se retirou para a Bahia quando da expulsão do magistrado, chegando depois a
ser deportado por determinação régia”.22
No entanto, as investigações se arrastavam por anos a fio pelas mesas dos
inquiridores do rei. Em meio a esse processo, José Mendes Machado requeria junto
às autoridades metropolitanas rapidez nos Autos de Residência, pois já passavam
cinco anos, e essa situação lhe impedia de pleitear novos postos no serviço régio.
Nesta ocasião, o ex-ouvidor descreveu os fatos, e atribuiu a revolta dos moradores às
famílias dos Montes e Feitosas, que segundo ele:
O motivo que tiverão os referidos cabedais para fazerem o
levantamento e sublevação e quererem matar o suplicante [ele
próprio, ouvidor] e priva-lo assim do seu lugar foi por terem
notícia e se acuarem da ordem que levava para tirar devassa de
uma injusta guerra que fizeram aos tapuias genipapos, e
excessos que cometeram roubando-os e cativando-lhe mulheres
e filhos.23
Neste requerimento José Mendes Machado relata que o capitão-mor Manuel
Francês, apoiou a atitude dos rebeldes e indeferiu seu pedido de ajuda, além de
proibir o registro desse fato pela câmara. Foi então que fugiu para a Bahia,
resolvendo voltar para Portugal após receber a notícia que o chefe do levante estava
livre e cometendo crimes.
As tramas de poder que envolviam as denúncias se multiplicavam a cada carta,
requerimento ou petição, sobre os relatos dos desmandos. De um lado, os
acusadores; do outro o acusado, que sempre alegava inocência requerendo uma
“graça” por ter cumprido as ordens do monarca. Segundo Geovanni Levi, esta seria
a “prática do poder como recompensa daqueles que sabem explorar os recursos de
22
STUDART, Barão de. Datas e fatos para a história do Ceará. Fac-sim. – Fortaleza:
Fundação Waldemar Alcântara, 2001. Tomo I., p. 167
23 AHU_ACL_CU_006, caixa 2. D. 116.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
191
uma situação, tirar partido das ambigüidades e das tensões que caracterizam o jogo
social”.24
Os vários processos que envolviam as investigações de desmando político por
parte dos administradores duravam o tempo necessário da devassa realizada sobre os
procedimentos tomados na administração do ouvidor antecessor, e enquanto o
mesmo não fosse considerado inocente, não poderia ocupar outros postos no
serviço real.
No caso do ouvidor do Ceará, em 30 de agosto de 1730, o parecer régio nomeava
o desembargador da Relação da Bahia, Pedro de Freitas Tavares e, na sua falta, ao
também desembargador André Ferreira Lobato para tirar devassa dos referidos
acontecimentos como realizar e tirar residência de José Mendes Machado.25
Considerações finais
No Ceará a atuação dos bacharéis oriundos de Portugal que exerceram a função de
ouvidores na política administrativa da capitania, foi bastante reduzida, em decorrência
do pequeno numero desses serventuários do rei que foram enviados para nela
desempenharem seus ofícios de ouvidores e provedores do Reino. Os Ouvidores,
Provedores e Corregedores quase sempre eram destituídos da titulação de bacharéis
em Direito, portando somente formação no estudo eclesiástico, cujas leituras se
resumiam no essencial do Direito Canônico.
Para Antonio Manuel Hespanha, a partir do século XVIII a Coroa buscou definir
dentro da dinâmica da administração colonial uma hierarquia estrita dos oficiais régios,
sendo importantes os laços de hierarquia funcional entre vários níveis do aparelho
administrativo. O autor destaca que estes laços funcionavam como um meio para fazer
o poder do rei chegar à periferia do Império. Contudo, também ressalta a capacidade
que estes “oficiais periféricos” tinham para “anular, distorcer ou fazer seus os poderes
que recebiam de cima”. Entre estes “oficiais periféricos”, pode-se acrescentar também
que estavam os “representantes de diversos nichos institucionais onde o poder se
constituía como a Relação, a Igreja, a administração militar e a Fazenda”.26
No entanto, ao analisar a esfera de ação dos indivíduos presente na dinâmica das
redes hierárquicas dos poderes institucionais a atenção estar no fato de que estes
obedeciam à lógica de um sistema de ordens caracterizado pela circulação das práticas
24
LEVI, Geovanni. A herança imaterial: Trajetória de um exorcista no Piemont do século
XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 33
25 AHU_ACL_CU_006, caixa 2. D. 117.
26 HESPANHA, António Manuel. A constituição do Império português. Revisão de
alguns enviesamentos correntes. In: FRAGOSO, GOUVEIA e BICALHO (orgs.),
Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (sáculos XVI,
XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 174
ISBN 978-85-61586-70-5
192
IV Encontro Internacional de História Colonial
sociais presentes nos símbolos, valores e crenças que governavam as instituições do
Antigo Regime. Como destaca Edward Shils, a sociedade se constituir de “subsistemas
interdependentes” conectados pelos valores afirmados e seguidos por uma rede de
organizações ligadas entre si: “uma autoridade comum, um pessoal comum, relações
pessoais, interesses afins e até mesmo por uma localização territorial; hierarquizando
os indivíduos e definindo graus de proximidade com a autoridade. Contudo, a
aceitação desse sistema não é rígida na integração desses valores e crenças”.27
Considerando esta concepção, pensar as relações de poder a partir da ação dos
indivíduos dentro das redes de hierarquização na sociedade do Antigo Regime,
constituí-se como um elemento de afirmação do vínculo político, como também, de
fissuras e rupturas nas relações de poder entre vassalos ultramarinos e o soberano
português. Partindo desta lógica, as “relações de poder entre as redes hierárquicas
devem ser pensadas não só como mecanismos de manutenção da centralização do
poder régio”.28 Mas, também como “redes de negociação presentes nas tramas
pessoais e institucionais do poder, que interligadas entre si, viabilizam o acesso a
cargos e a um estatuto político, hierarquizando homens e serviços e garantindo coesão
através do caráter globalizante dos mecanismos de poder na governabilidade do
Estado”.29
Assim, este estudo mostra que na dinâmica das forças centrífugas do poder
metropolitano que atuavam em meio a um movimento gerador de descentralização,
justamente no momento em que a Coroa buscava um maior controle nos
mecanismos de centralização nas políticas administrativa na América Portuguesa.
27
SHILS, Edward. Centro e Periferia. Lisboa: Difel, 1992, p. 17
PEGORARO, Jonas Wilson. Ouvidores régios e centralização jurídico-administrativa
na América portuguesa: a comarca de Paranaguá (1723-1812). Curitiba: UFPR, 2007, p.
5
28
HESPANHA, Antonio M. (Org.). Poder e instituições na Europa do Antigo
Regime. Lisboa: Calouste Gulberkian, 1984, p. 42
29
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
193
Os governadores gerais e os governos das capitanias:
governação no Estado do Brasil, 1654-16811
Francisco Carlos Cosentino2
Nosso objetivo é analisar a gestão do Estado do Brasil reconstruindo as relações
entre os governadores gerais e os governos das capitanias em meados do século
XVII.3 Partindo do pressuposto de que cabia ao governo geral a governação da
conquista como um todo, já que era ele, o representante do monarca no Estado do
Brasil, detentor de regalias transferidas pelo rei, deviam eles gerir a conquista e, nesse
momento, para realizarem a governação dessa parte do império, enfrentaram uma
conjuntura difícil para o reino e para a conquista seja pelas pressões decorrentes das
guerras e ocupações estrangeiras, seja pelas indefinições existentes quanto às
jurisdições dos diversos poderes atuantes na governação do Estado do Brasil
decorrentes da ausência de regulamentos atualizados – regimentos – para esse
momento do período pós-Restauração.
Esse trabalho está inserido num momento de reanimação e renovação dos
estudos da história política e para a qual pretendemos contribuir com a nossa
investigação a respeito do governo geral no Brasil e o seu relacionamento com os
governantes das capitanias em meados do século XVII. Por isso, consideramos
necessário, enfrentar algumas questões que estão colocadas para o debate como a
organização política e administrativa do Estado do Brasil e uma das suas instâncias
de poder, as capitanias. Pretendemos fazer isso dimensionando os poderes dos
governadores gerais e dos governantes das capitanias, governadores e capitães mores,
identificando os temas tratados e as fontes de conflito entre essas autoridades
políticas do Estado do Brasil, uma das conquistas americanas de Portugal.4
1
Esse trabalho tem o auxílio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Professor Adjunto –
Universidade Federal de Viçosa (Campus Florestal - MG).
3 Os governos de D. Jerônimo de Ataíde (1654/57); Francisco Barreto de Meneses
(1657/63); D. Vasco Mascarenhas (1663/67); Alexandre de Souza Freire (1667/71); Afonso
Furtado de Mendonça (1671/75); e, Roque da Costa Barreto (1678/82) que governaram o
Estado do Brasil entre a expulsão dos holandeses e a elaboração do regimento do governo
geral em 1677utilizado até 1808.
4 Uso a expressão Estado do Brasil para respeitar as particularidades das conquistas
ultramarinas portuguesas e também em respeito à forma como essa conquista era tratada na
documentação a partir do início do século XVII. Com isso, estou distinguindo essa parte do
Estado do Maranhão. A expressão América portuguesa é genérica e induz a uma
compreensão historiográfica dicotômica com a qual não concordo. Ver COSENTINO,
Francisco Carlos. Governadores gerais do Estado do Brasil (séculos XVI-XVII): ofício,
regimentos, governação e trajetórias. São Paulo: Annablume/FAPEMIG, 2009, p. 220-221.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
194
IV Encontro Internacional de História Colonial
Governo geral e capitanias: patentes, regimentos, poderes e hierarquias
Os governadores gerais exerciam um ofício régio superior com funções delegadas
de jurisdição inferior.5 A natureza superior de seu ofício deve-se ao fato de esse
servidor exercer alguns dos poderes próprios do ofício régio e suas funções são de
qualidade inferior na medida em que, além de exercê-las por delegação temporária,
tem suas decisões submetidas, em última instância, à decisão do monarca. A
fundamentação jurídica dessas afirmativas resulta da legislação seguida por Portugal
no momento da criação do ofício de governador geral que conferia ao rei o
monopólio da constituição de ofícios e de seus respectivos campos de atuação.
Assim sendo, toda a jurisdição exercida pelos diversos ofícios de governo, se
constituía numa delegação da jurisdição do soberano, pois “a jurisdição é
considerada em geral, como um atributo real, pelo que toda a jurisdição exercida
pelos corpos, pelos senhores ou pelos magistrados, representa uma mera delegação
da jurisdição do soberano”,6 por isso, dispunha o soberano, pelas Ordenações, de
amplos poderes de revogação da jurisdição concedida, já que, “toda a jurisdição
inferior pressupõe uma doação ou privilégio expresso (doação régia, carta, foral), não
podendo, entre nós, ser sequer adquirida por prescrição”.7
Some-se a isso o fato de que, como nas capitanias hereditárias brasileiras, “a
existência de jurisdições confiadas a particulares, efectivamente nunca contradisse em
absoluto o exercício da suprema jurisdição do Monarca”,8 implicando que, o poder
“dos capitães-donatários, se exerceu em clara consonância e patente subordinação ao
mando real”.9 Ou seja, as capitanias hereditárias, desde a criação do governo geral,
estavam enquadradas pelas leis e pela vontade real manifestada pelos seus
representantes maiores que no Estado do Brasil era o governador geral. Intervinha a
Coroa portuguesa na vida interna das capitanias “seja na sua faceta política, como na
económica ou jurisdicional em termos que não admitem dúvidas quanto a limitação
profunda que sofreu a ação dos donatários”10 tornando essas capitanias um senhorio
Ver também: SANTOS, Fabiano Vilaça dos. O governo das conquistas do Norte.
Trajetórias administrativas no Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1780). São Paulo:
Annablume, 2011.
5 HESPANHA, António Manuel. As vésperas do Leviathan. Coimbra: Almedina, 1994, p.
160.
6 Ibidem. História das Instituições. Épocas medieval e moderna. Coimbra: Almedina, 1982,
p. 216.
7 Ibidem, p. 216-217.
8 SALDANHA, António Vasconcelos de. As capitanias do Brasil. Antecedentes,
desenvolvimento e extinção de um fenômeno atlântico. Lisboa: CNCDP, 2001, p. 364.
9 Ibidem, p. 364.
10 Ibidem, p. 365.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
195
de “contentamento do Donatário”,11 terras que propiciavam “renda por sua doação e
pelo estado da terra, acrescentando-se também o que podia valer o jurisdicional e
honorífico”.12 Como vamos ver nesse trabalho, com a criação do governo geral as
atividades de governação das capitanias, particularmente após 1640, passaram a ser
exercidas por governadores e capitães-mores nomeados pelos reis de Portugal ou
pelos governadores gerais. Boxer, também tem essa compreensão ao constatar que a
diferenciação “entre as capitanias pertencentes à Coroa e as que tinham donatários
não tinha importância sob o ponto de vista administrativo”,13 com os direitos “dos
donatários restringindo-se à arrecadação de certos impostos e tributos, e ao direito
de voto na nomeação dos funcionários de baixa categoria”.14
Desde a nomeação de Tomé de Sousa para o governador geral das terras do
Brasil, a monarquia portuguesa, inclusive durante a União Ibérica, teve a
preocupação de, nas cartas patentes dos governadores, revogar poderes concedidos
aos donatários hereditários. Na patente de Tomé de Sousa o monarca informa aos
“capitães e guovernadores das ditas terras do Brasil ou a quem seus carregos tiverem
e aos officiaes da justiça e de minha fazenda em ellas e aos moradores das ditas terras
e a todos em geral e a cada hum em especial”15 que reconheçam Tomé de Sousa
como “capitão da dita povoação e terras da Baya e governador geral da dita capitania
e das outras capitanias e terras da dita costa”16 e que o “obedeção e cumprão e facão
o que lhes o dito Thomé de Sousa de minha parte requerer e mandar segundo forma
dos regimentos e provisões minhas que pêra isso leva e lhe ao diante forem
enviadas”.17 Em seguida, lista o monarca os poderes que detinham os donatários
afirmando que “nas terras de suas capitanias não entrarião em tempo algun
corregedores, alçadas, nem outras alguas justiças pera nellas usarem per algua via e
modo que os ditos capitães fossem suspenços de suas capitanias e jurisdição delas”,18
além de terem esses donatários “alçada nos casos civeis, assym por aução nova como
11
Posição do Procurador da Coroa sobre os direitos dos marqueses de Cascais sobre a
capitania de Itamaracá e, conforme Saldanha, repercutiu nas incorporações das outras
capitanias de donatários do Estado do Brasil. SALDANHA, António Vasconcelos de. As
capitanias do Brasil…, p. 409.
12 Ibidem.
13 BOXER, C. R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-1686. São Paulo:
Editora Nacional/EDUSP, 1973, p. 306.
14 Ibidem, p. 306.
15 ANTT – Chancelaria de D. João III – Livro 55, fol. 120v.
16 ANTT – Chancelaria de D. João III – Livro 55, fol. 120v.
17 ANTT – Chancelaria de D. João III – Livro 55, fol. 120v.
18 Carta Patente de Gaspar de Sousa (1612), ANTT - Chancelaria Felipe II. Livro 29. O
conteúdo e os termos usados nas cartas são praticamente os mesmos, por isso, vamos usar
patentes diversas.
ISBN 978-85-61586-70-5
196
IV Encontro Internacional de História Colonial
por apellação e agravo”.19 Explica então que por quanto “muitas e yustas causas e
respeitos que me aysso movem o hey ora por bem de minha certa ciencia por esta
ves e nestes casos pera aver effeito todo o conteudo na alçada regimentos e
provisoens que [o governador] leva e ao diante lhe mandar”20 e conclui que
derrogava, “como de effeito hey pro derogadas as ditas doaçoens e todo o
contheudo nellas emquanto forem contra as cousas declaradas nesta carta e na dita
alçada regimentos e provisoens”21 que os governadores levam. Em todas as patentes
de 1548 a 1621, sustenta o direito de revogação de direitos concedidos recorrendo ao
direito e as ordenações que estabeleciam que se fizesse “expreca menção hey especial
derogação as quaes hey por expressas e declaradas como se de verbo ad verbum
fossem nesta carta imcorporadas sem embargo de quaesquer direitos leis e
ordenações que aja em contrayro e da ordenação do 2º Lº tittº 44”.22
A carta patente do Marques de Montalvão (1640) apresenta um conteúdo
diferente e não traz as colocações apresentadas pelas cartas anteriores. A derrogação
dos poderes concedidos aos donatários, presente até então, foi substituída por uma
fórmula na qual todos estavam submetidos ao poder de Montalvão,23 conforme a
passagem de sua carta patente a seguir,
19
ANTT - Chancelaria Felipe II. Livro 29.
Carta patente de Diogo de Mendonça Furtado. ANTT - Chancelaria Felipe III. Livro 2, fol.
157v.
21 Carta patente de Diogo de Mendonça Furtado. ANTT - Chancelaria Felipe III. Livro 2, fol.
157v.
22 Carta patente de Diogo de Mendonça Furtado. ANTT - Chancelaria Felipe III. Livro 2, fol.
157v. A lei que consta da Ordenação, “diz que se não entenda ser pro mim derogada
ordenação algua se da sustancia della se não fizer expressa menção e declaração”. No
regimento de Tomé de Sousa as Ordenações utilizadas são as Manuelinas que, no seu Livro
II, título XLIX, indica que: “nunca se entenda deroguada ninhua’ Nossa Ordenaçam, nem a
tal clausula geeral obre efecto alguu’ contra disposição de qualquer Nossa Ordenaçam; salvo
se expressamente por Nós for deroguada a dita Ordenaçam, fazendo mençam sumariamente
da substancia dela”. Ordenaçoens do Senhor Rey D. Manuel. Coimbra: Real Imprensa da
Universidade, 1797, Livro II, p. 242. Nas outras cartas patentes, temos as Ordenações
Filipinas que afirmam a mesma coisa no título XLIV. Codigo Philippino. Rio de Janeiro:
Typographia do Instituto Philomathico, Tomo II, 1870, p. 467.
23 Montalvão foi enviado como vice-rei e tem-se dito que trouxe esse título para negociar em
igualdade com Maurício de Nassau. Acreditamos que os Felipes pretendiam instituir essa
forma de governo como podemos ver pela sua carta patente: “e tudo o que por ele de minha
parte vos for mandado cumprais e façais intrªmente com aquella diligencia e cuidado que de
vos confio como fizereis se por mim em pessoa vos fosse mandado” (ANTT - Chancelaria
Felipe III. Livro 28, fol. 297). Essa era a fórmula empregada para os vice-reinados espanhóis:
“nuestra Real persona”. Recopilacion de Leyes de los Reynos de las Índias. Madrid:
INBOE, Tomo I, libro III, tit. II, 1998, p. 543.
20
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
197
faço saber aos capitaes’ das minhas fortalezas do Estado do Brasil e
capitanias delle generaes’ mestres de campo, e a todos e quaesquer
capitaes’ e officiaes’ da guerra que no dito estado me servem assi’ na
terra como no mar, e aos menistros e officiaes’ da justiça, e de
minha fazª e a todas as mais pessoas que nelle asistem de qualquer
calidade estado o condição que sejão.24
Por toda a carta patente de Montalvão a fórmula utilizada é a de poder superior
sobre todos no que diz respeito às questões militares, de fazenda e de justiça, sem
menção direta aos direitos desfrutados pelos donatários hereditários, como nas cartas
patentes dos governadores enviados até então. Nessa mesma direção apontam as
cartas patentes dos governadores gerais enviados ao Estado do Brasil após a
Restauração, pelos monarcas da dinastia dos Braganças.25
As cartas patentes posteriores a Restauração, reconhecendo a proeminência dos
governos oriundos de nomeação régia e a crescente secundarização da autoridade
governativa dos donatários hereditários, não seguem a fórmula empregada até o
marquês de Montalvão e inauguram um formato e conteúdo diferente. Começo com
a carta patente de António Teles da Silva, primeiro governador geral enviado pelo
governo bragantino. A carta indica que o governador usara da “jurisdição alcada
poderes preheminencias liberdades & prerrogativas que lhe tocam & que tiveram &
que uzaram os outros governadores do dito Estado do Brazil seus antecessores”.26
Em seguida, afirma que o governador poderá “usar dos mesmos regimentos &
provizoes de q’ eles uzaram [os outros governadores] e dos mais q eu lhe mandar
dar”.27 O trecho mais importante é aquele onde está indicado que “todos capitaens &
governador das capitanias do dito Estado & aos mestres de campo sargentos mores
Capitaens de infantaria soldados & gemte de guerra officiaes de justica e de minha
fazenda q’ hora nelle me estam servindo & ao diante serviram”28 devem obediência
24
ANTT - Chancelaria Felipe III. Livro 28, fol. 297.
Os mesmos termos da patente de Montalvão estão na do conde de Óbidos: “como o
fizeres se por my em pesoa vos fora mandado” (BNRJ – SM. 1, 2, 5). Óbidos veio como vicerei, pois, havia sido no Estado da Índia e não poderia vir com um cargo menor, seria
humilhante e ofensivo.
26 ANTT – Chancelaria de D. João IV, Livro 10, 354v.
27 ANTT – Chancelaria de D. João IV, Livro 10, 354v. O conteúdo das cartas dos
governadores que o sucederam é o mesmo até Roque da Costa Barreto. Esse governador
trouxe um novo regimento, empregado até 1808, e a forma e conteúdo da sua carta patente é
diferente, como veremos a seguir. Sobre esse regimento ver: COSENTINO, Francisco
Carlos. Governadores gerais do Estado do Brasil…, p. 245-303.
28 Carta patente de António Teles de Meneses – BNRJ – SM. 1, 2, 5. Estou mesclando
trechos de cartas de governadores diferentes para demonstrar ser o conteúdo absolutamente
o mesmo.
25
ISBN 978-85-61586-70-5
198
IV Encontro Internacional de História Colonial
ao governador geral e “cumpram & guardem inteyramente seus mandados & ordens
como devem & sam obrigados”.29
Esse formato foi interrompido na carta patente de Roque da Costa Barreto, para
ter continuidade, depois dele, com António de Sousa de Meneses e os que o
sucederam no século XVII. A carta de Roque da Costa, por ter ele trazido o novo
regimento para o governo geral que seria utilizado até a vinda da corte portuguesa
em 1808, dizia que ele não era enviado “com a mesma autoridade jurisdição e
prileminensias que tem os governadores e capitães gerais do mesmo Estado”30 e que,
em razão disso, estes “lhe obedecerão e guardarão suas ordens assim no militar como
no civil e político”,31 assim como, “os ministros e officiais de justiça guerra e
fazenda, chanceler, desembargadores, e governadores do Rio de Janeiro, e
Pernambuco e das mais capitanias subordinadas ao governador geral tudo na forma
de meus regimentos”.32 Em linhas gerais mantém o conteúdo que vem desde 1640.
O que podemos perceber é que desde a Restauração os donatários hereditários não
eram mais figuras proeminentes na ação de governo das capitanias ou os seus locotenentes, mesmo que esses senhorios ainda existissem e pudessem gerar rendimentos
aos seus senhores.33 Todas as cartas patentes sinalizam para a supremacia da
autoridade governativa dos governadores gerais sobre todos os outros servidores
providos ou não pela monarquia portuguesa no Estado do Brasil.
Quando analisamos os dois regimentos utilizados para o governo geral após 1640,
o de Diogo de Mendonça Furtado,34 elaborado em 1621, utilizado até o de Roque da
Costa Barreto (1677), observamos que a supremacia indicada nas cartas patentes, se
completa com as instruções desses regimentos.
As instruções apresentadas no regimento de Diogo de Mendonça Furtado
estabeleciam como obrigações do governador geral, abordando as orientações de
caráter mais geral,35 a suspensão dos capitães das capitanias em caso de “alguma
29
Carta patente de D. Jerônimo de Ataíde – ANTT – Chancelaria de D. João IV, Livro 26,
fol. 23.
30 ANTT – Registro Geral das Mercês. Chancelaria de Afonso VI. Livro 29, fl.116v.
31 ANTT – Registro Geral das Mercês. Chancelaria de Afonso VI. Livro 29, fl.116v.
32 ANTT – Registro Geral das Mercês. Chancelaria de Afonso VI. Livro 29, fl.117.
33 A monarquia portuguesa assumiu as diversas capitanias hereditárias passando a consideralas como reais. Os diversos donatários iniciaram uma longa pendenga judicial com a
monarquia e tiveram seus direitos reconhecidos, obrigando a monarquia portuguesa a
indeniza-los de formas diversas até o período pombalino que aboliu esses senhorios. Ver
SALDANHA, António Vasconcelos de. As capitanias do Brasil…, p. 134-138 e 387-435.
34 Arquivo Público do Estado da Bahia, S. C., estante 1, caixa 146, livro 264.
35 Os regimentos tinham instruções estruturais associadas a orientações conjunturais que
visavam resolver situações de momento. No regimento de Mendonça Furtado, com esse
conteúdo temos as instruções referentes à organização da administração da capitania do Rio
Grande do Norte e a definição de suas fronteiras com a capitania da Paraíba.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
199
força violencia, ou extorsão publica e notória”36 e a provisão “na governança e
guarda das Capitanias pessoas de confiança”.37 Outra orientação, existente nesse e
em todos os regimentos conhecidos, era aquela que estabelecia que a bem do serviço
do monarca, o governador não deveria permitir que os donatários tivessem “mais
jurisdição da que lhe pertencer por suas doaçoens”.38 Deveria o governador ter
vigilância para não usurpar direitos aos donatários nem permitir que os servidores
da justiça o fizessem, pois, deveriam, quanto aos donatários, não permitir que “lhe
tomem nem quebrem seos privilegios e doaçoens antes em tudo o que lhe
pertencer lhe fareis cumprir e guardar”.39 Em algumas instruções o governador
geral era orientado a substituir, prender e/ou envia-lo para o reino os officiais das
diversas atividades envolvidos na atividade de governação que “fazem o que não
devem em seos regimentos, ou são negligentes no que cumpre o meo serviço ou
despacho das partes”.40
O regimento de Roque da Costa Barreto, síntese dos regimentos anteriores,
ordenou a ação dos governadores gerais a partir de então. Em caso de vacância em
cargos de justiça, guerra e fazenda, o governador geral poderia provê-los, inclusive
“nos mais Govêrnos, e Capitanias daquele Estado, e segundo o disposto nos mais
Regimentos dos Governadores e Capitães-Mores seus subordinados”,41 exceto para
“o de Pernambuco por três meses sômente, e o do Rio de Janeiro por seis”42 que,
por regimento, devido os inconvenientes de sua falta, estão autorizados a faze-lo,
entretanto, “assim que seja passado êste tempo, serão obrigados a darem posse aos
que êle [o governador geral] prover, o que se não entenderá nos cargos de Guerra”.43
Cabia ao governador geral ainda admoestar, repreender e “se depois de serem
admoestados se não emendarem; hei por bem que os possa suspender, e tirar dos
ofícios pelo tempo que lhe parecer, dando-lhes o mais castigo que merecerem”44 aos
“Oficiais fazem o que não devem a seus Regimentos, ou são negligentes, e não
cumprem o meu serviço, ou despacho das partes”.45 O regimento era explícito
quanto à autoridade dos governadores gerais e os governadores das capitanias
principais do Rio de Janeiro e Pernambuco e estabelecia que “os ditos governadores
são subordinados ao Governador Geral, e que hão-de-obedecer a tôdas as ordens
36
Arquivo Público do Estado da Bahia, S.C., estante 1, caixa 146, livro 264.
APEB, S.C., estante 1, caixa 146, livro 264.
38 APEB, S.C., estante 1, caixa 146, livro 264.
39 APEB, S.C., estante 1, caixa 146, livro 264.
40 APEB, S.C., estante 1, caixa 146, livro 264.
41 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da Formação Administrativa do Brasil.
Rio de Janeiro: IHGB/Conselho Federal de Cultura, 1972, p. 753.
42 Ibidem, p. 803.
43 Ibidem, p. 803-804.
44 Ibidem, p. 818.
45 Ibidem, p. 818.
37
ISBN 978-85-61586-70-5
200
IV Encontro Internacional de História Colonial
que êle lhes mandar, dando-lhe o cumpra-se, e executando-as”,46 da mesma forma
que “aos mais Ministros de Justiça, Guerra, ou Fazenda”.
Por fim, ressaltamos que no governo do conde de Óbidos, enviado em 1663
como vice-rei foi elaborado por ele o “Regimento que se mandou aos Capitãesmores das Capitanias deste Estado”47 porque eram “grandes os inconvenientes que
resultam de os Capitães-mores das Capitanias deste Estado não terem Regimento
que sigam”.48 Nesse regimento a submissão das capitanias, fossem elas reais ou de
donatários, a autoridade do governador geral era encontrada em várias passagens e,
explicitamente no seu parágrafo 3º onde encontramos, “Terá o Capitão-mor
entendido, que nenhuma Capitania das do Estado, ou seja Del-Rei meu Sr ou
Donatario é subordinada ao Governo de outra Capitania de que seja vizinha: e todas
são imediatas e sujeitas a este geral: por cujo respeito só dele há de aceitar o Capitãomor as ordens”.49 Essa submissão dos governadores das capitanias ao governador
geral e, logicamente ao monarca, que a todos subordina, estava no regimento do
governador do Rio de Janeiro, Manuel Lobo de 1679.50
Em síntese, as cartas patentes e os regimentos, nos vários contextos em que
foram elaborados, estabeleciam a supremacia do poder dos governadores gerais
sobre os governadores das capitanias e dos donatários, particularmente durante os
séculos XVI e XVII. Os governadores enviados ao Estado do Brasil no século
XVIII, que não são objeto de nosso estudo, incluídos os que vieram com o título de
vice-reis, tinham pelas suas cartas patentes51 e regimento, o mesmo de 1677, os
mesmos poderes que os governadores gerais que os antecederam nos séculos
anteriores. Essa constatação de base empírica questiona as conclusões que afirmam
que governadores gerais e vice-reis tinham os mesmos poderes que os governadores
de capitanias. Conforme Caio Prado Junior, só “o título do governador diferia:
46
Ibidem, p. 804.
Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Augusto Porto & C.,
vol. V, 1928, p. 374.
48 Ibidem, p. 374.
49 Ibidem, p. 375-6.
50 De acordo com Veríssimo Serrão, o regimento dado ao governador do Rio de Janeiro,
Manuel Lobo, em 1679 (Revista do IHGB. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Tomo
LXIX. Iª Parte, 1908, p. 99-111), foi elaborado com as mesmas preocupações ordenadoras e
perenes que nortearam o regimento de Roque Barreto, utilizado até o século XIX. O mesmo
aconteceu com o regimento dos governadores de Pernambuco, conforme observação que
pode ser encontrada nessa mesma revista. SERRÃO, Joaquim Veríssimo. História de
Portugal. A Restauração e a Monarquia Absoluta (1640-1750). Lisboa: Editorial Verbo, vol.
V, 2ª ed., 1982
51 As patentes dos governadores gerais e vice-reis do século XVIII eram, no que diz respeito
as suas relações com os outros servidores régios no Estado do Brasil, inclusive os
governadores das capitanias, iguais a dos governadores gerais enviados após 1640.
47
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
201
capitão-general e governador, nas [capitanias] principais, capitão-mor de capitania
(não confundir com capitão-mor de ordenanças), ou simplesmente governador, nas
demais”,52 pois, o governador do Rio de Janeiro (e antes o da Bahia) que “tinha o
título altissonante mais oco de Vice-Rei do Brasil”,53 detinha “poderes, em princípio,
[que] não eram maiores que os de seus colegas de outras capitanias, e não se
estendiam, além da sua jurisdição territorial de simples capitão-general”.54 As análises
que fizemos anteriormente nos leva a outra conclusão. Os governadores gerais eram
o poder superior no Estado do Brasil e os representantes dos reis de Portugal nessa
conquista. Receberam regalias por jurisdição delegada e, em razão disso, submetiam,
de acordo com as regras da dinâmica política e governativa da monarquia
pluricontinental portuguesa, as capitanias dessa conquista americana.
O governo geral e o governo das capitanias no Estado do Brasil
O relacionamento entre o governo geral e os governos das capitanias do Estado
do Brasil é um tema pouco frequentado pela historiografia. A identificação da
natureza donatorial das capitanias hereditárias e o desenvolvimento desses senhorios,
inclusive sua extinção, está bem desenvolvida no trabalho referência de António
Vasconcelos de Saldanha. Entretanto, existem outros aspectos que cercam a vida
das capitanias, particularmente sua relação com o governo geral que precisam de
tratamento histórico, inclusive com uma abordagem historiográfica que incorpore
percepções originárias do desenvolvimento da pesquisa contemporânea já que as
análises elaboradas à algumas décadas atrás,55 se mostram limitados diante dos
progressos da pesquisa histórica.56
Criadas como hereditárias, senhorios doados pelos monarcas para realização
inicial da atividade de povoamento e colonização, da segunda metade do século XVI
em diante, as poucas capitanias colonizadas pelos seus donatários e que continuaram
hereditárias e a maioria das regiões, que se tornaram capitanias régias por diversas
razões, se submetem a dinâmica governativa dos governadores gerais, conforme
52
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense,
14ª ed., 1976, p. 306.
53 Ibidem, p. 306.
54 Ibidem, p. 306.
55 Ver nesse sentido DIAS, Manuel Nunes. O sistema das capitanias do Brasil. Boletim da
Biblioteca da Universidade de Coimbra, volume XXXIV, 3ª parte, 1980.
56 Esse é o caso da caracterização como feudal, “Em suma, convicto da necessidade desta
organização feudal, D. João III”. ABREU, Capistrano. Capítulos de História Colonial. São
Paulo: Publifolha, 2000, p. 67; ou “de engenho imaginativo do capitalismo régio português”,
segundo Nunes Dias.
ISBN 978-85-61586-70-5
202
IV Encontro Internacional de História Colonial
indicamos anteriormente. Em linhas gerais a situação é a que se segue quanto a
situação das capitanias do Estado do Brasil após 1640.57
CAPITANIAS DO ESTADO DO BRASIL, século XVII
POSIÇÃO
CAPITANIA
TIPO
DONATÁRIO
HIERARQUICA
Rio Grande
Capitania da
Subalterna (anexa à Bahia)
(Norte)
coroa
Capitania da
Subalterna (anexa a
Paraíba
coroa
Pernambuco)
Capitania de
Subalterna (anexa a
Itamaracá
Marques de Cascais
donatário
Pernambuco)
Capitania de
Pernambuco
Principal
Conde do Vimioso
donatário
Capitania da
Subalterna (anexa a
Alagoas
coroa
Pernambuco)
Sergipe del
Capitania da
Subalterna (anexa à Bahia)
Rey
coroa
Rio de São
Capitania da
Subalterna (anexa à Bahia)
Francisco
coroa
Capitania da
Bahia
Principal
coroa
Capitania de
Ilhéus
Subalterna (anexa à Bahia) Almirante do reino
donatário
Capitania de
Porto Seguro
Subalterna (anexa à Bahia) Duque de Aveiro
donatário
António Luís da
Câmara Coutinho
Capitania de
herdeiro do 1º
Espírito Santo
Subalterna (anexa à Bahia)
donatário
donatário vendeu
Francisco Gil de
Araújo (1675).
Capitania da
Subalterna (anexa ao Rio
Cabo Frio
coroa
de Janeiro)
Capitania da
Rio de Janeiro
Principal
coroa
Capitania de
Subalterna (anexa ao Rio
Paraíba do Sul
Visconde de Asseca
donatário
de Janeiro)
Capitania de
Subalterna (anexa ao Rio
São Vicente
Marques de Cascais
donatário
de Janeiro)
57
Boxer procura apresentar a situação das capitanias após 1640 mas comete alguns enganos.
Ver BOXER, C. R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-1686…, p. 307.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
203
Temos também duas ordens de capitanias: as capitanias principais e as
subalternas. Caio Prado Junior, um dos poucos a tratar disso,58 afirmou:
As capitanias que formavam o Brasil são de duas ordens: principais
e subalternas. Estas são mais ou menos sujeitas aquelas; muito,
como as do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao Rio de Janeiro,
ou a do Rio Negro ao Pará; pouco, como a do Ceará, e outras
subalternas de Pernambuco.59
Assim como são reduzidos os estudos a respeito da natureza das capitanias, mais
ainda das relações entre as principais e subalternas ou anexas, apesar de encontrada
na documentação, particularmente nas décadas seguintes da Restauração portuguesa,
correspondência que trata de conflitos de jurisdição envolvendo capitanias principais
e subalternas. Alguns autores que reconhecem essa divisão remetem-se ao século
XVIII, início do século XIX, e tratam indiscriminadamente o Estado do Brasil e o
Estado do Maranhão, mesmo quando ainda não estavam unidos, antes do período
pombalino, e identificam algumas dessas capitanias,60 entretanto, essas listagens são
imperfeitas, e, ao deixarem de fora diversas regiões, identificadas na documentação,
nos servem apenas como uma referência.
O período que se inicia após a Restauração portuguesa se caracteriza pela sua
complexidade e instabilidade oriunda da conjuntura vivida pela monarquia
portuguesa e o seu império ultramarino: a guerra e expulsão dos holandeses do
Nordeste, os conflitos nas partes africanas e orientais do império português, a guerra
contra Espanha e Holanda na Europa. A insegurança do momento e da nova
58 Essas expressões são encontradas na documentação. Caio Prado Junior afirma sua
existência e diferença sem entrar em detalhes. O trabalho de Saldanha, simplesmente não
trata dessas questões. Sem muito acrescentar temos os trabalhos de SOUSA, Augusto Fausto
de. Estudo sobre a divisão territorial do Brasil. Revista do IHGB, vol 43, 2, p. 42-44, 1880; e
de VIANA, Hélio. Liquidação das donatarias. Revista do IHGB, vol 273, p. 148-149,
out/dez. de 1966.
59 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo…., p. 305-306. O autor
trata do Brasil como se apenas essa unidade política existisse – conforme percepção de cunho
nacionalista vigente no seu tempo – ignorando as particularidades do Estado do Maranhão.
60 Segundo Sousa, na véspera da independência, governadas por Capitães-Generaes existiam:
“Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio-Grande do Sul (compreendendo o
governo das Missões do Uruguay), Minas Gerais, Matto-Grosso e Goyaz”. SOUSA, Augusto
Fausto de. Estudo sobre a divisão territorial do Brasil…, p. 44. Além delas, administrados
por simples Governadores ou Capitães-móres: “(…) Ceará, Rio-Grande do Norte, Parayba,
Alagôas, Sergipe, Espírito-Santo e Santa Catharina”. Ibidem, p. 44). Hélio Viana diz que as
capitanias gerais (principais) foram: Pernambuco, Bahia de todos os Santos, Rio de Janeiro e
São Paulo e as subalternas: Rio Grande do Norte, Paraíba (autônoma desde 1799), Espirito
Santo, Santa Catarina. VIANA, Hélio. Liquidação da donatarias…, p. 148.
ISBN 978-85-61586-70-5
204
IV Encontro Internacional de História Colonial
dinastia ocasiona problemas diversos, inclusive no império ultramarino e decisões,
muitas vezes dúbias, foram tomadas, algumas delas com a intenção de não
desagradar grupos locais, estratégicos para manutenção do reino e do império no
Atlântico Sul e na Ásia. A isso, soma-se um descompasso político e jurisdicional
decorrente da necessidade de ajustes não realizados na ordem política e
administrativa da monarquia portuguesa, particularmente no Estado do Brasil, depois
de sessenta anos de desenvolvimento e ampliação da ocupação portuguesa na
América e de governo dos Austrias espanhóis. Acrescenta-se ainda a esse quadro, as
trajetórias sociais percorridas antes e depois de 1640, responsáveis pela construção
de hierarquias sociais que, cônscias da sua importância política no reino e na
conquista, reivindicam posições e privilégios.61 O governo do Estado do Brasil era
uma atividade atribulada, repleta de conflitos, marcada pela necessidade de
negociação para solução de problemas variados, onde se destacaram os conflitos de
jurisdição. Esses conflitos prosperam numa ordem política como a da monarquia
pluricontinental portuguesa que tem seu ordenamento político fundado na 2ª
escolástica, onde prevalecem regras jurisdicionais, que, em função da incapacidade
governativa de momento, não conseguem criar ou reafirmar regras jurídico-políticas
ordenadoras. Assim sendo, os conflitos de jurisdição62 que acontecem,
particularmente após 1654 e se estendem até a década de 80 do século XVII,
ocasionados pelas situações tratadas anteriormente, são um material importante para
compreendermos o relacionamento dos governadores gerais e os governantes das
capitanias.
Costa Acioli63 destaca que após a expulsão dos holandeses resolve a coroa
portuguesa dividir o governo do Estado do Brasil em 3 partes, “a saber: a parte sul
com sede no Rio de Janeiro; o governo da Bahia, ‘cidade cabeça dele’, a quem
deveriam obedecer Sergipe del Rei, Ilhéus, Porto Seguro; o governo de Pernambuco
61
Estamos analisando uma sociedade fundada em valores corporativos onde cada um recebe
e é respeitado pelo que é socialmente. Assim sendo, estamos analisando relações entre
indivíduos que são socialmente iguais, apesar de estarem exercendo cargos hierarquicamente
diferentes e que se movem segundo regras de direito – falamos de uma sociedade que é
jurisdicional – expressas nos seus regimentos onde as posições de mando são diferentes e
hierarquizada. Ou seja, algumas vezes, governadores gerais e de capitanias tem origens sociais
iguais apesar de ocuparem posições de poder diferentes. Muitas vezes, nos conflitos de
jurisdição, essa origem social e as normas da sociedade de corte estão presentes.
62 Ver: COSENTINO, Francisco Carlos. Governo geral do Estado do Brasil: governação,
jurisdições e conflitos (séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, J.; GOUVÊA, M.F.S.(Org.).
Na Trama das Redes. Política e negócios no império português. Séculos XVI-XVIII. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 401-430.
63 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos. Aspectos da Administração colonial.
Recife: EDUFPE/EDUFAL, 1997.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
205
que se estenderia desde o Rio S. Francisco até o Rio Grande”64 e que, talvez, “tal
decisão tenha sido o fundamento dos conflitos de jurisdição que ocorreram entre os
governadores gerais do Estado do Brasil e os da capitania de Pernambuco”, com o
que concordamos, estendendo porém, para as outras capitanias do Estado do Brasil.
As necessidades de defesa do Nordeste explicam os poderes alargados recebidos por
Francisco Barreto e as do sul, por Salvador Correa de Sá e Benevides no Rio de
Janeiro.65
Os governos que sucederam os dois primeiros pós-expulsão dos holandeses – D.
Jerônimo de Ataíde e Francisco Barreto – até Roque da Costa Barreto, cujo
regimento proclama a supremacia dos governadores gerais, a monarquia portuguesa
foi superando a insegurança e a instabilidade inicial e passou a tomar iniciativas
voltadas para restabelecer a autoridade do seu representante na conquista. A
nomeação de Francisco Barreto para o governo geral e a abolição dos poderes
extraordinários que tinha no Nordeste, a nomeação e a posse de Pedro de Mello no
governo da capitania do Rio de Janeiro em abril de 1662 e a anulação dos poderes de
Salvador Correa de Sá e o envio do conde de Óbidos como vice-rei para o Estado do
Brasil, foram às primeiras iniciativas no sentido de ajustar a hierarquia de poderes
tendo na cabeça do Estado do Brasil, seus governadores gerais.
Entretanto, se a monarquia portuguesa faz movimentos voltados para retomar
controles e restabelecer a hierarquia de poderes, inclusive regulamentando por meio
de regimento elaborado pelo conde de Óbidos, os governos das capitanias, que
tratamos anteriormente, a situação política e internacional do reino e do império,
inclusive o Estado do Brasil, exige atitudes conciliatórias e, às vezes, dúbias. Não
atribuímos isso a uma situação de confusão jurídica e política ou uma aparente e
irracional superposição de poderes. E, se a monarquia pluricontinental portuguesa
tinha uma organização política fundada em regras jurisdicionais, onde predominavam
os fundamentos do direito (costumeiro, régio, religioso, etc.), ao mesmo tempo em
que o novo governo bragantino procurava recompor a ordem no reino e no império
ultramarino, o momento exigia, mais do que nunca, curvar-se a dinâmica da política,
negociar, contemporizar, punir quando necessário, perdoar quando possível, agraciar
quando dos merecimentos, prender quando no limite, como veremos a seguir. Nesse
contexto, os conflitos de jurisdição que afloraram, foram alimentados, em parte,
conforme Acioli ressaltou, pela conjuntural divisão do Estado do Brasil, mas
também, pela necessidade de conceder poderes excepcionais e atender aos interesses
64
Ibidem, p. 61. Acioli trata o Estado do Brasil como ele se tornou na segunda metade do
século XVIII ao absorver o Estado do Maranhão. Por isso fala de 4 partes e não três.
Conforme já afirmamos, não concebemos as terras de Portugal na América como uma única
unidade política antes do período pombalino.
65 Ver BOXER, C. R. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-1686…, p. 306340.
ISBN 978-85-61586-70-5
206
IV Encontro Internacional de História Colonial
dos grupos sociais essenciais para a manutenção da soberania portuguesa em regiões
estratégicas da conquista americana. Assim sendo, se a reordenação e o direito
avançam no pós-1640, as decisões políticas presidem essa conjuntura.
Muitos foram os conflitos envolvendo jurisdições e, representativos, foram
aqueles envolvendo o governo geral e o governo da capitania de Pernambuco sobre
os quais vamos nos estender nesse trabalho e onde poderemos perceber a
complexidade das decisões políticas adotadas pelos diversos atores presentes: a
monarquia portuguesa, o governo geral, o governador da capitania, os diversos
grupos sociais envolvidos. De certa forma, os conflitos tem início com a saída de
Francisco Barreto do governo da capitania de Pernambuco para o governo geral do
Estado do Brasil. Quando da expulsão dos holandeses, Barreto foi nomeado
governador de Pernambuco e das regiões que se estendiam do Rio São Francisco ao
Rio Grande. Segundo o Conselho Ultramarino podemos entender que a gestão dessa
extensa área se daria no militar, pois, conforme a manifestação do Conselho, “E no
modo referido lhe parece que dividindo-se o governo do Brasil na parte militar,
poderia na civil ficar unido, como se tem dito, deixando em a propia e antiga
jurisdição e autoridade o govor da Bahia”.66
O sucessor de Barreto, André Vidal de Negreiros, liderança da luta contra os
flamengos, reivindicou os poderes que Barreto havia exercido.67 Vários foram os
atritos entre eles. André Vidal de Negreiros não acatava as ordens de Francisco
Barreto e “vay exccedendo em todas as mais de seu Governo, que podem tocar a
jurisdicam deste, como se aquelle estivera separado, e independente do Estado”.68
Do ponto de vista de André Vidal de Negreiros, ao ser nomeado governador da
capitania, havia recebido jurisdição para prover quem quisesse nos cargos que
vagassem naquela capitania já que os seus antecessores detinham esta jurisdição.
No entanto, para a monarquia portuguesa, esse não era o momento para ações
que dessem origem “a tumultos e guerras civis, entre meus vassalos que nas
conquistas são mui perigosas e para temer e muito mais no tempo presente em que
com os holandeses não está ainda assentada a paz e em que não faltam outros
inimigos vigilantes”69 e as iniciativas de Barreto contra Vidal de Negreiros são
condenadas e o governador recriminado. Esse não era o momento de “inovar coisa
66
Consulta do Conselho Ultramarino sobre a forma do governo político da capitania de
Pernambuco (31/03/1654). Projeto Resgate – Avulsos de Pernambuco. AHU – ACL – CU,
015, cx. 6, doc. 466.
67 Conforme MENDES, Caroline Garcia, COSENTINO, Francisco Carlos. “Ele valia um
exército…”. Carreira, trajetória social e governação de Francisco Barreto de Meneses,
governador geral do Estado do Brasil. LPH. Revista de História. Ouro Preto, nº 20-1, p.
258-312, 2010.
68 Projeto Resgate – Avulsos da Bahia. AHU – ACL – CU, cx. 14, doc. 1703-1704.
69 Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Augusto Porto,
volume LXI, 1929, p. 162.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
207
alguma”,70 devendo Barreto repor “tudo no primeiro Estado”.71 A conjuntura vivida
pela monarquia portuguesa e seu império ultramarino e a necessidade de
contemporizar e negociar com os grupos sociais importantes das conquistas, como
era Vidal de Negreiros e a nobreza da terra de Pernambuco, e Francisco Barreto ao
ser desautorizado, afirma que “foi mais prompto e publico o castigo para mim, do
que entendo mereciam minhas ações”72 e que, “humildemente prostrado aos pés de
Vossa Real Magestade se sirva mandar logo tirar-me o posto que occupo, porque
(não) me atrevo a servil-o entre desobediencia(s) applaudidas, e supostas culpas
castigadas”.73 Barreto continuou no governo geral74 e Vidal de Negreiros foi
sucedido por Francisco de Brito Freire (1661) passado o tempo de seu governo, mas,
os problemas envolvendo a jurisdição sobre as capitanias do Nordeste se estende
pelos outros governos que sucedem o de Francisco Barreto.
Os problemas continuaram e o provimento dos ofícios para as capitanias
reivindicadas por Pernambuco como suas anexas, Paraíba, Rio Grande e Itamaracá,
geraram desacordos nos governos que se sucederam. O regimento dos capitães
mores de Óbidos foi uma tentativa de ordenar o relacionamento entre os governos
do Estado do Brasil. Afonso Furtado de Mendonça (1671-1675), que trouxe a tarefa
de ordenar a documentação que existia acerca do governo do Estado do Brasil,75
trocou extensa correspondência com o governador de Pernambuco Fernão de Souza
Coutinho por ter ele prendido o capitão mor de Itamaracá.76 Em carta de 16 de
fevereiro de 1672, diz Mendonça,
70
Ibidem, p. 162.
Ibidem, p. 162.
72 Ibidem, volume IV, p. 367-368.
73 Ibidem, p. 326-331.
74 Francisco de Brito Freire, sucessor de Negreiros, entrou em conflito com Francisco
Barreto devido a capitania da Paraíba. A omissão do governador geral, temeroso de outra
admoestação do rei, levou, no entanto, a outra censura, dessa vez por não ter interferido e
resguardado as jurisdições. ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos…, p. 103-104.
75 O visconde de Barbacena foi instruido a enviar informações para a elaboração de novo
regimento: “E por quanto no tempo prezente se tem alterado as couzas de maneira que para
o bom Governo do Brazil convem reformar-se o Regimento do Governador e Capitão Geral,
como dos governos e Capitanias de todo o Estado, ordenareis as pessoas a que tocar, vos
enviem os traslados, e dem as noticias necessárias, e todos os regimentos e ordens antigas e
modernas que houver pertencentes ao governo, Fazenda, Justiça, e Guerra, que facão a este
cazo, e os haja nos Livros antigos da Secretaria desse estado, Livros de minha fazenda e
Relação, e Câmaras, ordens pró e contra dos Senhores Reys meus Predecessores, ou dos
Governadores, ou de outras pessoas que tivessem faculdade pa as passar”. BNRJ-SM. 9, 2, 20.
13.
76 Em carta de novembro de 1671 de Afonso Furtado de Mendonça argumenta sobre a
jurisdição de Itamaracá e que as “anexas [de Pernambuco] são as Capitanias do Rio de São
Francisco, Lagôas, Serinhaem, Porto Calvo, e Iguaraçú, que antes da guerra não eram
71
ISBN 978-85-61586-70-5
208
IV Encontro Internacional de História Colonial
nem Vossa Senhoria tinha poder, para mandar prender a
Hieronymo da Veiga, sendo elle provido por este Governo, e
tendo dado homenagem de uma Capitania em que Vossa
Senhoria não tem jurisdição: e quando elle obrasse algum
excesso, não devia Vossa Senhoria passar a mais que dar-me
conta delle; pois só a este Governo toca a prisão, e castigo de
todos os Capitães-mores do Estado.77
Em maio desse mesmo ano, Afonso Furtado de Mendonça chama o governador
de Pernambuco à responsabilidade, afirmando,
Vossa Senhoria não pode negar que é súbdito deste Governo, e
que aos subditos ainda que tenham muita justiça, não toca
defender a sua opinião senão obedecer as ordens de seus
Generaes: e se ellas são violentas, ou injustas, o principe é que
as decide, e os castiga: mas emquanto a sua Real determinação,
não existe sempre hão de subsistir, e ser obedecidas dos
subditos as ordens de seus Generaes.78
A decisão régia recupera a posição adotada quando da nomeação de Francisco
Barreto79 e Afonso Furtado de Mendonça foi informado em carta de dezembro de
1672 que, “por conveniência muito do meu serviço”80 o monarca resolvia que a
Capitania de Itamaracá seja subordinada ao Governo de
pernambuco, em quanto ao militar, e que no que toca ao Governo
ordinário da Justiça e Fazenda hão de seguir a dita Capitania o
mesmo que executavam até agora nos autos judiciais os ministros
da Justiça como faziam para a Relação da Bahia, e os da fazenda ao
Provedor mor dela.81
A carta régia instrui o governador geral agir contra Fernão de Sousa Coutinho
repreendendo-o os “excessos com que se houve, estranhando-lhos muito, por
Capitanias-mores: e por occasião dela se constituíram taes, como essa e ficaram anexas á de
Pernambuco”. Documentos Históricos da Biblioteca Nacional, volume X. Rio de
Janeiro: Augusto Porto, 1929, p. 12.
77 Ibidem, p. 43.
78 Ibidem, p. 57.
79 Projeto Resgate – Avulsos de Pernambuco. AHU – ACL – CU, 015, cx. 6, doc. 466.
80 Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Typ. Baptista de
Souza, volume LXVII, 1945, p. 195.
81 Ibidem, p. 195-196.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
209
mandar prender ao Capitão de Itamaracá por guardar a Vossa Ordem”82 e orienta a
“proceder com todo o rigor contra quem o merecer”.83
A década de 60 e 70 do século XVII foi crucial para a dinastia dos Braganças e
para a monarquia pluricontinental portuguesa, pois, foi o período dos desfechos da
insegura situação internacional e ultramarina vivida desde a Restauração de 1640: a
“paz definitiva foi concluída entre as Províncias Unidas e Portugal em Junho de
1669, a perda de Pernambuco foi oficialmente reconhecida pelos Estados Gerais, e a
de Ceilão pela Coroa de Portugal”.84 Também a paz com a Espanha (1668) deu
estabilidade ao reino de Portugal e a dinastia reinante, eliminou os empecilhos para o
reatamento das relações com o papado “e o reconhecimento da monarquia
portuguesa pela Santa Sé devolviam a legitimidade jurídica e política a Portugal”.85
Ou seja, estamos num momento onde, por um lado, a superação da instabilidade e
insegurança começava a ganhar forma com os acordos de paz. Além disso, iniciativas
ordenadoras começavam a ganhar forma, exemplificadas na instrução recebida por
Afonso Furtado de Mendonça, entretanto o quadro ainda era complexo e a
monarquia portuguesa precisava de cautela e assim o exigia a dinâmica governativa
do Estado do Brasil. Por isso, as decisões que apresentamos nos parágrafos
anteriores. Ou seja, o monarca agindo com base no direito, inspirado nas
proposições próprias da 2ª escolástica, arbitrou o conflito e garantiu os espaços
jurisdicionais próprios de cada um. Esse era o seu papel como cabeça do corpo
político, “o trabalho do monarca envolvia diversas obrigações, e entre esses
imperativos o mais importante era, sem dúvida, servir as necessidades do reino, ou
seja, preservar a paz e manter os direitos e as prerrogativas dos corpos do reino”.86
82
Ibidem, p. 196.
Ibidem, p. 196.
84 BOXER, Charles R. Reflexos da Guerra Pernambucana na Índia Oriental, 1645-1655. In:
Boletim do Instituto Vasco da Gama. Bastora, Goa: Tipografia Rangel, 1957, p. 36.
85 FARIA, Ana Leal de. Arquitectos da paz. A diplomacia portuguesa de 1640 a 1815.
Lisboa: Tribuna, 2008, p. 130.
86 CARDIM, Pedro. A Casa Real e os órgãos centrais de governo no Portugal da segunda
metade de Seiscentos. Tempo. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2002, p. 14.
83
ISBN 978-85-61586-70-5
210
IV Encontro Internacional de História Colonial
Os governadores e a prática do contrabando na
Capitania de Mato Grosso (1752-1793)
Nauk Maria de Jesus1
A proximidade da capitania de Mato Grosso (1748) das missões espanholas
preocupava a Coroa portuguesa que instruiu os seus governadores sobre como
agirem e estes aos seus sucessores. Vale lembrar que a segunda metade do século
XVIII foi marcada pela reconfiguração na administração da América portuguesa e
naquelas circunstâncias, diante das disputas por Sacramento, as autoridades lusas
voltaram os interesses para a fronteira oeste.
Nesse contexto, ao criar a capitania de Mato Grosso em 1748 e estabelecer a sua
capital Vila Bela da Santíssima Trindade (1752) nas raias da fronteira, a Coroa
portuguesa buscava efetivar as suas conquistas, ao mesmo tempo em que visava
deter o avanço das missões jesuíticas espanholas nas suas tentativas de se estabelecer
na margem direita do rio Guaporé. A capitania possuía uma vasta extensão territorial
e era constituída por duas vilas, localizadas em dois distritos, isto é Vila Real do
Senhor Bom Jesus do Cuiabá (1727), situada no distrito do Cuiabá, e a capital Vila
Bela da Santíssima Trindade (1752), no distrito do Mato Grosso. Distantes uns dos
outros, eles evidenciam como aquela capitania localizada na região central do
continente também simbolizava a clivagem entre os Estados do Brasil, o qual o
distrito do Cuiabá esteve vinculado, e o Estado do Grão-Pará, a quem o Mato
Grosso, manteve maiores contatos.
Assim sendo, a instrução passada em 1749 ao primeiro governador e capitãogeneral, Antonio Rolim de Moura, recomendava que ele deveria evitar as queixas e os
distúrbios que pudessem ocorrer entre os súditos dos governos português e
espanhol, pois a capitania era muito próxima das missões de Chiquitos, de Moxos e
do governo de Santa Cruz de La Sierra.2 Nessas instruções, a importância da parte
noroeste onde estava localizada a capital Vila Bela, no distrito do Mato Grosso, foi
enfatizada pela Coroa, quando expressou que Mato Grosso é a chave do propugnáculo do
sertão do Brasil pela parte do Peru.3 Esta capitania esteve no cerne das discussões do
Tratado de Madri (1750), sendo definida em vários níveis como a sua principal
fronteira. Identificada, várias vezes, como chave ou fecho da América portuguesa, ela
ao mesmo tempo podia “fechar” o interior da colônia por meio da defesa ou “abrir”
as negociações com os territórios hispânicos em direção às províncias do Peru,
quando fosse conveniente à Coroa portuguesa. Apesar da Colônia de Sacramento ter
sido a moeda de troca nas negociações do Tratado de Madri, a capitania de Mato
1
Professora Adjunta na Universidade Federal da Grande Dourados.
Instruções aos capitães-generais. Cuiabá: IHGMT, 2001, p. 14.
3 Ibidem, p. 11.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
211
Grosso era o espaço simbólico da coesão entre o norte e o sul da colônia, por meio
das bacias platina e amazônica, delimitando o circuito da conquista territorial de
Portugal.4
Para o seu sobrinho João Pedro da Câmara, que o sucedeu no governo da
capitania, Antonio Rolim de Moura recomendou que se os padres da Companhia de
Jesus, estabelecidos nos domínios hispânicos, não provocassem distúrbios, deveria
manter a boa harmonia com eles. Mas em setembro de 1768, João Pedro da Câmara
informou ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, da retirada dos jesuítas das mais de quinze missões espanholas
localizadas nas raias da fronteira.5 Após a expulsão deles, outros religiosos assumiram
as antigas missões e participaram ativamente do comércio ilegal com os domínios
portugueses. Em diversos momentos esses clérigos foram denominados pelos
governadores portugueses de religiosos contrabandistas.6
Já o governador Luís Pinto de Souza Coutinho em sua instrução ao seu sucessor,
Luis de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, foi enfático ao tratar do comércio de
contrabando pelas províncias de Moxos e Chiquitos. Isto tudo feito debaixo do
completo sigilo, pois as instruções dadas a Antonio Rolim de Moura proibindo o
comércio com os castelhanos continuavam em vigor. Segundo Souza Coutinho, o
comércio de contrabando se reduzia à compra de algum gado vacum e cavalar, mas
se esperava que novos contatos fossem estabelecidos com a cidade de Assunção,
para facilitar a entrada do tabaco.7 Chama-nos atenção e merece ser investigado, além
do descaminho de ouro, o de diamantes que saía da capitania de Mato Grosso, bem
como as relações com os ingleses para efetivação dessa prática.
Uma das comunicações “oficiais sigilosas” feitas com a província de Moxos
ocorreu no ano de 1769, quando o tenente Francisco José de Figueiredo se dirigiu as
antigas missões com o motivo de entregar cartas aos governadores espanhóis e
oferecer auxílio para a expulsão dos jesuítas, conforme instruções do governador
Luis Pinto de Souza Coutinho. Mas o objetivo de tal viagem era fazer o
reconhecimento do local, descobrir caminhos de terra e fluviais que ligassem as
missões, verificar a defesa espanhola, a população, a produção, as pedras preciosas,
as autoridades existentes e a possibilidade de estabelecimento do comércio. Ao
chegar a uma das missões, o tenente Francisco acertou o negócio do gado com o
religioso do local com cautelas e segredos. Em troca, o padre queria como pagamento
para contentar os índios: bretanhas, fitas, missangas, verônicas, facas, navalhas e alguns chapéus e o
4
ARAÚJO, Renata Malcher. A urbanização do Mato Grosso no século XVIII: discurso e
Método. Lisboa: Tese de Doutoramento em História da Arte – FCSH - Universidade Nova
de Lisboa, 2000, p. 41- 48.
5 Cd ROM 4, rolo 12, doc. 411 - AHU-MT.
6 Ibidem.
7 Instruções aos capitães-generais…, p. 41 e 42.
ISBN 978-85-61586-70-5
212
IV Encontro Internacional de História Colonial
excesso em ouro, mas que este lhe devia ser entregue ocultamente… Sobre as missões de Moxos,
informou, dentre outros aspectos, que safiras e pérolas encontradas nos domínios
hispânicos eram comercializadas pelos espanhóis com os holandeses.8
O governador Luis Pinto de Souza Coutinho temia que o comércio com os
religiosos espanhóis não tivesse longa duração por ser volumoso e conduzido por
várias pessoas. Por isso seria impossível conservá-lo no segredo, principalmente entre
índios que nunca souberam guardá-lo, sendo muito provável que o governador tomasse
medidas no sentido de coibi-lo.9
Por meio das viagens realizadas pelos oficiais dos domínios portugueses até os de
Castela, a Coroa portuguesa ficava informada da localização, força e intenções dos
espanhóis. Além do mais, muitas informações acerca das relações diplomáticas entre
Espanha e Portugal eram trocadas entre os homens que viviam na fronteira e muitas
vezes chegavam à capitania de Mato Grosso antes da correspondência oficial do
Reino português.
Introduzir com disfarce, debaixo do segredo, cautelas e segredos, missão secreta, sigilo são
expressões evocadas na correspondência das autoridades. Segredo ou sigilo que será
invocado logo no título do documento referente ao comércio com as capitanias do
Pará, de Mato Grosso e com os domínios hispânicos: a Instrução secretíssima, com que
Sua Majestade manda passar à capital de Belém do Grão – Pará.
O segredo era uma das armas importantes no estabelecimento do comércio
clandestino, de caráter oficial, como ocorria em Sacramento. Com essas ações, cujas
instruções partiam de ministros lisboetas e eram seguidas pelos governadores da
capitania de Mato Grosso, a Coroa desenvolvia certa política de comércio
clandestino. Quando era conveniente à Coroa, ele o autorizava e incentivava,
contando para a sua efetivação com uma rede envolvendo diferentes pessoas da
administração régia e local, assim como militares e pessoas comuns, unidas por laços
familiares, comerciais ou de dependência, de ambos os domínios ibéricos. Cada
indivíduo dava sentido a esse empreendimento e tinha um papel a desempenhar.
Por sua vez, o governador Luis de Albuquerque de Melo e Cáceres foi convocado
a promover o contrabando. O secretário de estado, Martinho de Melo e Castro, o
instruiu a embaraçar o comércio com os castelhanos pelo caminho terrestre,
permitindo-o somente pelo rio e que era conveniente promover, por todos os meios
que fossem possíveis, o comércio com as aldeias castelhanas. Isso deveria ser feito
com todo cuidado e com tal disfarce que não parecesse que o governador promovesse e
tivesse ordem para assim agir.10 No ano de 1774, o governador entrou em contato
com diferentes pessoas estabelecidas próximo à Missão de Moxos e demonstrou o
interesse com contrabando a ser realizado com as partes de Chuquesaca ou Potosi, que pela sua
8
CD ROM 4, rolo 13, doc. 252 - AHU - MT. (relatório anexo).
Ibidem.
10 Instruções aos capitães-generais…, p. 81.
9
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
213
riqueza e abundância, possibilitaria concretizar os interesses das Paternais Providências
de Sua Majestade.11 A fronteira oeste era uma alternativa a Colônia de Sacramento para
acessar as terras de Castela e os governadores importantes interlocutores na
efetivação do contrabando.
O alferes Manoel José da Rocha do Amaral também se dirigiu aos domínios de
Espanha em diferentes circunstâncias, como em 1775, quando regressou a província
de Moxos, encarregado de levar alguns mimos ao presidente da Real Audiência de La
Plata, ao governador e capitão-general de Santa Cruz de La Sierra, ao bispo da
mesma localidade, ao governador de Moxos e aos vários religiosos das Missões
subordinadas à Santa Cruz. Manoel foi escolhido por ser hábil em tal serviço e
freqüentemente realizá-lo. Ele deveria introduzir nos domínios hispânicos alguns
efeitos com disfarce.12 Não sabemos o resultado dessa viagem, mas como as demais, a
intenção era fechar acordos comerciais, sempre secretos.
À medida que os territórios iam sendo percorridos novas alianças eram acertadas.
As missões eram a porta de entrada para os domínios hispânicos e para a obtenção
de gado vacum, cavalar, prata e quem sabe o tabaco, como apontou Souza Coutinho.
Por meio dos religiosos espanhóis os portugueses trocavam mercadorias européias,
ouro e diamante da capitania de Mato Grosso, e os clérigos a prata lavrada ou
aglomerada, além de gado. Contudo, ainda merece ser investigado o comércio de
escravos por meio da fronteira oeste, cujo dilema sobre a sua comercialização ou não
com os comerciantes castelhanos são notáveis durante o governo de Luis
Albuquerque.
E foi durante a sua que foi aprovada a Instrução Secretíssima com que Sua Majestade
manda passar à capital, o governador e capitão general João Pereira Calda.13
Os impactos da Instrução secretíssima
As investidas portuguesas nos domínios hispânicos, realizadas nas décadas de
1760 e 1770, por meio das expedições secretas que reconheciam rotas terrestres e as
possibilidades de navegação, além de serem importantes no processo de demarcação
dos limites entre os domínios ibéricos, foram úteis na proposta da Instrução secretíssima
por possibilitar a prática do comércio licito.14 Essa Instrução tinha dois objetivos: 1º)
11
CD ROM 8, rolo 79, doc. 560 - AHU-PA.
CD ROM 4, rolo 143, doc. 279 - AHU- MT.
13 CD ROM 7, rolo 77, doc. 72 - AHU -PA.
14 Na região do Pará, em 1722, o rei ordenou ao governador e capitão-general João da Maia
Gama abrir comércio com Potosi por meio dos afluentes do rio Amazonas. Na década de
1740, o capitão-general Mendonça Gorjão também foi encorajado a incentivar o contrabando
entre Belém e Quito, com ordens régias para obter a prata espanhola. Na segunda metade do
setecentos, as ações de Pombal, por meio das Instrução Secretíssima, seriam mais incisivas e
abarcariam outros territórios. DAVIDSON, David Michel. Rivers & Empire. The Madeira
12
ISBN 978-85-61586-70-5
214
IV Encontro Internacional de História Colonial
que o Pará aumentasse o comércio ao longo do rio Madeira, alcançando a capitania
de Mato Grosso e mais mercados da costa; 2º) regular o contrabando entre Belém e
partes das vastas províncias hispânicas de Orinoco, Quito e Peru. Trataremos,
especificamente do primeiro, observando que esse plano estava assentado em três
pontos: contrabando, construção de feitorias e o comércio com Rio de Janeiro, Bahia
e Pará.
No plano ficavam expressos os interesses em dilatar as atividades da Companhia
do Grão-Pará para a Capitania de Mato Grosso e Cuiabá a outras do Brasil e pode introduzir
na maior parte das Províncias do Orinoco, de Quito e Peru com grandes vantagens ao que antes se
fazia pela Colônia de Sacramento sem que os governadores confinantes possam impedir.15 Caberia,
portanto, ao governador da capitania de Mato Grosso viabilizar as medidas
propostas no documento. Quanto ao contrabando passava a ser regulado pela Coroa
a partir da reestruturação nos parâmetros do comércio ilegal e a companhia ficaria
responsável pelos produtos a serem comercializados pelos domínios ibéricos.
O comércio ilegal fazia parte da sociedade colonial e envolvia diferentes grupos
que competiam e cooperavam entre si, estabelecendo redes a partir de suas
participações no contrabando. Segundo Ernst Pijining, essa prática afirmava e não
contradizia a autoridade real. Neste sentido, o comércio ilegal tolerado era um
comércio controlado, permitido pelas pessoas cujas funções oficiais pressupunham
exatamente combatê-lo. Isto significa dizer que era mais importante quem praticava
o comércio e não o quanto era praticado. Administradores, clérigos e oficiais
militares dificilmente eram processados e se o fosse raramente o processo correria
até o seu final. Além do mais, ter posses e boas conexões no reino e no ultramar
poderia determinar o grau de punição.16
Deste modo, o rei controlava as diferentes instâncias do governo, o comércio e a
estrutura administrativa, elaborava sistemas de fiscalizações e legislações, decidia
judicialmente, mudava os oficiais de postos e lugares quando lhe parecesse
conveniente, dinamizando dessa forma o comércio ilegal e evitando que autoridades
régias escapassem do seu controle. Havia uma simbiose de interesses e negociações
entre os contrabandistas, muitas vezes pertencentes ao corpo administrativo, e o rei.
route and the incorporation of the brazilian far west, 1737-1808. New Haven: Tese de
Doutoramento em História - Yale University, 1970, p. 159 e 160.
15 CD ROM 7, rolo 77, doc. 72 - AHU -PA(grifos meus).
16 PIJNING, Ernest. Controlling contraband: mentality, economy and society in
eighteenth-century- Rio de Janeiro. Baltimore: Tese de Doutoramento, 1997, p. 02, p. 226.
No capítulo 6, o autor discute a política de punição com base em estudos de casos de pessoas
condenadas por comércio ilegal. Ver também MOUTOUKIAS, Zacarias. Burocracia,
contrabando y autotransformacion de las elites. Buenos Aires en el siglo XVII. Anuario del
IEHS. Tandil, 1988.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
215
Quando as ações dos contrabandistas escapavam do controle régio, as atividades
ilícitas passavam a fazer parte do comércio condenado.17
A Instrução secretíssima evidencia que com as disputas em torno da Colônia de
Sacramento, as autoridades lusas se voltaram para as fronteiras norte e oeste, na
tentativa de manter o comércio ilícito tolerado com os domínios hispânicos. Segundo
Alcir Lenharo, o fluxo de contrabando não se estabelecia numa só direção, pois o
ouro era cobiçado pelas povoações espanholas e a prata pelos portugueses, gerando
um contra-fluxo orientado para esses núcleos.18 Esses dados possibilitam refletir
sobre a relação entre a Instrução secretíssima, a Companhia de Comércio do Grão-Pará
e o contrabando.
A Instrução de 1772 dizia respeito, ainda, à criação de sete feitorias localizadas na
rota do comércio. Elas deveriam estar próximas à cidade de Belém, à Vila Bela do
Mato Grosso e à capital do Rio Negro.19 Acreditava-se que pelo trajeto fluvial
Madeira/Guaporé os comerciantes da companhia gastariam menos tempo e teriam
menor custo no transporte de suas mercadorias. Inicialmente, dúvidas pairaram
sobre o local onde seria erguida a feitoria da capitania de Mato Grosso e as ruínas do
Forte de Conceição - destruído na década de 1760 pelos espanhóis - chegaram a ser
cotadas. No entanto, ao final foi decidido que a feitoria deveria ser construída no
distrito do Mato Grosso, especificamente na construção do Real Forte Príncipe da
Beira (1776). No entanto, enquanto este não ficasse pronto, algum armazém deveria
ser colocado dentro do forte arruinado.20
O forte Príncipe da Beira contou com financiamento da Companhia de Comércio
do Grão-Pará e estava localizado a 900 quilômetros de Vila Bela e a 3.600 do Pará.
Além do caráter defensivo, ele armazenaria os produtos comercializados pela
companhia, atuando como entreposto comercial na rota do contrabando.21 Com a
Instrução a Coroa buscava novo canal de comunicação e negociação comercial com os
domínios hispânicos, e para tanto se fazia preciso abarcar o comércio do distrito do
Cuiabá, já que por Vila Bela, devido à proximidade com o Pará, tais negociações
eram mais facilitadas. Além disso, vale destacar que os moradores da Vila Real do
Cuiabá, desde 1740, conheciam as rotas que acessavam as terras de Castela por meio
da Província de Chiquitos.
17
PIJNING, Ernst. Controlling contraband…, p. 8.
LENHARO, Alcir. Crise e mudança na frente oeste de colonização. Cuiabá: Ed.
UFMT, 1982, p. 37.
19 CD ROM 7, rolo 77, doc. 72 - AHU -PA.
20 CD ROM 8, rolo 81, doc. 11 – AHU-PA.
21 FERNANDES, Suelme Evangelista. O Forte Príncipe da Beira e a fronteira noroeste
da América portuguesa (1776-1796). Cuiabá: Dissertação de Mestrado em História –
PPGH - Dep. de História – ICHS - UFMT, 2003, p. 45.
18
ISBN 978-85-61586-70-5
216
IV Encontro Internacional de História Colonial
Desde a primeira metade do século XVIII o intercâmbio comercial era realizado
via Vila Real do Cuiabá, que por meio das rotas fluviais e terrestres mantinha contato
com São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia, com esta última por meio de um
caminho de terra, com atalho derivado em Goiás.22 Com a abertura de uma nova
rota de comércio na região onde estava localizada a capital Vila Bela, controlada pela
Companhia do Grão-Pará, intencionava-se provocar o deslocamento dos negócios,
minimizando os contatos do distrito do Cuiabá com os portos litorâneos do Rio e da
Bahia - o que gerou apreensões entre os comerciantes que negociavam com aquelas
praças - e ao mesmo tempo, possivelmente, ampliar as alternativas de acesso aos
domínios hispânicos.
Para que esse objetivo tivesse bom resultado era preciso que o comércio efetuado
pela Companhia fosse dirigido com prudência e se destruísse o abuso dos excessivos
preços a que eram vendidos os negros e fazendas oriundos do Rio e da Bahia. O
comércio do Pará deveria suplantar todo o comércio até aquele momento existente:
desterre o abuso dos excessivos preços, a que até agora se
venderam os negros e das ditas fazendas que vem do Rio de
Janeiro e da Bahia…É necessário, que se degrade toda a idéia de
cobiça insaciável; entendendo-se por uma parte que o
barateamento das mercadorias do Pará há de ser a espada aguda,
com que se cortem todos os referidos comércios, que até agora
se fizeram.23
Nota-se a proposta da Companhia de suplantar o comércio litorâneo com o Rio e
a Bahia, destituindo os homens de negócios vinculados a essas praças das rotas
comerciais da qual a capitania de Mato Grosso fazia parte. Se isso ocorresse, os
moradores e comerciantes, estabelecidos principalmente em Vila Real do Cuiabá,
seriam forçados a efetivar o comércio na capital Vila Bela para alcançar os
representantes da Companhia do Grão-Pará. Segundo David Davidson, entre 1769 e
1776, as atividades comerciais na capital Vila Bela foram intensificadas e, por volta de
1776, ao menos 55 comerciantes já tinham conduzido algum negócio com a
Companhia. Para atrair os comerciantes e assegurar o comércio periódico, a
22
O parágrafo 13º do capítulo 3º dos Estatutos ou posturas municipais de Vila Bela do ano de
1753, aprovados um ano após a fundação da vila, referia-se às despesas que deveriam ser
feitas, no futuro, para a condução de gado de Goiás ou dos currais da Bahia. Na Vila Real
esses contatos já eram efetuados desde a abertura do caminho de terra na década de 1730.
ROSA, Carlos Alberto e JESUS, Nauk Maria de. Estatutos municipais ou Posturas de Vila
Bela da Santíssima Trindade - 1753. Territórios e Fronteiras - Revista do PPGH da UFMT.
Cuiabá, vol. 3, n. 1, 2002.
23 CD ROM 7, rolo 77, doc. 72 - AHU -PA.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
217
Companhia ampliou-lhes os créditos e remeteu um volume maior de mercadorias nas
monções anuais.24
No entanto, no interior da política de regulação do comércio, o golpe maior que
atingiu os comerciantes vinculados ao Rio e Bahia que negociavam primeiramente
com a Vila Real e depois com a capital, foi a determinação de que os preços das
mercadorias vendidas pela Companhia fossem mais baixos do que os vindos
daquelas localidades. Proposta concretizada no ano de 1774, quando o governador e
capitão-general do Pará, João Pereira Caldas, enviou uma pauta de preços a capitania
de Mato Grosso, com ordens para regular, barateando, a venda dos produtos. A
publicação da pauta e sua recepção na capitania de Mato Grosso merecem breves
comentários e por isso fazemos uma pausa no tocante a Instrução. Destacamos que o
documento secretíssimo criticava os exorbitantes preços dos escravos e gêneros
secos e molhados que eram comercializados em Vila Bela e defendia o barateamento
dos produtos. Seus defensores acreditavam que desse modo seria possível propagar e
dilatar as atividades da companhia a outras regiões vizinhas.
Antes de publicar a pauta de preços, o governador da capitania de Mato Grosso,
Luis de Albuquerque, na tentativa de amenizar os seus impactos, reuniu-se com os
comerciantes que sugeriram ajustes nos preços de acordo com as condições locais.
Ele também entregou o documento ao ouvidor Miguel Pereira Pinto Teixeira que,
após leitura, fez advertências nos termos propostos. Segundo o ouvidor, o preço
base poderia alijar o comércio da capitania de Mato Grosso com os portos. Para ele,
eliminar ou limitar o comércio com o litoral deixaria a região inteiramente nas mãos
da Companhia do Grão-Pará, prejudicando a capitania. Além disso, comerciantes da
rota da Madeira viriam a ser simples agentes da Companhia e o lucro seria desta
última e não deles. Argumentava também que tinha dúvidas se a Companhia
conseguiria prover a demanda da fronteira oeste com as suas importações. Por fim,
considerou que os preços propostos, abaixo dos praticados pelos mercadores do Rio
e Bahia, até agradariam os consumidores, mas seriam a ruína da capitania, que ficaria
completamente dependente da Companhia.25
A pauta de preços perturbou os comerciantes, sobretudo aqueles que
comercializavam com os portos do Rio e da Bahia, gerando diversas queixas.
Segundo Luis de Albuquerque:
Os referidos barateamentos e justas moderações estabelecidas,
me persuado que seguramente desviaram de todo o comércio,
que aqui se vinha fazer antes, com fazendas secas e molhadas do
dito Rio de Janeiro, e em parte da Bahia, segundo
24
25
DAVIDSON, David Michel. Rivers & Empire…, p. 169-170.
Ibidem, p. 175.
ISBN 978-85-61586-70-5
218
IV Encontro Internacional de História Colonial
expressamente insinua o Espírito das Ordens de Sua
Majestade.26
Contrariados com tal política, em 1778, já com a revogação da Instrução secretíssima,
vinte e quatro comerciantes que se identificavam como homens de negócio ou em uma
única passagem como homens de comércio enviaram uma carta à rainha D. Maria
pedindo para serem recompensados dos prejuízos causados pelos deputados e
interessados da Companhia.27
Na carta, eles expressaram o risco que os homens de negócio vinculados às
praças do Rio de Janeiro e da Bahia tinham ao se deslocar para Vila Bela após
passarem pela Vila Real, por causa das poucas chances de lucro a ser obtido devido à
pauta de preços. Segundo eles, tiveram a infelicidade de dispô-las nesta Vila Bela pelos
ruinosos preços da Pauta, que os deputados e interessados na Companhia Geral do Pará fizeram
estabelecer e publicar nestas minas…28 Ainda, assumiam a responsabilidade pela
manutenção da capitania, pois com especialidade e nem as mais do Brasil… tem sido
inteiramente estabelecida, conservada e aumentada pelos seus comerciantes. Essa
responsabilidade é mencionada em outro trecho, Intentaram, pois, arruinar e destruir a
capitania, porque sendo esta, com especialidade entre a mais fundada estabelecida e aumentada pelos
negociantes.29
Nessas passagens é eliminada toda e qualquer referência aos primeiros paulistas
que se deslocaram para a fronteira oeste. Do mesmo modo, a única menção à figura
do minerador aparece no trecho miseráveis ascendentes daqueles bons vassalos.30 No
documento de 1778, os comerciantes assumem o papel de principais responsáveis
pela conquista. Eles argumentavam que se a capitania fosse arruinada, eles também
seriam destruídos e tal não seria justo, porque saindo das praças marítimas,
enfrentavam caminhos árduos e arriscados, rios caudalosos, cachoeiras e ainda as
nações bárbaras, tudo em nome do aumento da agricultura e da povoação. Iam além,
alegando que com as próprias pessoas, já com as fazendas para pagamento dos militares e obreiros
dos fortes, e ainda com o próprio ouro, tinham defendido a capitania das invasões inimigas,
sem nunca terem se queixado, pois como fiéis vassalos devem e querem suprir e concorrer
para tudo o que for bem e aumento da Real Casa do Público e da Capitania.31 Procuravam
26
CD ROM 4, rolo 83, doc. 402 - AHU-MT.
Carta, CD ROM 4, rolo 18, doc. 105 – AHU – MT. Embora o documento tenha sido
elaborado em Vila Bela, não significa os comerciantes que assinaram estivessem estabelecidos
na capital, mesmo porque, eles se referem à Vila Real em várias passagens do texto. Neste
momento, eles falavam enquanto grupo de comerciantes.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
27
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
219
resguardar os direitos de fiéis vassalos, ao mesmo tempo em que evidenciavam a
riqueza da comunidade mercantil que representavam.32
Prosseguindo na explanação do documento de 1778, os comerciantes ainda
destacaram que à sua custa conheceram a navegação do Pará, abriram o caminho de
terra de Goiás (1736), financiaram bandeiras nas diligências de descobertas de novas
minas, sendo que nessas investidas, Luis Rodrigues Villares, principal comerciante deste
Estado, havia feito enormes gastos na Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá e
seu termo.33 A carta dos comerciantes representava o fortalecimento de um grupo
mercantil responsável pela preservação e desenvolvimento da fronteira oeste. Em
meio às queixas contra as ações da companhia, e relembraram que após quatro ou
cinco anos da criação da companhia de comércio, foi divulgada uma ordem
proibindo o:
primeiro, principal e antigo caminho dos rios que da Capitania
de São Paulo vem a estas; caminho por onde se descobriu,
povoou e estabeleceu todo este sertão do poente, e por onde os
miseráveis ascendentes daqueles bons vassalos,vêem algum
pequeno lucro do trabalho.
Explicavam que suprimindo essa rota, teriam que se lançar à do
Madeira/Guaporé, fazendo com que os comerciantes desta vila – Vila Bela - cultivassem
o comércio do Pará e, paulatinamente, fossem deixando o comércio com o Rio de
Janeiro.34
Com base nesses argumentos, suplicavam à soberana que não fossem obrigados a
pagar os juros de suas dívidas para com a companhia até o ano de 1783, assim como
pediam que tal graça fosse estendida aos devedores da Praça do Rio de Janeiro, que
diante da pauta dos preços de 1775, tinham perdido vultosas quantias. Em segundo
lugar, solicitavam a restituição dos homens de negócio do Rio e da Bahia na
capitania. Por último, clamavam mais tempo para comercializarem as fazendas
estocadas, não permitindo a entrada de novas.35
32
Sobre esse aspecto ver FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda B. e GOUVEA,
Maria de Fátima Silva. Uma leitura do Brasil colonial: bases da materialidade e da
governabilidade no Império. Penélope. Fazer e desfazer a História. Lisboa, n.º 23, p. 6788, 2000. BICALHO, Maria Fernanda B. As representações da câmara do Rio de Janeiro ao
monarca e as demonstrações de lealdade dos súditos coloniais. Séculos XVII e XVIII. In: O
município no mundo português. Seminário Internacional. Centro de Estudos de História
do Atlântico, Funchal, p. 523-564, 1998.
33 Carta, CD ROM 4, rolo 18, doc. 105 – AHU – MT.
34 Ibidem.
35 Ainda estamos levantando os dados e verificando se o pedido dos comerciantes foi
atendido.
ISBN 978-85-61586-70-5
220
IV Encontro Internacional de História Colonial
Apesar dos prejuízos apontados pelos homens de negócios vinculados ao Rio e a
Bahia, o maior envolvido pela Companhia foi o distrito do Mato Grosso. Isto,
porque as atividades da Companhia envolvendo o Cuiabá apresentaram dificuldades.
As despesas nos transportes das mercadorias, as distâncias entre as duas vilas e a
preferência dos moradores por buscar escravos no Rio e na Bahia, cujos preços eram
melhores e as opções de escolhas entre os numerosos lotes dos muitos e bons que ali se vendem
contribuíram para que a Companhia de Comércio do Grão-Pará não alcançasse o
Cuiabá plenamente, pois os seus moradores optavam por manter o comércio já
existente.36
A situação no final da década de 1770 não era das mais tranqüilas. Em 1777, os
gêneros e escravos remetidos pela Companhia à capitania não chegaram, fazendo
com que o governador Luis de Albuquerque receasse que o plano de abastecer o
comércio tivesse sido alterado. Com efeito, em dezembro, recebeu o aviso da
Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos, de 3 de junho de 1777, revogando
a pauta de preços de 1775, determinado que o comércio em grosso e retalho
ficassem livres como antes.37 Em 1778 o plano secretíssimo foi cancelado.
Essas ações estavam relacionadas à saída de Pombal do poder e a subida ao trono
de D. Maria I. Na capitania de Mato Grosso, Luis de Albuquerque expressou sua
dúvida sobre a continuidade ou não da promoção do contrabando, visto que as
novas resoluções reais desaprovavam o Plano de comércio chamado secretíssimo. Mas ele
faria o que fosse do Real agrado.38
Sendo assim, a Instrução propunha a consolidação da rota Madeira/Guaporé e o
incremento das atividades comerciais no e por meio do oeste da América portuguesa.
Essa situação reafirma a existência da clivagem entre os Estados do Brasil e do GrãoPará e a importância da capitania de Mato Grosso no contexto imperial português
por propiciar a conexão entre os dois Estados e por sua localização fronteiriça
possibilitar a abertura de novas rotas comerciais em direção aos domínios hispânicos.
Nesse contexto, os governadores e capitães-generais da capitania de Mato Grosso
foram os promotores e ao mesmo tempo o termômetro do comércio de
contrabando desenvolvido, pois deles partiam as avaliações e informações oficiais a
respeito de tão sigilosos negócios. Assim, se ao primeiro governador, Antonio Rolim
de Moura, foram feitas restrições quanto à efetivação do comércio ilícito, a Luis de
Albuquerque a questão foi enfatizada e incentivada e a Instrução é um documento a
ser considerado no conjunto de práticas ilícitas adotadas na gestão desse governador.
36
CD ROM 8, rolo 83, doc. 404 - AHU - PA.
LEVERGER, Augusto. Apontamentos cronológicos da Província de Mato Grosso.
Cuiabá: IHGMT, 2001, p. 82.
38 CD ROM 4, rolo 18, doc. 99 - AHU-MT.
37
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
221
Os homens de negócio da colônia do Sacramento e o contrabando de
escravos para o Rio da Prata (1749-1777)
Fábio Kühn1
O grupo mercantil da Colônia do Sacramento e o contrabando no Rio da Prata
Nas últimas décadas os comerciantes coloniais foram objeto da atenção da
historiografia brasileira recente, dando origem a uma série de trabalhos sobre a
atuação dos homens de negócio residentes na América portuguesa, o que ajudou a
compor um novo enquadramento da questão, onde se verificou que os comerciantes
compuseram a elite colonial no século XVIII.2 No caso do Rio de Janeiro do século
XVIII – de onde saíram ou mantinham contato diversos comerciantes com atuação
em Sacramento – os homens de negócio constituíram-se em uma elite
verdadeiramente nova, apartada em sua maioria da antiga nobreza da terra.3 Em
termos hierárquicos, os comerciantes coloniais dividiam-se basicamente em duas
categorias: os mercadores e os homens de negócio. Embora se dedicassem ao
mesmo tipo de atividades, a diferença estaria na escala destes empreendimentos,
sendo que os “homens de negócio” se constituíam na elite comercial propriamente
dita.4 Sabe-se também que os comerciantes coloniais eram homens que no mais das
vezes tinham origens sociais modestas e sobre os quais ainda pesava a visão negativa
existente na sociedade portuguesa de Antigo Regime sobre o comércio, além da sua
associação com o indesejável “defeito mecânico”, que denunciava as modestas
1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Brasil.
FRAGOSO, João L. R. Homens de Grossa Aventura. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2ª ed. revista, 1998 [1ª ed.: 1992]. Ver também FURTADO, Júnia Ferreira.
Homens de Negócio – A interiorização da Metrópole e do comércio nas Minas
setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999; OSÓRIO, Helen. O Império português no sul da
América – Estancieiros, lavradores e comerciantes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007;
RIBEIRO, Alexandre V. O comércio de escravos e a elite baiana no período colonial. In:
FRAGOSO, João (org.) Conquistadores e Negociantes – História de elites no Antigo
Regime nos trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007; BORREGO, Maria
Aparecida M. A teia mercantil – Negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-1765).
São Paulo: Alameda, 2010.
3 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Famílias e negócios: a formação da comunidade
mercantil carioca na primeira metade do setecentos. In: (org.) FRAGOSO, João Luís Ribeiro;
ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Conquistadores
e negociantes…, p. 253.
4 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império: hierarquias sociais e
conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c.1650 - c.1750). Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 2003, p. 233.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
222
IV Encontro Internacional de História Colonial
origens sociais, quase sempre vinculados ao trabalho braçal. No entanto, a elite
mercantil em formação gozava de uma vantagem apreciável, mesmo sendo de
origem humilde, pois tinha a denominada “limpeza de sangue”, muito necessária
para a promoção social dos mercadores e homens de negócio. A obtenção da carta
de familiatura era uma prova de ascendência limpa e sinônimo inequívoco de honra e
status social, pois “dinheiro, os comerciantes e mercadores já possuíam; faltava-lhes
o enobrecimento”. Não por acaso, ao longo dos Setecentos, os comerciantes
estabelecidos no Brasil procuraram com afinco fazer parte do aparelho burocrático
inquisitorial.5 Cabe lembrar também que justamente no período aqui estudado,
ocorreu o processo de nobilitação dos comerciantes lusitanos, notadamente durante
o período pombalino, quando toda uma legislação específica foi dedicada ao
acrescentamento social dos homens de negócio.6
O grupo mercantil da Colônia do Sacramento mudou bastante ao longo de quase
um século de dominação lusitana na região. No início do povoamento (1680-1705),
os negócios eram controlados pelos governadores e seus sócios.7 Durante a segunda
fase (1716-1749), os portugueses tiveram que enfrentar a concorrência direta dos
ingleses, estabelecidos com o Asiento na região, o que não impediu que os homens de
negócio e mercadores atuantes aumentassem significativamente.8 Mesmo na última
fase da cidadela (1750-1777) , quando a Colônia já parecia condenada ao fim, em
função das disposições decorrentes do Tratado de Madri, o grupo mercantil
continuava bastante dinâmico, direcionando suas atividades para o trato negreiro.9
Os comerciantes da praça podiam ser diferenciados quanto à sua inserção efetiva na
sociedade sacramentina: uns assemelhavam-se aos “comissários volantes” e não
residiam efetivamente na praça, somente o tempo necessário para fazer seus
negócios, voltando em seguida ao Rio de Janeiro. No final da década de 1760,
referindo-se a essa categoria, o governador da Colônia explicava que “por serem os
paisanos desta Praça a maior parte deles sem domicílio certo nela”, eles “são homens
que concorrem ao seu negócio e imediatamente tornam a fazer regresso para outras
5 CALAINHO, Daniela. Agentes da Fé: familiares da Inquisição portuguesa no Brasil
colonial. Bauru: Edusc, 2006, p. 96-99. Ver também KÜHN, Fábio. As redes da distinção:
familiares da Inquisição na América Portuguesa do século XVIII. Varia Historia, vol. 26, nº
43, p. 177-195, 2010.
6 PEDREIRA, Jorge M. Negócio e capitalismo, riqueza e acumulação: os negociantes de
Lisboa (1750-1820). Tempo, vol. 8, nº 15, p. 37-69, 2011.
7 JUMAR, Fernando A. Le commerce atlantique au Rio de la Plata (1680-1778).
Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, vol. 1, 2000, p. 222.
8 PRADO, Fabrício P. Colônia do Sacramento – O extremo sul da América portuguesa.
Porto Alegre: Fumproarte, 2002, p. 146-168; POSSAMAI, Paulo. A vida quotidiana na
Colônia do Sacramento. Lisboa: Editora Livros do Brasil, 2006, p. 352-362.
9 SANTOS, Corcino Medeiros dos. O tráfico de escravos do Brasil para o rio da Prata.
Brasília: Edições do Senado Federal, 2010, p. 147-154.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
223
partes”.10 Mas também havia outra categoria, possivelmente minoritária, mas
bastante influente, que se refere aos comerciantes efetivamente residentes na praça (e
não somente assistentes), radicados em famílias sacramentinas estabelecidas há uma ou
duas gerações e muitas vezes casados com mulheres também locais.11
No que tange à dimensão do grupo mercantil aqui estudado, temos informações
recolhidas em diversas fontes (registros paroquiais de batismos e óbitos, relações e
representações de mercadores e homens bons, habilitações de familiares do Santo
Ofício), que permitem uma estimativa plausível. Os dados encontrados para o
período 1749-1777 indicam a existência de pelo menos 105 agentes mercantis
atuantes na praça nessa conjuntura, dos quais praticamente dois terços (71) são
denominados como “homens de negócio”. Pelo menos um quinto dos comerciantes
(21) eram também familiares do Santo Ofício, habilitados tanto na Colônia, como
também no Rio de Janeiro. Cabe lembrar que o acesso à familiatura era uma forma
de distinção social muito apreciada na Colônia do Sacramento, ainda mais pelo fato
dela não dispor de uma Câmara que pudesse servir de espaço de representação e
nobilitação para a comunidade mercantil.12 Por outro lado, temos o pertencimento às
companhias de ordenança, que na Colônia do Sacramento foram criadas em 1719.
As informações disponíveis para os comerciantes do Rio de Janeiro na primeira
metade do século XVIII, “indicam uma forte correlação entre o ‘título’ de homem de
negócio e o posto de capitão”.13 Esta correlação parece ser confirmada no caso da
Colônia do Sacramento, pois 25 dos 40 homens que ostentavam patentes de oficiais
de ordenanças tinham patente de capitão. É preciso notar ainda que alguns destes
capitães eram responsáveis pelo controle das estratégicas ilhas situadas no rio da
Prata, a uma pequena distância da praça sacramentina, como nos casos do capitão da
ilha de São Gabriel, José de Barros Coelho, do capitão da ilha Rasa, Simão da Silva
Guimarães, do capitão da ilha de Fornos, João de Freitas Guimarães, do capitão da
10
AHU-CS, Cx. 7, nº 591. Ofício do governador da Colônia do Sacramento, Pedro José
Soares de Figueiredo Sarmento ao Vice-rei Conde de Azambuja, 28.10.1769.
11 Um exemplo, entre outros, seria o caso do capitão da ilha de São Gabriel, o homem de
negócios José de Barros Coelho, estabelecido na praça desde 1728. Após casar, constituiu
família e viveu na Colônia por cerca de quatro décadas, falecendo em 1769.
12 Agradeço a Paulo Possamai por esta sugestão, que ajuda a explicar o número relativamente
elevado de familiares inquisitoriais na praça platina.
13 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Os homens de negócio e a coroa na construção das
hierarquias sociais: o Rio de Janeiro na primeira metade do século XVIII. In: (org.)
FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima. Na Trama das Redes: política e negócios
no Império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p.
470.
ISBN 978-85-61586-70-5
224
IV Encontro Internacional de História Colonial
ilha dos Ingleses, Francisco José da Rocha e do capitão da ilha das Duas Irmãs, José
de São Luís.14
Se compararmos a comunidade de comerciantes da Colônia do Sacramento com
àquelas existentes nas principais praças mercantis da América Meridional,
percebemos que o número de negociantes era proporcionalmente avultado, em
relação às dimensões da povoação. Em Lima, por volta de meados do século XVIII,
a comunidade mercantil chegava a 135 indivíduos, ao passo que em Buenos Aires, o
grupo de comerciantes poderosos e prestigiosos alcançava 178 pessoas no período
entre 1775 e 1785.15 Na América portuguesa, a cidade de Salvador contava com 120
comerciantes em 1757, dos quais praticamente a metade estava envolvida com o
comércio transatlântico de escravos. A praça do Rio de Janeiro contava com pelo
menos 199 homens de negócio atuantes no período 1753-1766.16 Embora a Colônia
do Sacramento não se constituísse numa praça mercantil à altura das grandes cidades
sul-americanas da época, ela chegou a possuir um grupo de comerciantes
relativamente autônomos, que tinha diversos graus de vinculação com os homens de
negócio do Rio Janeiro. Ademais, eles eram favorecidos pela proximidade e
facilidade de comunicação com os domínios espanhóis, o que facilitava o
contrabando. Um grupo que teria no seu auge por volta de uma centena de pessoas,
embora nem todos fossem poderosos homens de negócio: quando a praça foi
tomada pelas forças espanholas em 1762, o governador de Buenos Aires, Pedro de
Cevallos, apresentou duas opções para o grupo mercantil estabelecido na Colônia.
Poderiam retirar-se levando consigo “todos sus efectos de Comercio” ou então
permanecer nos domínios de Sua Majestade Católica, desde que apresentassem um
inventário exato dos seus gêneros, para que fossem taxados pela Real Fazenda. Não
obstante a elevada alíquota de 45% cobrada dos negociantes que quisessem
14 O denominado arquipélago de São Gabriel compreendia, além da ilha do mesmo nome,
onde existiu uma fortificação portuguesa, as ilhas das Duas Irmãs, as ilhas de Fornos, a ilha
dos Ingleses e a ilha Rasa. Atualmente, algumas dessas ilhas fluviais possuem denominações
diferentes.
15 TURISO SEBASTIÁN, Jesús. Comerciantes españoles en la Lima borbónica:
anatomía de una elite de poder (1701-1761). Valladolid: Universidad de
Valladolid/Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2002, p. 57-58 e
SOCOLOW, Susan. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: família y comercio.
Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1991, p. 26.
16 RIBEIRO, Alexandre V. O comercio das almas e a obtenção de prestígio social: traficantes
de escravos na Bahia ao longo do século XVIII. InLocus – Revista de História. Juiz de
Fora, vol. 12, nº 2, p. 16, 2006 e CAVALCANTI, Nireu. O comércio de escravos novos no
Rio setecentista. In: (org.) FLORENTINO, Manolo. Tráfico, cativeiro e liberdade – Rio de
Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 67-72.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
225
permanecer, um número significativo, que chegou a noventa e um indivíduos,
decidiu permanecer.17
Apesar do seu caráter de fortaleza militar, a Colônia do Sacramento era também –
e fundamentalmente – uma praça mercantil, onde desde o princípio estavam
presentes os interesses da elite fluminense: “Sacramento era a corporificação de uma
demanda repetida da Câmara carioca pela fundação de uma colônia que
incrementasse as tradicionais relações entre o Rio de Janeiro e a região do Rio da
Prata”.18 As atividades comerciais da praça são bem conhecidas para a primeira
metade do século XVIII, especialmente durante o período do governador Antônio
Pedro de Vasconcelos (1722-1749), que fazia parte de uma rede envolvida em
negócios ilícitos, onde o prestígio da autoridade régia associava-se à influência dos
burocratas e homens de negócio.19 Também foram investigadas as atividades da rede
mercantil liderada pelo poderoso homem de negócios lisboeta Francisco Pinheiro,
que tinha um agente na Colônia, o comerciante José Meira da Rocha. Todavia, neste
período, os ingleses obtiveram como concessão o Asiento de escravos na América
espanhola (1713-1739), tornando-se os principais concorrentes dos portugueses na
região platina, já que além dos negros escravizados eram introduzidas mercadorias
britânicas.20 Após o período crítico do cerco espanhol de 1735-1737, quando a praça
foi sitiada durante vinte e dois meses e os negócios foram duramente afetados, o
comércio sacramentino voltou a florescer, atingindo seu auge na conjuntura
compreendida entre 1739 e 1762. Nesses anos, não houve maiores hostilidades entre
as Coroas ibéricas, o que permitiu uma maior aproximação oficial entre ambos os
governos. Essa situação acabou facilitando o intercâmbio comercial, incrementando
17
JUMAR, Fernando A. Le commerce atlantique au Rio de la Plata (1680-1778)…, p.
315.
18 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do Império…, p. 146-147.
19 PRADO, Fabrício P. Colônia do Sacramento…, p. 168-185.
20 Não obstante os trabalhos recentes de Fernando Jumar e Fabrício Prado tenham
comprovado a cooperação de setores ou facções mercantis da Colônia com mercadores
ingleses, existem evidências de que nem todos se beneficiavam com a presença britânica na
região. Em finais de 1732, com a chegada dos navios do Asiento uma carta do negociante
José Meira da Rocha informava que “se suspendeu o comércio desta praça, de qualidade que
se acha ao presente tudo parado, sem aparecer castelhano algum a procurar gêneros”. Carta
de Meira da Rocha a Francisco Pinheiro, Colônia, 31.01.1733. In: LISANTI Fº, Luis.
Negócios Coloniais – Uma correspondência comercial do século XVIII. Brasília:
Ministério da Fazenda, 1973, vol. 4, p. 360 citado em POSSAMAI, Paulo. A vida quotidiana
na Colônia do Sacramento…, p. 396. Para detalhes sobre o asiento inglês na região platina,
ver STUDER, Elena. La trata de negros en el Rio de la Plata durante el siglo XVIII.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Departamento Editorial, 1958, p. 201-238.
ISBN 978-85-61586-70-5
226
IV Encontro Internacional de História Colonial
as possibilidades de contrabando.21 Durante a década de 1740, terminado o Asiento
inglês, as relações comerciais entre Colônia e Buenos Aires foram fortemente
retomadas, especialmente no que dizia respeito ao trato negreiro.
As relações diretas entre os territórios hispânicos e a Colônia do Sacramento se
ampliariam a partir de 1749, com a assinatura de um convênio que abriria brechas
para o comércio ilícito. O governador português Antônio Pedro de Vasconcelos
alegava não ter possibilidades de abastecimento de víveres e lenha para a subsistência
da praça.22 Diante da situação de harmonia que vigorava entre as Coroas ibéricas, os
espanhóis autorizaram a obtenção de víveres, porém os únicos portos autorizados
seriam os do Riachuelo (Buenos Aires) e o de Montevidéu. As embarcações
particulares seriam revistadas pelos oficiais espanhóis, mas não seriam inspecionadas
as faluas reais, o que abria uma brecha considerável, que seria bastante utilizada pelo
governador Bivar. Para tentar coibir o contrabando, a tripulação das embarcações
portuguesas não poderia desembarcar no território espanhol.23 Nessa mesma época,
durante os anos de 1748 e 1749, graças às suas conexões atlânticas, quatro navios
desembarcaram diretamente da África 1654 escravos na Colônia do Sacramento, dos
quais 205 (12,4%) eram crianças.24 Porém, esse profícuo comércio procurou ser
restringido no âmbito das negociações decorrentes do Tratado de Madri. Esse foi o
objetivo do alvará de 14 de outubro de 1751, que determinou a exclusão dos lusobrasileiros das colônias espanholas, mas na prática resultou somente na transição
entre o contrabando feito diretamente de Angola para um comércio indireto
nominalmente legal feito pelo Rio de Janeiro para a Colônia do Sacramento nos anos
1750.25
A década de 1750 – que coincide aproximadamente com o governo de Luiz
Garcia de Bivar - parece ter sido mesmo o auge da atividade mercantil na Colônia,
muito em função das transformações decorrentes da execução do Tratado de Limites
21
PAREDES, Isabel. Comercio y contrabando entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires
en el período 1739-1762. In: Colóquio Internacional Território e Povoamento. Instituto
Camões, p. 3, 2004.
22 As clausulas de autorização a busca de víveres em Buenos Aires aparecem desde 1737, após
o final das hostilidades entre portugueses e espanhóis, quando da perda do entorno agrícola
da Colônia do Sacramento. Em 1749 estas práticas são oficializadas, o que favoreceu o
incremento do comércio ilícito.
23 PAREDES, Isabel. Comercio y contrabando entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires
en el período 1739-1762…, p. 11-12.
24 PRADO, Fabrício P. In the Shadows of Empires: Trans-Imperial Networks and Colonial
Identity in Bourbon Rio de La Plata (c. 1750-c.1813). Atlanta: Tese de doutorado - Emory
University, 2009, p. 73 e 75. O autor se valeu dos dados disponibilizados pelo Slave Trade
Database: www.slavevoyages.org.
25 MILLER, Joseph. Way of Death – Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade,
1730-1830. Madison: The University of Wisconsin Press, 1988, p. 485.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
227
entre Portugal e Espanha. Enquanto os demarcadores permaneceram no território
meridional e foram levadas a cabo as operações nas Missões, aumentaram bastante as
possibilidades de contrabando, facilitadas ademais pela maior quantidade de navios
oficiais, o que aumentava o movimento portuário.26 Em 1752, os negociantes
espanhóis afirmavam que “é constante que este lugar por sua natureza inútil o
mantém os portugueses sem outro objetivo que o comércio”, visto que “anualmente
em toda a classe de embarcações passam de cem”.27 Esta afluência de embarcações,
algumas delas envolvidas no comércio ilícito de escravos, chegou a gerar
preocupação com a difusão de epidemias. Em uma resolução tomada em 1755 pelo
governador Bivar, ele ordenava que para “evitar os danos, que resultam à saúde deste
povo, ocasionados com os males contagiosos” que “introduziram-se com a chegada
das embarcações, vindas de portos de barra fora, com gente [e] escravatura de
comércio”, os oficiais da Alfândega fossem inspecionar as embarcações que
entravam no porto e levassem consigo um cirurgião, que deveria passar uma certidão
atestando a inexistência de enfermidades nos tripulantes e demais passageiros dos
navios.28
Registrando esta movimentação comercial, um autor anônimo escreveu um
manuscrito intitulado Discursos sobre el comercio legítimo de Buenos Aires com la España y el
clandestino de la Colonia del Sacramento, onde expressava a sua impressão sobre os
moradores da praça portuguesa: “todos são animados e vivem do comércio
clandestino que fazem com a cidade de Buenos Aires e sua jurisdição” Os espanhóis
compravam na Colônia toda espécie de mercadorias europeias e brasileiras, além de
uma “grande quantidade de negros que por via do [Rio de] Janeiro conduzem de
Guiné, no que fazem um considerável comércio”, que atingía na década de 1760 em
torno de seiscentos escravos introduzidos por ano. Segundo o autor, os africanos
seriam os verdadeiros “fondos vivos de la contravención”. Observou ainda que no período
entre 1740 a 1760, o comércio clandestino se realizou quase sem repressão, sendo
que nessas circunstâncias o número de escravos introduzidos havia sido no mínimo
o dobro, ou seja, cerca de mil e duzentos escravos por ano.29 Esse comércio
26
PAREDES. Comercio y contrabando entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires en el
período 1739-1762…, p. 12.
27 VILALOBOS, Sergio. Comercio y contrabando em el Rio de la Plata y Chile. Buenos
Aires: Eudeba, 1965, p. 19.
28 ANRJ (Arquivo Nacional – Rio de Janeiro). Cód. 94, vol. 5. Ordem do governador Luiz
Garcia de Bivar. Colônia do Sacramento, setembro de 1755.
29 Talvez os números do autor dos Discursos possam estar superestimados. Entre 1744 e 1745,
quando governou interinamente a praça, o brigadeiro José da Silva Pais procurou aumentar a
arrecadação da Fazenda Real e instituiu uma “contribuição” de sete mil e quinhentos réis por
cada escravo adquirido na praça pelos espanhóis. Segundo uma certidão passada no final de
1745 pelo escrivão da Fazenda Real da Colônia do Sacramento, tal taxação havia arrecadado
em cerca de um ano o montante de 3:262$500 réis, o que equivalia à transação de 435 cativos
ISBN 978-85-61586-70-5
228
IV Encontro Internacional de História Colonial
movimentaria anualmente de dez a dezoito navios de cem a trezentas toneladas, além
de muitas embarcações menores, sendo que o grosso das cargas era de
manufaturados europeus, produtos brasileiros (como açúcar, tabaco e aguardente) e
escravos africanos. Em troca, os espanhóis levavam à Colônia a desejada prata, além
de víveres, carnes, trigo, farinha e couros.30
Dada a extensão desse contrabando, não surpreende que os dados disponíveis
mostrem que 58% dos habitantes da Colônia eram escravos em 1760, sem que
houvesse uma ocupação econômica viável para tantos trabalhadores cativos.31 Diante
desses números e levando em conta a existência de uma comunidade mercantil
fortemente vinculada ao Rio de Janeiro, os dados sugerem que este elevado número
de cativos eram habitantes temporários, à espera de serem comercializados com os
mercadores buenairenses. Não estamos descartando evidentemente a possibilidade
de que uma parcela significativa desses cativos – pelo menos a metade deles estivesse à serviço dos moradores da praça, ocupados em atividades domésticas, na
produção agrícola em pequena escala e nas atividades marítimo-portuárias. Mas uma
parte significativa deles parece realmente ter sido destinada ao contrabando com o
rio da Prata. Dessa forma, como notou Fabrício Prado, percebe-se um duradouro e
ativo papel dos comerciantes sacramentinos nos negócios negreiros, com um papel
de destaque no complexo portuário platino.32
Qual seria o envolvimento direto dos homens de negócio e mercadores da
Colônia do Sacramento no contrabando de escravos? Por se tratar de atividade
supostamente ilícita, os registros são escassos, pois não temos os despachos de
escravos para Buenos Aires, por exemplo. Temos, quando muito, o registro das
apreensões feitas pelas autoridades espanholas.33 Apenas indiretamente podemos
para os domínios espanhóis. Cf. PIAZZA, Walter F. O Brigadeiro José da Silva Paes –
Estruturador do Brasil Meridional. Florianópolis: Ed. da UFSC; Rio Grande do Sul: Editora
da Furg/Edições FCC, 1988, p. 106.
30 O texto dos Discursos foi parcialmente divulgado em um artigo publicado em 1980, pelo
historiador argentino Enrique Barba. O documento original pertence a Colección Ayala da
Biblioteca do Palácio Nacional de Madri. Consultamos somente a transcrição existente na
Academia Nacional de la Historia, em Buenos Aires.
31 AHU-CS, Cx. 6, nº 513. Ofício do governador da Nova Colónia do Sacramento, Vicente da
Silva Fonseca, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte
Real, sobre a sua posse do governo da Colônia (15.04.1760). Segundo o mapa populacional
em anexo a este ofício, em 1760 viviam na praça 2693 pessoas (1588 homens e 1105
mulheres), estando incluídos nesse número os brancos livres, pardos e negros forros, além
dos escravos. Estes últimos somavam a quantidade de 1575 indivíduos (941 homens e 634
mulheres).
32 PRADO, Fabrício. In the Shadows of Empires…, p. 72 e 77.
33 Pelo menos 207 escravos foram apreendidos pelas autoridades espanholas de Buenos Aires
entre 1753 e 1760. Conforme STUDER, Elena. La trata de negros en el Rio de la Plata
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
229
saber um pouco mais sobre quem eram os envolvidos com o comércio ilegal de
escravos para Buenos Aires. Um indício neste sentido aparece nos registros de
batismos de escravos na Colônia, no período compreendido entre 1747 e 1759.
Durante esses doze anos foram batizados 583 escravos na praça, sendo que 105
constam como “adultos” (18%). A esmagadora maioria destes 105 escravos era
formada por cativos de grupo de procedência Mina, que saíam dos portos africanos
sem terem recebido o sacramento do batismo, por isso tinham que comparecer
diante dos párocos colonenses. Foi possível identificar a presença de ao menos 17
comerciantes, que compareceram 29 vezes diante da pia batismal trazendo africanos
recém-chegados ao rio da Prata. 34 Certamente que nem todos os escravos adquiridos
e batizados pelos negociantes seriam revendidos aos domínios espanhóis, mas
provavelmente a maioria era objeto de transações mercantis e indicam a existência de
contatos com traficantes baianos e fluminenses.35
Essa prática reiterada do comércio ilícito nos mostra que os conceitos de
contrabando e corrupção precisam ser repensados para as sociedades de Antigo
Regime, onde a separação da esfera pública e da esfera privada era praticamente
inexistente.36 As ações corruptas não eram praticadas somente pelos governantes,
mas também por aqueles que se serviam destes funcionários para obter benefícios
econômicos ou sociais, como alguns membros das elites locais.37 A própria distinção
entre práticas legais e clandestinas parece ser anacrônica, se nós considerarmos o
universo do contrabando não como um mundo delituoso, mas como uma espécie de
fronteira social em relação às representações jurídicas, com suas regras bem
estabelecidas e aceitas. Assim, as práticas descritas podem revelar uma lógica social
global partilhada pelos súditos dos Impérios ibéricos que somente nosso olhar
durante el siglo XVIII…, p. 260. Evidentemente este número representa aquela pequena
parcela que não conseguiu ser introduzida ilicitamente.
34 ACMRJ (Arquivo da Cúria Metropolitana – Rio de Janeiro). Livro 4º de batismos de
escravos – Colônia do Sacramento (1747-1774); SOARES, Mariza. Os devotos da cor –
Identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2000, p. 111. Nos assentos de batismos de escravos adultos da cidade
do Rio de Janeiro a grande maioria dos batizandos era de origem mina, pois os cativos
oriundos da região congo-angolana já viriam batizados dos seus portos de embarque.
35 Alguns destes homens de negócio eram figuras de destaque na comunidade mercantil local,
como os capitães Simão da Silva Guimarães e Manuel Gonçalves Machado. Também
apareciam nomes como o já citado Diogo Gonçalves Lima e João Ivo dos Santos Chaves,
todos eles apoiadores do governador Bivar.
36 FERREIRA, Roquinaldo. ‘A arte de furtar’: redes de comércio ilegal no mercado imperial
ultramarino português (c. 1690-c.1750). In: FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima
(orgs.). Na Trama das Redes…, p. 221.
37 PERUSSET, Macarena. Contrabando y Sociedad en el Rio de la Plata colonial. Buenos
Aires: Dunken, 2006, p. 116.
ISBN 978-85-61586-70-5
230
IV Encontro Internacional de História Colonial
contemporâneo dissocia.38 No mundo português setecentista, os contrabandistas
seriam empreendedores que pertenciam ao sistema, com boas conexões com as elites
governantes. O comércio ilegal tolerado era um comércio controlado, permitido
pelas mesmas pessoas cujas funções oficiais pressupunham exatamente combatê-lo.
Mais ainda, “a ideia de que o comércio ilegal era imoral e errado era vista com
perplexidade. Se o comércio ilegal era por vezes estimulado pela Coroa portuguesa,
como no caso do comércio com o rio da Prata, como poderia ser considerado
imoral?” 39
Os anos finais do contrabando sacramentino
A Colônia do Sacramento, depois de 1763, constituía-se em um exemplo de
anacronismo político, foco de agudas tensões que tornavam sua manutenção quase
impossível e que somente subsistiu por mais alguns anos por ser uma rentável
realidade comercial.40 As “conivências” que permitiram o contrabando de escravos
na Colônia do Sacramento parece que se mantiveram bastante ativas ao longo da
década de 1760. Mas essa situação se alteraria em seguida, graças a algumas medidas
restritivas. Do lado português, em 10 de outubro de 1770, o vice-rei Marquês do
Lavradio proibiu o despacho de escravos para o Sul, que constituía um dos
fundamentos do contrabando entre a Colônia e Buenos Aires. Da parte dos
espanhóis, esse continuado estado de coisas levou a que no final de 1770, o novo
governador buenairense, Vértiz y Salcedo (1770-1776), publicasse um bando
condenando a persistência do comércio espanhol com a praça portuguesa. O
38 Para uma discussão sobre o tema da corrupção no mundo ibérico, ver o trabalho pioneiro
de PIETSCHMANN, Horst, Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial: una
aproximación tentativa. Nova Americana, 5, p. 11-37, 1982. Segundo este autor, a corrupção
seria sistemática na América hispânica, devido a uma tensão permanente entre o Estado
metropolitano, a burocracia real e a sociedade colonial. Ver também os trabalhos de
MOUTOUKIAS, Zacharias. Power, corruption, and commerce: the making of the local
administrative structure in seventeenth-century Buenos Aires. Hispanic American
Historical Review. 68:4, p. 771-801, 1988 e Réseaux personnels et autorité coloniale: les
négociants de Buenos Aires au XVIII siècle. Annales ESC, nº 4-5, p. 889-915, 1992. Uma
reavaliação do tema pode ser encontrada em PIETSCHMANN, Horst. Corrupción en las
Indias españolas: Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial.
In: Manuel González Jiménez, Horst Pietschmann, Francisco Comín y Joseph Pérez
(coords.). Instituciones y corrupción en la Historia. Instituto Universitario de Historia
Simancas, Universidad de Valladolid, 1998, p. 31-52.
39 PIJNING, Ernst. Contrabando, ilegalidade e medidas políticas no Rio de Janeiro do século
XVIII. Revista Brasileira de História. São Paulo, vol. 21, nº 42, p. 398-399 e 407, 2001.
40 RIVEROS TULA, Anibal. Historia de la Colonia Del Sacramento (1680-1830). Revista
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Montevidéu, XXII, p. 205, 1959.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
231
bloqueio espanhol foi apertado, pois o governador determinou que embarcações
guardacostas patrulhassem o acesso ao porto e as ilhas próximas ao entreposto,
inspecionando todas as embarcações portuguesas e apreendendo as que tivessem
mercadorias espanholas. O bloqueio certamente restringiu a quantidade de
embarcações que adentravam na praça lusitana. Não existem dados exatos para o
período, mas o governador da Colônia, Pedro José de Figueiredo Sarmento (17631775) freqüentemente reclamava sobre a escassez de provisões e de lenha, devido à
ausência de embarcações que traziam tais produtos de Santa Catarina ou Rio de
Janeiro.41
Todavia, mesmo com o aperto espanhol e proibições, os negócios ilícitos
continuavam. Em 1º de maio de 1772, o governador de Buenos Aires, Vértiz y
Salcedo escrevia para o governador da Colônia, Pedro José de Figueiredo Sarmento,
afirmando que “é notório que nas vastas carregações de efeitos e negros que
conduzem a essa Praça, o principal objetivo é introduzi-las nesta Cidade, e demais
partes do Reino”. Além de confirmar a persistência do contrabando de escravos, o
governador ainda apontava as conivências que envolviam o seu colega português,
que era acusado de “facilitar a todos os transgressores os precisos auxílios para
resistir a seu apresamento, procedendo-se com tal liberdade, que se lhes permite, que
assim armados, entrem e saiam francamente desse Porto”. Diante da manutenção
desse quadro, Vértiz estreitaria ainda mais o cerco, não somente por terra, mas
também mediante embarcações corsárias encarregadas de interceptar as naves
portuguesas, tentando sufocar o movimento portuário sacramentino. Para evitar as
apreensões, as embarcações que chegavam do Rio de Janeiro carregadas de
mercadorias destinadas ao comércio ilícito, sacavam na Colônia do Sacramento
supostos “despachos” com destino as costas do Brasil, para no caso de serem
abordadas pelas embarcações corsárias, ter como persuadi-los que não se dirigiam ao
contrabando.42
O militar e geógrafo espanhol Francisco Millau, que esteve na praça em 1772, não
fez observações específicas a respeito do contrabando de escravos, mas reparou que
“o trato que fazem os vizinhos da Colônia com os de Buenos Aires é agora muito
distinto do que era praticado em tempos passados, quando [os portugueses] o
executavam com suas embarcações bem armadas, encobrindo suas freqüentes vindas
41 ALDEN, Dauril. Royal Government in Colonial Brazil. Berkeley e Los Angeles:
University of California Press, 1968, p. 117-119.
42 STUDER, Elena. La trata de negros en el Rio de la Plata durante el siglo XVIII…, p.
260-261. De fato, os números dos comisos (confiscos) indicavam que o contrabando de
escravos não havia arrefecido. Entre 1760 e 1769, foram apreendidos pelo menos 478 cativos;
no período 1770-1776, as apreensões foram um pouco menores: 215 escravos. A autora
observou que em muitos documentos somente é mencionada “uma partida de negros”, o que
faz com que seja impossível saber com precisão o número de escravos apreendidos.
ISBN 978-85-61586-70-5
232
IV Encontro Internacional de História Colonial
a essa Cidade com vários pretextos”. Ele registrou que essa prática havia deixado de
existir, pois agora eram os habitantes de Buenos Aires que vendiam e permutavam os
gêneros que levam eles mesmos à Colônia, o que lhes garantia grandes lucros,
vendendo pelo dobro ou triplo do preço os produtos que traziam aos portugueses.
Mas isso não significava que os contrabandistas sacramentinos tivessem deixado de
atuar, apenas que tinham modificado seus procedimentos, visando maior segurança.
Saindo da Colônia, para evitar a ação das embarcações corsárias, dirigiam-se ao delta
do Paraná, onde faziam os desembarques em qualquer parte da costa. Em seguida, a
introdução se fazia passando as mercadorias pouco a pouco, durante a noite, de
umas fazendas para outras, utilizando carretas ou cavalos, até chegar em Buenos
Aires. Millau ainda observou que, muitas vezes, quando a carga era grande e de
consideração, os contrabandistas valiam-se “dos mesmos sujeitos que o deviam
impedir”. 43
O contrabando de escravos na década de 1770 aparentemente manteve em parte
a sua vitalidade, muito embora perturbado pelas crescentes hostilidades lusoespanholas.44 Seja como for, as medidas restritivas parecem ter surtido pelo menos
algum efeito durante os anos finais da Colônia do Sacramento. Tornaram-se comuns
as apreensões feitas pelas corsárias espanholas de pequenas embarcações,
especialmente canoas com escravos “pescadores”. Além disso, havia o problema das
deserções (ou fugas) de escravos para o lado espanhol. Assim, em 20 de dezembro
de 1775 foi enviada ao governador Francisco José da Rocha uma “Representação
dos moradores da Praça”, onde se queixavam do grave problema do roubo dos
escravos, “que daqui se passam para o Campo de Bloqueio, aonde lhes dá o
comandante do mesmo Campo liberdade, de sorte que aliciados e atraídos com este
injusto indulto, são quotidianos e freqüentes as deserções dos escravos”, o que
estaria reduzindo os moradores à extrema pobreza… Teriam sido roubados mais de
mil escravos desde 1760.45 De todo modo, a presença portuguesa estava com os dias
contados na Colônia do Sacramento, que seria tomada definitivamente pelos
espanhóis em 1777.46
43
MILLAU, Francisco. Descripción de la província del Río de la Plata (1772). Buenos
Aires: Cia. Editora Espasa-Calpe, 1947, p. 114-115 e 117.
44 MILLER, Joseph. Way of Death…, p. 486. Este autor minimiza a importância das
restrições colocadas ao comércio clandestino na década de 1770, argumentando que
prevaleceu a política bulionista por parte dos portugueses nesse momento, marcado pelo
declínio da produção aurífera no Brasil. Assim, era vantajoso manter o contrabando de
escravos através da Colônia, pois assim continuava-se captando a prata espanhola.
45 Biblioteca Nacional – Lisboa. Cód 10855: Cartas do governador Francisco José da Rocha,
1776. Agradeço a Fabrício Pereira Prado, da Roosvelt University pela disponibilização desta
fonte.
46 ALDEN, Dauril. Royal Government in Colonial Brazil…, p. 238-246. Para um relato
contemporâneo da perda definitiva da praça, ver MESQUITA, Pe. Pedro Pereira Fernandes
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
233
Mas a perda da “Gibraltar do Prata” pouco afetaria o contrabando de escravos
para a região, apenas o deslocaria da Colônia para Montevidéu, que passou a ter uma
importância muito significativa, ao lado de Buenos Aires. A recuperação definitiva da
Colônia do Sacramento por parte dos espanhóis significou, por um lado, a
legitimação da maior parte dos avanços territoriais lusitanos reconhecidos no
Tratado de Santo Ildefonso, em particular no Continente do Rio Grande. Mas, por
outro lado, a nova conjuntura abriu um novo período de clandestinidade, deslocado
agora para o porto de Montevidéu, que se consolidava como o terminal exclusivo do
grande centro econômico da região, que era Buenos Aires. No que se refere ao trato
negreiro, a situação se tornaria ainda mais favorável aos luso-brasileiros em 1791,
quando uma Real Cédula autorizou o livre ingresso de escravos no rio da Prata,
fossem em embarcações espanholas ou estrangeiras, acabando, na prática, com o
comércio ilegal. Consolidou-se, assim, uma “via brasileira”, que era muito vantajosa
para o comércio negreiro montevideano, que nela encontrava uma boa alternativa.
Tratava-se de uma viagem simples, que não exigia o uso de embarcações de grande
calado, onde era possível comprar números menores de escravos. Também não era
necessário dispor dos artigos de troca normalmente exigidos na África, pois os
“frutos do país” serviam para pagar as aquisições, o que era bastante vantajoso para
os negociantes platinos. Os portos brasileiros ofereciam, ademais, a possibilidade de
diversificar as compras com produtos coloniais (aguardente, açúcar) sempre bemvindos. 47
Em uma carta enviada para o Conselho Ultramarino, o vice-rei Luis de
Vasconcelos e Sousa, reconhecia em 1780 que da Colônia do Sacramento os escravos
sempre foram exportados para os domínios espanhóis sem que nenhuma ação
contrária a estas atividades tenha sido empreendida pelas autoridades. Esse seria o
motivo pelo qual o alvará de 14 de outubro de 1751 teria sido publicado: para
satisfazer os estrangeiros que criticavam o comércio de contrabando de escravos.
Mais ainda, longe de ser prejudicial ao Estado, a existência de muitos mercadores de
escravos – em um momento de expansão econômica – produziria o crescimento
desse ramo de comércio, que não era de pouca importância, na opinião do vice-rei.48
de. Da relação da conquista de Colônia (1778). RIHGB. Tomo XXXI, 1ª parte, p. 350-363,
1868.
47 BENTANCUR, Arturo A. El proceso de legitimación de las relaciones mercantiles entre la
ciudad puerto colonial de Montevideo y el território brasileño (1777-1814). In: HEINZ,
Flávio & HERRLEIN JR., Ronaldo. (org.) Histórias Regionais do Cone Sul. Santa Cruz
do Sul: Edunisc, 2003, p. 104-107.
48 PRADO, Fabrício. In the Shadows of Empires…, p. 146, nota 204. Para a posição do
vice-rei diante do contrabando no Rio Grande de São Pedro, que era lesivo à Coroa,
diferentemente daquele praticado no Prata, ver GIL, Tiago. Infiéis Transgressores – Elites
e contrabandistas nas fronteiras do Rio Grade e do Rio Pardo (1760-1810). Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 2007, p. 73-80.
ISBN 978-85-61586-70-5
234
IV Encontro Internacional de História Colonial
Segundo os números levantados por Corsino dos Santos, no período 1779-1810
foram introduzidos 49.176 cativos no Rio da Prata, sendo que a esmagadora maioria
veio através do Rio de Janeiro. Já Alex Borucki contabilizou 60.393 escravos
remetidos para a região entre 1777 e 1812.49 Portanto, nas décadas finais do século
XVIII, a “trata de negros” introduzia algo em torno de 1600 a 1700 escravos por ano
na região, suplantando os ingressos das décadas de 1740 e 1750, quando cerca de
1200 cativos eram contrabandeados anualmente. O que isso representava no
conjunto do comércio de escravos para o Brasil? Sabemos que uma pequena parte
dos escravos introduzidos na Colônia vinha da Bahia, mas numericamente ela era
muito pouco expressiva. A grande maioria dos escravos que vinha para o Sul entrava
pelo Rio de Janeiro, sendo pouquíssimos os desembarques de escravos vindos
diretamente da África para Sacramento.50 Dessa forma, se levamos em conta que a
média anual de entrada de escravos novos no porto do Rio foi de pouco mais de
8000 cativos no período entre 1759-1792, o peso relativo do contrabando para o rio
da Prata pode ser minimamente dimensionado. Nos melhores anos do contrabando,
correspondentes ao período final do governo de Antônio Pedro de Vasconcelos
(1722-1749) e a todo o período de Luiz Garcia de Bivar (1749-1760), a Colônia do
Sacramento absorvia algo em torno de 15% dos escravos introduzidos através do
Rio de Janeiro.51 Se compararmos com os números disponíveis para o Rio Grande
de São Pedro, mais ou menos na mesma época, podemos avaliar melhor o tamanho
relativo do contrabando de escravos em Sacramento. Os dados das guias de
transporte de escravos para o Rio Grande do Sul para o período 1788-1794 mostram
ingressos de somente cerca de trezentos escravos por ano.52
Enquanto existiu, a Colônia do Sacramento foi uma localidade singular. Praça
forte, marcada pela vida castrense e também “ninho de contrabandistas”, a cidadela
platina jamais foi elevada à condição de vila, com a instalação de uma Câmara,
símbolo do poder local no Império português. Tampouco se constituiu em uma
49
SANTOS. O tráfico de escravos do Brasil para o rio da Prata…, p. 86-96; BORUCKI,
Alex. Las rutas brasileñas del tráfico de esclavos hacia el Río de la Plata, 1777-1812. 4º
Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, Curitiba, 2009, p. 5.
50 Foram enviados somente 211 cativos para a Colônia do Sacramento entre 1760 e 1770,
vindos da Bahia. RIBEIRO, Alexandre V. O comércio de escravos e a elite baiana no período
colonial. In: FRAGOSO, João Luís R.; ALMEIDA, Carla Maria C. de; SAMPAIO, Antônio
Carlos J. de (orgs.) Conquistadores e Negociantes – História de elites no Antigo Regime
nos trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 320.
51 CAVALCANTI, Nireu. O comércio de escravos novos no Rio setecentista…, p. 56. No
total, foram introduzidos 281.323 escravos no porto do Rio de Janeiro entre 1759 e 1792.
52 BERUTE, Gabriel. Dos escravos que partem para os portos do Sul – Características do
tráfico negreiro do Rio Grande de São Pedro do Sul, c. 1790 – c.1825. Porto Alegre:
Dissertação de mestrado - Programa de Pós-Graduação em História/UFRGS, 2006, p. 40,
Tabela 1.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
235
capitania, visto que seu território foi quase sempre muito circunscrito
territorialmente. Situada muito ao sul dos domínios lusos, surgida no final do século
XVII como fortaleza militar que marcava a disposição portuguesa em estender seus
territórios até o Rio da Prata, ela tornou-se ao longo do século XVIII um importante
entreposto comercial. Após o cerco de 1735-1737, com a imposição do Campo de
Bloqueio pelos espanhóis, os habitantes de Sacramento ficaram confinados a um
espaço vigiado e restrito, com um território muito reduzido, situação que se agravaria
a partir da década de 1760, quando o bloqueio terrestre e marítimo foi aumentado e
intensificado, especialmente a partir da criação do Real de San Carlos.53 Mas,
paradoxalmente, tal cerceamento, ao invés de desestimular o comércio ilícito, foi
talvez o catalisador da decidida opção pelo contrabando, fazendo a praça destacar-se
no terceiro quartel do século XVIII pela introdução de escravos africanos no Rio da
Prata e nos domínios espanhóis na América Meridional.
53
O casco urbano da Colônia apresentava um tamanho extremamente reduzido na fase final,
sendo suas dimensões bastante restritas. O comprimento da muralha era de somente 550
metros, sendo que da muralha até as margens do rio da Prata a extensão alcançava meros 410
metros. Cf. MOREIRA, Cecília Porto Gaspar. Colônia do Sacramento – Permanência
urbana na demarcação de novas fronteiras latino-americanas. Rio de Janeiro: Dissertação de
mestrado - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, 2009, p. 70. Para um estudo sobre a
cartografia da Colônia, ver a obra de CAPURRO, Fernando. La Colonia del Sacramento.
Revista de La Sociedad “Amigos de La Arqueologia”, Montevidéu, p. 43-97, 1928.
ISBN 978-85-61586-70-5
236
IV Encontro Internacional de História Colonial
Un Emblema Volante…! A Adaptação da Tradição Emblemática nas
Missões Jesuíticas da América Latina (séculos XVI-XVIII)
Renata Maria de Almeida Martins1
Desenvolver uma pesquisa sobre a Emblemática e a História da Arte, pode até
ainda surpreender pela novidade no Brasil, mas não no que se refere à Europa, aos
Estados Unidos, e à América Hispânica. Basta verificar o considerável número de
estudiosos dedicados à questão, e a grande profusão de textos, livros, projetos e
encontros acadêmicos organizados exclusivamente sobre o tema dos emblemas nas
localidades mencionadas. Mas, de fato, surpreendente mesmo é constatar a que mais
alto nível os Livros de Emblemas foram difundidos e utilizados como fontes na arte
e na arquitetura latino-americanas do período colonial (séculos XVI-XIX): esculpidos
nas fachadas e nas naves de igrejas, pintados em tetos de casas, sacristias, túmulos
(piras ou catafalcos) e arcadas de claustros, na arte efêmera dos arcos triunfais e dos
carros alegóricos, entalhados nos retábulos e cadeirais, representados nos polípticos,
nos monumentos públicos, na azulejaria, nas pinturas de retratos, etc.
Nem sempre na forma mais tradicional e conhecida do Emblema (mote, inscrição
e sub-inscrição), fundada pelo Emblematum Liber (1531) de autoria do milanês Andrea
Alciati, os Emblemas foram fontes de inspiração e modelo; citando aqui, o que
inspirou o título de nosso trabalho, e o que consideramos o mais curioso exemplo de
que temos notícia do possível emprego da emblemática, o balão em forma de dragão,
com o mote Ira Dei [Lat. Ira de Deus],2 colocado nos céus de Roma pelo jesuíta
Athanasius Kircher (1602-1680), como uma espécie, do que Ingrid Rowland
chamou, emblema volante [it. emblema voador].3 Imaginemos, então, as infinitas
possibilidades que se encontravam à disposição dos artistas no Novo Mundo. Seria
possível, então, tentar delimitar o alcance da linguagem emblemática na arte e na
arquitetura da América Latina do período colonial? Um “mundo de símbolos”, ou
ainda, citando Victor Serrão, em seu estudo sobre os brutescos, um “receituário
1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP /
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP / Projeto Temático
“Plus-Ultra: A Transferência e a Recepção da Tradição Artística Clássica da Europa
Mediterrânea para a América Latina”.
2 Em ROWLAND, Ira. [m] Dei [Fugite]. [Lat. Fujam da ira de Deus]; ver ROWLAND,
Ingrid. L’Emblematica di Athanasius Kircher. In: BOLZONI, Lina; VOLTERRANI, Silvia
(Org.). Con Parola Brieve e con Figura: Emblemi e Imprese fra Antico e Moderno. Pisa:
Edizione della Normale, n. 15, 2008, p. 553-576 [Giornate di Studio. Pisa, Scuola Normale
Superiore, 9-11 dezembro, 2004]. Cf. IRA DEI. Experimentum XIV. Fabrica Machine
Volatis. In: KESTLER, Johann. Physiologia Kircheriana Experimentalis. Amsterdam:
Officina Janssonio Waesbergiana, 1680, p. 118.
3 ROWLAND, Ingrid. L’Emblematica di Athanasius Kircher…, p. 563.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
237
simbólico-decorativo,4 transplantado do Velho ao Novo Mundo. Símbolos muitas
vezes reinterpretados, “mesclados” entre si, e quase sempre adaptados às diferentes
realidades culturais latino-americanas, como veremos.
Da Europa à América: a transferência e a recepção de um “mundo simbólico”
Marcello Fagiolo dell’Arco5 no prólogo do livro “El barroco Iberoamericano:
mensaje iconográfico”6 de autoria de Santiago Sebastián,7 ilustre estudioso espanhol
que também viveu e lecionou em Cali na Colômbia entre 1961 e 1965, exalta que a
obra em questão se constitui quase em um tratado enciclopédico acerca do que
chamou, “mundo simbólico del Barroco”, ou ainda, “El Mundo Simbólico de
Sebastián”.8 Fagiolo está fazendo uma referência direta à importante obra do Abade
Filippo Picinelli, Mondo Simbolico o sia Università d`imprese scelte, spiegate ed illustrate, con
sentenze ed erudizioni sacre e profane, publicada pela primeira vez em Milão no ano de
1653, como também aos escritos do jesuíta Juan Eusebio Nieremberg;9 concluindo
que o Mundo Simbólico do Barroco Iberoamericano se abre diante de nossos olhos
utilizando diversas categorias que vão desde a cosmologia aos reinos terrestres, das
grandes alegorias morais aos comportamentos individuais do homem. Trata-se,
então, de reconstruir esse Mundo Simbólico da Arte Ibero-Americana mediante seus temas
essenciais.
A questão que então se coloca: como compreender este verdadeiro universo de
símbolos da arte barroca “transplantados” da Europa à América? Como nos diz
Fagiolo:
Está claro que no basta ya saber ver correctamente el arte
barroco, sino que hace falta saber ler en la profundidad de sus
raíces culturales, situando las obras de arte en el contexto de su
época, tramada por experiências diferenciadas y, en buena parte,
reconstruibles tanto en sus modelos visuales como en sus
fuentes escritas.10
4
SERRÃO, Vitor. A Pintura Protobarroca em Portugal, 1612-1657. Lisboa: Edições
Colibri, 2000, p. 359.
5
Roma, 1941.
6
SEBASTIÁN, Santiago. El Barroco Iberoamericano: Mensaje Iconográfico. Madrid:
Ediciones Encuentro, 2007. [1a ed. 1990. Prólogo de Marcello Fagiolo dell’Arco].
7
Teruel, 1931-Valencia, 1995.
8
FAGIOLO DELL’ARCO, Marcello. Prólogo. In: SEBASTIÁN, Santiago. Ibidem, p. 15.
9
Madrid, 1595-1658.
10
Ibidem, p. 14.
ISBN 978-85-61586-70-5
238
IV Encontro Internacional de História Colonial
“Saber Ver y Saber Leer”: Santiago Sebastián demonstra, como relata Fagiolo,
que as vias de representação e da persuasão passam, sobretudo, pela transmissão de
imagens e textos do Velho ao Novo Mundo; destacando-se como fontes visuais as
estampas religiosas e alegóricas elaboradas no ambiente da Contra-Reforma. Ainda
segundo Fagiolo, a maior contribuição deste volume de Santiago Sebastián seria a
reconstrução do tecido que conecta os emblemas ao substrato do universo de
imagens ibero-americano, transmitido sobretudo pelos ensinamentos dos jesuítas,
que induziam os alunos dos seus cursos de Retórica à exercitassem na leitura e na
elaboração de emblemas e divisas (ou impresas), como podemos constatar através
dos estudos, por exemplo, de Lydia Salviucci Insolera: “Il termine emblema si trova
espresso concretamente nelle varie stesure dell`ordenamento didattico dei collegi, la
Ratio Studiorum, alla voce riguardante i tipi di attività consigliati nei corsi di umanità e
di retorica”;11 ou no artigo de Nigel Griffin, onde são relatadas as inúmeras
atividades, que envolviam tanto a elaboração, a exibição (inclusive com
apresentações dos alunos, contando com cuidadosas ornamentações e ricos
figurinos), e a leitura/interpretação de emblemas realizados pelos estudantes dentro
dos Colégios jesuíticos.12
Santiago Sebastián foi um dos nomes mais importantes da emblemática e da
cultura do hieróglifo na Espanha e na América, impulsionando a criação de uma
escola espanhola de emblemática e de iconografia, com estudos tantos da
emblemática na Europa, quanto na América Hispânica.13 Sebastián foi o autor de
estudos fundamentais sobre a emblemática na América, como por exemplo, o do
11 INSOLERA, Lydia Salviucci. L’Imago Primi Saeculi (1640) e il significato
dell’immagine allegorica nella Compagnia di Gesù. Genesi e Fortuna del Libro. Roma:
Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, p. 26-27.
12 GRIFFIN, Nigel. Enigmas, Riddles, and Emblems in Early Jesuit Colleges. In: GOMES,
Luís (Org.). Mosaics of Meaning Portuguese Emblematics. Glasgow: Glasgow Emblem
Studies, 2008, p. 21-39.
13 Ramón Gutiérrez nos conta que entre 1965 e 1966, portanto, após a “aventura americana”
na Colômbia, Sebastián trabalhou em Yale com George Kubler, e ali pode conhecer os
trabalhos de Martín Soria, cujas pesquisas sobre a pintura do século XVI na América, abriram
novas portas para que Sebastián pudesse circular simultaneamente, entre fontes de gravuras e
estampas. Ainda de acordo com Gutiérrez, teriam sido estas leituras iconográficas, que
projetaram Santiago Sebastián a um intenso conhecimento do campo da emblemática com
um assombroso domínio das fontes editadas durante os séculos XVI e XVII, valendo aqui
acrescentar que Sebastián também colaborou com o casal José de Mesa e Teresa Gisbert, na
Bolívia; e com Graziano Gasparini, na Venezuela. Tudo isso aliado a uma forte “vocación
americanista”, como também destacou Gutiérrez, fez com que Sebastián se tornasse um dos
maiores estudiosos de iconografia e de emblemática na América. Cf. GUTIÉRREZ, Ramón.
La vocación americanista de Santiago Sebastián [Prólogo]. In: SEBASTIÁN, Santiago.
Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales in Colombia. Bogotá: Corporación La
Candelaria/Convenio Andrés Bello, 2006, p. 41-49.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
239
programa iconográfico da pintura da “Casa del Fundador” em Tunja na Colômbia
(fundada em 1538, Tunja foi a primeira cidade da região central andina, facilitando a
fundação de Bogotá um ano mais tarde),14 pintura emblemática que pela sua
importância – a obra em si, e o estudo de Sebastián – merecem ser aqui
mencionados.15
A pintura emblemática da “Casa del Fundador”, Gonzalo Suaréz de Rendón, em
Tunja na “Nueva Granada”, foi realizada em meados do século XVII, e talvez seja a
mais importante e conhecida obra da pintura de tradição emblemática na América do
Sul. Segundo Sebastián, esta decoração com emblemas revela o elevado ambiente
humanístico da sociedade “tunjana”, que em nível intelectual era comparável às mais
refinadas da Europa.16 Sebastián, nos diz que além das pinturas da “Casa del
Fundador”, várias outras casas dos séculos XVI e XVII contavam com pinturas
murais (como por exemplo a “Casa del Escribano Juan de Vargas” ou a “Casa de
Juan de Castellanos”, ambas do século XVI), onde provavelmente nasceram as
primeiras manifestações de pintura emblemática da América; e que através do
inventário das Biblioteca de Fernando de Castro, padre-reitor da Catedral de Bogotá
entre 1648 e 1664, ao qual teve acesso, pode verificar que os clássicos da cultura
emblemática circulavam nos meios intelectuais de Tunja.
Compunham, portanto e por exemplo, comprovadamente o acervo da Biblioteca
de Fernando de Castro em Tunja: o Hieroglyphica de Piero Valeriano, três exemplares
da Declaración Magistral sobre los Emblemas de Alciati, com tradução e comentários de
Diego López, e os Emblemas Morales de Sebastián de Covarrubias y Orozco
(publicada em Madrid em 1610). No programa emblemático da “Casa del Fundador”
em Tunja, Sebastián encontrou correspondências da decoração pictórica com os
Livros de Emblemas de Alciati, Valeriano e Covarrubias, como também com os
Emblemas Morales de Juan de Borja.
Em uma das obras mais essenciais da boliviana Teresa Gisbert, “Iconografía y
mitos indígenas en el arte”,17 a arquiteta trata diretamente da questão dos aportes
indígenas na arte europeia, também no que se refere à tradição emblemática. Belo e
explicativo sobre a questão da transferência das imagens dos Livros de Emblemas
europeus para a decoração de espaços religiosos latino-americanos, é o estudo de
Teresa Gisbert sobre a permanência do mito da sirena na arte andina do chamado
14
GUTIÉRREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid: Ediciones
Cátedra, 1992, p. 47.
15 SEBASTIÁN, Santiago. La pintura Emblemática de la Casa del Fundador de Tunja. In:
Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales in Colombia… p. 324-328. [Publicado
originalmente em: GOYA. Revista de Arte, número 166, p. 178/173, Janeiro-Fevereiro, 1982.
O mesmo artigo pode ser encontrado em: Revista Apuntes, vol. 16, no 19, maio de 1982]
16 Ibidem, p. 325.
17 GISBERT, Teresa. Iconografía y Mitos Indígenas en el arte. La Paz: Editorial Gisbert y
Cia, 2008. [4a ed./1a. ed. 1980].
ISBN 978-85-61586-70-5
240
IV Encontro Internacional de História Colonial
período Virreinal, já que há uma grande profusão de sereias na decoração
arquitetônica de igrejas dentro da chamada “rota lacustre”,18 entre o Peru e a Bolívia;
por exemplo, na cidade de Puno às margens do Lago Titicaca, na fachada principal
da sua Catedral.
A Sirena, nos diz Gisbert, é símbolo do pecado tanto na interpretação ocidental,
quanto no contexto indígena, onde, portanto, “la supervivencia del mito puede
explicarse mediante un largo processo que se vale tanto de la fuerza tradicional
indígena como del afán moralizador de los humanistas, empeñados en dar un sentido
ético y Cristiano a los mitos paganos”.19 Teresa Gisbert cita Andrea Alciati, Peréz
Moya, e Sebastián de Covarrubias, para dizer que as obras emblemáticas destes
autores, facilitam a transposição de valores em um jogo constante, onde a América
entraria neste esquema com os seus próprios símbolos.
Neste sentido, e para uma questão que envolve, mais vai muito “mais além” (Plus
Ultra), do que apenas a iconografia da emblemática, que seria “a transferência e a
recepção da tradição artística clássica da Europa para a América Latina”,20 estamos
de acordo com Santiago Sebastián:
Mucho se ha discutido acerca de si este barroco colonial es o no
una manifestación americana, pero, desde el momento en que
fue expresión de la sociedad colonial de los imperios español y
portugués en el Nuevo Mundo, hay que responder
afirmativamente. Las formas pictóricas, escultóricas y espaciales
que fueron adoptadas eran en su origen europeas, pero al
transpantarlas al medio americano se tranformaron en sus
proporciones y en su sentido de la decoración y composición;
por tanto, el carácter americano de este arte no reside en las
formas mismas, sino en cómo éstas fueron interpretadas (…)
En Iberoamerica repercutieron las tendencias nacidas en
Europa, adquiriendo una vida paralela pero diferente, y
surgieron creaciones personales que se apartaron de los modelos
europeos.21
18
GISBERT, Teresa. Iconografía y Mitos Indígenas en el arte…, fig. 44 [“La Difusión de
la sirena en la zona andina sobre la ruta lacustre”].
19 Ibidem, p. 13. [Introducción].
20 Citando o projeto temático financiado pela FAPESP ao qual se insere a nossa pesquisa de
pós-doutorado (“Das Bibliotecas Europeias às Oficinas Missioneiras: A Circulação de Livros
de Emblemas e a decoração dos espaços religiosos na America Portuguesa, séculos XVI a
XVIII)”: Projeto Temático “Plus-Ultra: A recepção e a transferência da tradição artística
clássica entre a Europa Mediterrânea e a América Latina [coordenador do Projeto Temático
Plus-Ultra e supervisor de nosso pós-doutorado: Prof. Dr. Luciano Migiaccio, FAU-USP].
21 SEBASTIÁN, Santiago. El Barroco Iberoamericano…, p. 32.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
241
Não seria diferente com a emblemática. Por exemplo, tendo como claro modelo
o Imago Primi Saeculi (1640), o mais conhecido livro de emblemas produzido pela
Companhia de Jesus, elaborado por jovens jesuítas provenientes do Colégio da
Antuérpia, em razão da comemoração do primeiro centenário da Companhia; os
emblemas que decoram a nave e a capela doméstica da Igreja de Córdoba na
Argentina, foram objetos de estudos de Rafael Mahiques (Universidad de Valencia), e
de Sérgio Barbieri.22
Na Iglesia de la Compañía, século XVII, os Emblemas entalhados em madeira
(policromada e dourada), aos quais nos referimos, são em número de cinquenta, e
estão localizados à dez metros de altura, decorando em alternância com outras mais
cinquenta pinturas, todo o perímetro da Igreja jesuítica de Córdoba. Sendo que
quarenta e oito deles estão na Igreja, e dois decoram a Capela Doméstica. Como
observou Barbieri, na Igreja de Córdoba, temos por exemplo, um emblema que
copia exatamente a figura do “Emblema I” do frontispício do Imago Primi Saeculis,23 e
outro emblema que se utiliza da mesma inscrição: Omnia Solis Habet (Todo lo tiene del
sol), porém com a figura retirada do “Emblema II” do Imago. No mesmo emblema,
como também destacou Barbieri, a moldura ornamentada com grottesche, foi copiada
do “Emblema LIb” (51b) que compõe uma das tábuas de Emblemas do Imago. Notase, portanto, que houve uma fusão de diferentes elementos, e de distintos emblemas
do Imago, na composição do Emblema de mote Omnia Solis Habet da Igreja de
Córdoba. Procedimento que também ocorreu em outros emblemas da dita Igreja.
O hibridismo do barroco colonial americano, e o emprego das grotescas, como
um gênero decorativo mais apartado da iconografia da Igreja Católica, onde os
nativos americanos teriam sentido mais liberdade para impor elementos de sua
própria cultura e iconografia,24 tem sido alvo de estudos recentes por reconhecidos
especialistas, como Luciano Migliaccio,25 Claire Farago,26 Alexander Gauvin Bailey,27
e Serge Gruzinsky.28 No Brasil colonial, nas obras dos jesuítas em suas Missões,
22 BARBIERI, Sérgio. Empresas Sacras Jesuíticas: Córdoba, Argentina [Colección Historia
de la Arquitectura de Córdoba, n. 5]. Córdoba: Fundación Centro, 2003.
23 Ver INSOLERA, Lydia Salviucci. L’Imago Primi Saeculi (1640) e il significato
dell’immagine allegorica nella Compagnia di Gesù. Genesi e Fortuna del Libro…
24 BAILEY, Gauvin Alexander. The Andean Hybrid Baroque: Convergent Cultures in the
Churches of Colonial Peru. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2010, p. 305.
25 MIGLIACCIO, Luciano. De Guevara a Vico: funções do ornamento no sistema figurativo
híbrido da América Colonial. Colóquio Internacional A Arquitetura do Engano entre
Europa e Brasil: Redes de Difusão e o Desafio da Representação Perspéctica no Setecentos.
Belo Horizonte, dezembro de 2011 [não publicado].
26 FARAGO, Claire. Gabriele Paleotti on the grotesque on painting: Stretching old cultural
horizons to fit a brave new world. Medieval Feminist Forum, 16, n. 1, p. 20-23, 1993.
27 BAILEY, Gauvin Alexander. The Andean Hybrid Baroque…
28 GRUZINSKI, Serge. O Pensamento Mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
ISBN 978-85-61586-70-5
242
IV Encontro Internacional de História Colonial
encontramos ao menos três exemplos da utilização da pintura de tradição
emblemática, no século XVIII, que empregam além dos emblemas, as grotescas e/ou
os brutescos; todos eles em sacristias de Igrejas jesuíticas: a da antiga Igreja de São
Francisco Xavier em Belém, a da Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus em
Vigia, ambas no Pará, Amazônia; e a sacristia da Igreja de Nossa Senhora do Rosário
do Embu, em M`Boi Mirim, São Paulo, que além de grotescas e brutescos, traz
também chinoiseries. Outro exemplo em Belém, que merece ser mencionado, é o da
pintura da sacristia do Colégio de Santo Antônio de Lisboa, realizada no ano de
1774, que utiliza a emblemática e também a arquitetura pintada.
Porém, quanto às obras de arte brasileiras estudadas a partir do emprego dos
emblemas na América Portuguesa, a única constante, mencionada por Mário Praz,29
e objeto de estudo de Santiago Sebastián30 e também de Luís de Moura Sobral,31 é o
programa emblemático dos painéis de azulejos portugueses no claustro do Convento
de São Francisco de Assis (1737), em Salvador na Bahia, região nordeste do Brasil.
Ali, clarividente é o emprego dos emblemas do livro de Otto Van Vaenius, Theatro
Moral (1607);32 acrescentando-se o fato da originalidade da obra quanto ao cenário
mundial da emblemática, representada pelo emprego dos emblemas na azulejaria de
tradição portuguesa.
Algumas Verdades Pintadas e Escritas:33 A Emblemática em Portugal e no
Brasil
Santiago Sebastián e Teresa Gisbert, como dissemos, e como também é de
conhecimento geral, são estudiosos que contribuíram enormemente para o campo do
estudo da tradição emblemática na América Latina, mas há de se ressaltar que
trabalharam sobretudo com o território hispânico. Hoje, os grandes centros de
estudos de emblemática se concentram na Itália, na Espanha, na Holanda, na
Escócia, nos Estados Unidos e em alguns poucos países hispano-americanos. Muito
29
PRAZ, Mário. Imágenes del Barroco: Estudios de Emblemática [Studies in SeventeenthCentury Imagery, 1964]. Madri: Siruela, 2005.
30 SEBASTIÁN, Santiago. Emblemática e História del Arte. Madrid: Cátedra, 1995.
31 SOBRAL, Luís de Moura. Occasio and Fortuna in Portuguese Art of the Renaissance and
the Baroque: a Preliminary Investigation. In: GOMES, Luís (Org.). Mosaics of Meaning
Studies in Portuguese Emblematics….
32 Ver “La Influencia de Vaenius en Iberoamérica”. In: SEBASTIÁN, Santiago.
Emblemática e Historia del Arte…, p. 262-275.
33 “Verdades Pintadas e Escritas” é o título de uma coleção de emblemas do século XVII, de
autoria do famoso polígrafo português Francisco Manuel de Melo, que é citada por Barbosa
Machado na sua Biblioteca Lusitana, porém o manuscrito da coleção não foi até hoje
localizado. Cf. AMARAL JR., Rubens. Portuguese Emblematics: an overview. In: GOMES,
Luís (Org.). Mosaics of Meaning Studies in Portuguese Emblematics…, p. 12.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
243
pouco foi realizado em Portugal sobre o tema dos Emblemas, e ainda muito menos
no Brasil, ficando este fato muito claro quando comparamos a produção de trabalhos
em língua espanhola com aqueles em língua portuguesa, quase inexistentes.
Rubem Amaral Junior, em “Portuguese Emblematics: an overview,34 deixa
transparecer alguns pontos importantes a serem considerados acerca da presença de
Livros de Emblemas nascidos em território português. Em primeiro lugar, esclarece
que, assim como a maioria dos países europeus, Portugal não ficou imune à paixão
pela cultura emblemática durante os quase dois séculos e meio em que este gênero
literário floresceu, porém no que se refere à produção de livros de emblemas, ao seu
ver, a contribuição portuguesa seria “modesta, atrasada, frustrante e derivada”.35
Modesta: poucos livros, qualidade distante de ser excepcional, edições limitadas e
com mercado restrito. Atrasada: a maioria dos livros foram produzidos a partir da
segunda metade do século XVII. Frustrante: a maior parte dos livros não eram
ilustrados, muitos não foram publicados, e alguns manuscritos foram inclusive
perdidos. Verdades Escritas e Pintadas, é o título de um destes manuscritos
desaparecidos.36 Derivada: No sentido que a maioria eram cópias que imitavam,
adaptavam ou traduziam livros de emblemas estrangeiros. Tudo isso, segundo
Amaral Jr., deve estar na raiz do problema de que tão poucos portugueses tenham
direcionado a sua atenção em direção a este campo de estudo. Não é de se espantar,
portanto, que os estudos de emblemática também tenham sido, de certa forma,
deixados de lado no Brasil. Mas e apesar destes fatos elencados por Amaral Jr., o
mesmo defende que valeria a pena recuperar esta história, também pelo motivo de
que Portugal foi capaz de criar uma forma muito original de expressão artística, que
seria o emprego da tradição emblemática na azulejaria.
Mas, aproveitando, e expandindo “além-mar” a defesa de Amaral Jr., destacamos,
que na América Portuguesa, além de emblemas na azulejaria, como mencionamos,
admiravelmente representado pelo conjunto de azulejos do claustro dos franciscanos
em Salvador da Bahia, quanto ao extenso patrimônio jesuítico no Brasil, por exemplo
e como citamos anteriormente, podemos encontrar também no território das antigas
Missões da Companhia de Jesus no antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará duas
sacristias setecentistas que fizeram claramente emprego da emblemática na pintura de
seus tetos: a sacristia da Igreja de São Francisco Xavier do Colégio de Santo
Alexandre em Belém, e a sacristia da Casa-Colégio da Nossa Senhora da Madre de
Deus em Vigia, que foram as duas principais fundações dos jesuítas no Grão-Pará.
Nas duas principais igrejas jesuíticas no rio Amazonas, assim como na Igreja Jesuítica
de São Roque em Lisboa, em diferentes programas iconográficos, os Livros de
34
Ibidem, p. 1-20.
Ibidem, p. 2.
36 Ibidem, p. 12.
35
ISBN 978-85-61586-70-5
244
IV Encontro Internacional de História Colonial
Emblemas foram igualmente as fontes eleitas, e utilizadas como modelo pelos
jesuítas para ornamentar os tetos das sacristias de suas igrejas.
Em período anterior, século XVII, os Livros de Emblemas também parecem ter
servido de modelo para o programa da decoração do arco concêntrico do retábulo
seiscentista da Igreja de São Luís do Maranhão, desenhado pelo jesuíta
luxemburguês, vindo da província jesuítica Gallo-Belga, que seria o arquiteto e pintor
João Felipe Bettendorff (1627-1698), um dos missionários mais importantes e
atuantes na Amazônia, vindo para São Luís por influência do Padre Antonio Vieira.
O retábulo desenhado por Bettendorff, segundo documentos, foi entalhado por um
índio maranhense de nome Francisco, e por um entalhador português chamado
Manuel Mansos. Podemos afirmar que Bettendorff conhecia os Livros de Emblemas,
já que ele mesmo foi o autor de um “arco triumphal” decorado com emblemas,
exposto nas ruas de São Luís em 1680. Bettendorff nos relata sobre um “bello arco
triumphal”, decorado com emblemas, que mandou fazer em homenagem à chegada
do Bispo, colocando-o em frente à Igreja de Nossa da Luz em São Luís.37 Após a
festa, os 20 (vinte) emblemas teriam sido solicitados pelo Bispo para serem enviados
a Portugal.38
No mesmo período em que Bettendorff comandava as obras de arquitetura e
decoração das igrejas das Missões no Maranhão e no Pará; era altamente influente e
intensamente participativo da vida política e cotidiana das Missões do Maranhão e
Grão-Pará, o missionário português Antonio Vieira. Ao que nos interessa, Vieira em
alguns de seus Sermões, fez uso de elementos da Emblemática, como ressalta Isabel
Almeida,39 após verificar diversas menções, diretas ou não, à tradição de emblemas
(como também às suas origens e derivações) nos sermões, como: Orapollo, Piero
Valeriano, Andrea Alciati, e Cesare Ripa.40
Vale a pena trazer o trecho do “Sermão Décimo Segundo – Rosário”, em que
Vieira descreve um emblema do mais celebrado e conhecido livro de Emblemas,
como já dissemos, a obra fundadora deste gênero literário, o Emblemata de Andrea
Alciati:41
Pintou um enxame de abelhas que no oco do capacete
fabricavam os seus favos, e por título deste emblema, ‘ex bello
37
BETTENDORFF, João Felipe SJ. Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no
Estado do Maranhão. Belém: Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves / Secretaria do
Estado da Cultura do Pará, 1990, p. 328.
38 Ibidem, p. 329.
39 ALMEIDA, Isabel. Alciatus in Parnassus: Emblematic Elements in Vieira’s Sermons. In:
GOMES, Luís (Org.). Mosaics of Meaning Studies in Portuguese Emblematics…, p.
65-88.
40 Ibidem, p. 73.
41 Ver ALCIATI, Andrea. Emblemata. Padova, 1621, p. 737. Emblema 178.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
245
pax’ [da guerra vem a paz]. A letra diz que da guerra nasce a paz
e o corpo da pintura a nenhuma paz se pode aplicar com maior
propriedade, qual à do Brasil. Os favos são os doces frutos desta
terra singular entre todas as do mundo bênção de doçura com
que Deus a enriqueceu (…) Este é o sentido natural do mistério
do Evangelho, a que poderão servir de elegante comento o
capacete e abelhas do emblema, se o capacete for o de David, e
as abelhas de Salomão.42
O tema das abelhas e da doçura, representado de forma diversa, aparece em um
dos quatro emblemas da pintura que decora o teto da Sacristia da Igreja de São
Francisco Xavier em Belém do Pará, na Amazônia brasileira.43 Uma sineta toca,
atraindo as abelhas, e o lema diz: Sonum Dulcedo Seqvetur [“Que a doçura siga o som”].
A armadura também se faz presente em outro emblema pintado no teto da mesma
sacristia, porém o capacete dá lugar ao escudo, retratado com flechas que são
partidas ao toca-lo, o lema é: Rejicit Aut Frangit [“Repele ou quebra”]. São inúmeros
os livros de Emblemas que trazem abelhas, assim como armaduras e flechas; e é
válido mencionarmos aqui ao menos um breve exemplo. Na importante obra de
emblemática Teatro d` Imprese,44 publicada pela primeira vez em Veneza no ano de
1623, e de autoria do abade Giovanni Ferro (1582-1630), no tópico por ele intitulado
“scudo, brocchiere, rotella/targa, targone”,45 encontra-se um emblema com um
escudo, com a seguinte inscrição, mote ou lema: Aut Repellit Aut Frangitur, que expõe
o mesmo conceito de um dos emblemas da Igreja de Belém do Pará [Rejicit Aut
Frangit]; porém, deixamos bem claro, este é apenas um exemplo.
A imagem do emblema é suscetível de uma interpretação literal, de uma alegórica,
como figura moral, que pode motivar associações com os mais variados contextos; e
da mesma forma, vale dizer que o tema das flechas que se quebram ao tocarem um
escudo, foi abordado pelo jesuíta português João Daniel (1722-1766), no seu
42
VIEIRA, Antonio SJ. Sermão do Décimo Segundo – Rosário. Ver ALMEIDA, Isabel de.
Alciato in Parnassus…, p. 75-76. [Ver Sermão na íntegra na Biblioteca Brasiliana da
Universidade de São Paulo - USP online].
43 Os quatro emblemas possuem os seguintes motes: 1) Sonvm Dulcedo Sequetur (“Que a doçura
siga o som”), e Nomen Delectabile (“Nome Aprazível”); 2) Rejicit Avt Frangit (“Repele ou
quebra”), e Nomen Invincibile (“Nome Invencível”); 3) Lux Cibus et Medicina (“Luz, Alimento e
Remédio”), e Nomen Admirabile (“Nome Admirável”); 4) “Emblema do Sol”: Fvgat Ut Fvlget
(“Afugenta ao brilhar”), e Nomen Terribile (“Nome Terrível”). Ver MARTINS, Renata Maria
de Almeida. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitetura e Arte nas Missões Jesuíticas do
Grão-Pará (1653-1759). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, 2009, p. 433-456.
44 FERRO, Giovanni. Teatro d’Imprese. Veneza: Giacomo Sarzina, 1623. [ver Google Books:
livro digitalizado pela University of Illinois].
45 Ibidem, p. 624-626.
ISBN 978-85-61586-70-5
246
IV Encontro Internacional de História Colonial
“Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas”, uma das mais importantes obras
sobre a Amazônia do século XVIII. João Daniel nos fala do “peito de aço”, do
“capacete”, da “saia de malha”, que são a “roupeta da Companhia”, as “armas do
Evangelho” e de Antonio Vieira, contra as “agudas e horrendas frechas e taquaras”
dos índios nheengaíbas; conhecida nação guerreira da Ilha do Marajó no Pará, que
finalmente foi aldeada pelos jesuítas, após 20 anos de guerras, resistindo às investidas
dos colonos portugueses.
Já em relação à presença de Livros de Emblemas nos acervos das Bibliotecas dos
Colégios Jesuíticos da América Portuguesa, é parte do inventário da expulsão dos
jesuítas das colônias portuguesas, em 1759, o único manuscrito remanescente de uma
antiga Livraria de Colégio jesuítico na Amazônia brasileira, conservado no Arquivo
Histórico da Companhia de Jesus em Roma: O Catálogo da Livraria da Casa-Colégio da
Madre de Deus no Pará.46 Composta por cerca de 1010 volumes, como nos diz o padre
jesuíta Serafim Leite em sua obra essencial, “A História da Companhia de Jesus no
Brasil”: “aquela livraria imersa como foco de luz nas selvas coloniais do Brasil tinha
um pouco de tudo”.47 Deve-se acrescentar a Serafim Leite, que inclusive, aquela
livraria em plena selva tropical, possuía em seu variado acervo, importantes obras de
tradição emblemática. Andrea Alciati, Sebastián de Covarrubias, Don Juan de
Solorzano, Francisco Sanchez de las Brozas (comentarista de Alciati), e Filippo
Picinelli, certamente ficariam estupefatos ao verem seus Livros, depositados em uma
Biblioteca a menos de um minuto da linha do Equador!
Importa saber, segundo os documentos originais estudados por Serafim Leite,
que a livraria do Colégio de Salvador da Bahia possuía cerca de 15000 volumes; a do
Rio de Janeiro 5434; a de Belém cerca de 2000; a de São Luís do Maranhão 5000. As
Bibliotecas jesuíticas, como no caso de Vigia, não se restringiam apenas aos centros
mais importantes; como também sabemos quanto às missões na América de domínio
espanhol:
La destinazione finale dei libri portati dai gesuti non erano soli i
centri accademici o le residenze. Migliaia di essi anadarano a
costituire importante biblioteche nei villagi indios (…) In ogni
villagio c`era una biblioteca: a San Borja 716 volumes, a San
Pedro 834, a Itapua 530, a Santos Mártires 382, a Candelaria più
46 A livraria da Casa-Colégio da Madre de Deus em Vigia no Grão-Pará teria à época da
expulsão dos jesuítas (1759-1760), segundo o seu inventário, cerca de 1010 volumes. Ver
“Catálogo da Livraria da Casa da Vigia”. ARSI, Brasiliae 28, fl. 18v-23r. Segundo a somatória
de Leite, seriam na verdade 1006 volumes. Ver LEITE, Serafim S.J. História da
Companhia de Jesus no Brasil…, p. 160-167. Cf. transcrição do catálogo com anotações
da autora e da Profa. Sylvie Deswarte em MARTINS, Renata Maria. Tintas da Terra,
Tintas do Reino…, p. 280-285.
47 LEITE, Serafim S.J. História da Companhia de Jesus no Brasil…, p. 167.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
247
di 3700, nelle missioni dei Chiquitos più di 2000 volumi e in
quella di Mojos 5200. I libri esistente nelle missioni dei fiume
Uruguay erano circa 3600 e in quelle del Paranà 7000.48
Duas obras de Filippo Picinelli (em três volumes) estavam comprovadamente na
Biblioteca dos jesuítas do Casa-Colégio da Madre de Deus em Vigia no Pará, o citado
Mundus Simbolicus, e ainda o Lumina Reflexa. A Capela jesuítica de São Miguel Arcanjo
em São Miguel Paulista, século XVII, foi recentemente objeto de restauro, e durante
as obras, foram colocados em exposição antigos retábulos pintados, que estavam
ocultados por retábulos de madeira de período não jesuítico. Nos “singelos”
desenhos do sol, da estrela e da lua, que ocupam a parte interna e superior do nicho
do retábulo do lado da epístola, teriam sido utilizados modelos já consagrados
oriundos dos Livros de Emblemas? De fato, e por exemplo, pode-se notar que o sol
foi retratado de forma muito semelhante ao do emblema de mote Toglie il Lume col
Lume do Mondo Simbolico de Picinelli (1653).49
Na sacristia da Igreja de Vigia, também foram elaborados emblemas com o tema
do sol, da lua e das estrelas,50 porém, desta vez, o programa iconográfico é
totalmente dedicado à Virgem Maria, não somente na pintura emblemática do seu
teto, mas também nos painéis com a vida de Nossa Senhora que ornamentam o
retábulo. Na pintura, temos quatro emblemas, colocados em quatro caixotões
distintos. A interpretação das figuras e motes, são de mais fácil leitura do que a da
Igreja de Belém, visto que são conhecidas as inscrições, Electa ut Sol [“Eleita como o
sol”], Pulchra ut Luna [“Bela como a Lua”], Stella Maris [“Estrela do Mar”], Stella
Mattutina [“Estrela da Manhã”]. Segundo Sebastián, Monterrosa e Terán; o tema vem
desde o século XV, onde a Virgem aparece rodeada de símbolos, alegorias e
inscrições, que seriam imagens do Antigo Testamento que anunciariam a pureza
imaculada de Maria, cristalizando uma tipologia chamada Tota Pulchra.51 Os símbolos
marianos seriam: o espelho, a cidade, o poço, a árvore, o lírio, o templo do Espírito
Santo, a porta do céu, a roseira, a fonte, a palma, o jardim fechado, a torre ou
48
MORALES, Martín María SJ (Org.). La Libreria Grande: Il Fondo Antico della
Compagnia di Gesù in Argentina. Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2002, p. 16.
49 PICINELLI, Filippo. El Mundo Simbolico (Mondo Simbolico, 1653). Zamora,
Michoacán: El Colegio de Michuacán, 1997. [Trad. do Lat. e do It. para o espanhol. Tradutor:
Eloy Gómez Bravo].
50 A autora trabalhou o tema dos astros na Emblemática em MARTINS, Renata Maria de
Almeida. La Compagnia sia, come un cielo: o sol, a lua e as estrelas dos Livros de Emblemas
para a decoração das Igrejas das Missões jesuíticas na América Portuguesa (séculos XVIXVIII). Colóquio Internacional A Arquitetura do Engano entre Europa e Brasil…
51 SEBASTIÁN, Santiago; MONTERROSA, Mariano; TERÁN, José Antonio. Iconografía
del Arte del Siglo XVI en México. Zacatecas: Editorial UAZ, 1995, p. 60.
ISBN 978-85-61586-70-5
248
IV Encontro Internacional de História Colonial
fortaleza, e o sol (Electa ut Sol; Cant. cant. 6, 9), a lua (Pulchra ut Luna; Cant. cant. 6,
9), e a estrela (Stella Maris, Hino Litúrgico).
Segundo Luís de Moura Sobral, um grande número de emblemas nas Igrejas de
Portugal relatariam a Virgem Maria, refletindo a importância da Mãe de Deus na
crença católica em geral, e na portuguesa em particular. Assim como Sebastián,
Sobral também traz em seus estudos a associação da emblemática mariana ao
“Cântico dos Cânticos”, Tota Pulchra: Tota Pulchra es amica mea et macula non est in te.52
Luís de Moura Sobral nos diz que, em torno do século XVII, dezenas, senão
centenas, de tetos com caixotões de madeira (cassoni) são decorados com as imagens
de Maria, de longo tempo associadas com as Litaniae Lauretanae, como é o caso de
Vigia no Pará.
Sem o emprego de “motes”, com simples motivos marianos, no centro de
festões, florões, brutescos e/ou grotescas; pintados em têmpera ou à óleo,
diretamente na madeira, seriam aqueles emblemas encontrados no teto em caixotões
da sacristia da Igreja de São Roque em Lisboa, e também do santuário da Igreja do
Colégio Jesuítico de Funchal na Ilha da Madeira. Não com motivos marianos, mas
com símbolos cristianos; podemos encontrar modelo semelhante ao de Lisboa e ao
do Funchal (caixotões de madeira, decorados com motivos simples, sem motos, no
centro de festões e florões), na sacristia jesuítica da Igreja de Nossa Senhora do
Embu em São Paulo, antiga Aldeia de M`Boy Mirim. De mais elaborada composição
decorativa (como os de Vigia), seriam aqueles emblemas que ornamentam o teto da
sacristia das Igrejas dos Cistercienses em Bouro, norte de Portugal; que utiliza em sua
decoração “motos” e motivos figurativos de proveniências diversas.53
Na antiga Igreja de Nossa Senhora da Luz em São Luís, o arco concêntrico do
retábulo do altar-mor desenhado no século XVII pelo jesuíta João Felipe
Bettendorff, como já mencionamos, também está decorado com motivos marianos.
O arco foi repartido em seis partes, cada qual destacando um símbolo associado à
Maria. Estão no arco concêntrico retratados (da esquerda para a direita): a palma, o
cálice, o sol, a lua, a estrela e a rosa. Fica bastante claro, então, a transferência da
tradição portuguesa de Emblemas com símbolos marianos (entre eles, o sol, a lua, as
estrelas) ao menos para a Amazônia. Do artigo de Luís de Moura Sobral,54 dedicado
às pinturas de emblemas na azulejaria em Portugal e no Brasil, podemos retirar
algumas fontes, sobre o tema Mariano, que seriam as obras de Jacques Callot,
Herman Hugo, Joachim Camerarius, Henry Hawkins, Hendrik Engelgrave.
Conluindo, as obras por nós estudadas, de tradição emblemática, fazendo parte
de todo um sistema decorativo que imperava no Novo Mundo, dialogam e vão ao
encontro das pesquisas mais atuais sobre a arte barroca do período colonial na
52
SOBRAL, Luís de Moura. Occasio and Fortuna…, p. 106.
Ibidem, p. 102.
54 Ibidem, p. 102.
53
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
249
América; e o seu conhecimento traz uma contribuição importante sobre os estudos
da transferência cultural, das artes e da arquitetura nas Missões Jesuíticas, e do
Barroco no território latino-americano.
Lista de Imagens
Imagem 1: Belém do Pará, Amazônia, Brasil, Igreja de São Francisco Xavier do
Colégio Jesuítico de Santo Alexandre, pintura do teto da Sacristia contendo em
cada um dos quatro cantos da composição, emblemas dedicados ao nome de
Jesus, além de brutescos e grotescas, século XVIII. Fotografia: Ricardo Medrano,
julho de 2008.
Imagem 2: Vigia, Pará, Amazônia, Brasil, Igreja Jesuítica da Casa-Colégio da
Madre de Deus, pintura do teto da Sacristia contendo em cada um dos quatro
caixotões, emblemas dedicados à Virgem Maria, além de flores e brutescos, século
XVIII. Fotografia: Ricardo Medrano, julho de 2008.
ISBN 978-85-61586-70-5
250
IV Encontro Internacional de História Colonial
Imagem 3: Belém do Pará, Amazônia, Brasil, Igreja do Colégio Franciscano de
Santo Antônio de Lisboa, detalhe central da pintura do teto da Sacristia
contendo emblema e arquitetura pintada, 1774. Fotografia: Renata Martins,
janeiro de 2012.
Imagem 4: São Miguel Paulista (zona leste da cidade de São Paulo), São Paulo,
Brasil, Capela de São Miguel Arcanjo, detalhe do retábulo pintado (lado da
Epístola) contendo desenhos do sol, da estrela e da lua na parte superior interna
do nicho, s/d. Fotografia: Renata Martins, janeiro de 2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
251
Imagem 5: Embu das Artes, São Paulo, Brasil, Igreja da Residência de Nossa
Senhora do Rosário do Embu (M`Boy Mirim), pintura do teto da sacristia
contendo símbolos da Paixão de Cristo, brutescos, grotescas, flores e chinoiseries,
detalhe da pintura de um dos caixotões [contendo os pregos da crucificação],
séc. XVIII. Fotografia: Renata Martins, fevereiro de 2012.
ISBN 978-85-61586-70-5
252
IV Encontro Internacional de História Colonial
Grotescas, Emblemas, Empresas: Funções do Ornamento no Sistema
Figurativo Híbrido da América Colonial
Luciano Migliaccio1
Nas decorações de ambientes religiosos pintadas na América portuguesa,
observa-se frequentemente a presença ao mesmo tempo da arquitetura fingida, da
grotesca, do emblema ou da empresa, e a prevalência do elemento decorativo e
emblemático em relação à figuração narrativa, fenômeno este que é comum a
numerosas realidades do mundo colonial. Se até certo ponto, tal fenômeno é
justificado por motivos práticos, quais a falta de artífices preparados para a realização
das tarefas necessárias à pintura narrativa, por outro lado, forma parte de um gosto,
configurando a formação de uma sintaxe visual diferente daquela do sistema
prevalente nos modelos europeus, e permite fazer algumas reflexões visando uma
reconsideração do fenômeno da transmissão e da tradução das formas artísticas
européias para outras culturas.
Estudiosos quais Philippe Morel2 e Claire Farago3 destacaram a importância do
papel da decoração, e particularmente da grotesca, nos fenomênos de hibridação e
contaminação entre culturas figurativas diversas.
Como é sabido, a palavra grotesca define um tipo de ornamento formado por
figuras íbridas, antropomorfas, zoomorfas e vegetais, e outros elementos quais
festões, guirlandas, candelabras, nós, nascido da imitação dos estuques que
decoravam as construções de Roma antiga, e que foram redescobertas a partir do
final do século XV e colocadas na moda pelo ateliê de Pinturicchio.
Entre os primeiros exemplos desta tipologia decorativa podem ser citados os
aposentos do papa Alexandre VI Borgia, mas também a capela Carafa em Santa
Maria sopra Minerva em Roma e a cappella Strozzi em Santa Maria Novella em
Firenze, por Filippino Lippi. Este tipo de ornamentação conheceu depois uma
difusão europeia na versão criada pelo ateliê de Rafael, em particular por Giovanni
1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP.
MOREL, Philippe. Il funzionamento simbólico e la crítica delle grottesche nella seconda
metà del Cinquecento. In: FAGIOLO, Marcello (ed.). Roma e l'antico nell'arte e nella
cultura del Cinquecento. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985, p. 149-178; L'art
des grotesque et les marges de la nature: l'hybride et le monstrueux entre science et imaginaire
a la fin de la Renaissance. In: OLMI, Giuseppe, TONGIORGI TOMASI Lucia (ed.)
Natura-Cultura: l'interpretazione del mondo fisico nei testi e nelle immagini. Firenze:
Olschki, 2000, p. 57-62; Ver também LAROQUE Francois, LESSAY Franck (ed.).
Esthétiques de la nouveauté à la Renaissance. Paris: Presses de la Nouvelle Sorbonne,
2001.
3 FARAGO, Claire (ed.). Reframing the Renaissance: Visual Culture in Europe and Latin
America. 1450-1650. New Haven: Yale University Press, 1995.
2
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
253
da Udine, nos estuques das galerias vaticanas, em que as possibilidades abertas pelo
gênero permitiam mixturar a erudição arqueológica, científica e a fantasia poética na
busca de uma prazerosa divagação da imaginação.
Por meio da atividade de artistas como Perin Del Vaga, Francesco Salviati,
Giorgio Vasari, na segunda metade do século XVI, as grotescas penetraram
amplamente nos espaços profanos, como naqueles religiosos: capelas, refetórios de
mosteiros, oratórios de irmandades, sendo sinônimo de cultura em dia com as
tendências humanísticas da aristocracia das cortes, não sem se confundir com outros
tipos de imagens com funções didáticas e de edificação moral como os hieróglifos,
os emblemas, as divisas. As grotescas eram consideradas como o lugar da invenção
livre por parte da fantasia do artista, mas, por isso mesmo foram associadas a uma
atividade mental fora dos limites da razão.
No contexto colonial é possível sugerir uma hipótese que vai num sentido
contrário à idéia de uma inspiração direta em modelos teóricos e fontes européias e
mais no sentido indicado por Santiago Sebastián de pensar que o caráter específico
da recepção americana dos modelos europeu seja sobretudo a diferente
recombinação e composição das formas procedentes dos centros metropolitanos.
Não tanto a invenção então de formas novas, mas uma nova “dispositio” que quebra
frequentemente os limites fixados entre os gêneros na cultura originária.4
Nas imagens de decorações pintadas como as da Casa do Fundador de Tunja, na
Colômbia,5 do Colégio de Santo Alexandre e da sacristia do mosteiro de Santo
Antônio de Belém, da sacristia da igreja dos jesuítas de Vigía,6 há frequentemente a
presença da arquitetura fingida, da grotesca, do emblema e da “impresa”, que em
falta de uma melhor tradução ao português, designaremos com a palavra italiana, ou
com a palavra lusa divisa. Tanto o emblema como a divisa são associações livres de
imagens e motes. Eles distinguem-se apenas pela função, sendo a divisa um emblema
(no sentido da etimologia grega de objeto a ser contemplado) que é adotado por um
indivíduo para expressar uma intenção moral e pode mudar no tempo, a diferença do
brasão e do emblema que possuem uma função de identificação dinástica ou de
ensino moral sem se identificar com um indivíduo em particular.
Por exemplo, na casa do fundador de Tunja, na Colômbia, um falso pórtico,
definido por arcos sustentados por colunas, abre-se mostrando animais e vegetação
das diversas partes do mundo: o rinoceronte, representando a África o cachorro, o
4
SEBASTIÁN, Santiago. El barroco iberoamericano: mensaje iconográfico. Madrid,
Encuentro, 1990.
5 SEBASTIÁN, Santiago. La pintura emblemática de la Casa del Fundador de Tunja. Goya,
n. 163/168, p. 178-183, 1982.
6 Sobre as decorações jesuíticas de Belém e Vigía, ver MARTINS, Renata Maria. Tintas da
terra, tintas do reino: arquitetura e arte nas missões jesuíticas do Grão Pará (1653-1759).
São Paulo: Tese de doutorado – FAU/USP, 2009.
ISBN 978-85-61586-70-5
254
IV Encontro Internacional de História Colonial
cavalo representando a Europa, podem ser vistos como uma das primeiras
manifestações de um exotismo de um ponto de vista americano. Na casa de Juan de
Vargas o mesmo tema é declinado mediante o uso do repertório da grotesca: o
cavalo e o rinoceronte reproduzido fielmente da famosa gravura de Durer, aparecem
ao lado dos seres íbridos, dos nós, dos festões típicos dos modelos europeus. Ao
lado dos animais e dos seres monstruosos, eis os emblemas do nome de Jesus e de
Maria, o brasão familiar.
Já no século XVIII, no claustro do mosteiro de São Francisco em Salvador da
Bahia, a arquitetura falsa, incluíndo tarjas e emblemas, forma a moldura de figurações
narrativas, enquanto os motivos da grotesca à antiga foram substituídos pela rocaille
em que sobrevivem do repertório do passado apenas cabeças de anjinhos alados. Os
casos de Belém do Pará também parecem estabelecer uma espécie de diálogo
permanente entre pintura de arquitetura, emblema e grotesca (ou brutesco em
português) que sugere algumas considerações sobre o papel da arte decorativa na
cultura figurativa colonial da América Latina. A decoração, em particular o emblema
e a grotesca, por serem imagens que se aproximam ao pictograma ou por terem uma
ligação menos estreita com a tradição mimética típica da arte clássica, foi o lugar
privilegiado onde foi possível o surgimento de uma atitude mais aberta em relação às
tradições iconográficas locais, em virtude da combinação entre erudição científica e
religiosa, didática moral e divagação fantástica que é característica da grotesca
utilizada nos espaços comuns de edifícios monásticos, quais refetórios, sacristias, na
Europa já durante a Renascença . Algo deste caráter se transmitiu à maneira de
interpretar os modelos de pintura decorativa procedentes da Europa na segunda
metade do século XVIII, particularmente no Brasil.
Esta ideia é sugerida também da leitura de um trecho dos Veri precetti della pittura
de Giovan Battista Armenini publicado em 1587. No capítulo dedicado aos temas
adequados para decoração das galerias e dos pórticos, Armenini louva a variedade
das escolhas temáticas possíveis nestes ambientes destinados ao recreio e ao
entretenimento do espírito. Acrescenta que, posta a diversidade das formas
arquitetônicas que são na maioria dos casos arcos e pilares, a pintura precisa adequarse escolhendo uma grande variedade de formatos “de maneira que neles toda
extravagante invenção é adequada desde que crie riqueza e ornamento”. Passando
aos exemplos cita as Logge de Rafael e de Giovanni da Udine, a galeria da vila Doria
de Fassolo em Gênova por Perin del Vaga, louvando a erudição arqueológica e
científica dos dois primeiros e a capacidade de domínio da perspectiva e da figuração
do segundo. No entanto, termina com um louvor do uso da pintura de arquitetura e
perspectiva:
Vi, não há muito, viajando na Lombardia, muitos pórticos que
dão vista para as montanhas e os bosques e além dos belos
frisos que há feitos, em estuque e dourados, nas paredes estão
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
255
pintados, na frente daqueles reais, as mesmas ordens dos arcos e
das colunatas que existem, de forma que pintando entre eles
perspectivas com edifícios, bosques e fontes, e ao redor
paisagens e montanhas muito belas, se tornam muito alegres e
agradáveis à vista, pois de um lado se enxergam os montes e as
florestas reais, do outro se vêm outros pintados diversos e
alegres, assim que o olho e a mente gozam de uma dupla vista.7
Na passagem do artista emiliano parece estar contida a possibilidade de, em nome
do encantamento dos sentidos e da fantasia, aliar a extravagância erudita da grotesca,
o saber científico e a perspectiva no ideal de um entretenimento adequado ao
ambiente da aristocracia laica e religiosa. Naturalmente estas sugestões elaboradas no
meio da sociedade italiana do final do século XVI que ia perdendo a sua
característica configuração mercantil e urbana e se transformando numa sociedade de
corte, passarão a ser elaboradas de acordo com os específicos contextos locais.
Num texto publicado como parte da introdução à coletânea “Reframing
Renaissance”, de 1995, que contem estudos e reflexões muito importantes para uma
reconsideração do fenômeno da transmissão e da tradução das formas artísticas
européias para outras culturas, em particular as culturas da América centromeridional, Claire Farago chama a atenção sobre a importância do papel da
decoração, e particularmente da grotesca, nos fenomênos de hibridação e
contaminação entre culturas figurativas diversas.
Baseando-se nas colocações do cardeal Gabriele Paleotti, publicadas em 1582, em
sua obra De sacris et profanis imaginibus, libri V, Claire Farago mostra como, neste
momento histórico, de recepção das normas emitidas pelo Concílio de Trento no
campo figurativo, de um lado há uma repulsa contra a excessiva liberdade dos artistas
na decoração dos espaços religiosos, identificada sobretudo com o uso da grotesca,
largamente praticado nas décadas anteriores. O cardeal Paleotti, então bispo de
Bolonha, pretendia contribuir para corrigir os abusos dos artístas da época.
Estabelecia limites às possibilidades de representação baseado no pressupposto de
que não podia ser admitido introduzir na figuração fantasias arbitrárias que não
tivessem correspondência com objetos existentes no mundo real.
Os limites postos pelo prelado privilegiavam o naturalismo baseado na
representação verossimilhante da realidade visível, se colocando ao lado da nova
orientação na pintura religiosa proposta pela academia dos Carracci, fundada
justamente em Bolonha no mesmo ano da publicação dos escritos do cardeal.
Contudo, por outro lado, ele tomava em consideração tipos de decoração que
poderiam conter figuras imaginárias, mas que não seriam realmente tais porque
fundamentadas em novas combinações de temas realmente existentes na natureza. É
7
ARMENINI, Giovanni Battista. De veri precetti della pittura. Torino: Ed. Marina
Gorreri, 1988, p. 181.
ISBN 978-85-61586-70-5
256
IV Encontro Internacional de História Colonial
a posição já defendida por Francisco de Holanda, no IV dos seus Diálogos da
Pintura, num discurso que ele atribui a Michelangelo, mas que substancialmente
reflete as posições teóricas do artista português.
Depois de ter afirmado que não se podem definir monstros seres compostos por
elementos naturais combinados conforme a razão da proporção e da conveniência ao
decoro e ao lugar, Holanda conclui:
E melhor decora a razão quando se mete na pintura alguma
monstruosidade (para variação e relaxamento dos sentidos e
cuidado dos olhos mortais que às vezes desejam ver aquilo que
nunca ainda viram nem lhes parece que pode ser) mais que a
habitual figura, (posto que mui admirável) de homem e de
alimárias. E daqui tomou licença o insaciável desejo humano de
aborrecer alguma vez mais um edifício com suas colunas e
janelas e portas que outro fingido de falso grotesco em que as
colunas tem feições de crianças que saem de gomos de flores,
com arquitraves e fastígios de ramos de murta e as portadas de
canas e de outras coisas, que muito parecem impossíveis e fora
de razão, o que tudo até é mui grande se é feito por quem
entende.8
Da mesma forma, Paleotti acabava por desvincular o ornamento da sua necessária
relação com a realidade visual. Em 1563 o Concílio de Trento adotara uma resolução
em que censurava todas as formas de ornamentação não necessária para as imagens
sacras, demonstrando uma atenção particular em relação ao problema. Contudo,
Paleotti opinava que os artistas tinham direito de inventar livremente os ornamentos
na medida em que estas figurações prazerosas não fossem apenas ficções fruto da
imaginação e dirigidas à sedução dos sentidos, mas possuissem uma relação com a
realidade natural e tivessem uma função moral.
Durante a elaboração das suas idéias, Paleotti consultou o amigo Ulisse
Aldrovandi, famoso naturalista e colecionador de materiais procedentes do Novo
Mundo, autor ele também de um tratado sobre a arte antiga e de outro, inédito,
sobre a pintura. Aldrovandi respondeu defendendo a liberdade da fantasia do artista
na invenção dos ornamentos, inclusive contra a autoridade dos textos antigos, como
Vitrúvio, desde que esta invenção fosse conforme a uma realidade existente, como
no caso dos objetos inéditos presentes na sua coleção de artefatos e objetos naturais
e exóticos.
Paleotti adotou a visão do amigo a respeito da liberdade dos artistas em alguns
momentos do seu texto, por exemplo, ao valorizar elementos explicitamente
8
DE HOLANDA, Francisco. Díalogos em Roma (1548). Introdução e notas de José da
Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 65.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
257
mencionados pelo naturalista bolonhês. Coisa remarcável para um prelado da sua
época, Paleotti coloca que aos pintores deveria ser permitido representar objetos que
poderiam parecer fora da ordem da natureza, desde que a existência deles seja
documentável, incluíndo monstros e outros elementos abnormes. Os ornamentos
que possuem referências na natureza são, portanto, conformes à razão, segundo
Paleotti, enquanto seriam condenáveis as grotescas que representam meros
fantasmas, coisas que nunca existiram e que não poderiam existir na forma em que
foram representadas.
Mas como distinguir entre as grotescas produto de uma imaginação sem freios e
os ornamentos baseados em elementos naturais que são úteis para extender o
conhecimento científico e moral do ponto de vista visual e ontologico? A distinção
de origem tomista entre dois tipos de linguagens figurais, as verdades divinas e as
ficções dos poetas ganha novos limites. Paleotti faz remontar a origem das grotescas
aos hieróglifos egípcios opondo ao arbítrio da imaginação humana as alegorias e os
mistérios da revelação. Neste ponto, ele seguia os passos de teóricos como o pintor e
arquiteto Pirro Ligorio e como o pintor milanês Giovan Paolo Lomazzo, que num
trecho muito significativo, falando das grotescas, coloca: “de propósito eram feitas
como enigmas ou cifras ou figuras egípcias, que são chamadas de hieróglifos, para
significar alguma noção ou pensamento sob outra figuras, como nós usamos nos
emblemas ou nas divisas”.9
A explícita aproximação da grotesca com o hieróglifo e com o uso moderno do
emblema ou divisa “impresa” é muito sugestiva para entender as possíveis leituras
dos sistemas decorativos pictoricos. As imagens associadas livremente de forma
instigante com a escrita de maneira a sugerir conceitos morais permitem ultrapassar
os limites do naturalismo e, ainda que, na categoria menor do fantástico, ou até do
ridículo, resgatar elementos de tradições não europeias e não vinculada à
verossimilhança na representação do mundo.
O teórico espanhol Felipe de Guevara, conselheiro de Carlos V, nos seus
Comentários de la pintura, publicados só em 1788, mas destinados provavelmente à
educação do futuro Felipe II, escreveu:
Esta suerte de pintura (os hieróglifos) y el declarar con ella su
conceptos parecen haber imitado los Indios ocidentales, y del
nuevo orbe, especialmente de la Nueva España, ahora sea que
por antigua tradición les venga de los Egípcios, lo qual podria
haber sido, hora sea que los naturales de estas dos naciones
concuriesen en unas mismas imaginaciónes. Asi, todo lo que los
dichos indios quieren significar de sus mayores, lo muestran en
9
LOMAZZO, Giovanni Paolo. Trattato dell'arte della pittura, scoltura et architettura.
Milano: Paolo Gottardo Ponzio, 1585, p. 423.
ISBN 978-85-61586-70-5
258
IV Encontro Internacional de História Colonial
la pintura, y ellos entre ellos declaran sus conceptos por medio
de la misma pintura.10
A escritura pictográfica dos aztecas acaba por ser aproximada ao hieróglifo
egípcio e como tal revalorizada como transmissora de uma antiga sabedoria:
Es de notar la extraña devoción que los dichos indios a todo
genero de pintura tienen y creo cierto que si la imitativa
imaginaria, no tan pulida, que el hábito de la continua vista de
sus cosas le acarea, no lo impidiese, que se adelantarian en dicha
arte con facilidad y aprovechamiento grande. Son dichosos en
colores, ahora sean de tierra, ahora de zumos de yerbas varias,
sin contar en la cochinilla que es carmin rarísimo. Justo es
también haber traido a la pintura algo de nuevo y raro, como es
la pintura de las plumas de aves, variando ropas, encarnaciones
y cosas semejantes con diversidad de plumas que por allá cria la
naturaleza, y ellos con su industria escogen, dividen, apartan y
mezclan.11
Guevara provavelmente conhecia o escudo à moda mourisca usado na Andalusia
chamado de adarga decorado com pinturas plumárias, hoje na armeria do Palacio
Real de Madri, realizado para Felipe II pelo índios amantecas do México, por volta
de 1575, representando as históricas vitórias militares da monarquia espanhola contra
os árabes , a partir de modelos italianos e flamengos, e a mítra doada ao Escorial por
Felipe segundo em 1576, também com imagens realizadas em técnica plumária.
Guevara defendeu também a conveniência das extravagantes figurações de
Hieronimus Bosch, de que foi um colecionador:
Nunca pintó cosa fuera de natural en su vida si no fuese en
materia de infierno o purgatorio como dicho tengo. Sus
invenciones estrivaran en buscar cosas rarisimas pero
naturales… haber sido observantisimo del decoro y haber
guardado los limites de la naturaleza cuidadosisimamente, tanto
y mas que otro ninguno de su arte…12
É possível pensar que o interesse para a ornamentação grotesca a partir da
doutrina classicista presente nos escritos italianos mencionados permita aos teóricos
do meio ibérico como Guevara e Francisco de Holanda de abordar com olhar mais
atento as manifestações da arte dos indígenas americanos e dos orientais com os
10
DE GUEVARA, Felipe. Comentários de la pintura. Madrid, 1788, p. 236.
Ibidem, p. 237
12 Ibidem, p. 41-43.
11
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
259
quais espanhóis e portugueses tiveram contato. Guevara seria capaz de atribuir
algum valor para a pintura plumária e a arte dos tecidos dos mexicanos a partir das
extravagâncias de Bosch e da função moral do grotesco?
A discussão sobre a função e o valor para o conhecimento do artifício pictórico
teve uma função importante não apenas em estabelecer limites para a liberdade de
invenção dos artistas, mas no contexto do Novo Mundo e de povos com uma sua
própria tradição religiosa mas também em criar as condições dentro as quais era
possível ou não inserir dentro de um contexto cristão referências a tradições
figurativas autóctones dentro de uma visão condicente com as disposições da igreja.
Neste sentido, era possível aproximar a figuração fantástica do mundo pagão na
grotesca romana e os hieróglifos egípcios às imagens das culturas extra-européias,
africanas e americanas, à ilustração dos provérbios e das fábulas própria da tradição
decorativa chinesa ou hindu, e até às referências aos ornamentos plumários das
culturas indígenas da América, desde que fossem finalizadas à criação de um
contexto destinado a dar riqueza e ornamento adequado à imagem sacra.
Talvez uma confirmação desta capacidade sincrética da decoração possa ser
identificada em obras como a Capela do Rosário na igreja de San Domingos de
Puebla e de Santa Maria de Tonantzintla, antiga sede de cultos indígenas da
fertilidade na mesma província mexicana. Nestes dois casos a grotesca invade as
paredes envolvendo as molduras das pinturas religiosas, e dos retábulos, executadas
de maneira muito mais conforme às convenções ocidentais, e convive com o estilo
Churriguera e o neoclássico mais tardio procedente da Espanha. Na Capela do
Rosário alguns elementos são claramente retomados da arte pre-colombiana,
inserindo, por exemplo na decoração vegetal fragmentos antropomorfos na forma de
cabeças de guerreros com capacetes formados por cabeças de onças, e anijnhos
plumados.13 Na igreja de Tonantzintla até o pequeno Cristo no trono que encima o
arco do cruzeiro possui um ornamento de plumas.14
A fachada da igreja de San Carlos Borromeo, hoje catedral de Puno, datada de
1757 oferece um exemplo diverso de utilização do ornamento a grotesca e do
emblema no contexto indígena, desta vez na região do lago Titicaca, no Peru: onde
os artistas indígenas ou mestiços interpretavam a figuração de origem européia na
base de convenções artísticas não compatíveis com a tradição naturalista clássica, a
13
RUBIAL GARCIA, Antonio. Domus Aurea. La Capilla del Rosario de Puebla: un
programa iconográfico de la Contrarreforma. Ciudad de México: Universidad
Iberoamericana, 1991.
14 BAIRD, Joseph Armstrong. The churches of Mexico 1530-1810. Berkeley: Los Angeles,
California University Press, 1962, p. 121.
ISBN 978-85-61586-70-5
260
IV Encontro Internacional de História Colonial
liberdade de invenção e de composição permitida pela grotesca tornava o ornamento
o lugar ideal para formas de sincretismo iconográfico e estilístico.15
Naqueles mesmos anos, a meados do século XVIII, no âmbito do império
lusitano, um trecho muito interessante do padre João Daniel, jesuíta ativo nas
missões do Maranhão e do Pará, na época da expulsão da Companhia, nos permite
de perceber uma nova apreciação em relação à produção artística dos indígenas.
Escreve Daniel no seu livro Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas,
redigido provavelmente entre 1741 e 1757:
E assim os mais nos seus ofícios, em que se acham imaginários,
cujas obras se trazem à Europa por admiração, e com a
circunstância que alguns, para pôr as imagens no maior primor,
não usam nem de medidas nem de compasso: porque na
fantasia a delineiam conforme o modelo que antes viram.
Olham para o madeiro que tem diante, e já com o machado, já
com a enxó, e depois com os mais instrumentos, logo ou com
brevidade a dão perfeita.16
Daniel escreve o seu Thesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas durante os anos
em que ficou recluso nas prisões portuguesas por resistir à ordem de expulsão da
Companhia dos territórios da coroa (1757-1776), a partir das experiências vividas na
região entre 1741 e 1757. Trata-se, portanto, de um relato de memória, visando
destacar e enaltecer as capacidades inatas dos índios evangelizados pelos jesuítas. Ele
não ressalta a obra educativa das oficinas jesuíticas na prática artística dos nativos.
Estas só servem para disciplinar um povo que não possui o hábito do trabalho
sistemático.
Daniel quer mostrar a disposição inata dos indígenas e suas habilidades manuais
espontâneas. Daí ele não vê a maneira instintiva dos artistas indígenas como um fato
negativo, pelo contrário, admira a criação imediata como uma característica da
mentalidade deles. É claro que para o jesuíta isso indica ainda apenas uma disposição
à aprendizagem da regra, mas numa certa medida, a observação de Daniel se
contrapõe a consideração totalmente negativa da disposição mental dos indígenas
presente em escritos de outros padres. Para isso, Daniel lança mão da categoria da
“fantasia” e elogia a capacidade criativa a partir da manipulação direta dos materiais
da escultura, com utensílios primitivos (o esboço) para acabar depois com
15
FRISANCHO PINEDA, Inacio. La catedral de Puno: historia documentada. Lima:
CONCYTEC, 1999; BAILEY, Gauvin Alexander. The Andean Hybrid Baroque:
convergent cultures in the churches of colonial Peru. Notre Dame: University of Notre
Dame Press, 2010.
16 DANIEL, João SJ. Thesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, 1976.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
261
instrumentos mais refinados, e ressalta a rapidez com que a imagem idealizada pela
fantasia, é traduzida pela mão do artista indígena. Ao fazer isso, ele parece se
aproximar a motivos da critica de arte e da pintura, em particular, de grande
atualidade na Europa do seu tempo: se pense nas noções de “fantasia”, de toque, de
colorito, utilizadas por eruditos como De Piles, Algarotti, Caylus.17
Posto isso, é possível perceber na posição de Daniel uma valorização consciente
destes aspectos da produção indígena, não apenas como parte de uma disposição
inata à aprendizagem das regras da arte, mas como característica positiva da
produção artística em geral a ser valorizada na criação particular dos artífices índios.
Daniel estaria então em dia com correntes da crítica da época que ressaltam o valor
do elemento da espontaneidade e da fantasia não como “primitivos”, mas como
caráter da própria atividade estética, destacadamente presentes na produção dos
“primitivos”.
Cabe lembrar que em 1720 Giambattista Vico começa a elaborar a sua obra
Principi di una Scienza Nuova, fundando uma visão da história que valoriza as primeiras
fases da história da humanidade, consideradas como o momento da primeira
apreensão do mundo mediante a fantasia poética e a linguagem. Para Vico os
primeiros povos foram poetas que falaram por meio da poesia: a linguagem
entendida como criação e expressão da fantasia foi essencialmente poético porque os
homens daquela idade se expressavam por imagens e metáforas; formas do saber
tecidas com universais fantásticos ou caracteres poéticos que estão na base dos
grandes mitos dos povos primitivos, possuindo, portanto, valor histórico de
conhecimento.
Naqueles mesmos anos, o lombardo Lorenzo Boturini Benaduci, leitor da obra
de Vico, no México desde 1736, recolheu um grande acervo de documentos sobre a
civilização azteca, publicou em Madri em 1746 a obra Idea de una nueva história de la
América Septentrional fundada sobre material copioso de figuras, símbolos, caracteres y jeroglíficos
cantares y manuscritos de autores Indios ultimamente descobiertos aplicando pela primeira vez à
história antiga americana os métodos da pesquisa antiquaria de Montfaucon, baseada
na consideração filológica dos documentos materiais.18
17
PUTTFARKEN, Thomas. Roger de Piles' theory of art. New Haven: Yale University
Press, 1985; ERCOLI, Giuliano. Francesco Algarotti e la nuova critica d'arte nella seconda
metà del Settecento. In: Nuove idee e nuova arte del Settecento italiano. Roma,
Accademia dei Lincei, 1977, p. 409-425; DÉMORIS, René. Le comte de Caylus entre théorie
et critique d'art. In: CRONK, Nicholas, PEETERS Kris (ed.). Le comte de Caylus.
Amsterdam, 2004, p. 17-41.
18 Sobre a figura de Lorenzo Boturini Benaduci, ver GHELARDI, Maurizio. L'oratio ad
divinam sapientiam del vichiano Lorenzo Boturini. In: Giornale Critico della Filosofia
Italiana, 1984, p. 406-419; CODAZZI, Angela. Boturini Benaduci, Lorenzo verbete,
Dizionario Biografico degli Italiani. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. 13,
1971.
ISBN 978-85-61586-70-5
262
IV Encontro Internacional de História Colonial
O trecho do Armenini citado no começo desta comunicação parece demonstrar
que, ao lado da sua função simbólica e racional de moldura da figuração histórica,
desde o começo, a pintura decorativa estabeleceu uma relação importante também
com a categoria do ornamento e da grotesca na decoração de espaços caracterizados
como áulicos. Seria possível, portanto, um diálogo entre a pintura de arquitetura e a
livre combinação de imagens presente no hieróglifo e no emblema, uma
interpretação que, privilegiando a maravilha da experiência visual, o deleite fantástico
em detrimento da seriedade da teoria perspectiva e científica, permitiria a
coexistência de sistemas visuais diferentes em função da produção da riqueza e do
alegre fausto do ambiente religioso. Esta tendência se harmonizaria com a
interpretação das formas da decoração barroca e, em seguida, do rococó, no mundo
colonial luso-brasileiro e latinoamericano em geral.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
263
A Paisagem Política em Frans Post: A Pax Nassoviana e a guerra pelo
Atlântico Sul
Daniel de Souza Leão Vieira1
Introdução: a historicização da representação de paisagem
Os desenhos de Frans Post, 1645, foram feitos para as gravuras do livro Rerum per
octennium in Brasilia, 1647, de Caspar Barlaeus, sobre o governo de João Maurício de
Nassau no Brasil. Uma análise formal e iconográfica demonstrou que a composição
dos desenhos foi feita nos moldes das vistas topográficas de lugares pátrios, relativas
à cultura visual neerlandesa do século XVII. Tratou-se, portanto, da estruturação de
uma visão da Nova Holanda através de uma retórica visual associada à paisagem
política.2
Porém, os resultados dessa análise põem um problema historiográfico, uma vez
que a representação da topografia da Nova Holanda, construída como imagens da
Pax Nassoviana, não tinha correspondência com a realidade social vivida. Ao
contrário de seus antecedentes iconográficos - as séries de gravuras paisagísticas
holandesas relacionadas ao contexto da Trégua dos Doze Anos com a Espanha, de
1609 a 1621, o conjunto de vistas topográficas de Frans Post representava uma paz
que não existia de fato. Sabe-se que o período histórico de que elas tratam – o
governo de Nassau, não deixou de conhecer conflitos armados, pois que eram
constantes as incursões dos guerrilheiros luso-brasileiros. Para não mencionar o fato
de que Frans Post executava os desenhos e ajudava Jan van Brosterhuyzen a preparar
as gravuras ao tempo em que o território representado caía sob o cerco dos
insurretos pernambucanos.3
Como compreender esse deslocamento de sentido, entre um real vivido e uma
realidade representada? Essas imagens operavam a visibilidade do projeto político
orangista do stadhouder [lugar-tenente] Frederik Hendrik para a legitimação de poder
dos neerlandeses no Brasil e no Atlântico, uma vez que, assegurando a posse do
1
Licenciado e Mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor em
Humanidades pela Universiteit Leiden. Bolsista CNPq de Pós-Doutorado Júnior - Programa
de Pós-Graduação em História Universidade Federal de Pernambuco.
2 Cf. VIEIRA, Daniel de Souza Leão. Topografias Imaginárias: a Paisagem Política do
Brasil Holandês em Frans Post, 1637-1669. Leiden: Tese de Doutorado em Humanidades,
Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines, Faculteit der Geesteswetenschappen,
Universiteit Leiden, 2010.
3 BOOGAART, Ernst van den. A Well-Governed Colony. Frans Post’s Illustrations in
Caspar Barlaeus’s History of Dutch Brazil. The Rijksmuseum Bulletin. Amsterdam, vol.
59/3, p. 236-271, 2011.
ISBN 978-85-61586-70-5
264
IV Encontro Internacional de História Colonial
território que ia do São Francisco ao Potengi, mantinha-se uma cabeça-de-ponte
crucial para a geopolítica neerlandesa no Atlântico.
Porém, com a morte do stadhouder em 1647 e o crescimento da liderança civil em
favor da paz com a Espanha, a posição orangista-nassoviana enfraqueceu-se; e com
ela, a proposta de manutenção do Brasil. A plutocracia mercantil de Amsterdã
preferiu rever sua participação no Atlântico: abandonou seus territórios produtores
centrais – Nova Holanda e Nova Neerlândia, e privilegiou assim o comércio com os
produtos ibéricos.4
Portanto, a iniciativa de João Maurício - de mandar publicar a história de seus
feitos no Brasil - foi uma defesa da ideologia orangista, relevante tanto para as
Províncias Unidas quanto para os próprios territórios ultramarinos no Atlântico.
Nesse sentido, a paisagem política da Nova Holanda nos desenhos de Frans Post
deve ser entendida como a contraparte visual desse projeto político, e não como
meras ilustrações do texto de Barlaeus.
Trata-se aqui, nesta pesquisa, entretanto, de uma investigação ainda em
andamento. É bem verdade que, por um lado, é já a emergência de uma questão
baseada nos resultados de uma investigação concluída. Mas, por outro, a própria
inovação da problemática exigiu uma nova investigação que tanto revesse a pesquisa
anterior quanto fizesse avançar na verticalização analítica de uma iconografia que lhe
é relativa.
Refiro-me à relação de semelhança iconográfica entre, de um lado, o conjunto de
vistas topográficas que Frans Post criou em 1645 para a preparação das pranchas do
livro de Caspar Barlaeus, e, de outro, as séries de desenhos impressos com paisagens
dos arredores da cidade de Haarlem nos anos 1610.
No caso específico desta investigação, a comparação iconográfica inicial, acima
mencionada, se desdobra em outros níveis. Para que possamos estudar a recepção
dos desenhos de Post em 1647 – quando vieram a público, é preciso se ater a três
variáveis presentes no contexto histórico de então: 1) o papel da topografia na
cultura visual de ambos os períodos; 2) a relação desse repertório visual a ambos os
momentos políticos dos Países Baixos Unidos; e 3) o imaginário do “Brasil
holandês” no interior dessa paisagem política de fins da década de 1640.
Cabe aqui alertar que não se trata de expormos, a seguir, os resultados dessa nova
investigação, mas a armação de suas questões centrais. É na reflexão que busca
entender a natureza da relação entre as práticas sociais e as construções simbólicas
que concebemos uma história comparada das imagens, nas encruzilhadas de um
4
Cf. BOXER, Charles. Os Holandeses no Brasil, 1630-1654. Recife: CEPE, 2004; Ibidem,
The Dutch Seaborne Empire: 1600-1800. New York: Alfred A. Knopf, 1965; SPRUIT,
Ruud. Zout en Slaven. De Geschiedenis van de Westindische Compagnie. Houten: De
Haan, 1988; e ISRAEL, Jonathan. I. Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740. Oxford:
Oxford University Press, 1989.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
265
objeto constituído entre continuidades iconográficas, descontinuidades políticas e
diferenças atlânticas.
Iconografia de topografia pátria e ideologia de Estado nos anos 1610
Como afirmara J. L. Price, os anos de 1618 e 1650 foram críticos para o corpo
político da República dos Países Baixos Unidos.5 Ambos foram precedidos pela
criação imagética de representações de paisagem em séries de impressos com
temática topográfica. Porém, houve uma assimetria dupla em relação aos dois
conjuntos caros aqui a esta análise. Os impressos dos anos 1610 focavam os lugares
pátrios holandeses, sobretudo Haarlem; as gravuras de 1645, de Frans Post, tinham
como tema central o território da Nova Holanda. Ademais, por um lado, o primeiro
conjunto, relacionando-se à ideologia de estado orangista, tal como aventada a partir
do coup d’état de Maurício de Nassau, em 1618, marcou o advento da identificação da
iconografia emergente a uma paisagem política específica. Por outro, o segundo
conjunto foi talvez uma última defesa dessa ideologia durante a crise que terminou
por pender a balança política da república a favor do governo civil e da ideologia do
livre comércio. Para que esta hipótese adquira validade, é preciso, entretanto, que
demonstremos a correlação entre a criação imagética das séries e as contingências
históricas dos períodos em que elas foram urdidas.
Comecemos com as séries dos anos 1610. Após a retomada espanhola da cidade
de Antuérpia, centro comercial e financeiro de grande expressão no cenário europeu,
metade de sua população, identificada com a causa protestante, migrou para os
Países Baixos do norte. Isso significou que, ao longo dos últimos anos do século
XVI, 40 mil cidadãos de Antuérpia se juntaram a, pelo menos, mais outros 100 mil
flamengos e brabanteses, na sua maioria, numa onda migratória que marcou
decisivamente a sociedade e os rumos da revolta ao norte dos rios Reno, Mosa e
Escalda.6
A maioria desse fluxo migratório dirigiu-se para Amsterdã, contribuindo, com o
estabelecimento de capitais e redes de contatos, para a consolidação dessa cidade
como a sucessora de Antuérpia no comercio e nas finanças, tornando-se já em fins
dos 1590 no centro de uma nova economia-mundo. Entretanto, parte dessa corrente
dirigiu-se para as cidades fabris de Leiden e Haarlem. Foi nessa última que vários
artistas gráficos se instalaram, levando não só toda uma tradição pictórica, associada
5
Cf. PRICE, J. L. Holland and the Dutch republic in the seventeenth century. The
politics of particularism. Oxford: Clarendon Press, 1994.
6 Cf. ISRAEL, Jonathan I. The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806.
Oxford: Oxford University Press, 1995.
ISBN 978-85-61586-70-5
266
IV Encontro Internacional de História Colonial
a uma linguagem visual considerada “realista” (naer ‘t leven), como também os
objetivos de constituir um mercado editorial sólido no norte.7
Assim, teóricos, como Karel van Mander, e artistas, como Hendrick Goltzius, de
origem flamenga, contribuíram para tornar a Guilda de São Lucas, em Haarlem, o
cerne de uma escola de representação imagética de paisagem. Não foi coincidência
que ainda no início do século, em 1603, Goltzius compôs desenhos com vistas
panorâmicas da região de Haarlem. Tidas como as inauguradoras da paisagem
“realista” holandesa,8 essas composições aliavam os temas paisagísticos a um modo
de construir a espacialidade figurativa de forma que o espectador pudesse a associar
com o aspecto visível da localidade representada. No ano seguinte, em 1604, Karel
van Mander publicou seu Schilder-boeck [livro do pintor], compilação de preceitos
teóricos e história de vidas dos artistas neerlandeses que acabaria por se tornar o
primeiro cânone da arte neerlandesa do século XVII. Nele, Van Mander incentivava
os jovens artistas, sobretudo interessados em paisagens, a acordar com a aurora e
cultivar passeios matinais para tomar esboços no campo, ao vivo, para dispor de
ideias com as quais executar as composições depois, já de volta ao estúdio.9
Apesar de Van Mander ter feito a distinção entre, de um lado, uma paisagem de
exortação poética não necessariamente associada a representação de lugar, e, de
outro, uma paisagem estreitamente vinculada à tarefa visual de fazer ver localidades
específicas, é indubitável que ambas as linguagens visuais foram empregadas quando
da necessidade de recorrer à produção de imagens para a construção das
identidades.10
É já um lugar-comum na historiografia, sobretudo depois de Simon Schama,
destacar o fato de que a necessidade de criação de mediações simbólicas - como a
identificação de lugares comunais através de sentimentos urdidos como pátrios - e
sua correlata dimensão ideológica para a construção de um novo Estado, foi uma
consequência da revolta e da resultante ruptura com a soberania Habsburg; e não o
7
Cf. GIBSON, Walter. Pleasant Places: the rustic landscape from Bruegel to Ruisdael.
Berkeley: University of California Press, 2000.
8 Cf. Catálogo de Exposição. Dutch Landscape: The Early Years: Haarlem and Amsterdam,
1590-1650. Curadoria de Christopher Brown. London: The National Gallery Publications,
1986.
9 Sobre a tradução do latim original para a língua inglesa do Capítulo VIII do Livro Primeiro
do Schilder-boeck, sobre a pintura de paisagem, cf. Idem. Sobre a importância para que o
Schilder-boeck viesse a constituir parte dos cânones da arte neerlandesa de princípios do século
XVII, cf. MELION, Walter S. Shaping the Netherlandish Canon. Karel van Mander’s
Schilder-Boeck. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
10 Cf. MELION. Ibidem.; e LEVESQUE, Catherine. Journey through landscape in
seventeenth-century Holland: the Haarlem print series and Dutch identity. University Park.
Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1994.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
267
contrário.11 Esse processo, já iniciado antes mesmo do início do século XVII, tomou
mais corpo, engajando a sociedade e seus artífices, durante os anos da Trégua dos
Doze Anos, de 1609 a 1621. Pausado o conflito com o inimigo estrangeiro, os
neerlandeses se viram diante da tarefa de, diante do “espelho do tempo”, se
perguntar “quem eram”, “de onde vinham” e “para onde iriam”. A produção de
imagens, sobretudo a paisagística e a cartográfica, tornou-se o lugar privilegiado para
essa construção simbólica.12
Assim, ainda em 1607, Claes Jansz. Visscher compôs alguns desenhos que
retomam a linguagem visual dos desenhos de Goltzius, mas em outra escala de
representação da paisagem observada: ao invés da distância panorâmica, Visscher
escolheu o close up de um aspecto de um caminho em curva, com casas e árvores ao
lado. A composição foi retomada posteriormente, entre os anos de 1612-13, para
integrar a série de impressos Plaisante Plaetsen. Algumas figuras humanas foram
adicionadas e uma legenda ajudava o espectador a situar a localidade: Aende Wegh na
Leiden [no caminho para Leiden].13 No mesmo ano de 1607, Karel van Mander
pintou uma paisagem que, embora sem ser representação topográfica, trazia no
centro do plano médio uma alusão à passagem bíblica da adoração do bezerro de
ouro.14
Eram duas maneiras distintas de relacionar a criação de imagens de paisagem às
circunstâncias históricas da construção identitária. De um lado, Van Mander, ao fazer
uso de uma alegorização da paisagem política, deixava ver uma crítica ao grupo social
que, preocupado com a lucratividade comercial, apoiava Oldenbarneveld – o líder
civil da república depois da morte de Guilherme de Orange – a fechar as negociações
da trégua com os papistas espanhóis. De outro, Visscher usava a estratégia de
representação topográfica a fim de construir uma imagem de identificação com os
lugares pátrios.
Examinemos mais detalhadamente o caso do último, que está mais diretamente
ligado ao nosso próprio objeto de estudo aqui nesta investigação. A série de
Visscher, Plaisante Plaetsen, é composta por doze páginas impressas, sendo a primeira
para a página título e as onze subsequentes contendo vistas de localidades no
11
SCHAMA, Simon. O desconforto da riqueza: A cultura holandesa na época de ouro, uma
interpretação. [1987] São Paulo: Cia. das Letras, 1992.
12 Cf. LEVESQUE. Journey through landscape in seventeenth-century Holland…; e
ADAMS, Ann Jensen. Competing Communities in the ‘Great Bog of Europe’: Identity and
Seventeenth-Century Dutch Landscape Painting. In: MITCHELL, W. J. T. (org.).
Landscape and Power. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, p. 35-64.
13 Cf. LEVESQUE. Journey through landscape in seventeenth-century Holland…; e
Catálogo de Exposição. Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620.
Curadoria de Ger Luijten et al. Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum/Waanders Uitgevers,
1994.
14 Cf. MELION. Shaping the Netherlandish Canon…
ISBN 978-85-61586-70-5
268
IV Encontro Internacional de História Colonial
entorno da cidade de Haarlem. Assim, surgem cenas como a de pescadores à beira
mar em Zantvoort; viajantes pelo caminho para Leiden; carroças transportando
produtos por caminhos próximos a estalagens; trabalhadores nos campos de
branqueamento de tecidos nas dunas próximas a Haarlem; e, por último, trigais nas
proximidades das ruínas da Huis te Kleef.15
Catherine Levesque chamou a atenção para o fato de que há uma dupla operação
discursiva associada à criação dessa identificação das localidades representadas a
lugares pátrios. Tratava-se de construir uma representação de topografia ao evocar,
através dessa linguagem visual do “realismo”, os topoi discursivos de paz, trabalho e
prosperidade. Por outro lado, essa constituição imagética da paisagem se
fundamentava como representação de lugares pátrios ao fazer também referência à
história recente da revolta contra os espanhóis. Como o castelo Huis te Kleef foi
usado pelos espanhóis como sede e quartel militar durante as operações do cerco a
Haarlem em 1573, na interpretação dessa autora, tratou-se da concepção de uma
retórica visual de persuasão com o fim pedagógico de alertar a nova geração, que via
e se identificava com a paisagem pátria de abundância, para o fato de que essa paz
havia sido conquistada com o sangue da geração passada. E, nesse sentido, o
lembrete histórico servia como admoestação para o futuro: a paz próspera só poderia
continuar existindo mediante uma paz vigilante.16
Destaquemos aqui dois aspectos dessa construção de sentido histórico, pelos
contemporâneos neerlandeses de início do século XVII, para os eventos em curso. O
primeiro deles, e o mais circunstancial, foi o de chamar a atenção para o debate
político em torno do futuro da trégua: se se haveria de conduzir as negociações aos
termos de uma paz duradoura; ou se retomariam as hostilidades contra o inimigo,
retomando a guerra. E um dos problemas cruciais aqui foi exatamente o das
fronteiras. Os imigrados, e parte da sociedade do norte, queriam a inclusão das
províncias sulistas no interior da soberania da república. O que implica que havia
um grupo, relativamente numeroso, descontente com a decisão política da assinatura
da trégua com a Espanha.
Daí porque a cartografia do período também se tornou palco de embate dessa
definição de uma territorialidade no interior da paisagem política.17 Mapas murais
eram confeccionados para fazer ver a totalidade das Dezessete Províncias dos Países
15
Para as referências iconográficas completas, cf. Catálogo de Exposição. Dawn of the
Golden Age…; e DE GROOT, Irene. Landscape Etchings by the Dutch masters of the
seventeenth century. The Hague: Lummus Nederland B.V., 1954-1979.
16 Cf. LEVESQUE. Journey through landscape in seventeenth-century Holland…
17 Sobre esse aspecto, cf. SCHAMA. O desconforto da riqueza…; LEVESQUE. Journey
through landscape in seventeenth-century Holland…; e ADAMS. Competing
Communities in the ‘Great Bog of Europe’: Identity and Seventeenth-Century Dutch
Landscape Painting…
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
269
Baixos, inclusive em arranjos próprios dos mesmos elementos iconográficos e
escritos de que se compunham as paisagens. Assim, era comum que em torno da
representação cartográfica central viessem dispostas vistas topográficas, tipos
humanos representando as populações locais de cada província, cartuchos
decorativos com alegorias e textos contendo narrativas com alusões históricas.18 Foi
o caso de mapas elaborados por Pieter van der Keere e Abraham Goos. E aqui,
novamente, Claes Jansz. Visscher teve participação importante, pois sua gráfica e
editora, à Kalverstraat, bem no coração de Amsterdã, tornou-se um centro de
publicações cartográficas. E, vale a pena lembrar, também de impressos
paisagísticos.19
O que nos traz ao segundo aspecto dessa construção de sentido histórico para o
problema da definição da paisagem política: não somente as fronteiras militares, mas
a natureza do Estado e de sua relação com a sociedade no interior dessas mesmas
fronteiras. Ou seja, aquilo que Simon Schama se referiu como a Geografia Moral.
Nesse sentido, se, por um lado, o período da Trégua dos Doze Anos aliviou as
pressões externas às fronteiras; por outro, foi uma época de tensão e ansiedade
internas.
As divergências religiosas que se iniciaram em torno do debate teológico no
interior da Universidade de Leiden terminaram por se associar a questões ideológicas
e políticas. O que começou como divergência nos púlpitos terminou como
confrontos armados nos anos de 1616 a 1618. De um lado, os seguidores de Jacobus
Arminius defendiam uma visão mais humanista e heterodoxa da doutrina de Calvino,
aproximando-se, pela aceitação da ideia de que a salvação era para todos. Havia aí,
então, um lugar central para a sugestão de que o cristão deveria se diferenciar por
condutas morais, aproximando assim os “remonstrantes” de outros grupos
confessionais, como menonitas, anabatistas e mesmo dos católicos. De outro, os
seguidores de Frans Gomarius contra-atacavam com uma veemente defesa da
teologia da predestinação. A implicação ideológica de tal desavença tornou-se
também política quando entrou em debate a questão da natureza da relação entre a
Igreja Reformada Neerlandesa e o Estado que se criava então. Novamente as
trincheiras se ergueram: de um lado, os arminianos defendiam preceitos espirituais
mais brandos, desde que a instituição religiosa estivesse mais submetida ao Estado; e,
18
Para uma descrição formal dos mapas, cf. WELU, James A. The Sources and Development
of Cartographic Ornamentation in the Netherlands. In: WOODWARD, David. Art and
Cartography. Six Historical Essays. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. Para
uma interpretação dos mesmos, cf. o capítulo “O impulso cartográfico na arte holandesa” em
ALPERS, Svetlana. A Arte de Descrever: A Arte Holandesa no Século XVII. São Paulo:
Edusp, 1999.
19 Cf. GIBSON. Pleasant Places…
ISBN 978-85-61586-70-5
270
IV Encontro Internacional de História Colonial
do outro lado, os gomaristas vociferavam em favor da autonomia da Igreja desde que
sob as bases de uma teologia socialmente mais rígida.20
Essa clivagem religiosa amplificou uma heterogeneidade social e cultural,
dificultando, embora ao mesmo tempo tornando mais ainda necessária, a construção
simbólica das identidades. Nesse sentido, a cartografia e a paisagística seriam não só
uma iconografia útil em representar o corpo político sem aludir a cabeças-de-estado
que não condiziam com uma república oligárquica apoiada na consulta e no
consenso como forma de respeitar as diversas comunidades em jogo; mas também
foram tipos de repertórios imagéticos que permitiram a construção de valores e
sentimentos comuns a essa variedade cultural. De um lado ou de outro da clivagem
religiosa, ou da ideológica, fossem adeptos ou críticos da paz com os espanhóis,
muito provavelmente todos se veriam identificados com suas comunidades civis,
sendo o burgo associado à ideia de gemeenteschap [comunidade cívica]. Assim,
enquanto as vistas nas séries paisagísticas constituíam de perto essa recepção através
da construção do sentimento pátrio pela identificação com o lugar da comunidade
civil, a inclusão das vistas das principais cidades provinciais nos mapas murais que
representavam a proposta da unificação política era já a fabricação de uma
comunidade nacional que respeitava a base cívica da soberania provincial.
Foi importante que esse processo social de construção das identidades fosse
tornado viável por uma circulação das imagens ampla o suficiente para que se
atingisse uma classe média de artesãos e/ou mesmo de jornaleiros especializados.
Daí que um editor como Claes Jansz. Visscher tenha preferido investir na técnica de
impressão por água-forte, e não tanto por gravura.21 Mesmo a gravação de imagens
por buril em placas de cobre era mais lenta do que a gravação pela agulha através do
processo químico. Assim, com placas mais rapidamente obtidas e de maior
versatilidade estilística, Visscher conseguiu colocar no mercado de arte uma
produção mais barata e mais impactante.22 Os estereótipos da paisagem pátria, em
linguagem realista e articulando topografia à ideia de paz próspera e vigilante,
terminaram por constituir o repertório visual de um imaginário popular.
Não tardou e, depois de Visscher, outros artistas criaram também suas séries de
desenhos paisagísticos ao longo dos anos 1610, como Esaias van den Velde, Willem
Buytewech e Jan van de Velde; alguns dos quais tiveram seus desenhos impressos
pelo próprio Visscher. Neles, vemos a recorrência de mesmas estratégias visuais para
20
Cf. ISRAEL. The Dutch Republic…
Cf. GIBSON. Pleasant Places…
22 Sobre a relação diretamente proporcional entre o tempo de trabalho e o valor final da obra
de arte na Holanda do século XVII, cf. BOK, Marten Jan. Pricing the Unpriced: How Dutch
Seventeenth-Century Painters determined the Selling Price of their Work. In: NORTH,
Michael & ORMROD, David. Art Markets in Europe, 1400-1800. Aldershot: Ashgate,
1998.
21
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
271
fazer o espectador remeter a imagem representada às localidades observadas. A
triangulação entre o observador, o vilarejo de Sparnewoude e a igreja de St. Bavo, em
Haarlem, à distância, num desenho de Jan van de Velde, criando o efeito de uma
espacialidade figurativa que coincidia com a espacialidade geográfica das localidades
em questão, estava novamente a serviço da retórica de persuasão pela lembrança.
Sparnewoude, uma pequena localidade, contígua aos pôlderes adjacentes ao dique
que levava de Haarlem a Amsterdã, fora rota de passagem das tropas espanholas na
década de 1570. O mesmo vilarejo era visto, no entanto, no desenho de 1616, com a
tranquilidade dos pastos e das plantações.23
Em todas as séries, abundavam as referências a ruínas, sobrevivências tornadas
alegoricamente em testemunhas oculares de uma história patriótica escrita com
sangue. Foi mesmo Jan van de Velde quem introduziu, em meio a uma série de
impressos que representavam os arredores de Haarlem, uma prancha com o motivo
de uma fortaleza na Zelândia. A suposta incongruência geográfica era o deslocar do
motivo alegórico da vigilância para sugerir que a paisagem do pôlder fértil e
próspero, tornada típica da Holanda, só podia ser pacifica e diligentemente cultivada
porque as fronteiras longínquas (ao menos para o viajante da poltrona ao lado da
lareira que se aprazia com as vistas impressas) eram vigiadas; constituíam mesmo os
baluartes da liberdade adquirida.24
E se esse tipo de estratégia visual, própria da retórica de imagens dispostas como
uma série iterativa, era sutil e muitas vezes só indiretamente cognoscível, então era o
caso de usar outra estratégia combinada, a de personificações, onde os conteúdos
alegorizantes eram mais explícitos. Foi o caso da página-título do Merckt der wysheidt
[O Mercado da Sabedoria], de Willem Buytewech. Nela, a topografia cedia espaço a
uma paisagem alegórica visualizada como o Hollandse Tuin [Jardim Holandês],
alegoria que dramatizava a espacialidade figurativa para designar a paisagem política
através do ideário de “Bom governo”. O jardim era delimitado por uma cerca e tinha
o Leo Belgicus a defender-lhe o portão. Em seu interior, a Dama da Holanda recebia
as mesuras tanto da nobreza local quanto das lideranças civis. Nos canteiros, a
laranjeira ostentava um galho partido e outro, verdejante, com duas laranjas,
representando o falecido Guilherme I e seus dois filhos, Maurício e Frederik
Hendrik, respectivamente. Do lado de fora, com duas caras, e ladeada pelo traiçoeiro
jaguar e por tropas armadas, a personificação da Espanha.25
23
Cf. DE GROOT. Landscape Etchings by the Dutch masters of the seventeenth
century…; e LEVESQUE. Journey through landscape in seventeenth-century
Holland…
24 Cf. LEVESQUE. Journey through landscape in seventeenth-century Holland…
25 Para a descrição e interpretação da página-título de Buytewech, cf. tanto SCHAMA. O
desconforto da riqueza…, quanto LEVESQUE. Journey through landscape in
seventeenth-century Holland…
ISBN 978-85-61586-70-5
272
IV Encontro Internacional de História Colonial
Nessa imagem, vemos a tentativa de Buytewech em propor, frente à ameaça
constante dos espanhóis, uma conciliação dos diversos grupos em jogo. Assim, para
que o jardim continuasse a dar frutos copiosos, era preciso que o Leão Neerlandês
unisse as províncias mediante o comum acordo das facções holandesas, sem se
esquecer de dar destaque central ao stadhouderschap [lugar-tenência] dos OrangeNassau.
Mas não era exatamente isso que se via nos tensos anos de meados dos 1610.
Apesar de tentar a conciliação, era óbvio que as posições tanto do líder civil –
Oldenbarneveld - quanto de sua base de sustentação política - a plutocracia das
cidades mercantis holandesas e sua influência nos Estados da Holanda e, através
desses, nos Estados Gerais da República - estavam mais para o lado dos
“remonstrantistas” arminianos. Ademais, tentando se desvencilhar das limitações
institucionais que Oldenbarneveld lhe impusera, Maurício de Nassau procura então
se aliar aos “contra-remonstrantistas” gomarianos, de um lado, e ao apelo popular de
outro.26
Assim, o stadholder aglutinou junto à sua causa o assim chamado Partido da Paz, o
grupo confessional mais próximo da ortodoxia calvinista e as cidades e as províncias
descontentes com a hegemonia das cidades holandesas comerciais, dentre as quais a
principal era, de longe, Amsterdã, no interior dos Estados Gerais. Nesse sentido,
para combater a força desses grupos através da preponderância econômica e política
dos Estados da Holanda, a alternativa política de Maurício de Nassau foi a do
discurso de respeito às diferentes comunidades civis e provinciais, propondo o
próprio posto de stadholder como mediação para a conciliação desses particularismos,
unindo a multifacetada soberania das províncias em torno de sua própria
prerrogativa aristocrática.
Para tanto, a utilização do repertório de vistas topográficas era crucial. Sem fazer
alusão a soberania de um nobre, mas enfatizando o lugar de cada comunidade civil,
assim geralmente amalgamando as diferenças no interior das clivagens de interesses
diversos, bastava ao orangismo se associar a essa iconografia para se difundir como
imagem do país como um todo, sem, no entanto, deixar o rastro de que essa
associação era tão construída como qualquer outra. Nesse sentido, artistas como
Visscher, sabidamente orangista e notório “contra-remonstrantista” – chegou a ser
diácono na Nieuwe Kerk em Amsterdã,27 tiveram um papel social preponderante na
criação de produtos culturais que ajudaram a usar a imaginação da paisagística para
naturalizar um projeto ideológico de Estado.
26
Cf. ISRAEL. The Dutch Republic…; PRICE. Holland and the Dutch republic in the
seventeenth century…; e ROWEN, Herbert H. The Princes of Orange. The stathouders
in the Dutch republic. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
27 Sobre a primeira caracterização, cf. LEVESQUE. Journey through landscape in
seventeenth-century Holland…, Sobre a segunda, cf. GIBSON. Pleasant Places…
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
273
A associação entre a topografia pátria e o orangismo passou a ser mais reforçada
quando da subida ao poder de Maurício de Nassau, com o golpe de estado que pôs
fim aos conflitos religiosos nas ruas e depôs o Advogado da Holanda,
Oldenbarneveld. Com o novo regime, as vistas topográficas não só continuaram a
ser usadas com a identificação pátria como engendraram toda uma nova escola de
pintura de paisagem, a partir da década de 1620. Eis a fórmula ideológico-imaginária
que inventou o período de ouro dos Países Baixos no século XVII.
Iconografia de topografia pátria e o contexto atlântico nos anos 1640
Quando Frans Post viajara para o Brasil, no início de 1637, a linguagem visual do
“realismo” já estava associada ao imaginário de topografia pátria na paisagística
neerlandesa. A sua primeira tela, Vista de Itamaracá, já apresenta essa característica. E
se a segunda tela, O Carro de bois, representa a paisagem pernambucana em alegoria de
abundância açucareira sem fazer menção à topografia, tratou-se de uma estratégia
que não voltou a se repetir nas telas que ele pintou depois e que chegaram até nosso
conhecimento hoje. Todas as cinco, datadas até 1640, foram compostas respeitando
o motivo da topografia das localidades oficiais da Nova Holanda.28
A conclusão a que chegamos na nossa tese de doutorado foi a de que se tratou do
uso daquele repertório de topografia pátria, como constituído pelas séries de
impressos na década de 1610, de forma que Frans Post estava representando, por
analogia no tratamento do tema, a Nova Holanda como terra pátria, como parte
integrante do corpo político neerlandês.
Fazer a paisagem política do Brasil surgir da relação entre vistas topográficas
dispostas em série era privilegiar uma maneira de conferir, através do cuidadoso
acuro da representação, uma distinção política que João Maurício pôde ter querido e
conseguiu fazer vigorar na corte de Vrijburgh; mas que pode não ter encontrado
muitos entusiastas na Holanda, sobretudo porque seus conflitos com a WIC se
agravaram após 1644, a despeito da iniciativa de mandar publicar o Rerum per
octennium in Brasilia.
O cuidado em representar cada câmara municipal, com seu brasão, através da
topografia paisagística, pode ter sido tomado como uma tentativa de representar a
Nova Holanda e suas localidades em equivalência direta entre o modo com que se
representava os Países Baixos Unidos e suas localidades, como vimos, sobretudo, no
uso de perfis topográficos para representar a base municipal da soberania
neerlandesa.
Então, a construção de uma imagem oficial da colônia em Frans Post se
relacionou a uma questão que passava pelo estatuto político da Nova Holanda e seu
relacionamento para com a soberania neerlandesa, tal como nas imagens identitárias
28
Cf. VIEIRA. Topografias Imaginárias…
ISBN 978-85-61586-70-5
274
IV Encontro Internacional de História Colonial
construídas na e pela cartografia. Mas então, nesse ponto, emerge um problema
crucial para essa construção cultural neerlandesa e atlântica: deveria a Nova Holanda
ser tratada como parte da soberania ou como conquista ultramarina? A resposta
dependia de uma outra: para quem?
A estratégia de representar a paisagem típica sem especificidade topográfica
correspondia a uma construção imaginária de lugar que operava outra visão política
para o território da colônia. A simplificação no emprego dos motivos açucareiros,
por exemplo, era uma forma estilizada de evocar o Suikerrijk, um território,
literalmente, “rico em açúcar”. No sentido desta análise, essa estratégia visual, relativa
ao período da paz nassoviana no Brasil, corresponde ao panorama encontrado na
composição de O carro de bois, de 1638, na qual a manipulação do observado
extrapolou a conformação visual do sítio de Sirinhaém a fim de fazer sugerir
genericamente a paisagem do Suikerrijk. Se essa mesma estratégia não se repetiu ao
longo da produção subsequente de Post para João Maurício, o foi como indício de
que não se tratava da paisagem política que o governador-general queria para a Nova
Holanda, tal como condizente com a ideologia orangista do Stadhouder Frederik
Hendrik. Daí porque a prancha do livro de Barlaeus que é correspondente ao tema
representa Sirinhaém nos mesmos modos da linguagem visual de vista topográfica. O
mesmo não aconteceu nas vinhetas do mapa de 1647, elaborado a partir de
levantamento geográfico de Georg Marcgraf e editado por Joan Blaeu, e não por
Claes Jansz. Visscher.29
Herman Wätjen argumentou que, quando do debate de se saber o que viria a ser
melhor para o negócio do Brasil holandês, se manter o monopólio do comércio à
WIC ou se abri-lo à livre iniciativa dos particulares, entre 1637 e 1638, a decisão
ocorreu sob o embate de pelo menos duas posturas divergentes. Assim, baseado na
observação de Wätjen, podemos afirmar que a Câmara da Zelândia era dominada
pelo grupo a favor do monopólio da W.I.C., enquanto a Câmara de Amsterdã, pelos
grupos em prol do livre comércio.30
Apesar de, por um lado, Wätjen ter afirmado que João Maurício fora “cético” em
relação a esse debate; por outro, Jonathan Israel sugeriu que as impressões do
governador-general terminaram por pesar a balança em favor do livre comércio.31
Em 1638 ficara decretado que a W.I.C. retinha o monopólio sobre alguns outros
29
Cf. VIEIRA, Daniel de Souza Leão. A Topografia Ausente: A Paisagem Política da Nieuw
Holland nas Vinhetas de Frans Post para o Mapa Mural BRASILIA qua parte paret BELGIS,
1643-1647. Clio - Revista de Pesquisa Histórica. Recife: UFPE, n. 29.1, vol. 1, 2011.
30 Cf. WATJEN, Hermann. O Domínio Colonial Holandês no Brasil: um Capítulo da
História Colonial do Século XVII [1938]. Recife: CEPE - Companhia. Editora de
Pernambuco, 2004.
31 Cf. ISRAEL. Dutch Primacy…
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
275
produtos, mas o açúcar, o produto mais rentável da colônia, esse ficara aberto ao
livre comércio.
Porém, se João Maurício sublinhou os aspectos do livre comércio que trariam
benefícios ao negócio do Brasil (de interesse a ambos os acionistas da WIC e os
Estados Gerais), o deve tê-lo feito mais pela necessidade imposta pela situação
conjuntural da economia da colônia do que pela convicção de uma política
econômica. Detenhamo-nos neste ponto a fim de investigar as implicações políticas
que se relacionavam com os dois interesses econômicos em jogo.
Ao se ater sobre a questão histórica do debate entre uma posição monopolista e
outra, liberalista, por assim dizer, em torno do comércio do açúcar do Brasil
holandês, W. J. Van Hoboken afirmou que foram os interesses de Amsterdã que
decidiram o sucesso do debate. No entanto, cabe aqui ressaltar que Hoboken havia
demonstrado que os interesses no livre comércio estavam relacionados à emergência
do partido libertino, que, sendo mais ligado ao republicanismo, propunha a
diminuição do papel do stadhouderschap dos Orange no arranjo político das forças na
governança.
Nesse sentido, o orangismo e o republicanismo, as duas correntes do pensamento
político neerlandês do século XVII, poderiam se antagonizar a ponto de trazer
“tensões latentes” e “conflitos” que podiam ameaçar o equilíbrio do
“comportamento político”; assim como ocorreu em 1650, quando do embate entre o
stadhouder e os Estados da Holanda em 1650. Ora, o episódio da tentativa de coup
d’état de Willem II em 1650 foi o clímax de um impasse entre as duas posições de que
falava J. L. Price; impasse esse que já vinha se agravando desde o começo das
negociações que levaram à Paz de Münster, em 1648.32
De fato, a confirmação da paz foi uma vitória dos Estados da Holanda sobre a
Casa de Orange. Sobretudo porque a nova situação em relação à política
internacional (as negociações de paz com a Espanha apontando para o fim das
hostilidades militares) permitiu que os Estados Gerais apoiassem a proposta de
diminuição do efetivo militar da República, o que poderia ser uma forma de minar o
poder do stadhouder, uma vez que um dos atributos de sua posição de liderança era
justamente a função de comando em guerra. Essa mesma manobra, a da diminuição
do efetivo das tropas, já tinha sido executada pela WIC após a saída de João Maurício
do posto de Governador-General da Nova Holanda, em 1644.
Com o stadhouder Frederik Hendrik adoentado, e Willem II ainda apenas tentando
ganhar o comando das tropas, em 1645-6, quem “dirigia efetivamente a República”
eram os irmãos Bickers, de Amsterdã, líderes que eram do partido da paz e principais
membros da plutocracia mercantil.33 Nesse sentido, a feitura das pranchas para o
livro de Barlaeus tornou-se, durante os anos de sua feitura, de 1645 a 1647, uma
32
33
Cf. PRICE. Holland and the Dutch republic in the seventeenth century…
Cf. ISRAEL. The Dutch Republic…
ISBN 978-85-61586-70-5
276
IV Encontro Internacional de História Colonial
arena de embate político em prol de Frederik Hendrik. Cabe lembrar que, a essa
altura dos acontecimentos, o Orangismo, estava cindido em três, uma vez que à
posição conciliatória de Frederik Hendrik, opunham-se os extremos de Willem II,
mais a favor do partido da guerra, e de Amalia von Solms, mais adepta do partido da
paz.34
Enquanto uma mescla de soberania provincial com prerrogativas de linhagem
principesca, a paisagem política proposta pelo discurso orangista-nassoviano para o
Brasil implicava a construção de alegorias de prosperidade em termos de vista
topográfica. Ao assim fazer, esse discurso operava em três níveis: 1) fazia do
particularismo de origem municipal, tão típico da soberania neerlandesa ao século
XVII, a base imaginária do corpo político; 2) removia a referência a uma cabeça
desse corpo político, a fim de evitar a evocação ao stadhouder como soberano,
articulando então as topografias como partes de um todo político que era sugerido
pela cartografia do país; e 3) ao propor a aplicação dessas categorias discursivas e
imaginárias a fim de elaborar uma geografia do Brasil, incluindo para isso motivos
tropicais, estava-se então procedendo a uma assimilação cultural da terra do Brasil ao
corpo político neerlandês. Em outras palavras, tratava-se de um projeto colonial.
Por outro lado, enquanto proposta republicana pautada nas noções de livre
comércio, a paisagem política proposta para o Brasil holandês mantinha os motivos
tropicais que aludiam e/ou conotavam a alegoria de prosperidade sem, no entanto,
querer precisar inseri-los numa estrutura de iconografia topográfica. Evitando as
implicações de inclusão política dessa última, a imagem do Brasil holandês
simplificou-se em estereótipo generalizante que exotizou o Outro, fazendo da
paisagem não especificamente um corpo político, a Nova Holanda; mas um corpo apolitizado, considerado imaginariamente nos termos de um suikerrijk. Em outras
palavras, não constituía um projeto de colonização, mas uma visão que propunha
imaginar a terra do Brasil em termos de conquista a uma colônia portuguesa. Nesse
sentido, o que se propunha era a manutenção de uma mínima infraestrutura local
(embora de relevância geopolítica para todo o Atlântico) que, permitindo a
continuidade da produção açucareira por portugueses, permitiria também a
manutenção do comércio holandês.
Ora, essa proposta republicana e liberal para a paisagem política do Brasil
holandês emergiu pela primeira vez na obra de Frans Post na tela O carro de bois, de
1638, ano em que um regime de chuvas benfazejas trouxe uma excelente safra,
justamente coincidindo com a promulgação da abertura do comércio do açúcar à
livre iniciativa.35 Num contexto tido como promissor, o imaginário da terra
abundante foi associado à paisagem ficcionalizada na tela de Post.
34
Ibidem.
Sobre os dados acerca das safras, cf. MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada:
Guerra e Açúcar no Nordeste, 1630-1654 [1974]. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998. Sobre a
35
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
277
Porém, se por um lado João Maurício deixara que os interessados decidissem a
sorte do debate em torno do Monopólio vs. Comércio Livre; por outro, afinado com
a proposta política do orangismo de Frederik Hendrik, o Governador-General não
podia permitir que tal imagem viesse a ser a imagem oficial da Nova Holanda. Daí
porque todas as telas subsequentes de Post que chegaram até hoje demonstram um
retorno à estruturação imaginária da terra em vistas topográficas.
Porém, o contexto histórico mudara em 1647, e em ambas as margens do
Atlântico. Com a posição do stadhouder fragilizada, os Bickers de Amsterdã puderam
imprimir a paisagem política para o Brasil que interessava ao republicanismo liberal.
O partido da paz tornara o projeto colonial de uma geografia neerlandesa para o
Brasil em uma imagem estereotipada.
Conclusão: a imagem do Outro como representação de si
Representar a terra do Brasil através de um repertório de vistas topográficas
associada à paisagem política neerlandesa teve, então, como viemos argumento em
nossas pesquisas, o efeito de incluir a Nova Holanda no interior da soberania
neerlandesa. E que essa construção cultural de sentido histórico foi parte do projeto
ideológico de estado proposto pelo orangismo.
No entanto, há um duplo desdobramento nessa atitude. O primeiro é o de
chamar a atenção para o fato de que o território açucareiro da Nova Holanda seria
um novo baluarte na guerra contra os ibéricos. A sua manutenção era a condição
para a permanência da prosperidade e da paz doméstica nos Países Baixos. Como se
àquele forte em Tholen, representado por Jan van de Velde nos anos 1610, tivesse
sido levado agora para os rincões das fronteiras da Nova Holanda, como o Forte
Keulen, no Rio Grande, ou o próprio Forte Mauritij no Rio São Francisco. Assim,
em plenas negociações com a Espanha, a ideologia orangista ainda se agarrava ao seu
lastro: a união e a mitigação das diferenças sob a bandeira da guerra e sob a liderança
do príncipe de Orange.
Ao mesmo tempo, representar o Brasil dessa maneira era também reforçar o
imaginário desse projeto para a própria sociedade neerlandesa. Era manter esse
imbricar de interesses provinciais diversos numa síntese entre a elite civil e a pequena
nobreza, a ortodoxia calvinista e a heterodoxia dos outros grupos confessionais,
todos apoiados no apelo popular do orangismo.
Mas o grupo social formado em torno das elites mercantis das cidades
holandesas, sobretudo de Amsterdã, ascenderam economicamente a um ponto que
lhe era difícil demover a vontade política quando fosse preciso. O desfecho das
negociações da paz com a Espanha, a instalação de um governo civil depois da morte
relação entre a tela de Frans Post e a safra de 1638, cf. LAGO, Bia e Pedro Corrêa do. Frans
Post {1612-1680}. Obra Completa. Catalogue Raisonné. Rio de Janeiro: Capivara, 2006.
ISBN 978-85-61586-70-5
IV Encontro Internacional de História Colonial
278
prematura de Willem II e o malogro da guerra atlântica pelo Brasil o demonstram
muito bem.
•
Não se trata aqui de reduzir o fenômeno cultural da fabricação da imagem ao
determinismo das relações socioeconômicas. Mas, por outro lado, de demostrar que
aquela produção não é isenta dessas últimas; não acontece fora delas.
Se, por um lado, uma leitura da arte neerlandesa do século XVII em sua relação
com a cultura e a sociedade é crucial aqui; por outro, é igualmente importante tomar
cuidado com possíveis generalizações, presas fáceis do reducionismo. É preciso
cuidado ao estabelecer a correspondência entre as mudanças nas relações sociais e
políticas após 1650 e as mudanças de gosto, com suas nítidas implicações de
tratamentos figurativos aos motivos pictóricos. Em J. L. Price vemos a ideia de que a
pintura neerlandesa – e esse argumento se conforma ao gênero mais popular de
pintura que era a paisagística, própria da classe de artesãos que emergiu no início do
século XVII, se enfraquece na medida em que a alta burguesia introduz valores
neoclássicos estrangeiros.36 Apesar da virada cultural na proposta de abordar a arte
neerlandesa nesses termos, esse modelo explicativo concebe o autêntico e o
vernáculo como intrinsecamente coincidentes com um generalizante âmbito popular
e nacional.
A agenda de estudar culturalmente a arte neerlandesa do século XVII pôde ser
relativizada e reelaborada na abordagem de Mariët Westermann. Segundo ela, na
primeira metade do século, as camadas populares e a burguesia mercante se
aproximam entre si e da nobreza orangista, fruto de uma mesma contingência
histórica para todos: a guerra de independência ao inimigo comum, o espanhol, e a
subsequente tarefa de construir interna e externamente um novo estado. No entanto,
depois de 1648, com o fim da guerra com a Espanha, o reconhecimento dos Países
Baixos Unidos pela comunidade de estados europeus, e o impressionante
crescimento do comércio global neerlandês, a burguesia mercante não precisava mais
se ver como par da nobreza ou das camadas mais pobres. Ao contrário, seu papel de
liderança pós-1650, com a abolição do stadhouderschap da casa de Orange, tornava
necessária essa diferenciação, o que exigia, porém, uma construção identitária mais
específica, com a criação de uma imagem própria de seu (novo) mundo social e
político.37
36
PRICE, J. L. Culture and Society in the Dutch Republic During the 17th Century.
New York: Charles Scribner’s Sons, 1974.
37 WESTERMANN, Mariët. A Worldly Art. The Dutch Republic, 1585-1718. New Haven:
Yale University Press, 2007.
ISBN 978-85-61586-70-5
Encontros com a história colonial
279
No entanto, esse processo não foi nem de longe homogêneo e dicotômico. A
“economia da dádiva”, tida como “aristocrática”, e a “mercadorização” da arte,
supostamente “burguesa”, não foram fenômenos culturais isolados e excludentes um
do outro, mas algo muito mais complexo. É nesse sentido que devemos considerar a
“aristocratização” dos gostos burgueses pós-1650, de que falava Westermann. Mais
ainda, é nesse quadro que devemos pensar o fenômeno da disseminação cultural do
modelo das Kunst e Wonderkamers, inicialmente relativas à nobreza, e depois estendida
às coleções particulares da burguesia mercante nos Países Baixos da segunda metade
do século XVII.
ISBN 978-85-61586-70-5
Download