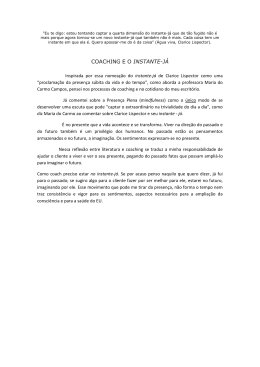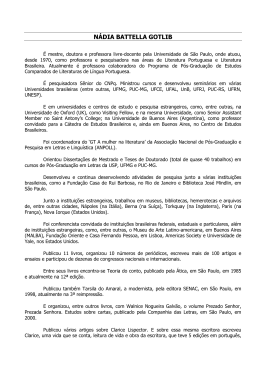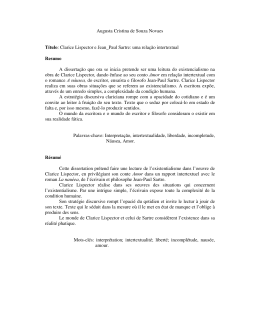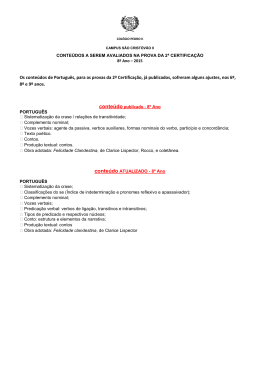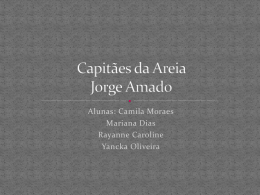ADRIANA CARINA CAMACHO ÁLVAREZ DO REINADO DO AUTOR A SEU ESTILHAÇAMENTO NA ESCRITURA NOS ROMANCES DE INTROSPECÇÃO: LÚCIO CARDOSO E CLARICE LISPECTOR PORTO ALEGRE 2009 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS ÁREA: ESTUDOS DE LITERATURA ESPECIALIDADE: LITERATURA BRASILEIRA, PORTUGUESA E LUSOAFRICANA LINHA DE PESQUISA: LITERATURA BRASILEIRA DO REINADO DO AUTOR A SEU ESTILHAÇAMENTO NA ESCRITURA NOS ROMANCES DE INTROSPECÇÃO: LÚCIO CARDOSO E CLARICE LISPECTOR ADRIANA CARINA CAMACHO ÁLVAREZ ORIENTADORA: PROFA. DRA. ANA MARIA LISBOA DE MELLO Tese de Doutorado em Literatura brasileira, portuguesa e luso-africana, apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PORTO ALEGRE 2009 2 DEDICATÓRIA aos meus pais, pela dádiva da vida plena 3 AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar, quero agradecer às professoras Maria Eunice Moreira, Marta Cavalcante de Barros e Cláudia Mentz Martins, que gentilmente aceitaram o convite para participar da banca examinadora na defesa da minha tese. À minha orientadora, Ana Maria Lisboa de Mello, pela orientação, pelo estímulo e também pela amizade durante estes últimos oito anos de convívio e de intenso trabalho. Agradeço ao Programa de Estudantes Convênio de Pós-Graduação – PEC/PG da CAPES por custear os meus estudos de Doutorado e a minha permanência em Porto Alegre durante os últimos cinco anos. A todos os professores e colegas de Doutorado que contribuíram para o enriquecimento do meu saber e da minha pessoa. Ao pessoal da Secretaria de Pós-graduação e, principalmente, a Canísio Scher, pelo paciente e gentil apoio em todos os trâmites burocráticos requeridos para a estada de um estudante estrangeiro no país. Aos amigos verdadeiros, aos mestres, à minha família, às crianças, que são o pilar central da minha estrutura; sem eles, certamente não teria concluído esta etapa tão árdua da minha vida. Gostaria de agradecer especialmente aqui ao meu irmão e a sua família, à minha prima Verónica e família, à Marita e à minha afilhada Abril, à Belisa e família, à Rosita, à Virginia, a Leonardo e Gabriela, à Blanca, à Ana, à Taninha, à Beatriz, à Carla Carolina, à Siloé, a Carlos Gutterres, a Cleber, a Dila, à Iriabela, à Ivete, à Jana, à Rossana e à Teresinha. À Stella, pelo testemunho do amor universal e pela sintonia de alma que nos mantém sempre unidas para além de qualquer distância. Ao meu pai, por ter me ensinado a responsabilidade e pelo carinho. À minha mãe, por tudo isso e muito mais; por ter sido o meu principal apoio nesses anos todos de Brasil e pelo amor de sempre. A meu amor, pela parceria, pela paciência, pela paixão: pelo Amor. 4 RESUMO Na história literária, o século XX é o século do romance. E, especificamente, do romance moderno, que irá refletindo as transformações sofridas pelo homem e pela sociedade em um período tão turbulento da história da humanidade. O nosso trabalho aborda a obra romanesca de dois autores brasileiros, Lúcio Cardoso e Clarice Lispector, para mostrar como essa grande mudança se manifesta no seio da literatura brasileira. Também se propõe analisar as relações entre conteúdo e forma no trabalho de ambos os escritores e na sua ligação com os tipos de romance que cultuaram (romance tradicional ou romance moderno). O tratamento outorgado, nas suas obras – romances de introspecção –, aos aspectos mais importantes da forma romanesca, como a história, a intriga, o tempo, as personagens, o narrador, bem como os recursos poéticos empregados e o plurilingüismo da linguagem, determinarão, não apenas a sua localização na história literária, mas, mais profundamente, delatarão a postura do autor em face da realidade ou da vida. Por isso, no nosso trabalho, consideramos importante resgatar a visão do mundo que anima Lúcio Cardoso e Clarice Lispector e tentamos mostrar até que ponto ela é determinante do trabalho dos escritores sobre a palavra, ou, no sentido inverso, o quanto a lavor sobre a palavra pode ir moldando uma espécie de pensamento indeterminado (termo que tomamos de empréstimo a Georges Poulet), que, por sua vez, irá alimentando as novas incursões no domínio poético. Neste último caso, deparar-nos-emos, não mais com um Autor, cuja intenção controla e domina o jogo da criação, mas com um escritor que ensaia, a cada nova obra, uma forma de se aproximar cada vez mais daquilo que Roland Barthes sintetizava como “inexprimir o exprimível”, isto é, driblar o autoritarismo da linguagem e assim, poder “tirar ouro do carvão” (HE, p. 31): achar e sugerir, sob a fachada da linguagem e da realidade, o signo do que transcende linguagem e realidade e que, mais verdadeiro do que estas, atinge o cerne do Ser (Real) e não mais apenas os seres e as coisas. 5 RESUMEN En la historia de la literatura, el siglo XX es el siglo de la novela. Y, específicamente, de la novela moderna, que irá reflejando las transformaciones sufridas por el hombre y por la sociedad en un período tan turbulento de la historia de la humanidad. Nuestro trabajo aborda la obra novelesca de dos autores brasileños, Lúcio Cardoso y Clarice Lispector, para mostrar cómo ese gran cambio se manifiesta en el seno de la literatura brasileña. También se propone analizar las relaciones entre contenido y forma en el trabajo de ambos escritores y en su vinculación con los tipos de novela que cultivaron (novela tradicional o novela moderna). El tratamento otorgado, en sus obras –novelas de introspección–, a los aspectos más importantes de la forma novelesca, como la historia, la intriga, el tiempo, los personajes, el narrador, así como los recursos poéticos empleados y el plurilingüismo del lenguaje, determinarán, no solo su situación en la historia literaria, sino que además, más profundamente, delatarán la postura del autor de cara a la realidad o a la vida. Por eso, en nuestro trabajo, consideramos importante rescatar la visión de mundo que anima a Lúcio Cardoso y a Clarice Lispector e intentamos mostrar hasta qué punto la misma determina el trabajo de los escritores sobre la palabra o, en el sentido inverso, en qué medida la labor sobre la palabra puede ir forjando una especie de pensamiento indeterminado (término que pedimos prestado a Georges Poulet), que, a su vez, irá alimentando las nuevas incursiones en el dominio poético. En este último caso, nos toparemos, ya no con un Autor, cuya intención controla y domina el juego de la creación, sino con un escritor que ensaya, en cada nueva obra, una forma de acercarse cada vez más a aquello que Roland Barthes sintetizaba como “inexpresar lo expresable”, o sea, burlar el autoritarismo del lenguaje y, así, poder “sacar oro del carbón” (HE, p. 31): encontrar y sugerir, bajo la fachada del lenguaje y de la realidad, el signo de lo que trasciende lenguaje y realidad y que, más verdadero que ellos, alcanza el núcleo del Ser (Real) y ya no tan solo a los seres y las cosas. 6 SUMÁRIO INTRODUÇÃO O romance de introspecção no Brasil 7 38 1 LÚCIO CARDOSO: O ROMANCE CRISTÃO COMO ENCENAÇÃO DO DRAMA PESSOAL DO AUTOR 55 1.1 O autor e seus fantasmas: entre o abandono e a danação 56 1.2 Os romances de Lúcio Cardoso: versões implícitas do autor 74 1.3 O conteúdo é que faz a forma: o romance introspectivo e cristão de Lúcio Cardoso como veículo do seu pensamento indeterminado 101 1.4 Crônica da casa assassinada: uma casa assombrada pelo fantasma do autor 147 1.4.1 A bivocalidade da prosa cardosiana em Crônica da casa assassinada 151 1.4.2 A visão estereoscópica de Crônica da casa assassinada 167 1.4.3 O autor implícito em Crônica da casa assassinada 171 1.4.4 A polifonia sob questão 173 2 CLARICE LISPECTOR: A ESCRITURA QUE SE CUMPRE NO TEMPO 2.1 O sentimento-pensamento indeterminado em Clarice Lispector 2.1.1 Perto do coração selvagem: germe ou fruto da póetica-visão clariceana? 179 180 200 2.1.2 Entre o ser e o não-ser: a busca pela realização do ser no Ser nos romances de Clarice Lispector 232 2.2 A tateante e incessante busca da forma e do conteúdo pela expressão – do ser pelo aparecer, do Real pelo apontar – na escritura de Clarice Lispector 276 2.2.1 O convite a um novo pacto narrativo nos romances de Clarice Lispector 330 2.3 A hora da estrela e Um sopro de vida: da representação do vazio ao vazio-pleno como (não-) lugar de inscrição do autor 373 3 CONCLUSÕES 403 4 REFERÊNCIAS 415 7 INTRODUÇÃO A flexibilidade formal do romance (ou poderíamos dizer mesmo, sua informalidade), principal motivo de menosprezo pelo gênero1 em seus primórdios, determina o hibridismo formal que constitui sua primeira característica definitória2 e que parece ter garantido seu sucesso como forma literária hegemônica da atualidade. Como observa oportunamente Belinda Cannone em Narrations de la vie intérieure: É preciso lembrar que a especificidade do romance é precisamente a de não conhecer nenhuma interdição, de não ter leis, nem regras, nem poética. É justamente isso, essa flexibilidade, essa liberdade, que o tornou capaz de transformar-se ao ritmo de uma sociedade em mutação rápida, garantindo sua hegemonia atual (CANNONE, 2001, p. 103, tradução nossa 3). Como aponta R.-M. Albérès (1962, p. 7), o romance passou a desempenhar todas as funções atribuídas historicamente aos demais gêneros, satisfazendo a todos os tipos de almas (científicas, sensíveis, polêmicas etc.) e é por isso que divisões genológicas rígidas não parecem encontrar acolhida neste megagênero: “O romance, outrora gênero secundário, inferior, torna-se imperialista e participa de vários gêneros ao mesmo tempo – ensaio, poema, ficção” (TADIÉ, 1992, p. 174). Nele cumpre-se, de forma paradigmática, a hipótese proposta por Emil Staiger em sua obra Conceitos fundamentais da Poética (1975), segundo a qual toda e qualquer obra literária apresenta traços líricos, épicos e dramáticos, pois estes termos designam significações que remetem, por sua vez, a qualidades simples, disposições da alma humana ou, ainda, virtualidades fundamentais da existência humana, guardando, entre elas, 1 O vestígio desse menosprezo subsiste no nome da forma literária, pois, como lembra Yves Stalloni, “‘romance’ é, primeiro um modo de expressão, uma ‘fala’ [...] antes de ser um tipo de obra. E este modo de expressão é de um registro inferior, popular, como a obra que ele designa, ela mesma de um nível subalterno por ser, ora traduzida ou adaptada do latim, ora diretamente escrita em uma língua não-nobre” (STALLONI, 1997, p. 60, tradução nossa). 2 Benedito Nunes destaca as seguintes características como legitimadoras do gênero romanesco: “Ao contrário da novela, que teve como matriz a anedota, o romance, de existência embrionária desde a Antigüidade [...], absorveu as expressões da cultura livresca – narrativas epistolares, relatos de viagens, crônicas históricas, estudos de costumes e investigações psicológicas das paixões e do caráter. A extensão da obra romanesca casa-se com o sincretismo ou o hibridismo de sua forma, que combina elementos díspares – digressões, comentário, expressão lírica e apresentação dramática – como diferentes ‘centros de interesses’, podendo narrar uma ou mais de uma história em um discurso de andamento variável, que tende a continuar, ao contrário da novela, para além do ponto culminante da ação principal (NUNES, 2003, p. 49). 3 Il faut se souvenir que la spécificité du roman est précisément de ne connaître aucun interdit, de n’avoir pas de lois, pas de règles, pas de poétique. C’est même cela, cette souplesse, cette liberté, qui l’a rendu capable de se transformer au rythme d’une societé en mutation rapide et qui a assuré son actuelle hégémonie. 8 estreitas ligações. O crítico alemão relaciona essas significações com o tempo e com a evolução do pensamento do homem4. O que determinaria a pertença de uma obra a um gênero específico, conforme Staiger, seria apenas o grau de participação ou o predomínio de uma dessas disposições na mesma. Assim, compreende-se facilmente o fenômeno de contínuo entrecruzamento de gêneros e sub-gêneros no romance. Apesar de ser um traço constante em qualquer tipo de romance, a distribuição das funções lírica e narrativa, bem como a intervenção de outras formas e seu papel dentro da obra em seu conjunto, variam notadamente em cada caso particular. No entanto, é possível marcar também diferenças mais globais nas duas linhas do romance que tomaremos como ponto de partida em nossa tese para pensar as obras de Lúcio Cardoso e Clarice Lispector: o romance tradicional e o romance moderno. Certamente, o romance tradicional, mesmo quando intimista, continua outorgando predominância à função narrativa e às convenções mais ligadas à mesma, enquanto no romance moderno, a lírica invade a prosa, tanto em função do teor introspectivo da mesma quanto pela opacidade que a linguagem adquire como resultado da nova função que o romance – preocupado com a pesquisa estética – lhe atribui. Todavia, o romance continua sendo romance e não poesia. É esse momento limite que Jean-Yves Tadié resgata quando define a narrativa poética em prosa como: A forma de narrativa que toma de empréstimo ao poema seus meios de ação e seus efeitos, a ponto que sua análise deve levar em conta, ao mesmo tempo, as técnicas de descrição do romance e aquelas do poema: a narrativa poética é um fenômeno de transição entre o romance e o poema. [...] a narrativa poética conserva a ficção de um romance: as personagens às que acontece uma história em um ou vários lugares. Mas, ao mesmo tempo, os procedimentos de narração remetem ao poema: há ali um conflito constante entre a função referencial, com suas tarefas de evocação e de representação, e a função poética, que atrai a atenção sobre a própria forma da mensagem (TADIÉ, 1994, pp. 7-8, tradução nossa 5). 4 Conforme Staiger (1975), o lírico corresponderia à recordação, ao passado, à criança e ao jovem e à expressão sensorial e emocional. O épico, à apresentação, ao presente, ao adulto e à expressão figurativa. Por último, o dramático, à tensão, ao futuro, ao velho e à expressão lógica. 5 Le récit poétique en prose est la forme du récit qui emprunte au poème ses moyens d’action et ses effets, si bien que son analyse doit tenir compte à la fois des techniques de description du roman et de celles du poème : le récit poétique est un phénomène de transition entre le roman et le poème. [...] le récit poétique conserve la fiction d’un roman : des personnages auxquels il arrive une histoire en un ou plusiers lieux. Mais, en même temps, des procédés de narration renvoient au poème : il y a là un conflit constant entre la fonction référentielle, avec ses tâches d’évocation et de représentation, et la fonction poétique, qui attire l’attention sur la forme même du message. 9 As técnicas narrativas que irão predominar no romance tradicional ou no moderno também variarão conforme os propósitos visados pelos mesmos. Por exemplo, em muitos romances modernos será comum a adoção da narrativa poética como técnica. Em decorrência da sua flexibilidade, as formas assumidas pelo romance têm sido inúmeras. Os critérios para sua classificação não são menos numerosos6, e foge a nosso objeto de estudo sua enumeração. O gênero romanesco atinge seu auge no século XIX com o romance histórico e com o Naturalismo, no final do mesmo século, quase chega a arrogar-se status de ciência. Mas, na verdade, é o fato de revelar a intimidade das personagens – junto com a flexibilidade formal assinalada – o traço que o define para além das diferentes classificações a que sua forma foi submetida no decorrer dos tempos. Do romance tradicional de Balzac ao romance modernista por excelência de James Joyce, à diferença do que acontece na vida real, na ficção romanesca temos acesso aos pensamentos dos outros, a sua vida interior. Albérès (1962, p. 8) chamará a essa disposição da obra romanesca de “impudor”. É preciso distinguir, no entanto, a partir do romantismo, como também alerta o crítico francês (1962, p. 28), entre o romance barroco, romance da emotividade, em que os sentimentos e paixões humanas eram disfarçados, por pudor, virando mera retórica do coração e apologia da virtude moral, e o romance intimista, da emoção, em que a verdade da alma humana é enfim revelada através da análise e da transcrição da intimidade humana, da consciência e da interioridade. É deste segundo tipo de obras que o ramo introspectivo do romance – começando pelo romance (tradicional) psicológico ou de análise – irá vingar, dando lugar ao que o crítico francês denomina romance de espessura7 (romance moderno). Lukács anota em sua Teoria do romance este momento da evolução romanesca sob o nome genêrico de romantismo da desilusão, em que a modalidade de inadequação predominante entre a alma e a realidade é a que decorre de a primeira revelar-se “mais ampla e mais vasta que todos os destinos que a vida lhe pode oferecer” (LUKÁCS, s. d., p. 117). É o momento em que, conforme o teórico alemão, processa-se “a substituição da efabulação concreta pela análise psicológica”, exprimindo “uma tendência para a passividade, a tendência para se esquivar de preferência a assumir os conflitos e as lutas exteriores, a tendência para 6 Stalloni (1997, p. 67), por exemplo, propõe três critérios: a) O contexto da intriga, b) A ação e c) A técnica narrativa. 7 Como veremos a seguir, esse romance de espessura o é por oposição à orientação longitudinal do romance realista e naturalista do século XIX, no sentido apontado pela personagem de Os moedeiros falsos, Eduardo, em sua dissertação acerca do romance e de suas posições em relação à forma. Reflete Eduardo: “’Um pedaço de vida’, dizia a escola naturalista. O grande defeito dessa escola é cortar sempre o pedaço no mesmo sentido; no sentido do tempo, ao longo. Por que não em largura? Ou em profundidade? Por mim, prefiro não cortar de jeito nenhum. Compreendem o que quero dizer: queria que entrasse tudo nesse romance” (GIDE, 1939, p.182). 10 acabar, dentro da alma e pelas suas próprias forças, com tudo o que a pode afectar” (LUKÁCS, s. d., p. 118). É essa tendência para a passividade (ou incapacidade de agir) que Alfredo Bosi – conforme detalharemos mais adiante –, retoma em sua classificação do romance (elaborada a partir do próprio Lukács e Lucien Goldmann), ao falar nos “romances de tensão interiorizada” (BOSI, 2000, p. 392). O último estágio deste processo de interiorização da forma romanesca, como aponta Guilherme Merquior (1996, pp. 205-206), estaria balizado pelo nascimento do “romance psicológico’ de tipo moderno8, ou seja, de estrutura não-linear”. Conforme o crítico, com James, Conrad, Svevo e Proust, “o relato de narrador impessoal e onisciente, usado pelos realistas e naturalistas, é substituído pela história contada do ponto de vista do herói-autor (Proust, Svevo) ou então, como em James e Conrad, pela narração construída com ponto de vista plurifocal, isto é, contada a partir da perspectiva dos vários personagens”. Este estágio, por sua vez, atingirá seu maior grau de realização com o romance de instrospecção de James Joyce, Virginia Woolf e William Faulkner. Auerbach define esse mesmo movimento da literatura nos seguintes termos, tomando como referência o romance Rumo ao farol, de Virgínia Woolf: O que é essencial é que um acontecimento exterior significante libera idéias e cadeias de idéias, que abandonam o seu presente para se movimentarem livremente nas profundidades temporais. É como se um texto aparentemente simples manifestasse seu verdadeiro conteúdo só no seu comentário, ou como se um tema musical simples o fizesse apenas na sua interpretação. Com isto, fica também nítida a estreita relação entre o tratamento do tempo e a ‘representação da consciência pluripessoal’, de que falamos antes. As representações da consciência não estão presas à presença do acontecimento exterior, pelo qual foram liberadas. A técnica característica de Virginia Woolf, tal como se apresenta no nosso texto, consiste em que a realidade exterior, objetiva do presente de cada instante, que é relatada pelo autor de forma imediata e que aparece como fato seguro, isto é, a medição da meia, é apenas uma ocasião (ainda que não seja uma ocasião totalmente casual): todo o peso repousa naquilo que é desencadeado, o que não é visto de forma imediata, mas como reflexo e o que não está preso ao presente do acontecimento periférico liberador (AUERBACH, 2004, p. 487). Essa mudança na ênfase do romance responde, por sua vez, a uma mudança histórica: no alvor do século XX, deparamo-nos com uma nova realidade, fragmentada e múltipla, na qual, além de não mais ser possível encontrar os valores absolutos da verdade coletiva que alicerçavam o mundo épico (o que determinou, conforme analisa Lukács, a passagem da 8 Corresponde ao que nós, no decorrer de nossa análise, chamaremos “romance moderno”, “romance de fluxo de consciência”, “romance de espessura” ou, ainda, “romance de pesquisa”. 11 epopéia para o romance como forma de representação da luta do indivíduo problemático em conflito e confronto com a alteridade radical do mundo exterior), o reinado da razão (e da ciência) já sofrera algumas derrotas ou fissuras, com as descobertas de Bergson, Freud e Einstein, demonstrando não ter a autoridade suprema que o positivismo lhe atribuía. A queda desses fatores que outorgavam sua coerência incontestável ao romance tradicional (à Balzac ou à Fielding), e, com isso, uma autoridade inquestionável ao narrador onisciente, deu lugar ao romance moderno, cujo grande precursor foi Laurence Sterne9. Como sintetiza Sonia Brayner em Labirinto do espaço romanesco, em The Life and Opinions of Tristam Shandy, o autor supracitado Resolve deliberadamente romper com o formalismo neoclássico em vigência, rejeita a cômoda estrada épica e retórica dominante e desloca o acento da narrativa das ações para as “opiniões”, do exterior para o interior. Vai propor uma obra em que as opiniões do protagonista, suas digressões sobre episódios e pessoas, sua ironia frente à sociedade e comportamentos humanos, assumem desde o início uma importância igual à história de sua vida. Com isto, opondo-se à tradição narrativa de seu tempo, tenta a aventura romanesca de unir a ação e a reflexão, fundindo a matéria romanesca e o ensaio, problematizando as questões fundamentais do ser humano. Destrói conscientemente o conceito de enredo (plot), optando pela incessante fragmentação da narrativa. A preocupação fundamental de Sterne jaz na busca de um romanesco sem preconceitos formais, para tanto solicitando a atenção do leitor para os elementos de composição de que o artista lançará mão para captar a realidade. Provocando uma sensação de “estranhamento” [...] destrói os hábitos de leitura e comunicação, automatizados, e cria através de seus artifícios uma visão fresca da experiência de nossas percepções. [...] Vence a experiência sobre a tradição, que passa a ser constantemente alvo de paródias e ironias. Deixa de lado as divisões de estilo para misturar vozes e gêneros (BRAYNER, 1979, p. 73). Assim – como também assinala Brayner (1979) –, embora a sondagem psicológica de Sterne se restrinja ao nível da consciência, a terra estará semeada para que possam florescer as duas tendências características do romance no século XX: a ênfase na introspecção (ou na 9 Antes dele, e na fase da evolução romanesca que Lukács denomina idealismo abstrato (em que a forma outorga ainda uma maior ênfase à ação) temos a Miguel de Cervantes e seu Don Quijote de la Mancha, obra que contém já, em germe, a maioria das inovações propostas pelo romance moderno. Lukács (s. d., p. 106) considera Dom Quixote o primeiro grande romance da literatura universal por consistir no “primeiro grande combate da interioridade contra a baixeza prosaica da vida exterior” (LUKÁCS, s. d., p.107). Por outro lado, Ian Watt (1990, pp. 116, 153, 174, 227) salienta a importância de Samuel Richardson na evolução do romance para sua forma atual na qual a primazia é outorgada às relações humanas e à interioridade das personagens no âmbito do quotidiano. Já a crítica francesa (por ex. Zeraffa, 1971, p. 46 ou Tadié, 1992, p. 17) aponta a figura de Stendhal como iniciador desse mesmo movimento para a intimidade da personagem. 12 representação do fluxo de consciência) e a introversão narrativa (autoreferencialidade do texto literário). O romance passa freqüentemente a adotar a forma de uma narrativa intimista voltada para o desvendamento de seus próprios artifícios, uma narrativa que faz questão de deixar à mostra as costuras que seu vistoso tecido oculta. Da mesma forma, é com Sterne que o leitor começa a ser compelido a participar ativamente da obra romanesca, através de chamados de atenção e instruções (intromissões, muitas vezes, inoportunas e desrespeitosas) endereçados, de forma direta, a um ou a vários narratários. Todas essas inovações rompiam o encanto da ilusão de realidade e chamavam a atenção para a ficcionalidade do relato. Essa mudança do centro da representação, do mundo exterior, isto é, dos acontecimentos que constituíam a intriga (ou história), para o mundo interior das personagens e sua visão particular desses mesmos acontecimentos (junto com o impacto que os mesmos causam no seu âmago) – isto é, a substituição do fato pela experiência –, leva os escritores a buscarem técnicas e recursos que melhor pudessem dar conta dessa realidade inacessível para todo indivíduo, que é a interioridade do outro, cada vez mais profunda e amplamente sondada. A mais importante e difundida dessas técnicas é o monólogo interior, que, em boa medida, exclui a ação: O monólogo, fundado sobre a ilusão da perfeita coincidência do locutor e do destinatário, não saberá designar, então, mais do que a vida interior do protagonista. Como se fosse uma precipitação de subjetividade pura, o monólogo, em cujo seio se acumulam observações, interrogações e lembranças, tenta excluir toda constatação e toda marca de ação: a arte do escritor consiste em sugerir os atos de sua personagem em torno dos seus pensamentos (HUBIER, 2003, p. 107, tradução nossa10). A mais antiga técnica de mostrar o mundo interior da personagem ao leitor é a própria descrição (e explicação) dos seus estados de espírito (sentimentos, pensamentos, contradições, dúvidas, inquietações, angústias), muitos deles inconscientes para ela. Essa técnica, operada por um narrador onisciente (e que, portanto, faz uso da terceira pessoa), é o que Dorrit Cohn (1981, pp. 37 a 74) denomina psiconarrativa. Trata-se da mais significativa e abundante via de análise e de descrição da interioridade que o romance tradicional utiliza e, como aponta ainda a crítica norte-americana (Ibidem, p. 39), o protagonismo do narrador, no uso dessa técnica, 10 Le monologue étant fondé sur l’illusion de la parfaite coïncidence du locuteur et du destinataire, il ne saurait donc rien désigner d’autre que la vie intérieure du protagoniste. Comme s’il était un précipité de subjectivité pure, le monologue, au sein duquel s’accumulent observations, interrogations et souvenirs, tente d’exclure toute constatation et toute marque d’action : l’art de l’écrivain consiste à suggérer les actes de son personnage au détour de ses pensées. 13 costuma ser evidente. É também a mesma convenção à qual faz referência Käte Hamburger (1986, p. 57) quando, ao apontar as características próprias da ficção, chama a atenção para o uso de verbos dos processos internos em terceira pessoa. As outras duas técnicas utilizadas para exprimir a vida interior das personagens são o discurso indireto livre (que Cohn, 1981, pp. 121 a 166, chama discurso narrativizado) e o monólogo interior (ou monólogo citado, na terminologia de Cohn, 1981, pp. 75 a 120). A realização mais acabada do monólogo interior citado corresponderia ao que a autora denomina monólogo autônomo (pois parece prescindir de toda intervenção de um narrador11) e que apenas Joyce, no famoso final de Ulysses, teria concretizado. O monólogo citado é configurado por todas as intervenções diretas da personagem, seja pronunciadas ou pensadas. É interessante notar aqui – e como demonstra Auerbach (2004, p. 483) – que, ao utilizar o monólogo citado, o controle do narrador é ainda muito grande, pois é ele que escolhe que palavras citar e em que contexto, tendo em vista, além disso, uma finalidade específica para introduzir a fala referida. Assim, a autonomia da personagem permanece quase nula. Entre o monólogo citado e o monólogo autônomo, encontramos todas as formas de monólogo interior, caracterizado – como foi advertido pelo próprio criador oficial da técnica, Éduard Dujardin em Le monologue intérieur – pela simultaneidade entre o tempo de narração e o tempo da ação, bem como pelo fato de ser dirigido a si mesma pela personagem, não implicando a presença de um auditório ou interlocutor, como no caso do solilóquio. Vejamos um trecho do mais famoso e conceituado monólogo interior, o da personagem joyceana Molly Bloom de Ulisses: [...] eu odeio homem desastrado e se eu sabia o que aquilo significava é claro que eu tive de dizer não para salvar a aparência não compreendo você eu disse e não era natural pois que é mesmo é claro estava sempre escrito com o desenho de uma mulher naquele muro em Gibraltar com aquela palavra que eu nunca encontrei em parte nenhuma não fosse porque as crianças vêem que são tão novinhas então ele escrevia uma carta cada manhã 11 Oportunamente, Oscar Tacca (1983, p. 98, grifos do autor) adverte: “[...] seria difícil dizer se, no monólogo interior, se trata de um narrador que está dentro ou fora da história, pois o processo tende precisamente para a eliminação do narrador. Tal eliminação, contudo, não serve senão para realçar a sua presença: pois como é possível que o pensamento amorfo e nascente tenha passado para a linguagem articulada? Quem, e em que momento, o recuperou? [...] o monólogo interior é [...] uma contradictio in terminis: actividade mental pré-lógica vertida nos moldes – lógicos – do discurso, impressão convertida em expressão, silenciosa intimidade transformada em linguagem por obra de um narrador [...]. Ordem que pode reflectir a espontânea incoerência do fluxo interior, mas que pode ser produto de uma cuidadosa construção do autor – como no caso de Joyce.” E mais: “[...] mesmo nas passagens de estilo directo, o narrador está sempre presente. [...] por muito que diferencie as vozes, o narrador permanecerá sempre no primeiro plano da audição e da consciência” (Ibidem, p. 125, grifos do autor) 14 às vezes duas por dia eu gostava do modo que ele fazia a corte então ele sabia a maneira de grudar uma mulher quando ele me mandou as 8 papoulas grandes porque o meu dia era o 8 então eu escrevi na noite que ele me beijou no peito no celeiro do Delfim que eu não podia simplesmente descrever aquilo aquilo fazia você sentir como nada nesta terra mas ele nunca soube abraçar tão bem como o Gardner eu espero que ele venha segunda-feira como ele disse na mesma hora quatro porque eu odeio gentes que chegam a qualquer hora a gente vai na porta pensando que é o quitandeiro então é alguém e é a gente que está mal ajambrada ou é a porta da droga da cozinha que se escancara no dia que o velho do cara do Goodwin visitou por causa do concerto a gente na rua Lombard e eu logo depois do jantar toda vermelha e zanzando da cozinhar a comida de sempre não repare professor eu tive de dizer estou um horror sim mas ele era um verdadeiro de um velho de um cavalheiro no modo dele era impossível ser mais respeitoso ninguém para dizer que você estava fora você tinha que olhar pelo postigo como para o garoto de recados hoje eu pensei que era uma encomenda antes a entrega de um porto e uns pêssegos primeiro e eu queria me fazer de boba quando eu ouvi o rescorrescorresco dele na porta ele devia estar um pouquinho atrasado era 3 e ¼ quando eu vi as 2 meninas do Dedalus vindo da escola eu nunca sei bem a hora mesmo porque o relógio que ele me deu nunca parece estar andando direito eu devia mandar ver o que ele tem quando eu atirei aquele pêni para aquele marinheiro manco pela Inglaterra o lar e a beleza quando eu estava assoviando há uma garota encantadora que eu amo e eu não tinha nem mesmo botado minha combinação limpa ou posto pé de arroz em mim ou nada então daqui a uma semana nós vamos a Belfast quando ele vai ter de ir a Ennis (JOYCE, 1966, p.803, grifos nossos). Joyce constrói uma narrativa perfeita do fluir da consciência em sua espontaneidade, conseguindo manter, ao mesmo tempo, a ilusão de privacidade na intimidade. O princípio de livre associação é o que reina na narrativa, o eixo temporal da mesma é o presente (como mostram os grifos), não há separações entre as diferentes idéias ou lembranças (da mesma forma, os tipos de discursos estão mesclados, sem marcas formais de qualquer tipo que os distingam uns dos outros), nada é explicado (nem mesmo a quem se refere esse “ele” que Molly Bloom tanto nomeia), enfim, tudo acontece como na nossa mente, na nossa divagação interior. Ironicamente, porém, a psiconarrativa – como observa Dorrit Cohn – é a única técnica capaz de mostrar o inconsciente da personagem, pois, ao utilizá-la, é freqüente que o narrador explique sensações ou sentimentos que, para a personagem, são confusos ou mesmo ignorados. O monólogo autônomo mais acabado (do qual acabamos de citar um fragmento) pode chegar a dar conta do pré-consciente, mas isso é o máximo a que pode aspirar. É que, justamente, ao retratar o fluxo de consciência da personagem, embora possa trazer em seu bojo alguns sinais do inconsciente (como, por exemplo, associações cuja 15 razão desconhecemos, sendo, em princípio, incompreensíveis) – e a despeito do caráter fragmentado e ilógico dos pensamentos que transitam pela mente da personagem –, tudo passa-se no nível da consciência. Com o monólogo autônomo – como observa Humphrey baseando-se no exemplo do mesmo texto – é atingido um grau máximo de objetividade da narrativa, no sentido de que a autonomia da consciência em seu fluir não sofre nenhuma intrusão direta do narrador, embora o autor não deixe nunca de agir no texto, o que se evidenciará na identificação de um determinado autor implícito (é nesse sentido que interpretamos a colocação de Tacca citada na nota 12 desta introdução). Paradoxalmente, quanto maior é o intuito do autor de mergulhar na consciência da personagem, mais ele se afasta da possibilidade de atingir seu inconsciente de forma direta. Doravante, essa tarefa caberá também ao leitor, que, à maneira de um analista, deverá ir reunindo os fragmentos fornecidos pelo fluxo ininterrupto da consciência da personagem a fim de construir um sentido, sempre provisório e sujeito a novas interpretações. Não há um sentido unívoco, nem mesmo para o próprio autor da obra, que, neste terreno, converte-se em mais um leitor. Nesse percurso da terceira pessoa para a primeira, encontramos um leque de usos das três técnicas referidas, que constitui um instigante trabalho de pesquisa já realizado por vários estudiosos da literatura no que diz respeito ao trabalho dos mestres europeus e norteamericanos do gênero: Marcel Proust, Virgínia Woolf, James Joyce, William Faulkner, principalmente. Além da psiconarrativa, do monólogo narrativizado e do monólogo interior, Robert Humphrey (1976, p. 30 a 36)12, em seu famoso estudo sobre o fluxo de consciência no romance moderno, aponta outras três técnicas: o solilóquio, a técnica dramática e os versos. Quanto à forma de manter a ilusão do fluxo ininterrupto e da síntese espacial e temporal do mundo interior e exterior operada pela duração13, bem como a qualidade estritamente privada da vida psíquica (isto é, a intimidade), o crítico norte-americano numera recursos de vários tipos, dentre os quais, certamente o central é o relativo à livre 12 Cabe apontar que Humphrey utiliza uma outra terminologia para nomear as três técnicas citadas: monólogo interior direto, monólogo interior indireto e descrição de autor onisciente. 13 Como aponta Belinda Cannone, Virginia Woolf (e, certamente, poderemos estender a seguinte consideração para os grandes escritores de romances modernos de introspecção) “não acredita que a realidade seja externa e solidificada no exterior dos seres, mas, antes, que ela é uma relação entre o Eu e o mundo. E o ser não é mais que a sede, o meio das sensações pelas quais a realidade se deixa apreender” (CANNONE, 2001, p. 79, tradução nossa). 16 associação (o que ficou ilustrado perfeitamente em nossa citação do Ulisses), sobre a qual agem três fatores fundamentais: a memória (voluntária ou involuntária), a imaginação e os sentidos. Sobre essa chave, desenvolver-se-ão outros recursos, mais específicos, dos quais o romancista pode servir-se. Humphrey (1976, pp. 42 a 76) arrola e apresenta o que ele chama de artifícios cinematográficos (por ex. montagem de tempo e espaço, vista múltipla, flash-back) e artifícios mecânicos (tipografia e pontuação): suspensão do conteúdo mental de acordo com as leis da associação psicológica, representação da descontinuidade e condensação mediante um vasto repertório de figuras retóricas (ex. metáfora, anáfora, repetição, personificação, ironia, elipse etc.) e o uso de imagens e símbolos. Todos estes artifícios alicerçam o edifício fragmentário do romance moderno, bem como seu caráter parcialmente simbólico. Como é possível deduzir do exposto acima – e como apontamos anteriormente –, a descrição da interioridade obriga o escritor a fazer uso de recursos considerados mais característicos da poesia, acompanhando o aprofundamento introspectivo da narrativa. Esse auxílio dos recursos poéticos chega a ser determinante para a eficácia da obra literária moderna, pois, como observam Humprey (1976, p. 78) e Cannone (2001, pp. 71 a 73), o princípio de tensão narrativa baseado na intriga, isto é, o suspense, terá que ser substituído nas novas obras em que a mesma é, no mínimo, esvaziada, ou, então, praticamente inexistente. O suspense poderá ser mantido, mas, como assinala Mendilow (1972, p. 142), será um novo tipo de suspense: os escritores de ficção psicológica, na qual a ação física é subordinada à atividade emocional ou mental, retardam a velocidade do romance. Produzem um sentimento de suspense, fazendo o leitor ansioso, deixando-o aflito por saber quando afinal terá lugar a ação tão cuidadosa e vagarosamente construída. Enfim, o movimento geral do romance moderno é o descrito por Belinda Cannone nos seguintes termos: Essa irrupção da poesia no romance se manifestou nitidamente no tratamento da língua e na ausência da intriga. Como a poesia, o romance podia abster-se de uma história [...] como na poesia, é a língua por si mesma que se tornou o pilar do texto. É que no monólogo interior [...], a língua não mais era considerada o veículo da intriga, mas, antes, constituía, muito freqüentemente, a própria intriga. Para todos os autores de romances de 17 fluxo de consciência, a fidelidade à natureza, que é fidelidade à psique, ao fluxo da consciência, implica trabalhar com a precisão do escultor sobre as palavras, sobre sua matéria e seu sentido para que elas possam restituir as sensações e as percepções, as pujanças do desejo e da memória, as imagens e as idéias que a constituem (CANNONE, 2001, p. 71, tradução nossa 14). Além disso, o romance moderno, esteticista no sentido que se deduz da citação acima, serve-se muitas vezes da musicalidade e dos recursos sonoros da poesia para criar, como faz esta, um enlevo que, além de seduzir e dominar o leitor à maneira de um canto de sereia, fazendo com que ele prossiga na leitura de um assunto que não é de fácil compreensão, crie um efeito emotivo que o ajude a aproximar-se mais da interioridade que lhe é apresentada, ao identificar-se com os afetos da personagem, tornando-o, assim, um leitor mimético, na feliz expressão de Jean Rousset (1995, p. XIV). Além da atuação fundamental da linguagem poética, os autores assinalam outros padrões que podem servir para conferir unidade e coesão à obra, captando a atenção do leitor. Humphrey (Ibidem, p. 78) arrola sete: as unidades (de tempo, lugar, personagem e ação15), motivos condutores (ou leimotif), padrões literários preestabelecidos, estruturas simbólicas, arranjos cênicos formais, esquemas cíclicos naturais (estações, marés etc.) e esquemas cíclicos teóricos (por ex., estruturas musicais, ciclos históricos). No que diz respeito ao narrador e sua função, Belinda Cannone observa que, desde o nascimento do romance moderno, “quanto mais a psicologia individual da personagem adquiria importância, mais o narrador se tornava discreto e neutro” (CANNONE, 2001, p. 15, tradução nossa16). Na mesma linha de pensamento, Dorrit Cohn (1981, pp. 42-43) assinala que, com o romance moderno, passamos de um padrão de dissonância discursiva entre narrador e personagem para um de consonância discursiva entre ambos. A figura do narrador vai se apagando progressivamente, adaptando-se cada vez mais ao estilo, à linguagem da personagem. Na sua teoria do romance arquitetada em cima do conceito de dialogismo, 14 Cette irruption de la poésie dans le roman se manifesta nettement dans le traitement de la langue et dans l’absence d’intrigue. Comme la poésie, le roman pouvait se passer d’une histoire [...] comme dans la poésie, c’est la langue pour elle-même qui devint la clef de voûte du texte. Car dans le monologue intérieur [...] la langue n’était plus considérée comme le véhicule de l’intrigue mais constituait bien souvent l’intrigue même. Pour tous les auteurs des stream of consciousness novels, la fidélité à la nature, qui est difélité à la psyché, au flux de la conscience, implique de travailler avec la précision du ciseleur sur les mots, sur leur matière et leur sens pour qu’ils puissent restituer les sensations et les perceptions, les poussées du désir et de la mémoire, les images et les idées qui le constituent. 15 Como é sabido, o padrão que fundamenta o suspense criado pela intriga é a unidade de ação. 16 [...] plus la psychologie individuelle du personnage prenait d’importance, plus le narrateur se faisait discret et neutre. 18 Mikhail Bakhtin concebe três estilos de transmissão da palavra do outro no romance, que, por sua vez, implicam diferentes relações entre autor-criador, narrador e personagem. O teórico russo distingue, então, três orientações estilísticas, sintetizadas por Irene Machado em O romance e a voz (1995, pp. 112-113): estilo linear (embora o discurso do outro seja conservado integralmente, não são respeitadas suas características lingüísticas individuais, mantendo-se, durante toda a obra o mesmo tom, que obedece às regras de literaturidade); estilo pictórico (o narrador elabora estratégias mais sutis para interferir na fala da personagem, imprimindo o tom, humores e sentimentos desta, aproximando, assim, o discurso da personagem do discurso narrativo); deslocamento do discurso narrativo para o discurso citado (o narrador assume a linguagem das personagens e o autor desaparece). O narrador talvez seja a convenção primeira do romance, pois, sem ele, em princípio, não seria possível a narração: alguém tem que contar. E, quando se trata de uma história (foco do romance tradicional), isso é imprescindível. O narrador paradigmático do romance tradicional é o narrador onisciente ou heterodiegético17, mas também se verifica, nesse tipo de romance, a ocorrência de narradores homodiegéticos e autodiegéticos. O narrador onisciente, por sua vez, pode ser intruso18 (quando introduz suas digressões e comentários, interrompendo, com isso, a continuidade da história contada, retardando ou antecipando o desenrolar da ação) ou neutro (quando não manifesta de forma direta sua posição em relação à história que está contando). Seja como for, como aponta Albérès, o narrador do romance tradicional está sempre no domínio de sua narrativa: Pouco importa que no romance tradicional as personagens ou os acontecimentos possam ser excêntricos, misteriosos, incongruentes: autor e leitor permanecem, em face deles, espíritos sensatos, medianos, ponderados. Experiência imediatamente comunicável, através do bom senso do autor e do leitor, experiência sem mistério, tornada atraente pela arte da narrativa, eis o romance tradicional (ALBÉRÈS, 1962., p. 129, grifos do autor, tradução nossa 19). 17 Cf. GENETTE, Gérard. Discurso da narrativa, s.d.. Alguns autores, como Oscar Tacca (1983, p. 18), por exemplo, atribuem todo tipo de digressão e comentário ao autor, restringindo a função do narrador a contar a história. Nós consideraremos narrador ao eu da narração, independente do tipo de enunciado exprimido. 19 Peu importe que dans le roman traditionnel les personnages ou les événements puissent être excentriques, mystérieux, incongrus : auteur et lecteur restent, devant eux, des esprits sensés, moyens, pondérés. Expérience immédiatement communicable, à travers le bon sens de l’auteur et du lecteur, expérience sans mystère, rendue atrayante par l’art du récit, tel a été le roman traditionnel. 18 19 Já no romance moderno, o narrador dificilmente será onisciente, pois esta modalidade romanesca se serve, na maioria dos casos, da focalização interna, isto é, tudo é narrado através da visão das personagens, ficando, o narrador, colado à mesma sem, praticamente, afastar-se dela. Há, porém, momentos em que o narrador se distancia, demonstrando, assim, ser onisciente e manifestando o que Bakhtin (1981, pp. 58 a 61) denomina princípio de extraposição do autor (a personagem ocupa o lugar do outro, mas o campo de visão do autor tudo abrange, objetificando, assim, esse outro, ao negar-lhe a inconclusibilidade que caracteriza todo indivíduo vivo) e determinação espacial da personagem, que concedem ao autor-criador o poder de “dar uma forma conclusiva a uma vivência em evolução”, a da personagem (MACHADO, 1995, p. 151), tornando o romance monológico em função do fechamento operado. De qualquer forma, as distinções e combinações narrativas se tornam muito mais complexas e difíceis de determinar no romance moderno. Temos ainda o caso de focalização múltipla ou variável, cuja realização mais acabada é o que Auerbach (2004, pp. 483-484), no capítulo de Mimesis intitulado “A meia marrom”, e a partir de sua análise do romance Rumo ao farol, de Virgínia Woolf, chama subjetivismo pluripessoal. O crítico alemão (Ibidem, pp. 495-496) mostra como esse “reflexo múltiplo da consciência” é resultado de um processo social maior ocorrido na passagem do século XIX para o século XX caracterizado pelo “enriquecimento em experiências, conhecimentos, pensamentos e possibilidades de vida”, promovido pelas novas descobertas científicas em todas as áreas do saber e pela proliferação de sistemas de crenças (ele denomina-as “seitas”) que não mais permitiam, por parte do escritor, a adoção de um único critério ordenador da realidade digno de confiança para a elaboração da sua obra. Uma característica importante das narrativas em que o escritor faz uso de um narradorpersonagem ou da focalização múltipla ou variável é o jogo de espelhos que se estabelece entre as diferentes personagens, cujas caracterizações passam, não mais apenas pelas definições do narrador, mas pelo olhar das outras personagens. Por outro lado – e em estreita relação com esse fenômeno –, vimos, em citação anterior de Belinda Cannone, como a crítica apontava para o esvaecimento do narrador à medida que a intromissão na intimidade e na interioridade da personagem se aprofundava. O ponto de chegada desse processo, conforme nos mostra Humphrey, em seu célebre ensaio O fluxo da consciência, estaria representado pelo monólogo de Molly Bloom, em que a personagem é praticamente (mas não totalmente) deixada a sós pelo autor. É justamente por isso que Dorrit Cohn (1981, pp. 245 e ss.) chama à técnica utilizada por Joyce “monólogo autônomo”. 20 Quanto à presença ou incidência do autor na obra literária, a teoria literária têm se dividido sempre, no histórico debate que Antoine Compagnon (2003, pp. 47 a 50) recupera em seu O demônio da teoria. Lembra o teórico que a corrente mais antiga identificava o sentido da obra à intenção do autor. Com os formalistas russos, a Nova Crítica e o Estruturalismo, porém, a intenção autoral é contestada como critério para determinar ou descrever a significação de uma obra literária. Dá-se então um confronto entre a História literária (tese intencionalista) e a Teoria Literária (posição antiintencionalista), que chega a decretar, na figura do estruturalista Barthes, a Morte do Autor: “Ao Autor como princípio produtor e explicativo da literatura, Barthes substitui a linguagem, impessoal e anônima” (COMPAGNON, 2003, p. 50). Conforme essa postura, o sentido do Texto não mais corresponderia ao que o autor quis dizer, mas alojar-se-ia na própria tessitura da linguagem. Para os autores que continuam a corrente intencionalista da teoria, autônoma sim, mas nunca independente podemos considerar a personagem, pois sempre é possível encontrar a marca do autor no texto literário, mesmo quando a figura do narrador perde autoridade – ou ainda visibilidade –, como no romance moderno. Como observa Michel Zeraffa, complementando a advertência efetuada por Tacca na nota nº 12: Para presentificar os conteúdos psíquicos e os objetos contingentes, o romancista que utiliza o monólogo interior precisa de um mediador que faça com que os elementos de fora e aqueles de dentro possam se (cor)responder e, com isso, esse escritor, ao recorrer a um modo narrativo subjetivo, mostrase mais soberano, mais onisciente do que Balzac, escritor da objetividade. [...] O Dentro e o Fora são confrontados por um desconhecido que respeita sua especificidade, sua heterogeneidade e sua fragmentação (ZERAFFA, 1971, pp. 134-135, grifos do autor, tradução nossa20). Narrador e leitor operam em conjunto um trabalho de decomposição e composição que, para Zeraffa, define a dinâmica intrínseca do romance moderno: 21 Pour mettre en présence des contenus psychiques et des objets contingents, le romancier qui utilise le monologue intérieur a besoin d’un médiateur faisant en sorte que les éléments du dehors et ceux du dedans puissent se repóndre, et en cela cet écrivain, recourant à un mode narratif subjetif, se montre plus souverain, plus omniscient que Balzac, écrivain de l’objectivité. [...] Le Dedans et de Dehors sont confrontés par un inconnu qui respecte leur spécificité, leur hétérogénéité et leur fragmentation. 21 Esse narrador ausente e anônimo, que presentifica uma vida psíquica e um universo externo igualmente ocasionais, é então agente de decomposição. Mais exatamente, ele mostra ao leitor que só o decomposto é real e verdadeiro. Ele nega que a pessoa seja uma entidade. Nega que o mundo seja uma ordem. No entanto, se ele é negador de todo discurso, se ele faz com que personagem e leitor realizem um trajeto incerto constituído de enfrentamentos “sem seqüência” entre um Eu e um não-Eu igualmente fragmentários, esse mediador invisível tem também uma função catalisadora, pois, graças a ele, um universo vai se compondo aos poucos. A missão do narrador – se o leitor colaborar com ele – é a de fazer aparecer as personagens para nós tentando refazer sua coerência e a do mundo (ZERAFFA, 1971, pp. 138-139, tradução nossa21). Wayne Booth (1980, p. 88) – claro representante da posição intencionalista – chama a esse desconhecido (conhecido no romance tradicional) de “autor implícito”22, definindo-o como o alter ego do autor presente no texto. É ele quem organiza a narrativa e o coral das personagens; é ele, enfim, quem direciona a obra para certo efeito visado. Explica Booth: Enquanto escreve, o autor não cria, simplesmente, um “homem em geral”, impessoal, ideal, mas sim uma versão implícita de “si próprio”, que é diferente dos autores implícitos que encontramos nas obras de outros homens. Na verdade, pareceu a alguns romancistas que se estavam a descobrir ou a criar a medida que escreviam (BOOTH, 1980, p.88). 21 Ce narrateur absent et anonyme, qui met en présence une vie psychique et un univers externe également occasionnels, est donc agent de décomposition. Plus exactement, il montre au lecteur qu’il n’est vrai et de réel que le décomposé. Il n ie que la personne soit une entité. Il nie que le monde soit un ordre. Mais s’il est négateur de tout discours, s’il fait en sorte que personnage et lecteur accomplissent un trajet incertain constitué d’affrontements ‘sans suite’ entre un Moi et un non-Moi également parcellaires, ce médiateur invisible a aussi une fonction catalysante, car grâce à lui un univers peu à peu se compose. La mission du narrateur, si le lecteur collabore avec lui, est de nous faire apparaitre des personnages essayant de refaire leur cohérence et celle du monde. 22 Bakhtin chamará ao “autor implícito” da terminologia de Booth, “autor-criador” e ao “autor empírico”, “autorhomem”. No entanto, os conceitos de Bakhtin e de Booh diferem em função das diferentes orientações e propósitos das suas teorias. Enquanto o autor implícito de Booth pode mais facilmente ser associado ao autor empírico, do qual constituiria uma imagem virtual ou textual, o autor-criador assemelha-se mais a “um encadeamento de centros” discursivos (KRISTEVA, 2005, p. 90, grifos da autora) ou, como define Irene Machado (1995, p. 92), a uma energia formativa. Todorov, por sua vez, utiliza a designação de “imagem do autor”, definindo-o nos seguintes termos: “O que diz eu no romance não é o eu do discurso, por outras palavras, o sujeito da enunciação; é apenas uma personagem e o estatuto de suas palavras (o estilo direto) lhe dá o máximo de objetividade, ao invés de aproximá-la do verdadeiro sujeito da enunciação. Mas existe um outro eu, um eu invisível a maior parte do tempo, que se refere ao narrador, essa “personalidade poética” que apreendemos através do discurso. Existe pois uma dialética da pessoalidade e da impessoalidade entre o eu do narrador (implícito) e o ele da personagem (que pode ser um eu explícito), entre o discurso e a história. Todo o problema das “visões” está aqui: no grau de transparência dos eles impessoais da história com relação ao eu do discurso” (Todorov, 1979, pp. 61-62). 22 Além disso, Booth atenta para o fato de que o autor pode ter vários alter egos ou “várias versões oficiais de si próprio”, tantas quantas obras tenha criado: “independentemente da sinceridade que o autor intenda, cada uma das suas obras implicará diferentes versões, diferentes combinações ideais de normas” (BOOTH, 1980, p. 89). No romance tradicional, não é raro que se confunda (parcialmente) o autor implícito com o narrador, pois a presença deste costuma ser patente em virtude das suas intervenções, intromissões e digressões que retardam a narrativa e não correspondem à voz de nenhuma personagem. Essas intrusões têm, freqüentemente, a função de introduzir no romance sentenças filosóficas e/ou morais que, ao sobrepor-se nitidamente à voz das personagens, ajudam a delinear a personalidade (textual) do autor implícito enquanto unidade ideológica da obra literária em seu conjunto. Os recursos retóricos utilizados com vistas à comunicação de certos conteúdos de cunho moral ou didático são, então, evidentes, constituindo o que o crítico norte-americano (1980, p. 24) denomina “retórica direta e autoritária”. É preciso notar, porém, que nem sempre o narrador confunde-se com o autor implícito, pois, como assinala Booth: “Persona”, “máscara” e “narrador” são termos por vezes usados; mas referem-se com mais freqüência ao orador da obra que, afinal, não passa de mais um dos elementos criados pelo autor implícito e dele pode ser diferenciado por amplas ironias. “Narrador” é geralmente aceite como o “eu” da obra, mas o “eu” raramente, ou mesmo nunca, é idêntico à imagem implícita do artista (BOOTH, 1980, p.90). É importante notar também que Booth (1980, p. 92) aponta para a possibilidade de elementos inconscientes que participariam da elaboração da obra literária. Dessa forma, o teórico sugeriria que a intenção autoral, ao não ser plenamente consciente, assumiria a qualidade de uma “intenção em ato” (COMPAGNON, 2003, p. 65). Essa categoria de autor implícito torna-se fundamental se considerarmos, junto com Jean Rousset, que “O escritor não escreve para dizer alguma coisa, escreve para dizer-se. [...] O artista não conhece outro instrumento de exploração e de organização de si mesmo que a composição de sua obra” (ROUSSET, 1995, p. V e VI, grifos do autor, tradução nossa 23). E, ainda, fazendo referência a toda uma tradição moderna da escrita, acrescenta o crítico: “antes 23 L’écrivain n’écrit pas pour dire quelque chose, il écrit pour se dire. [...] L’artiste ne connaît pas d’autre instrument de l’exploration et de l’organization de soi-même que la composition de son ouvre; 23 de ser produção ou expressão, a obra é, para o sujeito criador, um meio de autorevelação. [...] O artista vive sua obra, vive dentro de sua obra e é isso, sem dúvida, o que ele vive com o máximo de intensidade” (ROUSSET, 1995, p. VI e X, tradução nossa 24). Em decorrência disso, o autor passa a intervir no texto25 de uma forma diferente, menos direta, mas não por isso menos operante. Mendilow (1972, p. 254) chama a atenção para esse novo tipo de intromissão: o mergulho introspectivo no ser obrigaria o autor a colher os dados da história da interioridade que se propõe a contar no seu próprio cerne, único ao qual ele pode ter acesso em forma direta. Como sintetiza Zeraffa (1971, p. 171, grifo do autor, tradução nossa), “o contorno do conhecimento do romancista engloba a pesquisa ‘interior’ da personagem”26. Por outro lado, após sintetizar o que caracterizaria o romance de fluxo de consciência, Fletcher e Bradbury (1989, p. 334) atentam para o fato de que essa “representação do fluxo de uma psique humana sensível” redunda em uma “ficção que remodela a relação pressuposta entre autores e personagens, personagens e tempo, tempo e psique, e redefine todos os elementos significativos – história, enredo, desfecho – do gênero romanesco”. Belinda Cannone também faz referência a esse fenômeno quando reflete: [...] se é possível ler a evolução do romance moderno através das variações ‘do tratamento da interioridade, a tentação é grande de ir interrogar a interioridade do criador. Tanto é assim que, realizando sem parar essa experiência, a sentimos às vezes (e não estou falando de estilo), sinto às vezes alguma coisa que eu reconheço, com prazer ou grande desprazer, como a voz do autor (CANNONE, 2001, p. 104, tradução nossa 27). 24 [...] avant d’être production ou expression, l’oeuvre est pour le sujet créateur un moyen de se révéler à luimême. [...] L’artiste vit son oeuvre, vit dans son oeuvre, et c’est sans doute ce qu’il vit avec le maximum d’intensité. 25 Como lembra Walter Benjamin, a questão da intromissão do narrador (mais tarde, autor) constitui um atributo fundador da arte de narrar: “A narrativa [...] é ela própria algo parecido a uma forma artesanal de comunicação. Não pretende transmitir o puro ‘em si’ da coisa, como uma informação ou um relatório. Mergulha a coisa na vida de quem relata, a fim de extraí-la outra vez dela. É assim que adere à narrativa a marca de quem narra, como à tigela de barro a marca das mãos do oleiro” (BENJAMIN, 1983, pp. 62-63). Ora, consideramos que esse traço continua sendo imanente a todas as formas de narrativa que se sucederam até os nossos dias, independente da modalidade ou feição que as mesmas possam assumir. 26 [...] le contour de la connaissance du romancier englobe la recherche “intérieure” du personnage. Como também observa Michel Zeraffa (1971, p. 20, tradução nossa): “Se de Proust a Musil o espaço vivo da consciência (por oposição ao espaço e às formas do social, e aos acontecimentos históricos) é escolhido como campo romanesco fundamental, isso se deve sobretudo a que o domínio das funções psicológicas é o único ao qual o escritor considera ter acesso autenticamente, o único que ele pode observar de forma válida, o único, ao menos, que a seus olhos faz verdadeiramente referência.” 27 [...] si l’on peut lire l’évolution du roman moderne à travers les variations du traitement de l’interiorité, la tentation est grande d’aller interroger l’interiorité du créateur. D’autant que, nous en faisons sans cesse l’expérience, nous l’entendons parfois (et je ne parle pas de style), j’entends parfois quelque chose que je reconnais, avec plaisir ou grand déplaisir, comme la voix de l’auteur. 24 Diretamente relacionado com esse assunto, o romance moderno recoloca a questão da participação de material (auto)biográfico do autor no texto ficcional. Sobre isso, apontam Fletcher e Bradbury que O romance em escala grandiosa pode, pois, recorrer a materiais autobiográficos, porque o autor pode se sentir levado a escrever sobre o que conheceu, sentiu ou viveu, mas a obra ultrapassará seu caráter local. [...] Na criação literária, a experiência individual se transforma num “equivalente espiritual”; descobrindo-nos, desvelamos o mundo artístico que se encontra dentro de nós. E, como é apenas pela arte que emergimos de nós mesmos, o estilo de um escritor não é uma questão de técnica, mas uma visão ou uma totalidade simbolista. Assim, seu romance desvela o que já existe e mostra-nos abertamente: dessa forma, ele legitima sua lenta prosa cumulativa, suas cadeias associativas complexas, seu percurso de linguagem e percepção sensível, sua qualidade de auto-adensamento (FLETCHER e BRADBURY, 1989, p. 330). Afirmando essa mesma idéia, Antônio Cândido (1956, p. 75), em ensaio sobre a obra de Graciliano Ramos, e adotando uma visão mais psicanalítica, utiliza as expressões “autobiografia virtual” ou “autobiografia de recalques” para referir-se a Angústia, obra em que o autor alagoano acaba se revelando, consciente ou inconsciente, em suas próprias frustrações e obsessões, através do narrador autodiegético do romance, Luís da Silva. No entanto, é preciso cuidar para não cair em um biografismo crasso na interpretação das obras romanescas (e, certamente, não é isso o que faz Antônio Cândido). Talvez devamos apenas referir-nos, em relação ao que cabe de si ao autor no romance moderno de introspecção, ao que Massaud Moisés – aludindo ao trabalho de Osman Lins – denomina “autobiográfico transistórico”, porque “emergente das paragens mais fundas de seu psiquismo” (MOISES, 1996, p. 508). Em sua primeira obra, O grau zero da escritura, Roland Barthes apresenta a escritura como uma liberdade, uma escolha do escritor. Ao assumir a palavra escrita, ele está escolhendo uma linguagem, para além das condições a priori da língua e do estilo. Linguagem, que à diferença da fala (“uma duração de signos vazios, dos quais só o movimento é significativo”, BARTHES, 1974, p. 127), tem atrás de si toda uma história e uma longa tradição. Por isso é que 25 [...] a identidade formal do escritor só se estabelece realmente fora da instalação das normas de gramática e das constantes do estilo, no ponto em que o contínuo escrito, reunido e encerrado de início numa natureza lingüística perfeitamente inocente, vai tornar-se enfim um signo total, a escolha de um comportamento humano, a afirmação de um certo Bem, engajando assim o escritor na evidência e na comunicação de uma felicidade ou de um mal-estar, e ligando a forma ao mesmo tempo normal e singular de sua fala à ampla História de outrem. Língua e estilo são forças cegas; a escritura é um ato de solidariedade histórica. Língua e estilo são objetos; a escritura é uma função: é a relação entre a criação e a sociedade, é a linguagem literária transformada por sua destinação social, é a forma apreendida na sua intenção humana e ligada assim às grandes crises da História (BARTHES, 1974, p. 124). A escritura de um autor delata a tradição à que ele se filia, a sua posição nas trincheiras da história social e literária. E, para Barthes, neste momento da sua reflexão, não só a literatura é escritura; há as escrituras dos diferentes regimes políticos, há também as escrituras intelectuais. No âmbito da literatura, a linguagem privilegiada pela tradição clássica, e que chega ao romance realista, é a linguagem enobrecida das elites aristocráticas, que produz uma escritura realista-artística, que o conceito de literaturidade não faz mais que definir. Nesse sentido – e como também aponta Barthes, (1974, p. 157) –, a categoria do “bem escrito” está intimamente relacionada com a Literatura. Barthes, porém, estenderá o conceito de literariedade, associando-o ao conceito de originalidade, para, assim, proclamá-lo condição sine qua non da escritura literária: [...] todo escrito só se torna obra quando pode variar, em certas condições, uma primeira mensagem [...]. Essas condições de variações são o ser da literatura (o que os formalistas russos chamavam literaturnost, a “literaridade”, e [...] só podem finalmente ter relação com a originalidade da segunda mensagem. Assim, longe de ser uma noção crítica vulgar (hoje inconfessável), e sob condições de pensá-la em termos informacionais (como a linguagem atual o permite), essa originalidade é ao contrário o próprio fundamento da literatura [...] em literatura, como na comunicação privada, se quero ser menos “falso”, é preciso que eu seja mais “original”, ou, se se preferir, mais “indireto” (BARTHES, 1982, p. 19). A partir da constatação de que toda originalidade poderá ser prontamente absorvida pelo código lingüístico, instaurando uma nova tradição incorporada pela língua como forma social e histórica, e penetrando o estilo do escritor, Barthes conclui seu ensaio com 26 uma reflexão em torno da arte e da literatura modernas, mostrando a miséria e a grandeza do trabalho do escritor: Existe [...] em toda escritura presente, uma dupla postulação: há o movimento de uma ruptura e o de um advento, há o próprio desenho de toda situação revolucionária, cuja ambigüidade fundamental é que a Revolução deve tirar daquilo que quer destruir a própria imagem do que quer possuir. Como a arte moderna em sua totalidade, a escritura literária traz consigo, ao mesmo tempo, a alienação da História e o sonho da História: como Necessidade, ela atesta o dilaceramento das linguagens, inseparável do dilaceramento das classes: como Liberdade, ela é a consciência desse dilaceramento e o próprio esforço para ultrapassá-lo. Sentindo-se constantemente culpada de sua própria solidão, ela não deixa de ser uma linguagem sonhada cujo frescor, por uma espécie de antecipação ideal, representaria a perfeição de um novo mundo adâmico, em que a linguagem não mais seria alienada. A multiplicação das escrituras institui uma Literatura nova, na medida em que esta só inventa sua linguagem para ser um projeto: A Literatura torna-se a Utopia da linguagem (BARTHES, 1974, p. 167). Seja como for, das colocações barthesianas contidas em O grau zero da escritura é possível extrair a afirmação de uma intencionalidade por parte do autor, não só em relação à forma por ele escolhida, mas também em relação a toda uma ideologia e a um conjunto de valores que subjaz à mesma, em função da sua historicidade. Daí em diante, Barthes, em suas análises do texto literário, vai adotando gradualmente uma posição cada vez mais aintiintencionalista. Em “Literatura e significação” (1963), ao analisar o teatro de Brecht, Barthes afirmava que o dramaturgo tinha ilustrado como [...] a materialidade do espetáculo não dizia respeito somente a uma estética ou a uma psicologia da emoção, mas também e principalmente a uma técnica da significação; por outros termos, que o sentido de uma obra teatral (noção insípida geralmente confundida com a “filosofia” do autor) dependia, não de uma soma de intenções e de “achados”, mas daquilo que se deve designar como um sistema intelectual de significantes (BARTHES, 1982, p. 167). Em um próximo passo, em “Crítica e verdade” (1966) ele fará uma analogia entre a obra e o mito, decretando, então, a Morte do Autor28, para, assim, estar em condições de 28 “Respondendo à faculdade da linguagem postulada por Humboldt e Chomsky, existe talvez no homem uma faculdade de literatura, uma energia da palavra, que nada tem a ver com o “gênio”, pois ela é feita não de 27 propor uma nova definição de escritura, radicalmente antiintencionalista: “[...] a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso sujeito, o branco-e-preto onde vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve” (BARTHES, 1988, p. 65). Julia Kristeva (2005, p. 65), na esteira de Barthes, especifica que a escritura é “aquela literatura que torna palpável a elaboração do sentido como grama dinâmica”. É por isso que em nossa tese distinguirse-á entre literatura e escritura, restringindo este último termo às escrituras cujo tecido reflita um desejo de superação com respeito à língua consolidada, inclusive a literária. Em face desse radical antagonismo que Booth e Barthes tão bem representam, Compagnon pergunta-se: “Na realidade, interpretar um texto não é sempre fazer conjeturas sobre uma intenção humana em ato?” (Ibidem, p. 49). Após essa reflexão, ele prossegue sua abordagem do assunto, acompanhando a origem e evolução das duas tendências em confronto até chegar a uma posição de particular interesse para nosso objeto de pesquisa, pois nos auxiliará em nossa tentativa de pensar a presença do autor nas obras de Clarice Lispector e Lúcio Cardoso. Trata-se da postura assumida pela “crítica dita da consciência, a Escola de Genebra, associada sobretudo a Georges Poulet” (COMPAGNON, 2003, p. 65). Esta Escola proporá uma nova forma de abordagem da obra pelo método da empatia e identificação do leitor (ou crítico) a fim de chegar ao autor – através da sua obra e da identificação do seu projeto original – como consciência profunda (Ib., p. 65). O contexto histórico é geralmente ignorado por este tipo de crítica, em proveito de uma leitura imanente, vendo no texto uma atualização da consciência do autor, e esta consciência não tem muito a ver com uma biografia nem com uma intenção reflexiva ou premeditada, mas corresponde às estruturas profundas de uma visão de mundo, a uma consciência de si e a uma consciência do mundo através dessa consciência de si, ou ainda a uma intenção em ato. Esse novo tipo de cogito fenomenológico, caracterizado por grandes temas como o espaço, o tempo, o outro, Poulet o denominará [...] “o pensamento indeterminado”, que se exprime em toda obra. Permanece pois o autor, ainda que como “pensamento indeterminado” (COMPAGNON, 2003, p. 65). inspiração ou de vontades pessoais, mas de regras acumuladas bem além do autor. Não são imagens, idéias ou versos que a voz mítica da Musa sopra ao escritor, é a grande lógica dos símbolos, são as grandes formas vazias que permitem falar e operar. Imaginamos os sacrifícios que uma tal ciência poderia custar àquilo que amamos ou cremos amar na literatura quando dela falamos, e que é freqüentemente o autor. [...] como a ciência poderia falar de um Autor? A ciência da literatura só pode aparentar a obra literária, embora esta seja assinada, ao mito que não o é. [...] A morte tem outra importância: ela irrealiza a assinatura do autor e faz da obra um mito: a verdade das anedotas se esgota em vão, tentando alcançar a verdade dos símbolos” (BARTHES, 1982, pp. 217-218, grifos do autor). 28 Em relação ao método proposto pelos teóricos de Genebra, Chlandenius (Cf. COMPAGNON, 2003, p. 76) adverte quanto ao perigo que supõe considerar uma reflexão ou consideração pessoal do autor como critério preponderante (ou exclusivo) de interpretação de um determinado trecho ou mesmo de uma obra literária. Da mesma forma em que – como também advertia Chlandenius (Ibidem) – não poderemos esperar de um “pensamento indeterminado” a mesma coerência de um tratado filosófico, não poderemos desconsiderar que, na ficcionalização desse mesmo pensamento, é operada uma distribuição especial (que, como nos ensina Bakhtin consiste em todo um sistema de refrações positivas e negativas) das intenções autorais entre autor implícito, narrador e personagens, chegando inclusive ao leitor. De fato, em direta relação com as diferentes modalidades da instância narrativa e suas funções específicas, encontram-se as funções que as personagens desempenharão no romance. Dá-se, com efeito, entre autor implícito, narrador e personagens, uma distribuição singular de papéis (e freqüentemente também, uma retroalimentação entre eles) de acordo com o modelo narrativo adotado pelo escritor. Em sintonia com esse fenômeno – e fazendo parte dele –, a personagem sofre uma profunda transformação (de despojamento) na sua passagem do romance tradicional para o moderno. A teoria do dialogismo de Mikhail Bakhtin nos auxiliará no estudo das relações entre autor, narrador e personagens. Além dos estilos da transmissão da palavra de outrem, resulta fundamental para nosso estudo a distinção que o teórico russo realiza no segundo capítulo do seu Problemas da poética em Dostoiévski (1981) entre personagens que são objeto do discurso do autor e personagens que são sujeitos do seu próprio discurso. Também em relação às questões de gênero, as contribuições de Bakhtin são preciosas. Em Questões de literatura e estética: a teoria do romance (1934-35), ele esboça uma revolucionária teoria dos gêneros poéticos para a época, baseado em sua concepção da linguagem como fenômeno intrinsecamente social. Denunciando a artificialidade de uma lingüística ao serviço da palavra abstrata e de uma linguagem única inexistente de fato, Bakhtin mostra que a palavra viva é a que participa do diálogo social, isto é, toda e qualquer palavra. De fato, qualquer palavra é sempre atravessada pela palavra do outro; qualquer discurso supõe em si o discurso do outro, mesmo quando isso não seja explicitado. Existem múltiplas linguagens dentro de uma língua nacional, operando constantemente e em uníssono, que manifestam posições sociais diferentes dos sujeitos falantes, centros-de-enunciação diferentes, marcados por um cruzamento particular de vozes. É por isso que todo discurso é sempre dialógico em si, consistindo nisso a dialogicidade interna da palavra apontada por 29 Bakhtin. E é isso o que o autor denomina plurilingüismo social, isto é “a coexistência, na mesma voz gramatical, de pontos de vista (espaciais, temporais, valorativos, em suma, centros de valores) distintos” (TEZZA, 2003, p.226). Bakhtin diferenciará os gêneros de acordo com as possibilidades e potencialidades dos mesmos quanto a refletir esse plurilingüismo social. Em seu juízo, enquanto no discurso poético, a palavra, em decorrência do funcionamento do símbolo, pode, no máximo, aspirar a ser bissêmica, mas nunca bivocal, sendo despojada das intenções de outrem e levada, pelo poeta para um centro de valor unificador (o próprio); e no teatro, o diálogo que lhe serve de base, contribuiria para atenuar a representação do dialogismo interno da palavra, dividindo-o, digamos, em réplicas monológicas29, o romance seria um espaço privilegiado para representar artisticamente o concerto de vozes sociais de que a linguagem viva dá testemunho. Avançando em sua teoria, em Problemas da poética em Dostoievski, o autor apresenta sua definição de romance polifônico, instância que corresponderia à plena realização da representação do dialogismo e do plurilingüismo da linguagem. Quanto maior for a autonomia da voz das personagens, isto é quanto menos elas forem objetificadas (refratando apenas as intenções do autor) – sendo libertadas do centro de valores do autor para virar os porta-vozes das suas próprias posições ideológicas, podendo, inclusive opor-se às opiniões daquele – mais o romance será dialógico. Para que ele seja polifônico, não poderá haver, nesse concerto, uma voz altissonante: a palavra autoritária e excludente do autor deve ficar fora do romance. Assim, se as personagens, no romance, são sempre vozes em diálogo30, no romance polifônico, essas vozes deverão ser eqüipolentes. Para o autor, [...] as obras (os romances de Dostoiévski) em sua totalidade, enquanto enunciados de seu autor, são igualmente diálogos desesperados, interiormente inacabados, dos personagens entre si (como pontos de vista personificados) e entre o próprio autor e seus personagens; a palavra do personagem não é superada até o final e fica livre e aberta (como, igualmente, a própria palavra do autor). As peripécias dos personagens e de suas palavras, terminadas enquanto enredo, permanecem inteiramente inacabadas e não solucionadas nos romances de Dostoiévski (BAKHTIN, 1990, pp. 148-149). 29 Em “M. Bakhtin e a Palavra no Romance” (1983, pp. 92-93), Boris Schnaiderman aponta as limitações dos argumentos de Bakhtin no que concerne à poesia e ao gênero dramático. 30 Cabe notar que o uso de diferentes gêneros literários ou extraliterários dentro do romance, para Bakhtin, está a serviço da representação desse plurilingüismo social, constituindo mais um recurso para esses efeitos. 30 Esse “até o final” da citação acima, adverte, porém, sobre a possibilidade da polifonia ser perdida ao romance ser concluído. É preciso ter cuidado com o acabamento que será dado à obra, porquanto o risco de conferir uma unidade ideológica, geralmente associada ao centro de valor do autor, é grande. Como observa Boris Schnaiderman, citando, aliás, o próprio Bakhtin: Dostoiévski [...] entra em choque com a ideologia das personagens, expõe-na sem dar predomínio à sua própria, faz o leitor penetrar num mundo em que nenhuma idéia tem primazia sobre as demais, enfim num mundo dialógico, em oposição ao mundo monológico de tantas obras. Crime e castigo é um romance totalmente construído segundo este princípio dialógico, mas de final monológico: no desfecho o autor leva o leitor para a esfera de sua própria ideologia, de sua própria visão de mundo. Bakhtin explicita isto do seguinte modo: “Nos romances de Dostoievski, observa-se sempre um conflito original entre a incompletude interior das personagens e do diálogo e a finitude exterior (na maioria dos casos, compositiva) de cada romance” (SCHNAIDERMAN, 1982, p. 68, grifos do autor). A despeito disso, concordamos com Schnaiderman (1983, p. 88) quando ele assinala a necessidade de estabelecer níveis de dialogismo. Embora a realização plena do romance dialógico pareça uma utopia (pois sempre há, afinal de contas, um centro de valor operante, que é o do próprio autor31), o certo é que há obras em que, como queria Bakhtin, estabelece-se um diálogo inacabado, mais aberto, em que nem todas as respostas são oferecidas no final do romance, refletindo um novo modo de pensamento: o pensamento artístico polifônico, que ultrapassa os limites do gênero romanesco. Este pensamento atinge facetas do homem e, acima de tudo, a consciência pensante do homem e do campo dialógico do ser, que não se prestam ao domínio artístico se enfocados de posições monológicas (BAKHTIN, 1981, p.237, grifos do autor). Para finalizar sua reflexão sobre o tema que nos ocupa, Compagnon define – na esteira de Proust – o que seria, em seu juízo, a intenção autoral, num sentido profundo: A intenção não se limita àquilo que o autor se propusera escrever[...] nem tampouco às motivações que o incitaram a escrever [...] nem, enfim, à coerência textual de uma obra. A intenção, numa sucessão de palavras 31 Como também atenta Schnaiderman (1983, pp. 100-101), apoiando-se em Kójinov, o autor é sempre ativo, independente do grau de dialogismo do seu romance. 31 escritas por um autor é aquilo que ele queria dizer através das palavras utilizadas. [...] E seus projetos, suas motivações, a coerência do texto para uma dada interpretação são, afinal de contas, indicadores dessa intenção. Assim, para muitos filósofos contemporâneos, não cabe distinguir intenção do autor e sentido das palavras. O que interpretamos quando lemos um texto é, indiferentemente, tanto o sentido das palavras quanto a intenção do autor. Quando se começa a distingui-los, cai-se na casuística. Mas isso não implica a volta ao homem e à obra, uma vez que a intenção não é o objetivo e sim o sentido intentado (COMPAGNON, 2003, p. 92). Desta forma, Compagnon parece conseguir conciliar as posições de Booth e Barthes em uma síntese brilhante. Por outro lado, como assinalam Fletcher e Bradbury (1989, p. 333), essa virada para a interioridade (propiciada pelo Romantismo, mas consolidada definitivamente a partir da segunda metade do século XIX e, sobretudo, em inícios do século XX) revela um desejo de “libertar o romance de suas limitações anteriores – seu realismo plano e exterior, sua dependência em relação ao mundo material e às incertas contingências da prosa – e explorar com maior liberdade e intensidade o fato da vida e das ordens da consciência moderna”. Os autores mostram que a consciência humana passa a ser considerada estética em si, constituindo-se em princípio norteador da ficção, sendo que, a partir daí o romance moderno torna-se [...] o romance da consciência refinada, foge às convenções de apresentação dos fatos e da narração da história, dessubstancializa o mundo material e o põe em seu devido lugar, transcende as limitações e simplicidades vulgares do realismo, de modo a servir a um realismo superior32 (FLETCHER e BRADBURY, 1989, p. 334). Também, esta tendência introspectiva do romance, como assinala Auerbach (2004, p. 497) implica a valorização do acontecimento banal, qualquer, no sentido de ser nele, no quotidiano, onde se exprime a natureza comum do humano: qualquer evento pode 32 É este mesmo realismo superior que Theodor Adorno aponta como alvo obrigatório do romancista moderno quando afirma: “Não é só o fato de informação e ciência terem confiscado tudo o que é positivo, apreensível – incluindo a facticidade do mundo – que força o romance a romper com isso e a entregar-se à representação da essência e distorção, mas também a circunstância de que, quanto mais fechada e sem lacunas se compõe a superfície do processo social da vida, tanto mais hermeticamente esta esconde, como véu, o ser. Se o romance quer permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente são as coisas, então ele tem que renunciar a um realismo que, na medida em que reproduz a fachada, só serve para ajudá-la na sua tarefa de enganar. [...] O momento anti-realista do novo romance, sua dimensão metafísica, é ele próprio produzido pelo seu objeto real – por uma sociedade em que os homens estão separados unos dos outros e de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o desencantamento do mundo” (ADORNO, 1983, p. 270, grifos do autor). 32 desencadear a deflagração do mal-estar do indivíduo, independente do seu gênero, raça, religião ou visão do mundo. E como aponta Michel Zeraffa: Banal [...] mas totalizante, pois a personagem de Joyce, de Faulkner, de Döblin está envolvida em uma aventura que não é historicamente limitada: ela vive uma experiência inteira. Ao narrar não mais do que um fragmento de um destino, o romancista trabalha de modo a abranger o passado de seu herói e de esboçar, como mínimo, o seu futuro. [...] Na medida em que ele se afasta da cronologia, o romancista [...] nos dá uma imagem global e aprofundada da pessoa. [...] Muitos comentadores [...] têm insistido no efeito de condensação irradiante que se obtém graças ao monólogo (ZERAFFA, 1971, p. 145, tradução nossa33). Quanto ao mencionado movimento do romance para a introversão, embora John Fletcher e Malcolm Bradbury (1989, p. 323) atentem para a diferença existente entre o “fenômeno modernista que pode ser chamado ‘introversão narrativa’” e “a modalidade de narração autoconsciente”, que seria a desenvolvida por Cervantes e Sterne na sua forma mais acabada (mas sendo, como assinalam os mesmos críticos, bastante comum nos séculos XVII e XVIII), consideramos que da advertência que eles colocam depois quanto a que “a tática modernista contém esse tipo de virtuosismo, mas encerra também muitas outras coisas” (op. cit., p. 323) fica implícita a relação de antecedência e de influência que a segunda tem sobre o primeiro. De fato, seria absurdo negar que esta modernista modalidade da introversão, de acordo com a qual – como Fletcher e Bradbury descrevem – o romance “voltou-se para si mesmo”, aumentando acentuadamente o grau de apresentação auto-analítica do romance, intensificaram-se suas obsessões com sua própria tática de esquematização e estruturação; ele se tornou mais poético, no sentido em que passou a se dedicar mais à precisão da forma e composição, a se incomodar mais com a vagueza da prosa em seu uso popular escrito (FLETCHER e BRADBURY, 1989, p. 322) 33 Banale [...] mais totalisante, car le personnage de Joyce, de Faulkner, de Döblin est engagé dans une aventure qui n’est pas historiquement limitée : il vit une existence entière. Tout en ne narrant qu’un fragment d’une destinée, le romancier fait en sorte d’embrasser le passé de son héros, et d’esquisser à tout le moins son futur. [...] Dans la mesure où il s’écarte du chronologique, le romancier [...] nous donne une image globale et approfondie de la personne. [...] Plusieurs commentateurs [...] ont insisté sur l’effet de condensation irradiante obtenu grâce au monologue. 33 tenha se nutrido dos precedentes fixados por escritores como Cervantes ou Sterne. Por tudo isso, o romance moderno assume uma marcada feição de pesquisa: em primeiro lugar, porque a obra torna-se um enigma para o próprio escritor: o sentido não é mais preestabelecido. Como assinala Albérès (1962, p. 130), o romance não é mais contado (como o era o romance realista ou naturalista do século XIX), mas vivido. Segundo, essa pesquisa chega, através do questionamento da linguagem e dos recursos literários, ao bojo da própria significação, imbricada na mesma. Assim, a história do romance passa a ser, em primeiro lugar, a da própria narração em busca de um sentido. Assim, verificar-se-ia, a passagem de uma “literatura mimética” para uma “literatura autotélica” (FLETCHER e BRADBURY, 1989, p. 328). O processo de elaboração torna-se não só elemento integrante da lógica significativa da história: ele se torna, na verdade, a própria história. Em decorrência disso, os romances parecem se aproximar cada vez mais de sua natureza de construções verbais [...] sendo a forma não apenas um meio para lidar com o conteúdo, mas, em algum sentido fundamental, o próprio conteúdo (Ibidem). É esta segunda linha do romance (em relação ao romance tradicional) que seria propriamente modernista (moderna ou contemporânea), conforme distinção apontada por Malcolm Bradbury e James McFarlane em “O nome e a natureza do modernismo”. Dizem os autores: [...] qualquer boa definição sua [do modernismo] terá de incluir uma qualidade de abstração e artifício altamente consciente, levando-nos ao que está por trás da realidade familiar, afastando-nos das funções familiares da linguagem e das convenções formais. [...] O impacto, a violação das continuidades esperadas, o elemento de descriação e crise são componentes fundamentais do estilo (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 17). Esta, que “pode não ser a única corrente, mas é a principal” (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 20) do século XX, exprime “o advento de uma nova era de alta consciência estética e não-figurativismo, em que a arte passa do realismo e da representação humanista para o estilo, a técnica e a forma espacial em busca de uma penetração mais profunda da vida” (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 18). E explicam ainda os mesmos autores: 34 É a arte decorrente do “princípio de incerteza”, de Heisenberg, da destruição da civilização e da razão na Primeira Guerra Mundial, do mundo transformado e reinterpretado por Marx, Freud e Darwin, do capitalismo e da contínua aceleração industrial, da vulnerabilidade existencial à falta de sentido ou ao absurdo. É a literatura da tecnologia. É a arte derivada da desmontagem da realidade coletiva e das noções convencionais de causalidade, da destruição das noções tradicionais sobre a integridade do caráter individual, do caos lingüístico que sobrevém quando as noções públicas da linguagem são desacreditadas e todas as realidades se tornam ficções subjetivas. O modernismo é, pois, a arte da modernização – por mais absoluta que possa ser a separação entre o artista e a sociedade, por mais oblíquo que possa ser seu gesto artístico (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 19). Apesar do predomínio esmagador do romance moderno (cada vez mais intimista e introvertido), na contemporaneidade também é possível encontrar um romance de introspecção mais ligado a traços remanescentes do romance tradicional. É, por exemplo, o tipo de romance cultuado por Lúcio Cardoso, conforme tentaremos mostrar em nossa tese. A mudança de orientação no romance obrigou a repensar todos os aspectos da narrativa, focados, a partir dessa virada, na descrição da interioridade: as técnicas a disposição do romancista, a questão do tempo, cujo eixo principal deixa de ser o cronológico (linear) e contínuo e passa a ser o psicológico (duração bergsoniana, descontinuação, fragmentação) e também a substituição do princípio de tensão da leitura (no romance tradicional, baseado exclusivamente na intriga) por outros recursos de diferente índole. O romance torna-se mais lírico em um duplo sentido: Primeiro, porque, com a denominada focalização interna, dá-se o deslocamento de uma visão absoluta de um narrador, para um ponto de vista restrito, o de determinado personagem e/ou personagens que se apossam do relato. Isso dá lugar a divagações das personagens com uma preponderância sobre a descrição dos fatos, o que determina que o objeto-de-enunciação (no dizer de Käte Hamburger), como no poema, passe a ser motivo e não mais alvo do discurso. Segundo, porque, como já foi dito, o discurso tende a voltar-se sobre si mesmo (introversão), e, nesse processo, a palavra deixa de ser transparente e assume um relevo inédito na narrativa, configurando, então, o que Maurice-Jean Lefebve chama materialização do discurso, característica tradicional da poesia. O terceiro e último participante do pacto narrativo é o leitor. Da mesma forma que todo texto leva em si as marcas do autor (às vezes mesmo explicitamente <de forma parcial>, na figura do narrador, ou implicitamente, como vimos acima), existe sempre um leitor a quem ele é dirigido e que faz parte de sua própria tessitura. Observa Oscar Tacca: 35 A sua realidade [do destinatário da obra] não é alheia, nem a sua incidência fortuita. E, uma vez que, em toda a obra de arte, o ponto de vista do espectador há de ser aquele que o artista tenha pré-estabelecido, essa perspectiva põe já em jogo, de uma maneira profunda, [...] a relação funcional entre o criador, a obra e o espectador (TACCA, 1983, p. 138, grifo do autor). A segunda indagação concentra seu interesse no leitor como elemento estruturante da obra. O destinatário não é algo exterior a ela, para ser tido em conta depois do seu estudo, mas uma entidade determinante do seu ser: perspectiva, pessoa e linguagem variam, nalguns casos fundamentalmente, segundo a concepção daquele, intrínseca ao próprio romance. Ao falar do leitor como ínsito na obra, como inerente ao texto [...] referimo-nos [...] ao leitor ínsito na obra como uma perspectiva, como um ordenamento, com um ponto de vista: o mesmo que o narrador adoptou para seu serviço (Ib., pp. 140-141, grifos do autor). Como o autor implícito não se confunde com o autor empírico, o leitor implícito não é o leitor real: O conceito de leitor implícito [...] é uma estrutura textual, prefigurando a presença de um receptor, sem necessariamente defini-lo: esse conceito préestrutura o papel a ser assumido pelo receptor, e isso permanece verdadeiro mesmo quando os textos parecem ignorar seu receptor potencial ou excluí-lo como elemento ativo. Assim, o conceito de leitor implícito designa uma rede de estruturas que pedem uma resposta, que obrigam o leitor a captar o texto (ISER apud. COMPAGNON, 2003, p. 151). Por último – e como resgata Irene A. Machado em seu estudo sobre Bakhtin (1995, pp. 147 a 149) –, não fugiu ao teórico russo o tratamento da questão do leitor. Aponta ele que toda obra literária opera, ao mesmo tempo, uma ficcionalização do autor e do leitor, isto é, da audiência do escritor. Isso porque “enquanto para o falante, a audiência está em frente a ele, para o escritor, a ‘audiência’ está distante no tempo e no espaço. Definir o caráter da ‘audiência’ é, por isso, definir o contexto real da enunciação” (Ibidem, p. 147). Como mostra também Machado, retomando a análise do poeta T. S. Eliot, essa ficcionalização é fundamental para a elaboração da obra literária, pois o escritor escreve sempre influenciado pelo que imagina ser o seu leitor potencial. Às vezes, o autor dirige-se diretamente a esse leitor, utilizando diversos vocativos e, então, da mesma forma que o narrador, ele se materializa no texto, tornando-se um 36 narratário. Como o narrador e como as personagens, ele não passa de um ser de papel, porque, embora podendo ser extradiegético, ele não existe fora das palavras que o autor lhe dirige. O autor o nomeia e o cria, da mesma forma em que cria o narrador e as personagens da sua história. Outras vezes, entretanto, o autor não faz referência nenhuma ao leitor, parecendo ignorá-lo. A despeito disso, sempre vamos encontrar as marcas do leitor, sua imagem, pois os recursos retóricos de que o autor se serve para garantir uma determinada interpretação da sua obra (ou, no caso contrário, a criação de uma ambigüidade ou determinada abertura de sentidos visada) denunciam a sua presença: “Afinal, o que o autor cria não é só uma imagem de si próprio. Cada pincelada que implique o seu alter ego ajudará a moldar o leitor, tornando-o no tipo de pessoa que sabe apreciar tal personagem e o livro que escreve” (BOOTH, 1980, p. 107). Nesse sentido, o leitor implícito poderia corresponder ao que Gerald Prince (1996, p. 153) denomina leitor virtual ou leitor ideal. Dependendo do tipo de romance de que se trate a tarefa do leitor real será diversa34: o romance tradicional e o romance moderno demandarão do leitor esforços diferentes. No primeiro, seu principal trabalho será o de ir juntando as pistas deixadas pelo autor no decorrer da história contada e que, no final, darão sentido à narrativa. O narrador do romance tradicional costuma, além disso, ajudar bastante na interpretação dos fatos, com suas próprias digressões explicativas35. No romance moderno, entretanto, o leitor deverá transformar-se em participante ativo da obra se pretender desvendar um sentido; sentido esse a posteriori, não preestabelecido e, em boa medida, desconhecido para o próprio autor. Nathalie Sarraute chama a atenção para esta nova distribuição de funções entre autor, narrador, personagens e leitor na dinâmica de leitura proposta por algumas obras do século XX: [...] ninguém se deixa mais enganar totalmente por esse procedimento cômodo que consiste, para o romancista, em debitar parcimoniosamente 34 Como assinala de forma brilhante Booth, “Existe o prazer de descobrir a simples verdade e existe o prazer de descobrir que a verdade não é simples. Ambos são fontes legítimas de efeito literário, mas não podem ser realizadas a fundo ao mesmo tempo. Neste aspecto, como em todos os outros, o artista tem que escolher, consciente ou inconscientemente. Escrever um tipo de livro é sempre, em certa medida, repudiar outros tipos. E, independentemente da professada indiferença do autor pelo leitor, todos os livros isolam do resto da humanidade os leitores a quem se destinam os seus efeitos específicos” (BOOTH, 1980, p. 152). 35 Em Os Moedeiros Falsos, o narrador do romance parodia essa atitude didática, quando, após realizar o comentário citado a seguir, numera, mediante o uso de itens, as características anunciadas no mesmo com respeito a sua personagem: “Examinando bem a evolução do caráter de Vincent nessa intriga, distingo diversos estádios, que desejo expôr, para edificação de quem me ler” (GIDE, 1939, p. 140). 37 parcelas de si mesmo e em investi-las de verossimilhança repartindo-as, forçosamente um pouco ao acaso, [...] entre as personagens a partir de onde, por sua vez, o leitor, mediante um trabalho de esmiuçamento, as libera para relocalizá-las, como no jogo de loto, nas dezenas correspondentes que ele reencontra em si mesmo (SARRAUTE, 1987, pp. 71-72, tradução nossa 36). Então, o leitor está, de chofre, no interior, no mesmo lugar onde se encontra o autor, em uma profundidade onde não subsiste nada desses pontos de orientação confortáveis com a ajuda dos quais ele constrói as personagens. É mergulhado e mantido até o topo em uma matéria anônima como o sangue, em um magma sem nome, sem contorno. Se ele consegue se orientar, é graças aos marcos que o autor colocou para ali se reconhecer (Ibidem, p. 76, tradução nossa 37). Este segundo tipo de romance – como mostra Michel Zeraffa a partir do trabalho de Virginia Woolf (1971, p. 89, tradução nossa) –, ao mostrar uma consciência e não mais uma personalidade, “oferece ao leitor uma imagem virtualmente universal do homem”. Isso exigirá uma cumplicidade inédita do leitor, pois: Em lugar de propor ao leitor modelos ou exemplos, V. Woolf quer lhe oferecer uma imagem em negativo de si mesmo, que ele discernirá se se afastar da tela das convenções. O leitor deverá compartilhar a coisa pior compartilhada no mundo: a dúvida (ou o espanto). Também, o romance exige a colaboração e a solidariedade críticas do público (Ibidem, p. 89, tradução nossa38). O envolvimento requerido do leitor será, por isso, outro. A nova obra exigirá que ele se torne um “leitor mimético”; no dizer de Jean Rousset, Aquele que lê a sério renuncia, durante sua leitura, a julgar; para julgar, será necessário manter-se à distância e fora, reduzir a obra ao estado de objeto, de organismo inerte. O leitor penetrante instala-se dentro da obra para aderir 36 [...] personne ne se laisse plus tout à fait égarer par ce procédé commode qui consiste pour le romancier à débiter parcimonieusement des parcelles de lui-même et à les vêtir de vraisemblance en les répartissanta, forcément un peu au petit bonheur [...] entre des personnages d’où, à son tour, le lecteur, par un travail de décortication, les dégage pour les replacer, comme au jeu de loto, dans les cases correspondantes qu’il retrouve en lui-même. 37 Alors, le lecteur est d’un coup à l’intérieur, à la place même où l’auteur se trouve, à une profondeur où rien ne subsiste de ces points de repère commodes à l’aide desquels il construit les personnages. Il est plongé et maintenu jusqu’au bout dans une matière anonyme comme le sang, dans un magma sans nom, sans contours. S’il parvient à se diriger, c’est grâce aux jalons que l’auteur a posés pour s’y reconnaître. 38 Au lieu de proposer au lecteur des modèles ou des exemples, V. Woolf veut lui offrir una image en négatif de lui-même, qu’il discernera s’il écarte l’écran des conventions. Le lecteur devra partager la chose du monde la moins bien partagée: la doute (ou l’étonnement). Aussi le roman exige-t-il la collaboration et la solidarité critiques du public. 38 aos movimentos de uma imaginação e aos desenhos de uma composição; está ocupado o bastante em participar para cair em si, em viver uma aventura de ser para posicionar-se como espectador (ROUSSET, 1995, p. XIV, tradução nossa 39). E mais, a obtenção desse engajamento do leitor por parte do autor demonstra ser tão relevante que pode chegar a proclamar-se, inclusive, único critério de julgamento estético na atualidade: A partir do momento em que ele não pode penetrar e incorporar-se, ele se torna novamente estrangeiro, logo julga. Mas o julgamento que ele profere é um julgamento de fato, sem referência alguma nem às normas nem a qualquer gosto objetivo. Ele encontra ou não encontra a adesão. É assim que julga – e como fazê-lo de outra forma? – a maioria dentre nós, neste século que não tem outra verdade que a experiência íntima de cada um (ROUSSET, 1995, p. XV, tradução nossa 40). Além disso, de acordo com a nova modalidade de narrativa autoconsciente – a introversão narrativa – as obras, ao colocar os meios e as modalidades da arte no centro da obra, elas requerem o envolvimento do leitor em sua ordem de significações; assim, põem limites ao nível realista do funcionamento do romance e exigem que compreendamos esta ordem e esta estrutura particulares como uma totalidade articulada (FLETCHER e BRADBURY, 1989, p. 323). O romance de introspecção no Brasil O romance moderno no Brasil teve como grande iniciador a Machado de Assis. Conforme assinala José Guilherme Merquior, em De Anchieta a Euclides, o autor carioca, na esteira do romance impressionista, introduz no Brasil a função problematizadora do romance, hegemônica na modernidade. Assim sintetiza o crítico a sua hipótese: [...] o romance impressionista parece estar profundamente ligado ao senso de perda de qualidade da existência. O perfume moral da literatura 39 Celui qui lit sérieusement renonce, durant sa lecture, à juger; pour juger, il faudrait se tenir à distance et au dehors, réduire l’oeuvre à l’etat d’objet, d’organisme inerte. Le lecteur pénétrant s’installe dans l’oeuvre pour épouser les mouvements d’une imagination et les dessins d’une composition; il est trop occupé à paticiper pour se reprendre, à vivre une aventure d’être pour se poser en spectateur. 40 Dès lors qu’il ne peut pénétrer et s’incorporer, il redevient étranger, donc juge. Mais le jugement qu’il prononce est un jugement de fait, sans nulle référence ni à des normes, ni à un goût objetif. Il trouve ou il ne trouve pas à adhérer. Ainsi jugent – et comment faire autrement? – la plupart d’entre nous, en ce siècle qui n’a d’autre verité que l’expérience intime de chacun. 39 impressionista é o sentimento da ruína do qualitativo. Aqui, porém, o “subjetivismo” da prosa impressionista deixa entrever uma vivência fundamental da cultura moderna [...]: a vivência do vazio axiológico – da carência de valores autênticos – da civilização da máquina e da sociedade de massa, civilização e sociedade na qual a conquista do conforto e da segurança e o domínio triunfante do homem sobre a matéria se vêem ensombrecidos pela falta de sabor da vida, pela tendência à uniformização das idéias e atitudes, pelo desaparecimento progressivo das formas genuínas de diálogo e de comunicação (MERQUIOR, 1996, pp. 206-207, grifos do autor). Não havendo valores estáveis, a literatura, no seu valor de interpretação da vida por meio da palavra, passou a procurá-los: daí ter ela assumido uma visão problematizadora. [...] A significação profunda da obra de MACHADO DE ASSIS (1839-1908) reside em ter introduzido nas letras brasileiras essa orientação problematizadora. Bem antes de Machado [...] o que caracterizava a nossa produção literária era a atrofia da visão problematizadora, a quase inexistência, nos nossos textos poéticos, de qualquer impulso filosófico (IBIDEM, p. 209, grifos do autor). O ano 1880 marca com exatidão essa virada no romance brasileiro, pois é nele que começa a ser publicado, primeiramente em jornal, Memórias póstumas de Brás Cubas. O teor paródico, satírico e filosófico deste romance, bem como seu caráter de narração autoconsciente, são inéditos na prosa de ficção do Brasil. Por outro lado, como também observa Merquior, já desde Iaiá Garcia (1878), Machado vai aprimorando a análise psicológica, processo que chega a seu ápice com Dom Casmurro (1899). Diz o crítico: Em Dom Casmurro, romance do dissimulo, a sua arte de sugestão chega ao máximo. Aquele sestro metonímico [...] atua plenamente na caracterização das personagens, surpreendendo-lhes a alma nas ações secundárias, nos tiques mais obscuros, nos efeitos mínimos de seu temperamento (MERQUIOR, 1996, pp. 244-245). Sonia Brayner (1979, pp. 76 e ss.) também faz um estudo acurado do lugar que Machado de Assis ocupa na ficção brasileira. Como Sterne, em Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado desloca o eixo temporal da narrativa para o presente da narração, ao colocar em primeiro plano a figura de um narrador e suas digressões, que não mais obedecem ao princípio de causalidade, próprio da intriga, mas seguem o capricho da sua vida psicológica. Esta passa, então, a comandar a temporalidade que rege o romance. Romance autobiográfico, 40 da brecha temporal entre o “eu vivido” e “eu narrado” surge todo o jogo da ironia e da paródia corrosiva que o caracteriza. Além disso, o leitor é incorporado e convidado a participar do novo pacto narrativo, esperando-se dele uma atenção e argúcia inéditas nunca antes requerida até esse momento pelos escritores de literatura brasileira: “O apelo constante à sagacidade do destinatário pretende estimular-lhe o sentido de discernimento e a percepção totalizadora. [...] O papel do leitor também é de criação e não mera absorção de material pré-significado” (BRAYNER, 1979, p. 84). Também, a própria representação literária, bem como os gêneros e discursos desgastados (inclusive o filosófico) serão objeto da paródia machadiana, introduzindo, assim, o autor, a tendência para a introversão própria do romance moderno nas letras nacionais41. Os dois críticos supracitados (BRAYNER, 1979, p. 125, e MERQUIOR, 1996, pp. 257 a 261) mencionam como epígono imediato da pesquisa psicológica no romance a Raul Pompéia, principalmente no que se refere a seu romance O ateneu. Nele, a importância do símbolo (herança do simbolismo), da imagem e da memória sentimental são capitais, marcando, assim, um passo a mais na direção da subjetividade/interioridade que caracteriza a evolução do romance no século XX. Como sintetiza Sonia Brayner: A obra de Raul Pompéia possui em sua estruturação narrativa uma oscilação constante [...] Trata-se, inicialmente, de um objetivismo bem característico do Realismo-naturalismo, tal como é observável na ficção brasileira na década de 80/90; simultaneamente, uma acentuada notação subjetiva, marcando com a presença insistente de um Eu lírico ou crítico as construções de seu imaginário. Apaixonado pela óptica do subjetivismo estará sempre colocado no âmago da realidade que interpreta, numa paradoxal ânsia de objetividade e fidelidade (BRAYNER, 1979, p. 129). Além disso, Brayner (1979, p. 176) destaca, no panorama das letras brasileiras, a importância de outro precursor, este sintonizado com as novidades que ainda se estavam processando na Europa: Adelino Magalhães. Embora ele não tenha escrito romances, a importância dos seus pequenos solilóquios (visto que dirigidos a um leitor), espécie de contos-poemáticos, resulta fundamental em função do entrecruzamento que se constata neles entre o lírico e o épico, pela fragmentação do discurso, articulado em torno de imagens-nucleares, pelos seus traços surrealistas (atmosfera onírica do discurso) e 41 Antônio Cândido realiza também uma síntese do estilo inovador de Machado de Assis em seu “Esquema de Machado de Assis”, 1970, pp. 26 e 27. 41 futuristas-cubistas (estrutura de composição calidoscópica, montagem), enfim, caracteres especialmente inovadores na data do aparecimento do seu primeiro livro, Casos e impressões (1916). Além disso, outra característica da escrita de Adelino Magalhães o aproxima do moderno romance de introspecção: suas narrativas parecem atingir a representação de regiões pré-conscientes da psique, sendo que, além disso, a relação entre autor, narrador e personagem torna-se mais difusa. Assim, aponta Sonia Brayner: Partindo sempre do teor de linguagem vazado pelo narrador, em geral identificável ao autor implícito e algumas poucas vezes em terceira pessoa, observa-se que a organização das unidades de pensamento pretendem se dispor como se tivessem origem na própria consciência do personagemnarrador: ora se aproximam da região pré-verbal e se tornam mais incoerentes, entrecortadas por palavras soltas e pausas obtidas pelo uso abundante de reticências; ora elegem um discurso reflexivo e erudito, de conteúdo moralizante e filosófico (BRAYNER, 1979, p. 187, grifos da autora). A sensação é para Adelino Magalhães um caminho para o conhecimento de uma verdade interior. [...] Ele é o grande personagem de suas narrativas tumultuadas (BRAYNER, 1979, p. 200). Durante o primeiro modernismo, período por excelência de pesquisa e experimentação estética, talvez possamos aludir ao romance Memórias sentimentais de Jõao Miramar (1924), de Oswald de Andrade como exercício de incorporação de técnicas e recursos inovadores, fundamentalmente futuristas, ao romance de feição mais intimista (na medida em que as memórias fazem parte da introspecção). Enfim, desde Machado de Assis, os escritores brasileiros não abandonaram nunca o interesse pela exploração da interioridade humana, a despeito do incontestável protagonismo que assumiu nos anos 30 o romance social, herdeiro de outra linha de força na literatura brasileira – o regionalismo – inaugurada pelos românticos, que procuravam as bases para a fundação de uma nova nação com mitologia própria, e revitalizado depois pelo modernismo da década de 1920 em seu intuito de revalorização do regional na busca de uma maneira individual e brasileira de processar e incorporar a modernidade e a sua representação artística. Alguns críticos (por ex. Fabio Lucas, s. d., pp. 314 a 316) apontam uma corrente de romance urbano, contemporânea ao romance regionalista de 30, adotando, dessa forma, como critério de classificação, o meio físico onde se ambientariam as obras. Mais interessante, 42 porém, para o objeto de nossa tese, consideramos a distinção apontada por Massaud Moisés entre os naturalistas e (neo-) realistas (anticlericais e antiburgueses) e os escritores católicos. E explica o crítico: “hesitante entre extremos, a intelectualidade dos anos 30 ora pendia para as teses revolucionárias, bafejadas pela esquerda internacional à luz do marxismo, ora perfilhava a causa da Igreja Católica Apostólica Romana, conservadora e à direita do espectro político” (MOISÉS, 1996, p. 311). À margem da linhagem ideológico-política, e a fim de evitar generalizações simplistas nesse sentido, consideramos que a segunda linha poderia ser mais amplamente chamada de “espiritualista” (pedindo de empréstimo o termo aos poetas agrupados em torno da revista “Festa” e que cultuavam uma poesia de cunho mais simbolista). Poderemos, dessa forma, incluir dentro dessa linha os autores mais representativos do romance intimista brasileiro até a década de 50: Cornélio Pena (Fronteira, 1935; Dois romances de Nico Horta, 1939; Repouso, 1948; A menina morta, 1954), Otávio de Faria (Ciclo romanesco Tragédia burguesa, 1939-1977), Lúcio Cardoso (A luz no subsolo, Dias perdidos, Crônica da casa assassinada, O viajante) e, ainda, o Osman Lins de O visitante (1955). Na esteira do romance cristão, todos eles representam nas suas obras romanescas o conflito que enfrenta o homem (principalmente católico) entre os seus instintos e desejos mais espontâneos e a vontade de preservar e ajustar-se aos valores cristãos, valores esses legitimados pela sociedade. Independente das características e nuanças do trabalho de cada autor, esse conflito é geralmente apresentado em termos da luta entre o bem e o mal que acompanha e atravessa cada destino humano. A morte e a loucura também são temas recorrentes na obra dos quatro romancistas. O que caracteriza este grupo de obras, em suma, conforme sintetiza Afrânio Coutinho (1959, p. 324) é “a indagação religiosa e metafísica, superando a realidade tangível em procura das essências e dos valores supremos da vida espiritual, num tom de tragédia clássica”. Da mesma forma, embora a sua escrita apresente traços diferenciados (por exemplo, certa musicalidade de linhagem simbolista em Cornélio Pena, uma “indiscutível habilidade em construir cenas, situações e personagens”42 em Otávio de Faria), estes escritores (Osman Lins só no que concerne ao romance supracitado) cultuarão o romance tradicional de viés mais intimista sem introduzir grandes inovações na forma romanesca. Afrânio Coutinho (1959, p. 321), por sua vez, destacará a linha psicológica do romance “à qual preocupam problemas de conduta, dramas de consciência, meditações sobre 42 Cf. Massaud Moisés, 1996, p. 307. 43 o destino, indagações acerca dos atos e suas motivações, em busca de uma visão da personalidade e da vida humanas. Essa forma recebeu da técnica simbolista e impressionista um influxo poderoso”. Nesta linha também se enquadrariam os autores referidos no parágrafo anterior, mas também alguns outros, notadamente o Graciliano Ramos de Angústia, Lygia Fagundes Telles e Autran Dourado. Escrito em primeira pessoa, Angústia constitui um exemplo magnífico do que Auerbach (2004) denomina subjetivismo unipessoal, pois o centro de consciência do narrador protagonista determina e condiciona tudo o que é contado. De fato, trata-se de relato dos mais expressionistas da ficção brasileira, pois a visão da realidade narrada que chega ao leitor é produto da fusão constante do delírio, dos sonhos, das memórias e das obsessões de um narrador (Luís da Silva) completamente atormentado e ressentido. Por isso, sua visão será necessariamente deturpada e deformada. Além disso, em seu ensaio sobre Graciliano Ramos, Antônio Cândido, após analisar os traços (autobiográficos, ideológicos, afetivos) que é possível encontrar no romance e que poderiam ser, em boa medida, atribuídos ao próprio Graciliano Ramos43 vislumbra a tendência do romance introspectivo a que aludimos anteriormente no sentido de uma certa (con)fusão entre autor, narrador e personagem (ou, a um tipo diferente de intrusão do autor). O crítico termina assim sua reflexão sobre Angústia: Assim, parece que Angústia contém muito de Graciliano Ramos, tanto no plano consciente (pormenores biográficos) quanto no inconsciente (tendências profundas, frustrações), representando a sua projeção pessoal até aí mais completa no plano da arte. Ele não é Luís da Silva, está claro; mas Luís da Silva é um pouco o resultado do muito que, nele, foi pisado e reprimido. E representa na sua obra o ponto extremo da ficção; o máximo obtido na conciliação do desejo de desvendar-se com a tendência de reprimir-se, que deixará brevemente de lado a fim de se lançar na confissão pura e simples (CÂNDIDO, 1956, p. 50). Já em seus quatro romances (Ciranda de pedra, 1955; Verão no aquário, 1963; As meninas, 1973; As horas nuas, 1989), Lygia Fagundes Telles apresenta diversas possibilidades do narrar intimista. O relato, em seu romance de estréia, está a cargo de um narrador onisciente; para Verão no aquário a escritora opta por uma narradora autodiegética; em As meninas alterna a narração de uma das principais personagens, Lorena (narradora 43 É preciso esclarecer, neste ponto, que Antônio Cândido não cai em um biografismo simplista, assinalando, pelo contrário, esses traços pertencentes ao autor e que a obra denuncia apenas no intuito de mostrar como a confissão (consciente ou inconsciente) pode vir a alimentar e enriquecer a ficção na arena do romance moderno de linha introspectiva. Sem constituir o objeto específico de nossa Tese, também pretendemos mostrar algo disso na análise dos romances de Lúcio Cardoso e Clarice Lispector. 44 homodiegética) com a narração de um narrador heterodiegético. Já em As horas nuas encontramos um exemplo de subjetivismo pluripessoal (AUERBACH, 2005, pp. 483-484), ou de focalização múltipla (GENETTE, s. d., p. 188): com efeito, o romance é dividido em capítulos, ficando, os mesmos, a cargo de três narradores que se alternam: a atriz Rosa Ambrósio, Rahul (o gato da casa) – homodiegéticos – e um narrador heterodiegético. Fabio Lucas inclui Lygia Fagundes Telles, Autran Dourado, Clarice Lispector e Guimarães Rosa em outro grupo, o dos “visionários” que, conforme o autor, distanciou-se da preocupação meramente de transcrever a realidade social, cujo perfil de injustiça e violência vem sendo apontado por várias gerações. O destino humano, então, é gravado numa atmosfera de indagação eidética e axiológica, quando não transportado a um discurso sobre a transcendência (LUCAS, s. d., p. 318). Clarice Lispector e Guimarães Rosa, porém, destacam-se do grupo por sua especial preocupação estética, que os leva a realizar verdadeiras revoluções (de forma muito diferente) na língua literária do Brasil. No caso de Clarice Lispector, o romance assume sua feição de introversão, pois, em todas as suas obras romanescas, as considerações metalingüísticas e metapoéticas se fundem com as divagações introspectivas que constituem a matéria primordial dos romances, passando, assim, a fazer parte da história no mesmo nível que as últimas. Esse entrecruzamento reflete a mesma concepção que a autora acalentava em relação a uma estreita imbricação entre vida e arte. Nesse sentido, resulta interessante citar aqui a reflexão com que Antônio Cândido dá a acolhida (e a bem-vinda) ao romance de estréia de Clarice Lispector (1943), ressaltando justamente essa preocupação da jovem autora com respeito à linguagem: Raramente é dado encontrar um escritor que, como o Oswald de Andrade de João Miramar, ou o Mário de Andrade de Macunaíma, procura estender o domínio da palavra sobre regiões mais complexas e mais inexprimíveis, ou fazer da ficção uma forma de conhecimento do mundo e das idéias. Por isso, tive verdadeiro choque ao ler o romance diferente que é Perto do coração selvagem, de Clarice Lispector [...]. Com efeito, este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério, para o qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente (CÂNDIDO, 1970, pp. 126 –127). 45 Por último, outra perspectiva que nos serve também para pensar as diferenças no panorama da literatura brasileira no século XX é a que surge da distinção proposta por Alfredo Bosi (2000, p. 392) – partindo de Lucien Goldmann – em História concisa da literatura brasileira entre romances de tensão mínima, crítica, interiorizada e transfigurada, utilizando como critério a relação das personagens com o meio e o modo de superação do conflito instaurado por essa relação por parte das mesmas. No primeiro tipo (tensão mínima) o conflito é apresentado de forma superficial, não ultrapassando o nível verbal ou sentimental (ex. romances de Jorge Amado). No segundo tipo (tensão crítica), há um choque frontal da personagem com o meio, sofrendo aquela de um mal-estar permanente (Ex. Vidas secas). Nos romances de tensão interiorizada, a personagem não consegue enfrentar o meio diretamente (em ações), evadindo-se e internalizando o conflito (Ex. Angústia). Ou, então, ela é irremediavelmente arrastada para a sua própria autodestruição, como acontece com todas as personagens de Lúcio Cardoso. E, por último, nos romances de tensão transfigurada, o conflito é superado pela via da “transmutação mítica ou metafísica da realidade” (Ibidem, p. 392). Seria este o caso de Grande sertão veredas e dos romances de Clarice Lispector respectivamente. Depois desta breve (e sumária) resenha do romance intimista no Brasil, é possível constatar a variedade e riqueza das tentativas dos escritores brasileiros no seu intuito de adentrar-se na complexidade da vida interior do indivíduo em busca de um sentido para a precária travessia existencial do ser humano. Nossa tese abordará a obra romanesca de dois dos escritores mais representativos da linha introspectiva no Brasil: Lúcio Cardoso e Clarice Lispector. O primeiro fator que nos instigou a pesquisar a relação entre eles foram os indícios (na correspondência de Clarice Lispector, no Diário de Lúcio) do intenso diálogo que eles mantiveram, sobretudo na década de 1940, do qual, infelizmente, sobreviveram apenas algumas cartas e críticas literárias de Lúcio Cardoso sobre A maçã no escuro e A cidade sitiada (estas incluídas no final do segundo volume de seu Diário) e outras publicadas em jornais da época. Isso nos levou a indagar, em princípio, sobre possíveis influências mútuas na produção dos escritores, mas logo ficou em evidência a radical diversidade dos seus trabalhos que, apesar do seu viés claramente intimista, seguem caminhos completamente diferentes para atingir objetivos também outros. 46 A despeito dessas notórias diferenças, o que parece ser, a primeira vista, um traço autoral demasiadamente ostensivo assemelha a produção dos dois escritores. O conceito de “autor implícito”, aliado ao método de análise proposto por Georges Poulet (“pensamento indeterminado”), ajudar-nos-á a mostrar a imagem que vai se delineando por trás das obras estudadas, versão implícita dos dois artistas, no dizer de Wayne Booth. E, assim, a partir do que identificarmos (identificando-nos ao mesmo tempo) como consciência profunda dos autores (ou como uma particular visão do mundo), tentaremos localizar o sentido profundo de seus romances para além das diferenças narrativas (que serão oportunamente apontadas). Para isso recorreremos (quando o considerarmos útil) ao método das passagens paralelas, pois cotejaremos afirmações e reflexões pessoais dos autores alvo de nossa análise com excertos das suas obras colhidos de intervenções dos narradores ou das personagens. Isso sem esquecer a advertência de Chlandenius que já mencionamos. Para realizar esse trabalho, utilizaremos como fontes principais O diário completo de Lúcio Cardoso e as coletâneas Para não esquecer e A descoberta do mundo, que reúnem grande parte do trabalho jornalístico de Clarice Lispector. Estamos cientes, porém, de que haverá uma defasagem de datas entre estes documentos e alguns romances dos autores. Com efeito, o Diário de Lúcio Cardoso abrange o período de 1949 a 1962, sendo, o primeiro romance seu que estudaremos (A luz no subsolo), de 1936. No caso de Clarice Lispector, as anotações reunidas em Para não esquecer, antes de ser incluídas em A legião estrangeira (1964), tinham sido publicadas na revista Senhor, enquanto os textos recolhidos em A descoberta do mundo compreendem o período de 1967 a 197344. A despeito disso, consideramos de extrema importância a análise desse material para ajudar-nos a desenhar o pensamento indeterminado dos autores, porquanto identificamos nas suas afirmações de cunho pessoal elementos que remetem claramente a suas obras. Além disso – como tentaremos mostrar em nosso trabalho – acreditamos existir uma indissolúvel imbricação entre pensamento e escrita, que determina que um e o outro se retroalimentem constantemente. Dessa forma, o que pode aparecer de forma embrionária em uma obra literária, pode surgir mais tarde claramente explicitado nas considerações dos autores, que, através do seu trabalho, foram dando forma ao pensamento. E, no sentido inverso, aquele pensamento que se encontrava em estado latente ou mesmo inconsciente alimenta a produção artística, atingindo uma primeira expressão. É justamente isso o que acreditamos que Wayne Booth (1980, p. 82) considera elementos inconscientes do lavor literário e é nisso que reside fundamentalmente o 44 Sabe-se, entretanto, que a autora aproveitava textos antigos para publicar no Jornal do Brasil e, por isso, muitas das suas contribuições já tinham sido publicadas anteriormente. 47 meio de autorevelação do artista a que alude Jean Rousset em Forme et signification (1995, p. VI). A hesitação experimentada por Clarice Lispector em relação ao uso da primeira ou da terceira pessoa no seu romance A maçã no escuro e comunicada por carta ao seu amigo Fernando Sabino, bem como a resposta dada pelo escritor a Clarice, deixam em evidência esta marca autoral que identificamos nos romances da autora (e também nos de Lúcio Cardoso). Em carta de 21/09/56, escrevia Clarice, fundamentando sua escolha narrativa primária para o romance supracitado: [...] você tocou num ponto que desde o começo da escritura (!) do livro me afligiu: o tom conceituoso, dogmático. Vou tentar explicar, mas explicar não justifica. 1) Eu queria me pôr completamente fora do livro, e ficar de alguma forma isenta dos personagens, não queria misturar “minha vida” com a deles. Isso era difícil. Por mais paradoxal que seja, o meio que achei de me pôr fora foi colocar-me dentro claramente. Como indivíduo à parte, foi “separar-me” com “eu” dos “outros”. (Está confuso?) Hesitei muito em usar a primeira pessoa (apesar desse tipo de isenção me atrair), mas de repente me deu uma rebeldia e uma espécie de atitude de “todo mundo sabe que o rei está nu, por que então não dizer?” – que, na situação particular, se traduziu como: “Todo mundo sabe que ‘alguém’ está escrevendo o livro, por que então não admitilo? (SABINO e LISPECTOR, 2002, p. 139). Talvez essa declaração não sirva para justificar todas as escolhas clariceanas, mas ajuda certamente a explicar o porquê da constante oscilação, nas obras da autora, entre a primeira e a terceira pessoa. De fato, A maçã no escuro é um romance escrito em terceira pessoa, mas como Perto do coração selvagem e O lustre (por exemplo), desliza para a primeira pessoa em reiteradas ocasiões. Este excerto da carta é prova também do quanto algumas escolhas narrativas de Clarice Lispector eram conscientes e estudadas e, nesse sentido, é que poderemos considerá-las, no decorrer de nosso trabalho, como parte de um projeto poético maior. A resposta de Sabino inaugurará (em relação ao romance supracitado em particular) um tipo de crítica recorrente relacionada com a técnica narrativa escolhida por Clarice em quase todos seus romances: Ora, seu livro, da primeira à última página, não é outra coisa senão alguém escrevendo um livro – e isso devido à sua concepção peculiaríssima, à técnica que você adotou etc. – nunca porque você o diga a toda hora. O importante não é dizer, é saber. Certas coisas não se dizem, porque dizendo, 48 deixam de ser ditas pelo não-dizer, que diz muito mais. O importante é que todo mundo saiba que o rei está nu, e não diga nada, para que uma criança possa dizer, “olha, o rei está nu! – lembra-se da história? Imagine o desfile do rei nu com uma faixa na frente anunciando: “O REI ESTÁ NU”. É o que, guardando as devidas proporções, acho que as frases assinaladas [...] fazem com relação ao seu livro. Porque no momento em que você entra no livro expressamente como primeira pessoa, deixa de ser autora para ser personagem também, passa a fazer parte do cortejo do rei. Era preciso então alguém, fora do livro, que está escrevendo sobre esse alguém que está escrevendo o livro... E assim você, para se colocar do lado de fora, fica sempre do lado de fora... e do lado de dentro. Não seria mais prático ficar apenas do lado de fora? (SABINO e LISPECTOR, 2002, pp. 142-143). Nas suas últimas duas obras, porém, a escritora Clarice Lispector opera mudanças que nos remetem claramente ao conceito de escritura proposto por Barthes, sem que por isso possamos afirmar, em princípio, que a intenção autoral fosse eliminada por completo. Por outro lado, isso dá testemunho de como o pensamento de Clarice Lispector – da mesma forma que o de Barthes – ia se desenvolvendo na prática da sua escrita. Se, de fato, considerarmos que a obra vai moldando – ou burilando – aquele pensamento indeterminado do autor, que, em boa medida, se intromete no texto de forma inconsciente, seria de esperar que também essa nova empreitada estética da autora tenha relação com as concepções que se embasam em sua consciência profunda, mas que a escrita ajuda a fixar e a definir para a consciência da escritora. Confirmar essa hipótese será, talvez, o maior desafio de nosso trabalho45. Por isso, dedicaremos a última seção do capítulo 2 ao estudo particularizado de A hora da estrela e Um sopro de vida. Tudo isso, somado à escassa atenção outorgada pela crítica e pelo meio acadêmico à obra de Lúcio Cardoso, deu impulso definitivo a nossa intenção de realizar um confronto entre seus diferentes modos de narrar o mundo interior com uma presença autoral muito marcante. O resultado dessa comparação – esperamos – resultará enriquecedor para a pesquisa da corrente de ficção introspectiva no Brasil. 45 Ao comentar o método proposto pela Escola de Genebra, é o próprio Barthes que nos ajuda a pensar nesta questão: “Sempre na crítica de significação, mas em frente, está o grupo de críticos que se poderia chamar, de um modo expeditivo, temático (Poulet, Starobinski, Richard); essa crítica pode, com efeito, ser definida pela ênfase que põe na découpage da obra e sua organização em vastas redes de formas significantes. Certamente, essa crítica reconhece na obra um significado implícito que é, em grosso modo, o projeto existencial do autor, e sobre esse ponto [...] aqui se separa mal o índice; mas, por um lado, esse significado não é nomeado, o crítico o deixa extensivo às formas que analisa; ele só surge da découpage dessas formas, não é exterior à obra, e essa crítica continua sendo uma crítica imanente [...]; e, por outro lado, aplicando seu trabalho (sua atividade) sobre uma espécie de organização reticular da obra, essa crítica se constitui principalmente em crítica do significante, e não em crítica do significado (BARTHES, 1982, p. 176). 49 Como dissemos anteriormente, trabalharemos apenas com romances de introspecção dos dois escritores, sendo que os mesmos serão identificados mediante siglas nas citações correspondentes. A saber: Romances de Lúcio Cardoso: A luz no subsolo (LS), Dias perdidos (DP), Crônica da casa assassinada (CCA) e O viajante (V); romances de Clarice Lispector: Perto do coração selvagem (PCS), O lustre (L), A cidade sitiada (CS), A maçã no escuro (ME), A paixão segundo G.H. (PSGH), Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (ALP), A hora da estrela (HE), Um sopro de vida (SV). Por outro lado (mas em estreita relação com a visão do mundo que alimenta as suas escritas), Lúcio pode ser localizado na linha do romance cristão (modalidade que, em geral, se ajusta aos parâmetros do romance tradicional) enquanto Clarice estaria nitidamente vinculada a um projeto de romance moderno, romance que R. M. Albérès (1962) denomina, em sua Histoire du roman moderne, romance esteticista ou de espessura, em função da profunda inquietação estética revolucionária que o caracteriza. Com efeito, enquanto o autor mineiro, em linhas gerais, parece encontrar nas convenções do romance tradicional os meios adequados para exprimir os conflitos que constantemente o homem deve afrontar para vencer a luta contra o mal sempre à espreita, em Clarice Lispector, o in crescendo da pesquisa estética (reflexo da pesquisa existencial) constitui o traço mais marcante da sua produção romanesca. Ambos os autores assimilam vida e arte, atribuindo, assim, a mesma função de autoconhecimento (e também, em boa medida, de projeção dos seus próprios conflitos e incertezas) ao seu trabalho. Como assinala oportunamente Jean Rousset em Forme et signification, esse escopo corresponde a todo um movimento, já bem estabelecido, de uma tradição moderna que faz da obra de arte, não mais uma mera produção ou expressão, mas um meio de conhecer-se a si mesmo (ROUSSET, 1995, p. VI). Nesse mesmo sentido, diz Lúcio Cardoso, em seu Diário: Escrevo para que me escutem – quem? Um ouvido anônimo e amigo perdido na distância do tempo e das idades. Para que me escutem se morrer agora. E depois, é inútil procurar razões. Sou feito com estes braços, estas mãos, estes olhos e assim sendo, todo cheio de vozes que só sabem se exprimir através das vias brancas do papel, só consigo vislumbrar a minha realidade através da informe projeção deste mundo confuso que me habita. E também escrevo porque me sinto sozinho (CARDOSO,1970, p. 60). Muito em função disso, existe, nos dois autores, certa identificação em relação a suas personagens. Ainda no Diário, o autor confessa que vivia “de um modo pleno e absoluto com 50 o meu trabalho”, acrescentando que “para se tratar com fantasmas só há uma receita possível: tornar-se fantasma também” (CARDOSO, 1970, p. 243). Esse fenômeno (ou semelhante), como antecipamos no decorrer desta introdução, terá implicações na distribuição de papéis entre autor, narrador e personagem. Isso, que leva um crítico como Benedito Nunes (1995) a apontar uma confusão entre essas três categorias narrativas nas composições clariceanas, assume outras variantes no trabalho cardosiano. Por isso, não é de estranhar que, nas obras que nos propomos a analisar, encontremos uma vasta variedade de possibilidades no que diz respeito à introdução do narrador, que vão desde a escolha de um narrador heterodiegético46 em alternância com a narração autodiegêtica, sem delimitações gráficas (Perto do coração selvagem), passando por composições em que prima um narrador autodiegético (A paixão segundo G.H.) ou, então, a focalização múltipla em terceira pessoa (Dias perdidos) ou a utilização de vários narradores homodiegéticos que se alternam, como em Crônica da casa assassinada. Ainda temos o caso especial de A Hora da estrela em que encontramos um narrador que, além de remeter-se à história a ser contada, encarrega-se de descrever o próprio processo de criação, operando, assim, uma mediação entre o autor empírico e o seu mundo de ficção e introduzindo-nos no âmbito do moderno romance de introversão. Por último, em Um sopro de vida, a delimitação ou identificação do autor, narrador e personagem se torna propositalmente confusa e delicada. Essa multiplicidade de escolhas narrativas dará lugar, por sua vez, a diferentes combinações das técnicas utilizadas para representar a interioridade (psiconarrativa, monólogo narrativizado e monólogo interior citado), bem como a diferentes estilos de transmissão da palavra do outro. As diferenças de voz narrativa determinarão também, nos romances de Lúcio Cardoso ou Clarice Lispector, diferenças temporais, de andamento e de direção, em consonância com o poder conferido ao narrador sobre o que lhe é dado contar. Além disso, ao considerar a obra desses escritores em conjunto, não resulta difícil detectar a sombra do autor implícito de Booth (1980, p. 88), que, por sua vez, exprime a visão do mundo dos próprios autores em um exercício permanente de busca, pela escrita, de uma resolução para as suas angústias, conflitos, inquietações e questionamentos pessoais. Tanto nos romances de Lispector quanto na obra romanesca de Cardoso é patente a recorrência de algumas constantes temáticas ou discursivas que apontam para uma determinada visão do mundo (autor implícito) que, ao assumir um teor altamente filosófico dentro das obras, permite associá-la imediatamente a algumas correntes de pensamento e/ou estéticas. No segundo, a crítica salienta a influência de 46 Cf. Genette, Gérard, s. d.. 51 uma estética em sua obra, o barroco. Também é patente a presença de três grandes discursos: o católico, o existencialista e o psicanalítico. Já em Clarice Lispector, a relação com a fenomenologia, com um certo existencialismo e com a psicanálise são visíveis a uma primeira leitura. À diferença do que se verifica na obra de Lúcio Cardoso, porém, essa visão do mundo (e da arte) leva a escritora de Perto do coração selvagem a introduzir em sua narrativa, como parte inerente à mesma, um questionamento da linguagem, ao apontar as suas limitações na expressão de certas verdades primordiais. Assim, a narrativa clariceana muitas vezes beira o desejo de autodestruição, de aniquilamento, pois é justamente aquela verdade que a linguagem não consegue apreender o que constitui, para a autora, o alvo da escrita literária. É, em cada caso particular, certo “pensamento indeterminado” o alicerce que sustenta os romances dos dois autores e é justamente esse caráter indeterminado o que diferencia essas obras literárias de profunda pesquisa existencial, ética e – no caso específico de Clarice Lispector, estética – de tratados filosóficos. Conforme Georges Poulet o “pensamento indeterminado” (seu principal instrumento de análise) seria uma espécie de [...] fonte, realidade mental original, em si mesma, as mais das vezes, velada, profunda, secreta e bastante obscura, donde o elã criador – não sem certa confusão às vezes – deve ter se libertado para espalhar-se afora e realizar-se finalmente em textos mais ou menos definidos. [...] O crítico, sempre que puder, deve retroceder até os lugares em parte incertos e velados, donde surgiu, às vezes sem que ele se desse claramente conta, o pensamento do autor. Sua tarefa é atingir certo estado primário, dificilmente acessível e discernível, que tem por característica essencial – mas sempre confusamente entrevista – o de ser anterior às determinações formais do espírito, do qual, no entanto, estas derivam (POULET, 1990b, pp. 287-288, tradução nossa47). Nas obras de Lúcio Cardoso, que ainda utiliza muitas das convenções do romance tradicional, os recursos retóricos destinados a convencer o leitor sobre determinadas verdades propostas na obra são mais ostensivos e diretos. Assim, por exemplo, é muito comum encontrar, nos quatro romances que estudaremos, digressões gnômicas interferindo na 47 [...] source, [...] realité mentale originelle, en elle-même, le plus souvent, voilée, profonde, secrète et assez trouble, d’où [...] l’élan créateur a dû, non parfois sans quelque confusion, se dégager pour se déployer au-dehors et se réaliser finalement dans des textes plus ou moins définis. [...] Le critique, chaque fois qu’il le peut, doit se reporter en arrière jusqu’aux lieux en partie incertains et voilés, d’où est issue, parfois sans qu’il s’en rende clairement compte, la pensée de l’auteur. Il tâche d’atteindre quelque état premier, difficilement accessible et discernable, qui a pour caractéristique essentielle – mais toujours confusément entr’aperçue – d’être antérieur aux déterminations formelles de l’esprit, qui en sont pourtant derivées. 52 narração dos fatos e sentimentos das personagens. No caso de Clarice Lispector, esse processo se aproxima mais do que Mendilow, em O tempo e o romance, aponta como um tipo de intrusão particular no romance moderno decorrente de suas características intimistas. Tomando como exemplo o trabalho de Virginia Woolf, explica o crítico: Os personagens de Virginia Woolf mantêm claramente a sua ligação com o seu criador, falam com seu idioma e pensam à sua maneira. Quando ela penetra como autor em seus romances, isso não é sentido como uma intrusão; o lugar é seu de direito. A sua ficção é do tipo que inclui o autor” (MENDILOW, 1972, p. 254). Essas interferências, por sua vez, instigam-nos a pensar sobre como poderia dar-se uma certa polifonia em romances de introspecção como os de Lúcio Cardoso e Clarice Lispector. Consideramos que as obras em que resulta mais instigante a questão da pluralidade outorgada à voz narrativa são Crônica da casa assassinada e A hora da estrela. Qual é o significado da proposta de tão (aparente) intenso dialogismo no romance mais célebre de Lúcio Cardoso? E, no caso específico de A hora da estrela, até onde podemos considerar que o romance é monofônico (ou monológico) pela preponderância evidente de uma só voz, a de Rodrigo S.M., quando múltiplas vozes se entrecruzam nesse discurso sem, necessariamente, chegarem a qualquer acordo? Em que medida esse acordo seria possível na realidade contemporânea? Qual é lugar que deveria caber no romance à voz de Macabéa? Outro aspecto que será alvo de nosso estudo é o atinente à interpenetração que se opera na obra dos dois escritores entre o discurso narrativo e discurso lírico e as implicações que o grau desse cruzamento pode ter sobre o romance de introspecção. Resulta evidente, por exemplo, a grande importância que ainda tem a intriga na construção dos romances de Cardoso, enquanto Clarice Lispector se vale de outros recursos, muitas vezes tomados de empréstimo à poesia (repetição, aliterações etc.) para sustentar a tensão de sua trama. Também, as obras de Clarice Lispector e Lúcio Cardoso oferecem uma grande riqueza de possibilidades quanto à introdução no texto literário de diferentes formas consideradas extraliterárias, como o diário, a carta, a confissão. Essas formas desempenham alguma função particular nas obras dos nossos autores e, em particular, contribuem para um incremento do plurilingüismo? Toda essa diversidade na composição do texto literário incide diretamente sobre o leitor, pois o nível de participação do mesmo que requer uma narrativa linear como A luz no subsolo é muito afastado do grau exigido por um texto eminentemente fragmentário e lírico 53 como Um sopro de vida. Não podemos esquecer que, como há um autor implícito, existe um leitor implícito – independente da presença ou ausência de um narratário – contido na própria obra e ao qual, direta ou indiretamente, um autor sempre se dirige. O que Clarice ou Lúcio parecem esperar de seu leitor é algo que tentaremos decifrar ao percorrer as páginas dos seus romances. Enfim, se como assevera Jean Rousset, “em toda obra viva, o pensamento não se dissocia da linguagem que inventa para pensar-se, a experiência institui-se e desenvolve-se através das formas” (ROUSSET, 1995, p. VI, tradução nossa 48 ), as diferentes formas adotadas por nossos escritores encontram sua justificativa na experiência radicalmente diferente que visam transmitir, experiência determinada, em boa medida, por sua particular visão do mundo. Nos dois capítulos da nossa tese, a partir das obras analisadas, e com o auxílio de correspondências, Diário (de Lúcio Cardoso) e depoimentos dos escritores, aliados à análise dos seus romances, tentaremos delinear o pensamento indeterminado que sustenta as narrativas e determina as suas formas diversas (ou a sua falta de forma, se for o caso), relacionando essas formas às linhas mais gerais do romance tradicional e do romance moderno. No capítulo 1, esboçaremos a visão do mundo de Lúcio Cardoso a partir, principalmente, do seu Diário, para depois abordar os aspectos gerais dos seus três romances A luz no subsolo, Dias perdidos e O viajante. Crônica da casa assassinada será objeto de um estudo particularizado, por apresentar características que a diferenciam notavelmente dos outros romances estudados, sobretudo em termos estruturais. No caso de Clarice Lispector, iniciaremos o capítulo tomando como base o estudo que realizamos das suas crônicas em nossa dissertação de Mestrado, Sob o disfarce da crônica: o delineamento de um projeto estético em Clarice Lispector, dando, assim, continuação a nossa pesquisa sobre a autora. Em seguida, deter-nos-emos na análise do romance de estréia da autora, a fim de detectar ali os principais elementos – já presentes – da visão do mundo clariceana. Traçaremos, então, de romance em romance e em linhas gerais, a trajetória que conduziu a escritora à elaboração das suas duas últimas obras: A hora da estrela e Um sopro de vida, que, em função do já exposto, merecerão uma análise mais aprofundada. Finalmente, nas conclusões, a partir dos resultados obtidos na análise das obras, realizaremos um confronto sintético do trabalho dos autores – amostra representativa da 48 Dans toute ouvre vivante, la pensée ne se dissocie pas du langage qu’elle invente pour se penser, l’experiénce s’institue et se développe à travers les formes. 54 diversidade formal do romance de introspecção no Brasil –, analisando também, na perspectiva de Jean Rousset em sua obra Forme et signification, a pertinência, adequação ou propriedade da forma escolhida por Clarice Lispector e Lúcio Cardoso para exprimir o mundo de significações que constituem os seus romances. Ou, no dizer de Georges Poulet (1990b, p. 288), as determinações formais do espírito que derivam do mistério original que subjaz às obras: o pensamento indeterminado dos autores. Traçaremos também, uma breve reflexão sobre o papel do crítico literário em face de experiências tão diversas de escrita. 55 1 LÚCIO CARDOSO: O ROMANCE CRISTÃO COMO ENCENAÇÃO DO DRAMA PESSOAL DO AUTOR Como todo grande escritor, Lúcio não é capaz de cindir vida e obra, de enclausurá-los em compartimentos estanques, inábil para dessolidarizar os conflitos pessoais do fluxo narrativo. Por isso, Octávio de Faria pôde lucidamente inscrever a obra dele na clave do “romance ontológico” (MOUTINHO, 1996, p. 714). Lúcio Cardoso nasceu, cresceu, formou-se e morou até os seus 15 anos em Minas Gerais. Assim, a primeira e fundamental fase da sua vida teve como cenário a Minas Gerais de inícios do século XX, uma Minas marcada pela decadência, pelo isolamento e pelo fechamento em si própria, em sua tradição, em sua interioridade. Como explica Marta Cavalcante de Barros (2002, pp. 23 a 30), Minas Gerais, que até o século XVIII está voltada para o exterior (com o dinamismo cultural e social que esse intercâmbio implicava) em função da sua principal atividade econômica (a mineração), com o declínio desta, vê-se obrigada a recluir-se nas fazendas/famílias, apostando por uma economia agrícola de monoculturas. A partir dos anos 30, começam a crescer as grandes urbes litorâneas – sob a promoção do governo Vargas – e o mundo rural vai ficando cada vez mais relegado, iniciando um processo de irreversível desmoronamento. Sintetiza Barros: A realidade mineira apresentava suas peculiaridades. No seu conjunto, as fazendas mineiras possuíam uma natureza bastante específica, que se definia por seu caráter isolado, auto-suficiente e diversificado. Eram, em sua maioria, grandes propriedades-latifúndios, símbolos da oligarquia rural [...]. O ritmo do tempo, nessas condições, tornava-se lento, quase parado, pois não fluía com intensidade: nada de novo parecia acontecer, tudo se reduzia à longa duração do cotidiano, aprisionado e contido, no predomínio das relações sociais imediatas (BARROS, 2002, p. 27). Como ainda assinala a crítica (Ib., pp. 29 e 30), a tradição assume, para as famílias dessa nobreza rural, uma singular importância, pois, esquecidas pelo desenvolvimento industrial e urbano, ela representa a única forma de preservar sua estirpe, isto é, sua identidade, o seu lugar no mundo. Essa tradição é sustentada por uma memória que se instaura no mais alto valor, uma memória permeada de fantasia, pois só a alienação possibilita a preservação da ilusão de certa hierarquia social em um mundo que passa a ser regido pelo 56 capital industrial e financeiro. Daí também a enorme resistência à mudança, visto que ela, necessariamente, acarreta a morte daquele ultrapassado regime feudal e aristocrático. É nesse contexto que se desenvolverão os quatro romances objeto da nossa pesquisa. É esse mundo o retratado por Lúcio Cardoso. 1.1 O autor e seus fantasmas: Entre o abandono e a danação Alguém se refere à “fluência” do meu modo de escrever, como se considerasse isto “fácil”. Faço aqui esta anotação por considerar tal coisa injusta, pois se é verdade que escrever para mim não depende de inspiração, podendo eu escrever a qualquer momento e durante horas e horas, sem que se detenha o fluxo de minhas idéias, nem por isto o que alimenta este fluxo é “fácil” ou gratuito; ao contrário, pois provém em mim do que é mais obscuro e chagado, da zona exata que em mim produz tudo o que é sofrimento e sensibilidade. O esforço de escrever, se se pode chamar a isto de esforço, é fácil, mas o que produz o escrito é triste e difícil. Sobre esta dualidade é que repousa minha natureza de escritor (CARDOSO, 1970, p. 242). [...] o que escrevo liberta-me da morte. Mas haverá um instante em que eu serei destruído pelo meu furor de inventor – será a hora exata em que minhas paixões não conseguirão se transformar em obras (CARDOSO, 1970, p. 266). A origem (com cujo contexto iniciamos este capítulo) será um fator fundamental para Lúcio Cardoso, no sentido de ela determinar vários aspectos da visão do mundo que podemos extrair dos Diários do autor e também de alguns depoimentos seus com que contamos. São esses aspectos e a forma em que eles aparecem refletidos, confirmados e ampliados nos quatro romances mais introspectivos49 de Lúcio Cardoso os que nos propomos mostrar nesta seção. Eles conformam uma visão do mundo vigorosa, mas não de todo coesa. É a esse pensamento indeterminado que o próprio Lúcio Cardoso alude na seguinte anotação do seu Diário: Perguntaram-me: mas afinal, qual é o seu sistema filosófico? Respondi: não tenho sistema filosófico, o resultado de todas as minhas contradições, e das indagações e dúvidas que me perturbam. Como posso unificar aquilo onde 49 Os dois primeiros romances de Lúcio Cardoso, Maleita (1934) e Salgueiro (1935) foram recebidos (e festejados) pela crítica da época como romances de linhagem realista e regionalista (o primeiro) e naturalista (o segundo). De fato, o primeiro conta a épica fundação da cidade de Pirapora, da qual o pai de Lúcio Cardoso teria participado e, inclusive, protagonizado. Em Salgueiro, era retratado o mundo dos habitantes do morro homônimo, em uma narrativa que, em função de seu estilo, muito nos lembra um clássico da literatura brasileira: O cortiço, de Aluísio de Azevedo. 57 não vejo unidade alguma, e sistematizar o que me parece espedaçado e sem sentido? Assim, é a existência o que me apaixona, o que eu viso é a sobrevivência. Nas duas, convenhamos, não há sentido algum (CARDOSO, 1970, p. 250). Basicamente, da tradição mineira o autor herda a religião: ele é fervorosamente católico e os dogmas do seu credo exercem uma influência marcante sobre todas as suas reflexões e sentimentos. No entanto, no seu Diário, Lúcio Cardoso revela também uma personalidade caracterizada por uma constante inquietação existencial, um espírito extremamente questionador, obcecado principalmente pela questão do pecado (e da culpa), pecado inerente à carne e fonte do desejo: desejo sexual, desejo de destruição, desejo de morte; enfim, aquilo que o próprio escritor identifica em si como “esta perpétua tendência à autodestruição...” (CARDOSO, 1970, p. 30). E também no Diário essa tendência “para o mal” encontra logo uma explicação religiosa: Não resta dúvida de que certos períodos são épocas de provação: Deus nos experimenta até o cerne, para ver se conhecemos de que têmpera somos formados. Eu sei qual é a minha triste natureza. Conheço o fascínio que a exorbitância exerce sobre mim, o gosto do mal subindo até a garganta como um fluido escuro, a necessidade de reconhecer o pecado a fim de me fazer vibrar e sentir que palpita no meu íntimo, um terror que me faz menos banal e menos tristemente moldado às misérias de todo dia (CARDOSO, 1970, p. 101). O desprezo pela carne também provém de um ideal católico de ascetismo: Não, a carne não é importante – pelo menos não o é senão em determinada idade. Eu me pergunto se tantas pessoas que eu vejo, exclusivamente dominadas pela carne, pela ânsia do prazer, se não serão assim exclusivamente por uma questão de vício, de hábito, de covardia ante a necessidade de mudar a forma de vida, de procurar o divertimento em formas mais elevadas e menos deprimentes (CARDOSO, 1970, p. 267). O autor anota no Diário o conflito que advém da contradição entre a sua origem (religião, tradição) e as suas inclinações na vida adulta: Abrindo os olhos faço uma descoberta que me parece espantosa: sou um possesso. No sentido literal, imbuído de uma outra personalidade que não a sua. Ou melhor, com duas personalidades coexistindo. Uma, a que se prende à minha infância em Belo Horizonte, e cuja melancolia de se saber escrava, produz todo o escuro painel de minha natureza. A outra, a que domina, e 58 elabora na vida todos os meus atos e todos os meus gestos. Esta é a usurpadora, a que existe sem direito (CARDOSO, 1970, p. 228). O sentimento do pecado é que nos faz avaliar o quanto estamos vivos; é pela angústia, pelo sentimento aterrorizante que me habita [...] que avalio o quanto estou longe de possuir esse espírito tranqüilo e isento de outras preocupações que não seja o meu tormento de todo dia. Eis um momento em que sofro, e tudo me parece incerto, pesado e sem claridade – o mundo perfeito da consciência culpada, do espírito marcado pelo remorso, pela noção do pecado entranhando na carne, orientando a existência como um câncer ramificado no ser, e que chamasse a si toda manifestação de vida (Ib., p. 114). O escopo da sua escrita será determinado por essas mesmas sensações e angústias, matéria-prima da atmosfera típica das suas narrativas: Se me perguntassem hoje qual é o fim extremo de minha obra, diria que é o Homem, ou melhor, a reintegração na sua forma decisiva e total, sem amputações, com seus lados de sombra, de conflito e de pecado – de tal modo total que, mesmo se Deus permanecesse não nele, mas à parte dele, ainda assim lhe sobrasse uma parte de grandeza e só ou abandonado, ele ainda fosse no universo como uma obra inteira e sem dilaceramentos (CARDOSO, 1970, p. 244). E o trabalho da escrita serve como tentativa de evasão com respeito ao pecado: Andando, vivendo, sofrendo de um lado para outro. Meus romances me aparecem em blocos, violentos e definitivos. Sinto o que tenho de fazer e, melhor do que isto, o que tenho de dizer. E no entanto, curiosa sensação: minha vida deve ser definitivamente regularizada. De agora em diante eu me devo ao trabalho, dia e noite sem descanso, minuto por minuto da minha vida. Para se levar a termo o que pretendo, e justificar o pecado de modo tão desabusado, só há um meio – o de afastar-me dele o mais possível (CARDOSO, 1970, p. 248). A morte é onipresente, e o tempo não é mais do que um prenúncio e agente dela: “De todos os lados, incansavelmente, como um fumo que fosse impossível deter, a vida que se esvai...” (CARDOSO, 1970, p. 275). A morte, essência de tudo – inclusive do amor – ocultase sempre nas dobras da vida: Certamente quem escreve sobre sexo, pode dizer que não conhece ainda o amor. No máximo, terá sua intuição. Mas quem escreve sobre a morte, sabendo exatamente o que é morrer, sabe muito bem o que é a dor, o sofrimento, e tudo o que, de maneira semelhante, compõe também a essência do amor. Pode haver morte sem amor, mas é impossível haver amor onde não entrem parcelas enlutadas de morte (CARDOSO, 1970, p. 47). 59 E que é a morte senão a essência de todos nós? Perdemos tudo, transfiguramo-nos, e bons ou maus somos sempre outros, a fim de podermos atingir em verdade a morte que nos vive (Ib., p. 51). Não se abandona a morte porque ela não nos abandona: sua intromissão é sutil e terrível – e por mais que façamos [...] jamais poderemos sorrir, porque tudo que existe como forma, palpita e se aquece com todo um lado crestado em sombra (Ib., p. 221). Além disso, ela ganha freqüentemente um valor positivo aos olhos do romancista. Daí o desejo de a ela se entregar, desejo que não oculta seu lado de declarado masoquismo: De que adianta viver se em nós uma presença contínua reclama a sua morte? Que podemos fazer quando em nós um outro lado quer deixar de existir? Da luta entre duas partes, arrancamos a possibilidade de fazer alguma coisa – mas é inútil quando a parte de sombra reclama o aniquilamento. Eu vivo, mas tantos venenos ardem no meu sangue (CARDOSO, 1970, p. 295). Vivo realmente uma agonia que me pertence. E costumo imaginar que tantos males me foram poupados durante a existência, para que possa morrer de uma morte longa e que contenha todas as mortes (Ibidem, p. 104). Assim, a morte se constitui na única forma de plenitude, de realização verdadeira e de completude: Só nos cumprimos encarando firmes e de coração tranqüilo essa etapa irremovível que tanto nos esforçamos por esquecer, que tanto tememos e que, no entanto, é a única realização constantemente presente, a morte. [...] A morte nos recolhe nus [...]. E nem mesmo este corpo que nos foi EMPRESTADO, é admitido em outra vida. Rede de hábitos e contradições mesquinhas, irá jazer sob a terra e aí apodrecerá (CARDOSO, 1970, pp. 2526, grifo do autor). Acho que a morte é, antes de tudo, uma libertação do corpo de sua vida sob a ameaça da doença e do desaparecimento – uma espécie de saúde, definitiva, que nos iluminasse sempre jovens como uma primavera do sangue (Ibidem, p. 242). É que à concepção cristã da vida vem aliar-se, na visão do mundo de Lúcio Cardoso uma verdadeira obsessão pela morte como única saída para a angústia do homem (assim o autor exprime também a impossibilidade de realização terrena do ser), preso em uma rede existencial tecida de convenções sociais rígidas que reserva ao indivíduo pouca (ou nula) margem de liberdade. Essa concepção corresponde ao que Heidegger denomina servidão do 60 homem (Cf. LARROYO, 1951, p. 110). Eis aí que reside o principal traço existencialista da escrita cardosiana50. Além disso, a despeito de Lúcio Cardoso acreditar firmemente na existência de um destino divino – crença que é afirmada com insistência, não apenas no Diário do autor, como também vazada através da voz de quase todos os personagens que ele cria –, algumas criaturas do mundo ficcional cardosiano exprimem uma profunda sensação de abandono, que os leva a questionar a existência de Deus. E é dessa aparente ilogicidade (lógica não-humana) dos desígnios de Deus que partirá a necessidade constante de afirmação (confirmação) que Lúcio Cardoso manifesta em relação a Sua existência. Essa problematização se insere, por sua vez, dentro de um questionamento dirigido ao catolicismo, o que aproxima o autor mineiro de uma das suas grandes referências, Julien Green. É assim que generaliza o autor, certamente a partir de suas próprias inquietações: É inútil negar, o homem é obsedado pela idéia de Deus. Tudo o que faz – quer se manifeste à luz do sublime ou do ignominioso, é um esforço para provar a si mesmo, consciente ou não, a realidade do mito da sombra de Deus. Já é uma filosofia banal afirmar que, no entanto, toda a Criação está vincada pela presença de uma entidade incompreensível. (Pois Deus é incompreensível, e aí reside sua grandeza. Os tolos, os que não podem deixar de reduzir as coisas à sua própria altura, julgam-no uma equação resolvida – mas quanto mais é profunda a nossa fé, mais fechado e mais espantoso é o segredo). Não, não é possível fugir: não sabemos quem somos, e nossa própria angústia ante este fato, justifica o mistério que nos obseda (CARDOSO, 1970, p. 26). E a título pessoal, confessa Lúcio: “Eu acredito em Deus, eu não posso deixar de acreditar em Deus – é Deus para mim uma necessidade mais forte do que a minha existência. Mas como supor que possa lhe agradar o absurdo deste universo dissociado e sem finalidade?” (CARDOSO, 1970, p. 249). Também: Acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo – mas não como uma lição servida a meninos obedientes, Deus, Jesus Cristo, como sopros terríveis e imanentes a este mundo de inconseqüências – e não como um véu sobre a verdade, arrebatando à sua sombra conciliadora os restos flutuantes de um mundo sem causa e sem governo (CARDOSO, 1970, p. 250). 50 Como tentaremos mostrar ao longo desta seção, esse existencialismo é inibido pela visão eminentemente religiosa do escritor mineiro. 61 Essa é a verdade à qual, em juízo do escritor, não teríamos acesso na vida terrena, pois ela residiria em uma outra dimensão (transcendente) da vida: “O que vivo, teria de viver como uma lei a que não posso me furtar; é mais uma palavra dessa misteriosa frase escrita por trás dos acontecimentos, e que marca o meu destino com o seu mais triste signo de veracidade” (CARDOSO, 1970, p. 125). Daí deriva a noção de destino do autor, na qual ele acredita de forma ferrenha e, junto com ela, o sentimento de desespero, angústia e abandono do ser humano dentro dos limites que lhe impõe esse mesmo destino. Várias vezes no seu Diário, Lúcio Cardoso exprime a convicção de que ele teria uma vocação/destino a ser cumprido. Por exemplo: “A menos que estejamos definitivamente danados, ninguém deixa de cumprir sua missão. Se às vezes é difícil, se demoramos no caminho, não quer dizer que tudo esteja perdido” (CARDOSO, 1970, p. 93); “Começo a ver nitidamente que o meu destino é o de uma completa obscuridade; não sei que força sorrateira e impetuosa vem levando todos os dias os meus amigos e conhecidos, [...] apagando uma a uma as luzes de seus nomes...” (Ib., p. 185). Nesse abandono e também em função de uma consciência moral – que, essa sim, não os abandona nunca, obsedando-os –, o autor e as suas personagens são constantemente atormentados pelo peso da responsabilidade que sentem. Se para Lúcio Cardoso, o homem não escolhe o seu destino, ele escolhe o modo em que haverá de cumpri-lo e nisso ele é livre e, portanto, responsável. Ora, como observou Heidegger (Cf. LARROYO, 1951, p. 113), há duas instâncias que marcam os limites da liberdade humana: o nascimento e a morte. E, como o homem – que se caracteriza por um caráter ontológico espontâneo – é, de forma inerente, projeção para o futuro (através da compreensão), define-se, então, como um "ser-para-amorte”. Sabe que, se ela representa o desconhecido, significa também o fim da angústia em face do nada que define a própria existência. Essa angústia é a exprimida também por Lúcio Cardoso em vários trechos de seu Diário: “Alguma coisa está AUSENTE de mim. Sinto [...] que sou apenas um grande vazio sem motivo. Para mim, a existência ocorre como se eu contemplasse seu espetáculo através de vidraças baixadas” (CARDOSO, 1970, p. 64, grifo do autor). Ou: “em momentos como este, sinto apenas, fundamente, a tristeza de não sermos nada” (CARDOSO, 1970, p. 59); “Inútil, desesperada angústia, não mais como um elemento espiritual ou de origem religiosa – angústia como uma náusea, pura e simples, percorrendome o corpo, atirando-me, inquieto, contra as coisas e as pessoas” (CARDOSO, 1970, p. 250). 62 Dessa angústia advém o desespero e o tédio existencial, outras duas constantes da obra do romancista: Como é triste essa dor de não poder reter coisa alguma, como é horrível ter perdido tanto, e como agora me sinto – e sempre, e cada vez mais – desamparado e triste! Escuto o conselho que me dão [...] – rezar. [...] Mas quem me devolverá o que fui, quem reconstituirá minha esperança perdida, a eternidade que imaginei nos meus dias de infância, a plenitude de um desespero que me constitui aos embates da vida feita de graça e tempestade? (CARDOSO, 1970, p. 59). Pois bem, esses sentimentos eminentemente existencialistas (que algumas personagens encarnam) entram em permanente conflito, na obra do romancista, com o misticismo profundamente católico que permeia a sua escrita. Mais, esse conflito (e a tentativa de uma resolução para ele) parece constituir-se no principal motor das narrativas cardosianas. É o próprio romancista quem explica o modo em que essa transmutação se processa: Não, meu caro Frei... [...] Um problema existe, sim, e grave, mas há vinte anos que eu me debato dentro dele, e é possível que, ultrapassando-o, nada mais me afaste desses sacramentos que são a base de toda a vida eterna. Este problema sou eu mesmo, simplesmente. Não preciso ferir a natureza particular de meus defeitos, para confessar que unicamente eles me impedem uma submissão total à Igreja [...] Explico melhor: o romancista é um ser voltado para o mundo, para as paixões do mundo, para a história dos sentimentos e do destino dos seres. Calar aquela parte dentro de mim, tornarme simples espectador, seria a solução, mas a força que me obriga a estar constantemente presente a essas crises e tormentas alheias, também me trai e me imiscui na correnteza geral. Até agora não consegui afastar-me do mal que escrevo, ou simplesmente representá-lo – esse mal sou eu mesmo, e a paixão do homem, nas suas auras e nas suas ânsias, é idêntica à paixão do romancista. Quem sabe, um dia poderei estar de fora e narrar o curso dos acontecimentos sem uma participação muito viva (CARDOSO, 1970, p. 137). Também é possível observar em várias das citações anteriores que a angústia assume, na vida e na obra do autor mineiro, a forma da desmesura, do excesso, da hybris que ele mesmo exprime na segunda epígrafe desta seção, trazendo-lhe isso o sentimento de uma irremediável solidão: 63 Tudo o que vivi, vivi como um estrangeiro. O bem, como o mal, sempre me pareceu um excesso, e a dor que a desordem me causa é idêntica à angústia que me vem ante as dilatadas purezas. O apito dos trens, as belas paisagens, os muros frios e altos, as casas de cimento avaro, tudo retine em mim e me faz sofrer, porque exatamente tocam no meu íntimo a corda que está sempre em desacordo com o mundo (CARDOSO, 1970, pp. 128-129). Para essa inadaptação, para essa espécie de hipersensibilidade, a morte é mais uma vez proposta como solução: “Não há possibilidade de nos escondermos com nossas impaciências e misérias cotidianas. Somos, enquanto duramos. Por isto é que a morte nos restitui nossa verdadeira grandeza, nossa medida exata porque elimina arestas e excessos” (Ib., p. 105). É por causa dessa angústia que o ofício de criar através da palavra é sentido e vivenciado pelo escritor como imprescindível devido a sua função ordenadora e apaziguadora da vida psíquica: É bastante curioso que, hesitando, encontrando dificuldades ou mesmo desdenhando até hoje dar uma forma precisa ou um arcabouço aos meus pensamentos, esta forma e este arcabouço se imponham cada dia com maior gravidade para mim, tanto nossa própria vida está ligada aos nossos pensamentos, tanto nossas idéias somos nós. Se continuasse a viver sentimentos e intuições desordenadas, correria o risco de mais cedo ou mais tarde atirar-me à simples loucura ou aniquilamento, que estes são os caminhos mais certos das imaginações desgovernadas... A força com que fala em mim o instinto de conservação e a preservação de uma obra [...] que ainda está longe de ser realizada, conduzem-me inexoravelmente a uma definição mais clara das minhas tendências, que pouco a pouco me torna mais forte. (Não discuto o mérito da obra feita – é mesmo possível que não interesse a ninguém – mas só ela me explica perante mim mesmo e é o único testemunho que posso apresentar de uma existência que, devidamente examinada, é inútil a toda gente) (CARDOSO, 1970, pp. 55-56). Vemos confirmada aqui a colocação de Jean Rousset (1995, pp. V e VI) quanto a uma função de (auto)conhecimento que a obra de arte desempenha na contemporaneidade em relação a seu autor. Essas afirmações também nos alertam para a possibilidade de encontrar, na obra de Lúcio Cardoso e, principalmente nos seus romances de introspecção, traços daquela “autobiografia virtual” a que se referia Cândido (1956, p. 75) ao tratar da obra de Graciliano Ramos. Como antecipamos na nossa introdução, à concepção cristã da existência, conjugamse, na obra do autor mineiro, algumas “intuições” tomadas de empréstimo ao discurso 64 psicanalítico, sobretudo no que diz respeito à percepção de forças que agem sobre o indivíduo e que o desviam, contra a sua vontade, do destino divino (necessariamente regido pelo bem). Representam, por isso, obstáculos (ou provações, conforme citação anterior de Lúcio Cardoso) sempre identificados como maléficos ou diabólicos, que, se não superados, conduzem ao pecado. Afinal, o inconsciente é mais uma manifestação do desconhecido. Em função da ótica católica, porém, Lúcio Cardoso acaba identificando o inconsciente com o mal51: Jamais pude viver toda minha vida sensatamente; sempre senti forças poderosas se digladiarem no meu íntimo, e acredito que, se Deus me deu a possibilidade de encontrar o caminho da salvação, é também porque me permitiu que costeasse livremente os caminhos do abismo. O mal, para mim, não foi uma entidade literária, ou uma sombra apenas entrevista no horizonte humano. Soube com pungente intensidade o que ele significa em nossas vidas, e muitas vezes, toquei seu corpo ardente com meus dedos queimados (CARDOSO, 1970, p. 168). Essas forças, para o autor, só propiciam o surgimento de paixões obsessivas e destrutivas ou, pura e simplesmente, o ódio, que, em todas suas manifestações, é o sentimento mais constante nas narrativas de Lúcio Cardoso. Como veremos mais adiante, nos romances do autor, só os seres tocados pela graça de Deus conseguem fugir dessa sina. Quando essas forças se manifestam, os indivíduos se descobrem abandonados, a mercê de um livre-arbítrio que, ironicamente, se encontra limitado pela natureza do próprio ser humano. O autor acalenta, de fato, uma visão filosófica de base essencialista: “e tanto é verdade que ninguém se transforma em coisa alguma, mas que se é tudo, e de modo definitivo, desde o princípio, desde o berço” (CARDOSO, 1970, p. 263). E em relação a ele mesmo, por exemplo, alude a “este centro permanente que me compõe” (Ib., p. 220), exclamando quase a seguir: “ah, como sou igual a mim mesmo, como me repito, febril e insaciável” (Ibidem). Acredita o autor que cada ser humano tem uma natureza (outorgada por Deus e, portanto, divina/oposta ao mal) e que a sua missão no mundo é justamente chegar a ela, tornando-se, assim, a sua própria essência: “Em última instância, o que é o mal? Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o mal é tudo o que atenta contra essa imagem e 51 Isto não quer dizer que o autor ignore as noções fundamentais da psicanálise. Em anotação do seu Diário (1970, p. 259), por exemplo, ele faz referência à perturbação que sentia em relação a moças e introduz o comentário dizendo que ele faria “talvez sucesso entre os psicanalistas”. A despeito disso, na sua concepção do mundo, como já mencionamos na nota 55, acaba predominando a visão religiosa. 65 semelhança, índice dos atributos divinos da natureza humana. O mal é a negação dessa própria Natureza” (CARDOSO, 1970, p. 9). Ou, ainda: Não aprendemos, não adquirimos experiências para viver, não nos tornamos diferentes pelo conhecimento – pelo menos naquilo que constitui o fundo essencial de nossa natureza. [...] Uma grande vida deve ser aquela que aprendeu a se despojar melhor, a fim de atingir com perfeição o fim inevitável (Ib., 1970, p. 25). [...] não podemos romper totalmente com os laços que nos prendem aos pontos de origem. [...] Somos como parcelas de um único todo, lançadas numa pista inclinada – quando menos voltamos o olhar para o trás, mais nos distanciamos de nossa verdadeira essência (CARDOSO, 1970, p. 77). Assim – e como vimos anteriormente –, essa essência com a qual nascemos, acaba confundindo-se, na visão do autor, com a própria morte. O livre-arbítrio do ser humano consistiria justamente na escolha dos passos que hão de aproximá-lo ou afastá-lo da sua essência. É só nesse aspecto de percurso em direção a uma essência que podemos detectar um traço existencialista no pensamento do autor mineiro. Outra das piores forças contra as quais o ser humano precisa lutar é o hábito, síntese das convenções sociais no qual ele se acha preso e que o afastam do verdadeiro encontro consigo mesmo (e, assim, com Deus), constituindo o que Heidegger denomina servidão (Cf. LARROYO, 1951, p.110). Lúcio Cardoso o compara a uma espécie de parasita: O hábito se une a nós como uma erva que custasse a se desprender do velho tronco. [...] É talvez o que se chama viver o “dia-a-dia”, compor o cotidiano – ou melhor, extrair dos fatos toda parcela de grandeza, toda possibilidade de tragédia ou de aventura, sujeitarmo-nos apenas, seguindo com o que nos vive, antes de vivermos em sua plenitude o momento que nos é dado... É este, possivelmente, o caminho certo. Mas não posso viver sem remorso essas demonstrações de pobreza e de descrença espiritual. Não há outro nome a dar a esses tateamentos, a essas tentativas vãs de atingir o cerne comum, o centro de desinteresse geral que constitui a vida de todo o mundo (CARDOSO, 1970, p. 153). Para contrabalançar e combater o hábito, Lúcio Cardoso propõe a loucura ou o pólo dionisíaco do viver: Não digo o prazer, que é uma recompensa, um direito ao alcance de qualquer um – [...] mas a saída violenta de si mesmo, a embriaguez, o delírio – tudo isto nos é devido, é sagrado mesmo, para que possamos recompor o nosso 66 ser autêntico, esmagado no fundo do ser pelas imposições do hábito (CARDOSO, 1970, p. 183). Mas a morte sempre volta a aparecer nas reflexões do autor como a saída mais efetiva para a angústia derivada da servidão: A fuga é possível – mas para uma ilha deserta ou um convento. São estes os últimos redutos onde a verdade integral é possível. Que verdade? A do silêncio. Mas enquanto vivemos neste mundo, as garras do hábito são tão fortes, que nos tornamos iguais pelo terror de sermos muito diferentes. Creio que há um instante, no entanto, em que o limo do habitual se desfaz em nós – instante em que, nus, olhamos sem espanto a nossa essência verdadeira. Aí a mentira é inútil, o mundo abandonado recolhe seus estraçalhados atributos. Falo, é claro, do instante de nossa morte (CARDOSO, 1970, p. 25). O sentimento de culpa nasce do dilema que brota no indivíduo ao ele ter que lidar com aquelas forças do desconhecido (ou do mal) que mencionamos anteriormente e a vontade de atingir um determinado ideal, de acordo com preceitos morais e religiosos. É essa a angústia existencial que o autor exprime em seu Diário: “Há um poder desumano, excessivo, que me esmaga, e não tenho nenhuma força para banir isto a que sempre chamei de ‘meus fantasmas’. Rememoro todas as oportunidades perdidas e o destino que despedacei, por cegueira e tola ânsia de viver” (CARDOSO, 1970, p. 87). O seu descontentamento em relação à Igreja também está relacionado com esse sentimento: [...] o templo já não é mais o recinto onde vamos chorar o nosso terror e a nossa miséria – sem as quais, é inútil, não há fé – e procuramos outros templos, e nesses templos sucedâneos erigimos ídolos sem consistência e que possuem todos, não a semelhança de Deus, mas a nossa própria e perecível semelhança. Aí está a nossa heresia e o princípio terrível que fragmenta nossa unidade com Deus. Sem crença em nossa culpa, no fundo é a nós mesmos que adoramos (CARDOSO, 1970, p. 166). Para o autor mineiro, a escolha humana ficaria limitada ao nível moral, mas é isso justamente o que permite conciliar o cristianismo com uma visão existencialista. Como aponta Foulquié, a moral de Cristo, assim como a moral existencialista, é uma moral aberta. O cristão jamais se contentaria com o que ele é. Na verdade, foi-lhe dito: sê 67 perfeito como teu Pai celeste é perfeito. Assim, longe de deter-se na sua marcha para a frente, o cristão não vê no progresso realizado, se todavia ele o constata, senão um meio de acercar-se do ideal. Ele também está inteiramente em projetos (FOULQUIÉ, 1961, p. 102). A responsabilidade dessa escolha moral e a virtude da opção pelo bem é apontada explicitamente por Lúcio Cardoso em seu Diário: “As mesmas quedas, os mesmos tristes efeitos. Mas não é a salvação em si o que mais importa, e sim o esforço para atingi-la. Decerto isto é o que se pode chamar de bem” (CARDOSO, 1970, p. 204). Ou, A liberdade, a única liberdade autêntica, é a de ser homem, mas totalmente, com as nossas faces conjuntas do bem e do mal. [...] Onde reside o mal, e se conhece a projeção sombria da vida, existe a furiosa nostalgia do Cristo. [...] Cristo é o esforço pessoal e uma voz íntima, um combate de cada um. Não há, no entanto, um isolamento neste cristianismo, uma ilha social – há um modo de ser melhor e autêntico, baseado num conhecimento certo e num amor que ultrapassa a possibilidade de todas as quedas (CARDOSO, 1970, p. 245). Quanto a sua luta pessoal e íntima, confessa o autor: Não inventei e nem idealizei a minha salvação; eu a vivi humildemente como homem, no recesso mais fechado da minha alma. E se falo em “salvação”, não quero dizer que tenha de chofre conquistado a beatitude eterna, mas simplesmente declarar ter alcançado a graça de poder repelir o mal, e assim pedir a Deus que me afaste dele, já que a dura contingência humana me fez tão propício ao seu fascínio e tantas vezes confundiu a nitidez do meu olhar, fazendo com que eu preferisse ao que me elevava, aquilo que me devorava, e lançando-me nas trevas (CARDOSO, 1970, p. 168). Se na obra de Lúcio Cardoso isso se reflete é porque o autor concebe um ideal de evolução em direção a Deus (Essência Absoluta): Deus espera recolher toda a Criação em seus braços, de onde sua infinita paciência. Somos cegos e desatinados, mas caminhamos, caminhamos desde o primeiro dia. E se Ele nos enviou o Filho, foi para provar o seu amor e mostrar a Lúcifer, através desse grande resgate, que seus domínios ficarão vazios para a eternidade (CARDOSO, 1970, p. 98). 68 O resto é decisão (arbitrária) de Deus. De fato, Lúcio Cardoso, em consonância com a doutrina cristã no que diz respeito ao sentimento de irracionalidade do real, reconhece que a graça é um presente divino – dom outorgado sem merecimento – a cujas razões não temos acesso enquanto seres humanos: “E só aqueles a quem Deus elegeu com o esplendor de sua Graça podem, sem trair e sem pecar, comprometer o máximo amor na fé mais extrema. Na fé absoluta” (CARDOSO, 1970, p. 5). Paul Foulquié sintetiza todos esses aspectos que também fazem parte do existencialismo cristão com as seguintes palavras: A graça é, essencialmente e por definição, gratuita, isto é, não depende dos méritos do homem, mas do arbítrio de Deus: assim compreendida, esta gratuidade aproxima-se da que se localiza no centro do existencialismo de Sartre, para quem “gratuito” constitui sinônimo de “irracional” e quase de “absurdo” (FOULQUIÉ, 1961, p. 103). Esse ideal de perfeição, porém, só cria angústia, pois, como bem assinala o mesmo autor (desta vez aludindo à escolha existencialista em geral): A escolha do que queremos ser é irracional, injustificada; efetua-se fora de todo conhecimento, pois a existência é vivida e não pensada. Não obstante, cada um responde por sua escolha, pois esta escolha é ele próprio, e, portanto, angustia-se pelo temor de haver escolhido mal; cada qual também responde por uma ilimitada, desmesurada vontade de existência, que nutre o sentimento de culpabilidade da criatura que desejou tornar-se Deus (FOULQUIÉ, 1961, pp. 112-113). Em citação acima, Lúcio atenta para uma outra qualidade dessa escolha: a solidão. Diz o autor que a sua foi vivida “no recesso mais fechado da [sua] alma” (CARDOSO, 1970, p. 168). Quando a escolha é a da transgressão, então, essa solidão tornar-se-á mais radical: Não sou maleável e nem sei me adaptar às pequenas junturas da vida: sintome um bloco rude e sem vivacidade, um monstro atônito no meio da infinita, da minuciosa sabedoria alheia. [...] Mas sei que existo. E por onde sei, é pela boa vontade cada vez maior com que compreendo e aceito o meu desterro (CARDOSO, 1970, p. 185). E também a solidão se transforma, no pensamento indeterminado de Lúcio Cardoso, em um prenúncio da morte: Para se ser só, não há necessidade de se estar só – a solidão é um estado natural que a idade nos traz e do qual não podemos nos afastar – e onde 69 mergulhamos sempre e sempre, e cada vez mais, até que o rumor em torno de nós também cessa, e somos então a matéria última e definitiva do silêncio – a morte (CARDOSO, 1970, p. 270). A arte também é vista como transgressão: “Por que não ver no instinto criador outra coisa senão o lado oposto de forças inquietantes e monstruosas que nos compõem? Dificilmente o trabalho artístico é uma face da santidade” (CARDOSO, 1996b, p. 748). Constata-se, por último, uma atenuada oscilação no que diz respeito à questão da essência, aproximando também o pensamento do autor de um certo existencialismo: “Nenhuma proposição para a estabilidade – não há estabilidade. O ser não é uma estrutura fixa num eixo, mas qualquer coisa indeterminada, fluídica que oscila de um pólo para outro, como a noite para o dia. Tudo é por vir – e esta é a fatalidade” (CARDOSO, 1996b, p. 743). Note-se como, a despeito disso, os contrários do bem e do mal são mantidos mais uma vez. É que apesar do traço existencialista que se manifesta em algumas páginas cardosianas, a visão do mundo profunda do autor continua sendo essencialista e eminentemente cristã e, dentro da filosofia, aliada à “concepção agostiniana do homem – nascido pecador e destinado à danação, se Deus, por uma escolha absolutamente gratuita, não o livra da sorte que merece” (FOULQUIÉ, 1961, p. 102). Em A ascensão do romance, Ian Watt (1990, p. 137) sintetiza os “elementos paulinos e agostinianos da tradição cristã”. A saber: A natureza física do homem e seus desejos eram tidos como radicalmente maus, a damnosa hereditas da queda: por conseguinte a virtude tendia a resumir-se numa questão de suprimir os instintos naturais. [...] resistir aos desejos do corpo tornou-se o objetivo principal da moralidade laica; e a castidade deixou de ser uma virtude entre outras para tornar-se a virtude suprema de homens e mulheres” (WATT, 1990, p. 137). Cabe lembrar aqui que essa variação do pensamento (e do sentimento) entre cristianismo e existencialismo constitui um divisor de águas da época em que o autor mineiro estava no auge da sua produção, o que se manifesta claramente na literatura européia. Como mostra Tadié (1992, p. 61 e pp. 79 a 81), a rivalidade ideológica e literária entre existencialistas e católicos é uma marca a partir da década de 30 na França (Camus/Sartre/Queneau vs. Mauriac/Bernanos). No que diz respeito à influência desse debate sobre o autor mineiro, Flávia Trócoli Xavier da Silva (2000, pp. 61 a 66) demonstra, em sua dissertação de Mestrado, as confluências entre a visão do mundo de Lúcio Cardoso 70 (e do catolicismo) e o pensamento de Léon Bloy. De fato, no Diário de Cardoso, há várias alusões ao autor francês (ex. 1970, p. 157). Para além dessa e outras influências (por ex. Julien Green) – que fogem ao objeto de nossa análise –, em vários trechos do Diário encontramos assertivas que confirmam essa (di)visão. Para o autor, a única forma em que o homem poderia atingir a redenção por seus pecados é, de fato, o seu avesso, a danação. Só no paroxismo da queda, encontrar-se-ia a infinita misericórdia de Deus. Comentando um romance de Otávio de Faria (Os renegados), ele escolhe a figura de Maria Madalena (não por acaso, nome de uma das personagens de A luz no subsolo), a fim de ilustrar esta sua crença, ressaltando, ao mesmo tempo, os atributos morais que ele considera mais elevados (também serão os atributos da personagem do romance): [...] apesar de tudo, há aqui nestas páginas, algo que soa arbitrário, que não nos convence [...] – é que nos lembramos que a Cruz foi plantada entre dois ladrões, que Jesus Cristo viveu entre “publicanos e pecadores”, que relevou a mulher adúltera, Maria Madalena e toda uma corte de “possessos” daquilo a que o nosso romancista chama “o demônio da carne”. Ah! Como ele tem razão: carne degradada, sim, rebaixada, atingida até o âmago pelo estigma da Queda – mas carne redimida, carne salva e apertada entre os braços de Deus, desde que se pôs dolorosa, sofredoramente a caminho, e que sem trocar o rosto iluminado da Santidade pelo da máscara blasfema da Pureza cheia de orgulho, sabe que a renúncia humilde e sofredora de cada dia, está mais próxima da complacência de Deus, do que o grande grito que nos impele de um só jato, não para a redenção do estigma trazido pela Queda, mas para a desolada região do inumano – onde é inútil a piedade do Criador (CARDOSO, 1970, p. 157). A figura e o exemplo de Jesus Cristo são o paradigma escolhido por Lúcio Cardoso para realizar esse tipo de reflexão e, em reiteradas ocasiões, ele reclama da substituição, por parte da Igreja do seu tempo, do verdadeiro Cristo (martirizado) por um Cristo (e um cristianismo) à medida da banalização e da mediocridade do homem moderno: Mas é fácil de ver: uma determinada espécie de conformismo, de cultivo das qualidades medianas de equilíbrio e bem-estar (o homem casado, pai de família, democrata etc.), criou pecaminosamente um cristianismo adaptável às suas ambições, um cristianismo que seria tudo, menos uma violência, menos uma exacerbação dos sentimentos. Uma religião tranqüilizadora. Necessitamos urgentemente de voltar aos tempos da Inquisição. Precisamos das grandes fogueiras e dos punhais aguçados à sombra das sacristias. Nunca 71 houve santos conformistas e democratas – e o ideal cristão é o dos santos, de que a Igreja cada dia tem mais necessidade (CARDOSO, 1970, p. 100). Não acredito que tenhamos perdido Jesus Cristo, como tantos homens de idéias gostam de apregoar, o drama é mais fundo e mais trágico: nós o substituímos e criamos uma espécie de sucedâneo mais de acordo com nossas pequenas necessidades. Reflito isso amargamente, enquanto penso num outro Jesus Cristo, despojado e nu, com o corpo coberto de cicatrizes (CARDOSO, 1970, p. 139). Em função disso, ele sugere – também muitas vezes – que a redenção do homem (tanto no nível individual quanto no coletivo – nação, humanidade) só poderia efetivar-se mediante a ocorrência de uma catástrofe, única condição para o surgimento do novo homem, “em que se confundem as noções clássicas do bem e do mal [...], o homem das medidas equilibradas e não o das medidas alteradas” (CARDOSO, 1996b, p. 747), e donde ele, então, sairia purificado, atingindo a ressurreição que todo católico almeja: “Procuro os jornais, ansioso, esperando que seja afinal a catástrofe definitiva. Quase toda a gente que conheço prenuncia o fim do mundo. Para mim, no entanto, cujo cansaço é tão mortal, apenas atingimos o começo” (CARDOSO, 1970, p. 99). Enfim, podemos muito bem sintetizar a visão do escritor nesse sentido, com as seguintes palavras extraídas do seu Diário: “É pelos pés do desastre que o futuro caminha: não nos enganemos, foi como homem, dilacerado e abjeto, que Deus veio ter conosco – dilacerados e abjetos é que estaremos à altura de qualquer céu” (CARDOSO, 1970, p. 73). O autor chega a orar para que isso aconteça: Faz, ó Senhor, com que nos suceda uma catástrofe imensa e coletiva. A inundação ou destruição das cidades condenadas. Queremos uma guerra forte e sem piedade. Queremos uma morte egoísta e adornada de cruéis heroísmos. Queremos o nada como uma grande convulsão. Que venham os tempos musicais do castigo, que a peste penetre com seus andrajos no coração das cidades, e que sinos violentos toquem a hora nova de ressurreição (CARDOSO, 1970, p. 200). É também sob essa chave que são interpretadas as guerras: Se Deus intervém no destino do homem como outrora destruía e flagelava cidades pecadoras, é pelas guerras que ele hoje se manifesta; a única diferença é que o castigo foi deixado ao nosso cuidado, e como soubemos adorná-lo de requintes sinistros! 72 Não, as guerras são necessárias. Caminhando na Cinelândia ou defronte do Café Vermelhinho, sinto que não é possível que tudo prossiga assim, nessa eterna espera, nessa angústia do nada e da mediocridade. No fundo do coração é a catástrofe que chamamos. Ninguém suporta a horrível monotonia da vida (CARDOSO, 1970, p. 197). O mal (associado àquelas forças desconhecidas), a transgressão, a subseqüente solidão, a catástrofe são condições necessárias para que ocorra o que Lúcio Cardoso denomina “terror”, caos que se constitui, aos olhos do autor mineiro, como a única condição de criação, de renovação: “O terror é uma época de ultrapassamento. É um impulso único e violento de todo o ser para regiões de intempéries e de insegurança [...] onde encontramos finalmente a essência esquiva, ambiciosa e cheia de espanto que nos governa” (CARDOSO, 1996b, p. 744). O terror também conforma um estado de espírito individual e desejável para quem acalentar um ideal semelhante ao de Lúcio Cardoso: [...] só através das situações extremas o homem encontra a si próprio, na tensão completa do seu ser, no despojamento de sua essência cotidiana, no esmagamento de seus postulados comuns e sem vitalidade. Reclamo o ser de emergência e de prontidão, destinado a renovar na angústia e no medo todos os vícios de sua criação moral. Reclamo a total solidão e a total liberdade; só dessas zonas extremas é possível reinaugurar alguma coisa nova [...] (CARDOSO, 1996b, p. 745). O conceito de esperança ganha, sob esta ótica, um matiz diferente: Sei que d’agora em diante todos os meus escritos, bons ou maus, devem traduzir o sentimento de desesperada esperança. Desesperada porque não acreditando mais no tempo em que vivo, nem em suas possibilidades e nem em sua sobrevivência, isto deve me causar pânico, como todas as transformações essenciais; esperança, porque é o homem novo que vislumbro além dessas ruínas. Do momento em que reconheço isto, é criminoso da minha parte não precipitar o caos – é retardar o começo e pactuar com a sobrevivência dos cadáveres. Minha mais constante vontade deve ser a de um arrasamento contínuo. Meu trabalho é o de desagregar e fazer empunhar armas. Porque aí vem o tempo em que não subsistirá pedra sobre pedra, como diz o Evangelho. E o homem novo que deve surgir me impregna de tal entusiasmo, sua intuição me faz vibrar numa tão impetuosa corrente de vida, que eu muitas vezes hesitante ainda [...] caminho no mundo conhecido como entre as formas de um universo desvitalizado e sem arrimo (CARDOSO, 1996b, p. 747). 73 Por isso, é a danação o único caminho que revela às personagens cardosianas uma possibilidade de libertação/salvação. Daí a enorme importância que o crime52 assume na ficção do autor, onde – como observava Albérès em relação às narrativas de Dostoievski – também o desvio de todo e qualquer tipo de comportamento ético (isto sim, de acordo com uma moral muito bem internalizada) parece ser a norma. No entanto, antes de apresentar as personagens cardosianas – às que já fizemos algumas referências –, cabe perguntar por que deslizamos constantemente, ao falar na visão do mundo do autor mineiro, para o mundo das suas personagens atormentadas e para os seus dilemas existenciais. Muito possivelmente isso se deva a que, como afirma Mário Carelli (1996c, p. 724) na edição crítica de Crônica da casa assassinada, “A chave assumida da escrita cardosiana é a atitude de projeção da subjetividade”. E é de fato assumida, porquanto é no próprio Diário de Lúcio Cardoso que encontramos a confirmação da assertiva do crítico. Diz o autor mineiro, fazendo referência, especificamente, a uma novela sua: Os sentimentos que então me agitavam, a paixão desnorteada, a falta de caminho [...] enquanto escrevia uma novela (O desconhecido) onde tentei lançar, encoberto, um pouco de tudo o que então me perturbava... e não era aquilo uma simples manifestação da vida, infrene e cega, do meu sangue, tumultuado e forte, manifestando por todos os modos sua maneira de existir e de criar? (CARDOSO, 1970, pp. 258-259). Mais ainda, a interioridade do criador e dos seus conflitos são reivindicados como fonte da criação: Do nada, só se tira mesmo é o nada, pois todo criador tira sua criação, qualquer que seja ela, do seu fermento interior, de suas contradições, de sua ânsia de entender e captar, impondo assim ao mundo um conjunto de valores que representem exatamente a estatura de sua força interior. [...] Faulkner [...] era um “criador”, não de conflitos literários insolúveis, mas de conflitos 52 No Diário de Lúcio Cardoso também podemos constatar o profundo interesse e atenção que o tema do crime suscitava nele. Por exemplo, nas pp. 37-38, o autor demonstra acompanhar o andamento das investigações em torno do “crime da Praça da República”, refletindo a seguir que “é impossível não reconhecer que algumas grandes questões se colocam em crimes desta natureza”. Encontramos alusões a outros crimes nas pp. 66, 67 e, ainda, a visões ou sonhos com crimes na p. 266. 74 humanos – estes sim, insolúveis, porque feitos dessa tumultuada matéria com que besuntam as mãos todos os escritores dignos desse nome e que se chama injunção humana (CARDOSO, 1970, p. 276). Vejamos então como se processa especificamente essa passagem da interioridade do autor para a sua ficcionalização nos quatro romances de Lúcio Cardoso alvo de nosso estudo. Em primeiro lugar, resgatemos a definição de romance que o autor acalentava: “um grito do homem contra tudo o que o aniquila. É um gemido da criatura que não ignora a extensão exata do pecado, que mede toda a profundeza de sua queda. Por isso é que todo romance resume uma tragédia” (CARDOSO, 1996a, p. 760). E, também, contrapondo o trabalho do jornalista ao do romancista, afirma o autor de A luz no subsolo: Ao jornalista é o fato que interessa, o que importa é a dilatação do acontecido, até sua exaustão, até sua caricatura [...]; ao escritor é a contenção do que se passa, sua conversão num amálgama restrito e fechado, sua estrita verdade, pois os caminhos da especulação não se dirigem ao acontecido propriamente, mas à aura que projeta, suas conseqüências e suas repercussões no absoluto (CARDOSO, 1970, p. 227). Destes dois depoimentos de Lúcio Cardoso podemos já extrair as três principais características da sua obra: a tragicidade, a introspecção e o misticismo religioso. 1.2 Os romances de Lúcio Cardoso: versões implícitas do autor O primeiro romance que nos propomos analisar a partir de nosso recorte teórico é A luz no subsolo. O título do romance não é fortuito. Desempenha incontestavelmente a função apontada por Tadié no sentido de que “[...] a sombra de um título desdobra-se sobre cada instante da nossa leitura para a dirigir ou a rectificar” (TADIÉ, 1992, p. 153). A luz no subsolo, primeiro volume de uma trilogia nunca concluída chamada “A luta contra a morte”, centra-se na história do casamento de Madalena (herdeira de uma família rural de Curvelo53 em decadência, cujo principal remanescente é a mãe alcóolatra, Camila) e Pedro (professor, mestre-escola com veleidades literárias e de origem misteriosa, apesar da aparição, no romance, da sua mãe, Adélia, que visita o casal e tenta, em conluio com o filho, matar a nora). 53 Cidade natal do próprio Lúcio Cardoso. 75 A primeira parte do romance recebe o nome de “Os laços invisíveis”, e é esse também um título que descreve perfeitamente a relação, não só entre os cônjuges (na sua relação de características sadomasoquistas, todos os sentimentos entre eles são injustificados, sobretudo o suposto amor de Madalena por Pedro), mas entre todas as personagens do romance, cuja união só pode ser atribuída a um destino incompreensível, uma vez que só sentem ódio e desprezo uns pelos outros, não conseguindo alcançar qualquer tipo de comunicação verdadeira. Pedro é apresentado como um ser destituído de qualquer sentimento positivo ou bom em relação aos outros, “indivíduo estranho, inexplicavelmente fora do seu ambiente natural [...]” (LS, p. 47) e portador de um “sortilégio que o distanciava das demais criaturas, ser destinado a permanecer à parte, dentro de uma grandeza ou de uma miséria que não era a grandeza e nem a miséria habitual dos homens” (Ib., p. 47). Isabel, uma menina com quem se relacionara ainda criança, morre em decorrência de uma tentativa de afogamento perpetrada por ele. Também tentará, muito mais tarde – e desta vez sem sucesso – matar Madalena por envenenamento. Além disso, ele exerce uma influência nefasta sobre os outros (um aluno seu tenta matar o pai e Pedro é demitido por suposta influência sobre o rapaz). É assim que o narrador descreve a sua influência opressora: Estava dentro de uma atmosfera impenetrável e, nele, as sensações se rompiam irremediavelmente. Nada resistia àquele rosto severo quase até o mau humor, àquela decisão diabólica marcada nos olhos, nos lábios, na sua pessoa inteira. Madalena não pudera dizer nada, inteiramente dobrada àquele jugo. [...] E compreendendo que viria a seu encontro, que não poderia fugir à misteriosa força que ele respirava, caminhara na frente, desorientada, sentindo um grande terror de tudo (LS, p. 52). Bernardo, cunhado de Madalena (que trai a esposa com uma prostituta chamada Angélica e a quem assassina no final), sente por Madalena uma paixão mórbida e, por Pedro, uma relação de ódio e dependência, pois os dois conformam uma variável do duplo. Bernardo é apresentado como “um homem baixo e de membros curtos. Era impressionante como toda sua figura mesquinha refletia a sua natureza. [...] um homem sem caráter. Bernardo era repudiado em quase todos os lugares. [...] no fundo, não passava de um vulgar intrigante” (LS, p. 86)54. Madalena, por sua vez, em princípio abnegada e resignada em relação ao desprezo de seu marido, acaba por assassiná-lo no final do romance. 54 Note-se, já nesta passagem, como Lúcio Cardoso explicita as metáforas e figuras que utiliza. Neste caso, explica uma assimilação entre corpo e caráter, não deixando ao leitor a possibilidade de descobri-la por si mesmo. 76 Cira, irmã de Madalena e esposa de Bernardo, acalenta durante toda a sua vida uma ânsia de fuga: “você há de ver, mãe, um dia me perderei nesses caminhos...”. Esta frase estava de tal modo ligada à idéia de Madalena sobre a sua irmã, que ela já não podia ver uma estrada escura ou escutar a notícia de que alguém tinha partido, sem realizar instantaneamente essa imagem quase perdida no tempo, Cira ameaçando de abandonar tudo e se entregar à vaga aventura dos caminhos despovoados (LS, p. 43). A outra personagem fundamental do romance é Emanuela (“Deus está convosco”, em hebraico), uma jovem inocente, empregada por Madalena para trabalhar na sua casa e que, assediada e estuprada por Pedro, engravida, foge, volta à casa paterna e enlouquece. Bernardo também disputa Emanuela, por quem sente “uma misteriosa atração [...] um desejo confuso, uma saudade estranha daquela carne, uma inquietação tão viva que parecia flamejar à flor da pele” (LS, p. 111). É no contraste entre a pureza da moça (que é constantemente ressaltada no romance desde sua primeira apresentação, nas pp. 80-81) e o seu destino final, marcado pelo contato com Pedro e com as outras personagens do romance, que Lúcio Cardoso extrairá a maior carga de tragicidade deste romance. O título da obra, que anuncia e sintetiza o sentido final da mesma, é explicado por Pedro a Bernardo, quem, em diálogo da terceira parte do romance (denominada “Os evadidos”), ainda o transmite a Madalena: – Mas a luz... que é que significa a luz no subsolo?[...] – É de uma simplicidade imbecil – creio mesmo que já o deve ter escutado algum dia... Ele quer dizer que existe uma realidade que não vive para nós senão de uma maneira incompleta... compreende o que estou dizendo? Assim como existem outras que não vivem completamente: permanecem dentro de uma existência de sombra, acusadas apenas como uma presença que recebe de nossa parte um reconhecimento insignificante e pueril... Assim estão sempre envolvidas em qualquer coisa longínqua, que sentimos sempre mas que não tocamos nunca... Estamos envolvidos pelas trevas mais densas – a realidade não é a realidade – premidos num subsolo, nós não a podemos ver senão de um modo arbitrário e confuso... (LS, p. 311). Possivelmente os leitores de Lúcio Cardoso (não assim Madalena ou Bernardo) já tenhamos ouvido algum dia o mito platônico da caverna. Há, porém, nesta retomada do autor mineiro, uma adaptação vinculada às suas crenças religiosas. As personagens cardosianas (neste caso, Pedro e Bernardo) perdem-se na sua tentativa de atingir a luz, não sabendo o que 77 fazer com ela. Em vez de elevação ou liberdade, eles encontram a supremacia dos instintos que lutam por vencer. Assim, desespera-se Pedro: Os homens talvez sejam livres demais. Eu tenho medo dessa liberdade. As minhas mãos sabem mais do que eu, o meu coração não ignora nada. [...] Tenho medo de mim e tenho medo dos outros. Não sei como encarar os homens. Às vezes penso que tenho direito a tudo, que sou o mais forte. Mas – compreende você? – essa liberdade é demasiado para mim. Não sei o que fazer da minha solidão. [...] O pior é a questão de não ignorar nunca o meu desejo. E não posso fugir! Se fugisse, no silêncio do meu quarto teria vergonha do que se passara. Mas depois da ação realizada, tenho medo, um medo terrível do meu destino (LS, p. 114). E assim conclui Bernardo, em sua conversa com Madalena, abonando a crença de Lúcio Cardoso de que não existiria salvação possível nesta terra dominada pelo mal (ou demônio): Apenas existe um mistério em tudo isto. Já disse que algumas vezes cheguei a acreditar nessa luz... pois bem: a pessoa que se evade desse subsolo, o que consegue romper esse mundo de trevas, é de qualquer modo uma criatura perdida... [...] – Mas, Deus do céu, estou mentindo ainda, eu não passo de um vil mentiroso! Sabe? Só hoje essa luz apareceu para mim, Madalena, há poucos instantes, quando eu lhe disse: “ouve, minha rosa, eu cheguei a tentar comprar as criadas, na febre de possuí-la” – e, não há muito tempo... Pedro tinha me dito que o pior são as criaturas amedrontadas consigo mesmas e só hoje eu resolvi não ter mais medo e me evadir do subsolo em que estava encerrado... compreende?[...] – Já não era mais a larva [...] o diabo tinha se apiedado de mim (LS, p. 312). Pedro, entretanto, demonstra não conseguir se livrar do medo dele mesmo, medo do Deus (Pai) no qual ele não acredita, mas cuja idéia o atormenta e o leva a um combate constante para sustentar o ceticismo: [...] “bem sei que não existes” – exclamo pensando em alguém que eu não vejo, mas “alguém” que é responsável pelos meus atos. Entretanto, tenho os meus momentos de lucidez. É quando me detenho diante do espelho e vejo o meu rosto repleto de cansaço e indiferença. Então, uma pergunta volta a sacudir o meu sangue: “Pedro, se tu não acreditas ‘nele’, por que esta necessidade de negá-lo sempre?”. Verdadeiramente, estranhas idéias nos perturbam (LS, p. 114). E é ainda Pedro quem, em solilóquio dirigido à menina Isabel, a quem praticamente assassinara, e também em diálogo com a sua consciência, afirmará: “nós temos liberdade para 78 escolher em tudo. Eu escolhi na sua história, o meu destino” (LS, p. 143). A angústia de Pedro chegará a provocar nele um desdobramento de personalidade, que dará lugar, dentro do romance, à ocorrência de um outro duplo: Pedro e o mendigo “resignado” (LS, p. 182), projeção de sua alma atormentada pela dúvida e a culpa55. É esse o conflito, essa contradição – que, como vimos, são os do próprio autor, Lúcio Cardoso – e a procura de uma solução para eles o que sustenta o romance e lhe confere seu sentido. Tentativa frustrada que, em entrevista concedida a Brito Broca (apud Dos Santos, 2001, p. 57) e no seu Diário, Lúcio Cardoso justifica: Para mim, a imaginação é tudo e é dela que parto para atingir a realidade. Creio que aí você terá a chave de A luz no subsolo. Procurei descobrir uma segunda realidade, que para mim é a verdadeira e cuja existência nos apercebemos sem, entretanto, poder atingi-la. Quem não compreende que há alguma coisa mais profunda debaixo de tudo isso que vemos, que sentimos e apalpamos? O mundo encerra em si um mistério desconcertante. E quanto mais sentimos esse mistério [...] mais experimentamos a necessidade de penetrá-lo, de fugirmos à realidade superficial, se assim poderei me exprimir. A loucura é um dos meios de evasão, a arte, outro. O personagem de A luz no subsolo evade-se por meio do assassinato. Deve haver uma quebra dos valores comuns para descermos a um segundo plano, onde as coisas apresentam seu verdadeiro sentido. É preciso fazer luz no subsolo. Em suma, como afirma Flávia Trocoli Xavier da Silva (2000, p. 124), “Ler A luz no subsolo é estar preso num escuro labirinto construído de palavras, embora elas não estejam nem no seu centro, nem na sua saída. [...] Erramos entre as paredes de um Eu Desesperado em face da possibilidade de Deus; Eu-Labirinto cujo centro ansiado chama-se luz, morte”. Sobre o segundo romance de Lúcio Cardoso que abordaremos, Dias perdidos, afirma Cássia dos Santos: “É Lúcio, o seu pensamento, as convicções que defende no Diário que se patenteiam nas opiniões emitidas por Clara e Sílvio a respeito do amor, da morte e da dificuldade em conviver com aqueles que lhe são próximos” (DOS SANTOS, 2001, p. 111). Dias perdidos, livro de educação sentimental, no dizer de Mário Carelli (1996a, p. 631) e Octávio de Faria (1996, p. 662), apresenta traços claramente autobiográficos do autor, que, em princípio, o distanciariam um pouco do sentido mais ontológico, metafísico e religioso que marca os outros três romances alvo de nosso estudo. Poderíamos pensar, 55 Como bem observa Ângela Bedran, ao analisar a novela O desconhecido, “O sentimendo do duplo é freqüente [...] Na sensação de divisão, de desdobramento, o duplo é o ponto opaco no espelho além da imagem que temos de nós mesmos, é o lugar que representa a ausência de resposta do Outro, despertando algo que é da ordem da estranheza radical” (BEDRAN, 2000, p. 67). Poderemos, sem dúvida, estender essas considerações ao caso que nos ocupa. 79 apoiando-nos em Sébastien Hubier, no caso deste romance, em termos de uma autobiografia em terceira pessoa: Se a escritura egotista, narcisista, íntima, pode fundar-se sobre a utilização da terceira pessoa é talvez precisamente em razão dessa distância fascinante que o autor reconhece entre o que ele foi e o que ele tem se tornado. [...] a utilização da terceira pessoa em uma narrativa na qual nossos hábitos de leitura nos fazem esperar a primeira pessoa é um meio de instaurar uma distância entre o sujeito e o objeto da narração, entre o narrador e a personagem que este último tem sido (HUBIER, 2003, p. 47, tradução nossa56). Lúcio Cardoso, de fato, neste romance (de entrecho muito menos rebuscado do que o das outras obras que analisaremos), parece tentar fazer dele mesmo uma personagem de ficção ao relatar a biografia de Sílvio, desde as circunstâncias que envolveram o seu nascimento até a idade adulta. É um mundo ficcional o que o autor apresenta, mas no qual podemos identificar claros traços autobiográficos, bem como perquirições e reflexões que fazem parte das suas próprias indagações pessoais, sendo, o confronto entre algumas passagens da obra e o seu Diário, muito ilustrativas nesse sentido. Assim inicia-se a nota bibliográfica do autor que abre o volume de O viajante (1973, p. vii): “Joaquim Lúcio Cardoso nasceu em Curvelo, Estado de Minas Gerais, a 14 de agosto de 1912. Filho de Joaquim Lúcio Cardoso e de Maria Venceslina Cardoso. Seu pai era um andarilho, fundador de cidades, com três anos de engenharia e o espírito de aventura.” Imediatamente a seguir, os editores informam que esse pai (que, como se vê, transmite a Lúcio também o nome) seria a personagem principal do romance de estréia do autor mineiro, Maleita (1934). E como mostram Ruth Silviano Brandão, José Eduardo Marco Pessoa e Daniela Borja Bessa em A travessia da escrita, ele será, de fato, uma presença marcante na obra de Lúcio, sendo possível encontrar vestígios de sua figura em várias personagens. No caso que nos ocupa, a identificação de Jaques, pai de Sílvio (um homem que nunca se adapta à vida no povoado de Vila Velha e que sai à busca de aventuras apenas voltando ao lar familiar acabado e doente), com Joaquim Lúcio Cardoso pai é evidente57. 56 Si l’écriture égotiste, narcissique, intime peut se fonder sur l’utilisation de la troisième personne, c’est peutêtre précisément en raison de cette distance fascinante que l’auteur reconnaît entre ce qu’il fut et ce qu’il est devenu. [...] l’utilisation de la troisième personne dans un récit où nos habitudes de lecture nous font attendre la première est un moyen d’instaurer une distance entre le sujet et l’objet de la narration, entre le narrateur et le personnage que ce dernier a été. 57 Isso também em função das circunstâncias da morte do pai de Lúcio Cardoso, que são praticamente reproduzidas no romance. Ver Dos Santos, 2001, p. 110 e Pessoa, 1998, pp. 46 a 67. 80 Sílvio nasce, então, da união entre Jaques e Clara, moça simples de Vila Velha, sem maiores ambições do que formar uma família junto do esposo. O pai de Sílvio abandona a casa e a família quando Sílvio é ainda um bebê, com a promessa de vir buscar o filho e a esposa assim que estiver bem-instalado em outro lugar. Isso nunca acontece, e Clara transforma-se numa Penélope resignada (com alguns intervalos de revolta) a viver à espera do marido, sem aceitar as insinuações de outros homens, como por exemplo, o farmacêutico da cidade. Sílvio é criado com a ajuda de uma empregada, Áurea, que desenvolve uma relação mais próxima com a criança do que a própria mãe, frustrada e alienada à espera de Jaques. O pai de Sílvio retornará quando ele é adolescente, e o moço sentirá a usurpação do seu espaço pelo pai, estabelecendo com ele uma relação de recusa, confronto e competição. Jaques permanece na casa até sua morte, que se opera de forma progressiva, lenta e especialmente dolorosa. Antes de morrer, exige que Áurea saia da casa, e a melhor amiga de Clara, então, é abandonada à sua mercê. O menino e adolescente Sílvio terá dois amigos: Camilo e Chico. Camilo, menino estudioso e leal, morre após uma longa doença. Sílvio já tinha se afastado dele por influência de Chico, “rapaz magro e desajeitado, de olhos miúdos, perspicazes, lábios estreitos e cruéis” (DP, p. 123). Não por acaso, é ele, no romance de Lúcio Cardoso, quem apresenta Sílvio ao sexo e à prostituição. Sílvio, que relutara muito em aceitar o convite do amigo, nunca parece demonstrar maior interesse pelo sexo e nem por Esperança, uma prostituta que por ele se apaixona. Assim é descrito o antes e o depois de sua primeira experiência sexual. Quando chega ao prostíbulo “A si mesmo, perguntava quando terminaria aquele suplício. Aos poucos sua timidez ia se convertendo num mal-estar quase físico” (DP, 128). E, depois do ato sexual: O sentimento que experimentava, após a sua terrível experiência, era o de uma enorme amargura. Tudo aquilo lhe parecera doloroso, insípido e imundo. Não encontrara nenhum prazer, nada vira que lhe agradasse, e perguntava a si mesmo, com espanto, se era aquilo o que causava tão grandes preocupações aos homens (Ib., p. 128). Sílvio acaba trocando Esperança por Lina, mas o amor de sua vida é Diana. Conhece-a ainda menina e, após uma separação de anos, a moça volta para se recuperar de uma doença e casa-se com Sílvio. O melhor amigo e amante de Diana é Chico. Cansada de viver a vida pacata de Vila Velha e decepcionada com Chico, por quem se apaixonara, Diana volta ao Rio de Janeiro. Clara morre de câncer, e Sílvio fica sozinho no que parece ser a anunciação de 81 uma nova vida. Cabe destacar a semelhança entre a solidão de Sílvio no final do romance com a solidão descrita por Lúcio Cardoso no seu Diário, p. 303: “Não falo da solidão do pobre, mas da real solidão que foi a de alguns príncipes da terra. [...] Falo do homem pronto para o seu diálogo com Deus”. É no final do romance que nos apercebemos que o sentido desta obra, em princípio diferente dos outros três romances que constituem o corpus de nossa pesquisa sobre Lúcio Cardoso, não abandona o pendor religioso. Sílvio descobre no final que “uma luminosa imagem existia no fundo de sua alma” (DP, p. 406) e que esse era o grande segredo que o distinguia (e separava) dos outros homens. Explica assim a peculiaridade dos seus gestos e condutas, que durante todo o romance não conseguimos compreender. A obsessão pelo pecado e a rejeição pela carne58, a sua constante procura pelo isolamento explicam-se, então, pela graça de que Sílvio seria portador. O seu destino, maior, não se ajustaria aos dias acanhados e perdidos que vivera em Vila Velha. A singularidade da personalidade do jovem Sílvio, a sua inadequação à vida comum (e o estranhamento que causa nos outros) é descrita no seguinte fragmento de Dias perdidos: A mulher do Areal absorvia-o. Nela, encontrava agora qualquer coisa que a tornava mais bela e mais forte naquele fundo de corrupção em que vegetava. Trabalhado por essa vida de facilidades, Sílvio adquiria requintes, tornava-se exigente, emprestava-se ares conhecedores, excessivos para sua idade. No fundo, tudo aquilo o repugnava. Mas, sem apoio e incapaz de discernir qual a origem real dos seus males, persistia naquela vida, imaginando que acabaria por se acomodar. Entretanto, quase sempre não conseguia vencer sua impaciência e repelia Lina, com um cansaço que parecia mergulhá-lo numa poeira cor de cinza. Ela ria dessas coisas que não compreendia. “Meu Deus, como você é tolo!” – dizia. [...] Na verdade Lina não conseguia justificar aquele desespero que parecia acompanhá-lo em todos os gestos, mesmo nos mais simples, naqueles que os outros levavam a efeito sem hesitação. Como ao pai, qualquer coisa interior parecia devorá-lo. Exausta desses esforços inúteis, ela confessava que Sílvio lhe causava medo. Ele ria, a fim de tranqüilizá-la, mas no íntimo sentia que Lina tinha razão e que a torturava inutilmente. Regressando cheio de tristeza da sua casa, ele dizia consigo próprio: “É que eu não consigo estimar este gênero de vida” (DP, p. 192). Por outro lado, em função da referida dose de autobiografismo, o autor sabe – ao menos parcialmente desde o início – o sentido que vai querer dar à narrativa. E isso fica patente também no final, que, em boa medida, nada mais seria do que uma tentativa de 58 Pelas carícias de Esperança, por exemplo, sente “tão funda repulsa, daquele ambiente de perfumes baratos, da insaciável animalidade daquela mulher” (DP, p. 156). 82 interpretação do acontecido/vivido pelo adolescente Lúcio/Sílvio. Vontade de dar um sentido diferente à sua própria existência de acordo com as suas próprias crenças e, sobretudo, em termos de uma suposta luta entre o bem e o mal? A resposta a esta pergunta foge a nosso objeto de estudo, mas se pensarmos na reflexão de Hubier em torno da autobiografia citada acima, não nos parece em nada absurda essa hipótese. No seu Diário, Lúcio Cardoso descreve a visita a uma antiga fazenda de Minas Gerais, confessando-se obsedado por seu mistério: D. Siri, proprietária da casa onde me acho [...] avisa-me que a fazenda é malassombrada. E não me resta nenhuma dúvida: tão grande casarão, abandonado ao silêncio e à devastação, só pode constituir um pesadelo. Em torno dele a vida foge espavorida [...] No entanto, não estaria aqui, como um aviso a ser decifrado, a história desse espírito que tantas vezes eu procurei encontrar, uma manifestação pessoal, autêntica, de nossa maneira de ser? [...] foi em Minas Gerais, nos becos e vielas de suas cidades mortas, que vi se erguer mais alto e mais cheio de grandeza o espírito de nossa gente. Todo esse passado é como o estrume que alimenta o porvir [...]. Não há duvida, neste casarão brasileiro há um tom de grandeza indescritível; quem quer que tenha vivido aqui, encarna hoje essas raízes sem as quais é impossível criar um sedimento de povo ou nação (CARDOSO, 1970, pp. 111-112). Na verdade, nesta anotação do Diário, Lúcio Cardoso parece estar descrevendo a fazenda de Crônica da casa assassinada. É a história da decadência de uma casa, de uma família, de uma tradição e de um espírito – os de Minas Gerais, que o autor louva acima – o grande assunto abordado por Lúcio Cardoso no terceiro romance que nos propomos analisar e ao qual dedicaremos a última seção deste capítulo. A contradição entre a crítica corrosiva veiculada através de Crônica da casa assassinada e a declaração de amor pelo espírito mineiro que se extrai da citação do Diário constitui mais um dos conflitos do escritor mineiro a que já fizemos referência. O romance conta a história de uma família tradicional de Minas Gerais, os Meneses, e da decadência e total desmoronamento de toda a sua tradição (casa) e estirpe, desencadeada (e desenfreada) pela influência do elemento estranho/estrangeiro desagregador (e renovador): Nina (por isso, chamada de anjo exterminador). Esta personagem será o centro, não apenas do relato, como da atenção, do interesse e da paixão de todos os integrantes da família, que com ela estabelecerão relações de aliança ou de aberta inimizade. Como veremos ao analisar o romance pormenorizadamente, as personagens dividem-se claramente em torno a Nina, sendo 83 que todos têm uma consciência moral aguçada, interpretando todos os seus gestos (os próprios e os de Nina) em termos de bem e mal. A família Meneses é composta por três irmãos: Demétrio, Valdo e Timóteo. Demétrio, o patriarca da família e defensor implacável da tradição, é casado com Ana, esposa submissa, ser cinza e sem graça. Valdo, um ser apagado, que não consegue enfrentar o irmão mas que também não compartilha o seu autoritarismo patriarcal, casa-se com Nina, moça de natureza enigmática e de beleza extraordinária59 que conhece no Rio de Janeiro durante uma viagem. Timóteo, travesti que vive isolado no seu quarto, é o terceiro irmão e cabe a ele a posição de rebelde, de transgressor. Ele será quem dará o golpe de graça à família Meneses ao desvendar publicamente a sua própria existência (oculta, símbolo de toda a corrupção moral da família) perante as autoridades da cidade por ocasião do velório de Nina. A cabeça original desta família de estirpe em decadência, ao contrário do que se poderia esperar, tinha sido uma mulher, Maria Sinhá. Uma mulher com evidentes comportamentos masculinos, que se caracterizava pela crueldade e cujo retrato é jogado no sótão da casa (inconsciente) e substituído por um quadro (menor) da Santa Ceia, que não consegue apagar os vestígios deixados na casa pela matriarca. Quando Valdo e Nina casam, há na fazenda um jardineiro, Alberto, por quem Nina – lembrando a Lady Chatterley de Lawrence – se apaixona e com quem mantém uma relação extraconjugal. Nina engravida e – em função da suspeita de adultério por parte do marido – abandona a casa para ter o filho no Rio de Janeiro. Alberto, ao perder Nina, suicida-se. Ana, então, vai buscar a criança alguns meses antes do nascimento e volta de lá com André, suposto filho de Alberto e Nina. Quando, dezessete anos depois, Nina volta à fazenda (a pedido de Valdo), envolve-se numa relação incestuosa com o filho, morrendo alguns meses mais tarde vítima de câncer. A lenta deterioração e putrefação do seu corpo operada pela doença é anotada nos mais mínimos detalhes por Lúcio Cardoso. No final do romance, uma confissão de Ana (incluída num Pós-escrito do Padre Justino, sacerdote de Vila Velha) revela que André, na verdade, não seria filho de Nina e sim dela mesma com o jardineiro. Todas as personagens são atormentadas pela culpa e pelo ódio e todas morrem no final, junto com a casa, exceto Valdo e André, que partem (separadamente) com destino ignorado. O quarto romance alvo de nosso estudo é O viajante. Na personagem central, Rafael, que dá nome a esta obra póstuma e inacabada, podemos novamente distinguir a figura do pai do autor. Por outro lado, Rafael parece-se muito com o Pedro de A luz no subsolo, sendo 59 Cabe lembrar aqui que, na tradição judaico-cristã, a beleza feminina é associada ao demoníaco. 84 apresentado por Lúcio Cardoso em seu Diário como “a essência do mal, em permanente trânsito pelos povoados mortos do interior” (CARDOSO, 1970, pp. 289-290). Rafael espalha a desgraça e a infelicidade para quem dele se aproxima. A viúva Donana de Lara, mãe de um menino paraplégico, por ele se apaixona a ponto de matar o filho60, a fim de poder viver livremente um suposto romance com o viajante. O filho, chamado Zeca, e Sinhá são as duas personagens que, neste romance, representam a pureza. Sinhá tinha vindo do interior morar com a tia (dona Isaura) quando conhece Rafael. O marido da tia, mestre Juca, apaixona-se por ela e proíbe-a de manter relações sexuais como outros homens (embora ele não se autorize a possuí-la). Após ter sido estuprada por Rafael, ela é morta a machadadas por mestre Juca. Assim, como acontecera com Emanuela em A luz no subsolo, a pureza é novamente aniquilada e profanada em uma obra de Lúcio Cardoso. Outra personagem importante de O viajante é Bento Mendes, sacristão corrupto da igreja da cidade, marido de Dona Fina e pai da adolescente Elisabeth (Babete). Bento Mendes é apaixonado por Graciosa, prostituta da cidade e irmã de Berenice, cujo namorado – o aproveitador Reginaldo – disputa, em desvantagem por não ter posses. Quando, após ter dado esperanças a ela de fugirem juntos, Reginaldo rouba o seu dinheiro e a abandona, Graciosa comete suicídio. Na grotesca caracterização que realiza desta personagem, Lúcio Cardoso enfatiza como a graça contida no seu nome foi corrompida pelos pecados da carne e pelos vícios que o autor atribui ao exercício da prostituição: E ali estava do lado de fora da casa, parada entre as janelas iluminadas. Assim no escuro, com a enorme bolsa de couro apertada contra o peito, poderia muito bem passar por uma dessas vizinhas que costumavam fazer companhia a Dona Fina, e com ela puxavam o terço ao cair da noite. Não lhe notariam talvez os lábios agressivamente pintados, nem o excessivo dos enfeites, nem o vestido de seda brilhante; e se não falasse, deixariam de reconhecer em sua voz o travo rouco causado pelo uso excessivo do fumo, nem as expressões grosseiras que aprendera a usar em companhia de homens com quem lidara – e finalmente passaria despercebido o seu ser marcado por esse quê indefinível da prostituição, impresso nela por mais que procurasse evitá-lo, e dando-lhe, apesar de tudo, seu único tom humano e capaz de despertar alguma simpatia (V, p. 151). A escolha dos ambientes para as narrativas também não é fortuita. A zona rural atrai o autor mineiro porque desperta nele o mesmo tipo de sensação que atormenta as suas personagens: “Adoro o campo, e ele me causa certa angústia: o vazio, sua existência enorme e 60 Cabe anotar que Donana de Lara já tinha assassinado o seu marido, pai de Zeca. 85 singular, independente da presença humana” (CARDOSO, 1970, p. 109). As casas vazias, como as de Madalena, a de Clara (sem Jaques e sem o filho adolescente e adulto), a casa assassinada do final do romance homônimo, ou a de Donana de Lara servem para representar a própria existência que aprisiona as almas. Essas casas fazem parte da experiência do autor nas suas inúmeras viagens pelo interior de Rio de Janeiro e Minas Gerais: “Penedo: uma antiga fazenda, como tantas que tenho visto, com inumeráveis quartos vazios, que agonizam sob o pó e a umidade. Antigas casas sem serventia – e lá fora, uma fila de coqueiros que se move brandamente sob um céu de cinza” (CARDOSO, 1970, p. 110). Como já é possível vislumbrar pela síntese das histórias, tanto em A luz no subsolo, quanto em Crônica da casa assassinada e O viajante, o que se visa é mostrar a irreversível degradação do homem até a danação/morte (autodestruição). Também em Dias perdidos detectamos esse intuito na história da personagem Jaques. Octávio de Faria, em ensaio sobre Lúcio Cardoso, resume esse movimento da obra cardosiana com as seguintes palavras: Ninguém escapa, ninguém parece poder escapar a essa força tremenda que impele em direção ao abismo, indistintamente, os seres realmente vivos. É que, como nos explica Pedro de A luz no subsolo, somos ‘escravos de idéias que habitam em escuras regiões de nosso pensamento’. E, dentre essas idéias, nenhuma é tão poderosa quanto a da destruição, essa perfeita irmãgêmea da morte e que, também ela, ronda os seres humanos e a nenhum deles dá trégua (FARIA, 1996, p. 671) A autodestruição é a saída que as personagens cardosianas encontram para a profunda brecha que as separa do mundo opressor que habitam, brecha essa que não conseguem superar e que os mergulha em um desespero idêntico ao que a personagem Clara sente, conforme o narrador de Dias perdidos: [...] de súbito o sofrimento de Clara tornou-se tão vivo que levou as mãos à garganta, tentando sufocar um soluço. “Por que, meu Deus, por que?”, perguntou ela a si própria, sem encontrar resposta.. E pela primeira vez sentiu com tremenda força a consciência da disparidade entre sua natureza e a do mundo, duas forças independentes, girando lado a lado, mas sem jamais se penetrarem (DP, p. 77). São essa renúncia e essa impotência que permitem a Alfredo Bosi (2000, p. 392) classificar os romances de Lúcio Cardoso como romances de tensão interiorizada. 86 Também como vimos, a pureza é esmagada no mundo terreno, dominado pelo mal, no entender de Lúcio Cardoso. “Assusto-me ao ver como tantos vivem como se só importasse a conseqüência deste mundo, e o valor de nossas transações terrenas – quando o que importa é aquilo que fazemos e tem sua projeção não aqui, mas na eternidade” (CARDOSO, 1970, p. 224), confessa o autor. E é justamente nessa constatação que percebemos o profundo caráter trágico que ele tenta imprimir nas suas narrativas. No caso de Lúcio Cardoso, a falta, o crime, é o pecado original (ver citação de nota nº 51). É por essa falta cometida pela humanidade que todas as personagens cardosianas estão irremisivelmente condenadas. Podemos pensar sobre isso a partir de uma reflexão de Yves Tadié sobre O processo, de Kafka que, acreditamos, se ajusta ao que verificamos nos romances de Lúcio Cardoso: Está aqui o verdadeiro sentimento de culpa: sentir-se culpado, mas sem saber de que falta. O herói vive, frente a uma transcendência desconhecida e a uma imanência injusta, uma existência torturada. Como se fosse eternamente culpado do pecado original, de que falam numerosas passagens dos Diários [de Kafka] (TADIÉ, 1992, p. 77). A introspecção como uma atitude constante das personagens cardosianas (que, muitas vezes, como veremos, é difícil discernir da inclinação do narrador a interferir e refletir sobre elas e os seus conflitos) resulta fundamental para avaliar o tormento que as personagens padecem em decorrência da profunda culpa que sentem. É por isso que, como no caso de Bernanos – também analisado por Tadié –, encontramos no mundo ficcional de Lúcio Cardoso “personagens habitadas, e por vezes destruídas pelo pecado original” (TADIÉ, 1992, p.77), portadoras de uma culpabilidade não sentimental, não passional [...], mas metafísica. As faltas cometidas, os exames de consciência, as relações entre as personagens, as crises, referem-se todas a Satanás, e a Deus. É que em primeiro lugar, em Bernanos, a técnica remete para a metafísica, no caso religiosa, do romancista. [...] [O herói] é agora devorado, e por vezes morto, por um combate que o ultrapassa. Nem o domínio psicológico nem o domínio moral prendem o romancista. A psicologia só retoma vida recolocada num universo espiritual onde se encontram as ‘raízes’ das paixões, isto é, o Diabo e Deus. É por isso que o escritor se ri do ‘verosímil’ e do ‘crível’ [...] Crime e resgate na comunhão dos santos ultrapassam pois infinitamente o 87 mundo visível e os heróis clássicos. A própria morte não é ainda o fim do enredo; ela descobre o ‘universo invisível’ de que nos desviamos e que se encontra há muito tempo no fundo da nossa alma [...] A visão do romancista [...] supera e destrói o indivíduo” (Ibidem, p.78). Estas observações de Tadié descrevem perfeitamente o mundo idealizado por Lúcio Cardoso nas suas obras e o sentido mais geral das mesmas. No velório de Jaques, Clara “sentia as horas deslizarem vagarosas, enquanto se apoderava do seu coração a consciência de que afinal tudo cessara realmente, e que o resto do drama, esse resto que permanece sempre em nosso coração como uma antecipação, seria levado a termo um dia, não muito longe, à luz da eternidade” (DP, p. 239). Ou ainda, como sintetiza Bernardo, em suas palavras finais, no final de A luz no subsolo: Ele me disse, eu bem o ouvi, que o que nós sentimos, essa inquietação e essa angústia do sobrenatural, é o vago desejo da unidade, a nostalgia de um todo partido, a necessidade de Deus. Muitas vezes ouvi dizer que o amor se parece com a morte... e agora sou eu que lhe pergunto se você se lembra do que nós conversamos uma vez sobre “o coração devorado de paixões”? Pois bem, Pedro, o amor é esse mesmo desejo divino da unidade, é o desespero da carne que procura sua parte perdida. [...] vencida a morte, estaremos aguardando no seio de Deus (LS, pp. 357-358). Vemos confirmada aqui a observação que realiza Tadié com respeito a Bernanos: a morte é apenas a ocasião de descobrir uma realidade maior, uma história que não termina com a morte do indivíduo. No entanto, como é só nessa hora que as personagens de Lúcio Cardoso conseguem vislumbrar essa (proposta) verdade, como observa Enaura Quixabeira Rosa e Silva em Lúcio Cardoso, Paixão e Morte na Literatura Brasileira (2004), é no embate entre a natureza humana e a condição humana que se desenvolvem todas os dramas do autor mineiro. E é desse embate, travado nos domínios do mal, que brota a culpa irremissível e o desespero. Aproximemo-nos mais das narrativas a fim de detectar nelas os principais aspectos da visão do mundo de Lúcio Cardoso com que demos início a este capítulo. Como já antecipamos, todas as personagens do autor (exceto aquelas tocadas pela graça), assim como o seu criador, são obsedados pela questão do pecado, dividindo-se, basicamente, entre aqueles que são “diabolicamente” conduzidos por uma estranha paixão ou ódio (cuja origem desconhecem) a praticar o mal e a gozar dos prazeres da carne (Pedro, Bernardo, Jaques, Chico, Nina, Timóteo, Rafael, Donana de Lara, Bento Mendes, Graciosa) e 88 aqueles que constantemente rezam, reprimem-se e autopunem em busca de uma santidade muitas vezes mal entendida por estar mais atrelada à institucionalidade da Igreja católica e a rituais vazios do que propriamente ao exemplo de Jesus Cristo (Madalena, Clara, Demétrio, Ana). A partir desta constatação, podemos começar a notar como algumas personagens cardosianas são objetos do discurso do autor, pois o seu discurso (ideologia) é objetificado. Em Dias perdidos, Clara, tomada pela culpa, ao ter seu filho doente e pensar no marido ausente, conclui: Aquilo pareceu-lhe de repente não um simples castigo por leviandade cometida, mas obscura e terrível advertência. Na verdade, a sua vida até agora nada mais tinha sido senão um longo mergulho no esquecimento e no pecado. E, levada pela tendência de sua natureza, exagerou o que tinha passado, desfigurando tudo com esse obstinado terror das consciências excessivamente sensíveis (DP, p. 30). Baseados nos dogmas da Igreja é que algumas dessas personagens julgam os outros, cometendo também, em nome dela, as ações mais perversas e autoritárias, como no caso paradigmático de Ana, em Crônica da casa assassinada, que, conforme a sua própria confissão, teria feito seu próprio filho acreditar na consumação de um incesto inexistente, demonstrando, com isso, não sentir por André qualquer tipo de afeto. Assim, a despeito da profunda responsabilidade moral que todas as personagens sentem, o seu ideal de perfeição em direção ao Deus do Antigo Testamento está fadado ao fracasso, pois, enquanto seres danados e desesperados, é-lhes negada a possibilidade do amor de/em Cristo. Madalena, mulher de uma resignação e abnegação que ela considera cristãs, personagem que “apologiza o sofrimento e o sacrifício cristão” (SILVA, 2000, p. 48), sente ódio inclusive pela mãe: Abriu a vidraça impetuosamente – chegaram de súbito a seus ouvidos a fala áspera de Camila e o riso de Bernardo. Depois, mais forte, a voz de Pedro chamando-a.[...] A sua impressão é que estava em jogo como um objeto cujo uso exploram. “Canalhas” – pensou consigo mesma – “não perceberão acaso que eu os odeio?” A impossibilidade de suportar a alegria daquelas criaturas lhe aparecia com extraordinária nitidez. [...] – Está doente, minha filha? Não! Não! Doente? Que tolice! E rira, um riso estrangulado, ao mesmo tempo que a fitava [a Camila] com o olhar inutilmente saturado de ódio (LS, p. 102). 89 No caso de outras personagens, porém, Lúcio parece se aproximar mais do seu ideal de retratar “o Homem, [...] a reintegração na sua forma decisiva e total, sem amputações, com seus lados de sombra, de conflito e de pecado” (CARDOSO, 1970, p. 244). É o que constatamos em personagens como Diana, Valdo e, sobretudo, o Mestre Juca de O Viajante. Por último, embora não encontremos santos nos romances de Lúcio Cardoso, há sim seres humanos a quem Deus escolhe para lhes conceder o dom da graça. São eles Emanuela (LS), Áurea (“uma inocente, não compreendia nada”, p. 41), Sílvio (DP), Alberto (CCA) e Sinhá (V). Como já mencionamos, à exceção de Sílvio, todos eles têm um final trágico (ou, ao menos, desditoso, como é o caso de Áurea), pois a sua inocência não lhes deixa defesa no mundo perverso e de perdição no qual se encontram inseridos. Eles são literalmente esmagados pelo entorno, vítimas de um jogo de poder ao qual permanecem alheios. No mundo ficcional de Lúcio Cardoso, tanto os outros (personagens) quanto os objetos são agentes da servidão à que o homem está preso, ao cercear, cercar, espreitar todos os movimentos do indivíduo em busca de qualquer parcela de liberdade, por menor que ela seja. Assim, em O viajante, Donana de Lara vê-se obrigada a elaborar toda uma estratégia para sair de casa sem fazer o mínimo barulho, a fim de que os vizinhos não notem as suas ausências, como também a manter sempre as cortinas de sua casa entornadas, porque – Donana sabe – eles espiam constantemente. Em A luz no subsolo, Madalena “se achava lamentavelmente só, mergulhada naquele desespero; urgia ressuscitar a sua pobre existência sufocada por aquele homem [Pedro]” (LS, p. 74). A personagem implora, então, a Deus: “Deus, Deus, é preciso que me liberte deste homem, é preciso que eu me liberte, é preciso!...” (LS, p. 97). Pedro, por sua vez, em um momento de recordação (de remorso, de angústia), observa os objetos em sua volta: Tudo, móveis e coisas, paredes e rastros pelo chão, adquiria um sentido simbólico e vivia pela força de sua própria expressão. Não eram mais objetos inanimados – poeira destinada a ser varrida pelo vento... Pelo contrário, corações repletos de conhecimento, que tudo ouviam e tudo guardavam avaramente, e sabiam sorrir e sabiam chorar quando era preciso sorrir ou chorar (LS, p. 142). E a Bernardo confessa: “Tenho medo dos outros. Tenho medo dessas forças que agem sobre nós, que nos dão liberdade suficiente para destruir um passado... para acorrentar um futuro” (LS, p. 113). Madalena, Pedro, os Meneses, Donana de Lara, mestre Juca; Emanuela, Alberto, Sinhá: Vítimas todos da maléfica dinâmica da existência no mundo ficcional de Lúcio Cardoso. Assassinato, suicídio, estupro, incesto: crimes (pecados) que assolam e ameaçam 90 sem trégua o espírito das personagens cardosianas. Desejo e morte: duas obsessões do autor. Desejo de morte, única saída possível para a prisão que é a existência humana. Por isso é que o filicídio de Donana de Lara, por exemplo, revela a Zeca a vida, a si mesmo, aos outros, dando-lhe uma lucidez que lhe tinha sido negada na sua existência de ser doente: – Lá – exclamou ela impaciente – lá longe! Zeca olhou o céu sem compreender. E como a mãe insistisse, num gesto autoritário, tomou a rosa que conservava sobre o colo, ergueu-a à altura da face – e neste instante, como um único grito, um sentimento absoluto e definitivo dilacerou-lhe as entranhas, e ele deixou escapar um gemido, estendendo para o céu distante as mãos, e com elas, a rosa vermelha. [...] para Zeca, para sua alma eternamente imatura, alguma coisa acabara de suceder, e era tão grave, tão decisiva como se lhe fosse outorgada uma maturidade postiça, e ele, a quem a infância fora dada como destino, viesse bruscamente a perceber o equilíbrio e o tempo, pois o que sentira, mais do que uma certeza sem palavra, sem nome, sem classificação, sem nada que pudesse admiti-la ou revelá-la, de que a vida existia – essa coisa infrene, cega, voluptuosa e azul, que do outro lado, com um poder sobrenatural erguia a paisagem e a sustinha em seus luminosos alicerces. Descobrindo a vida, Zeca ao mesmo tempo descobrira a si mesmo e aos outros – e tudo o que ele não identificara durante aquele tempo, Donana, o homem ensangüentado, a cortina, as vozes, aquela flor que sustinha na mão – tudo, todas essas realidades – rapidamente encaminharamse para seus lugares, ocuparam os nichos vazios, deram consistência, cor e veracidade ao mundo. E descobrindo tudo isto, Zeca havia descoberto a morte. [...] e tanto era o ímpeto que acionava Zeca, que ele se pôs um pouco de pé e apoiava-se à borda da cadeira, meio erguido, a rosa na mão (V, pp. 13-14). Graciosa vai sentindo uma extraordinária sensação de vida à medida que, após ter ingerido pílulas, vai adentrando no território da morte por ela procurada: Mas assim que cessou de bater o relógio, também nela tudo se aquietou, e uma quietude imensa se fez, onde não se ouvia nada, nem sequer o tombar de uma gota d’água. Ela imaginou que fosse aquela a quietude da morte, devia estar tombando em agonia, mas de repente o vento se levantou lá fora e ela sentiu-se de novo viva, extraordinariamente viva, escutando as árvores cujas ramadas vergavam à passagem do sopro (V, p. 281)61. Além da perseguição operada pelo mundo exterior, as personagens são escravos de forças (que nós chamaríamos de inconscientes, pulsões de vida e morte) que os levam a 61 Este fragmento pertence a um adendo ao Cap. IX de O viajante, onde se relata o suicídio da personagem Graciosa. O mesmo não foi incluído no plano do romance que foi publicado. 91 cometer todos os crimes acima descritos e que condenam o indivíduo a uma vida marcada pela culpa e pela solidão. Madalena, que tem uma relação positiva com a solidão (“Ela amava a solidão – era o seu domínio – queria estar sozinha para sofrer melhor...– LS, p. 97), constata, já casada, com amargura que ultimamente até mesmo esse consolo lhe era negado. Todos os acontecimentos que se amontoavam, dia por dia, na sua existência, acabavam por formar um peso que lhe despedaçava o coração. Já não sentia a mesma tranqüilidade, avaliando friamente as coisas por que passava. Era impossível dar forma nítida àquele amontoado de sensações angustiosas, que dava à sua experiência um caráter de episódio inacabado, de aventura esfacelada pelo meio. Agora, nada mais era possível na solidão. Percebia que tudo viria a terminar numa crise de choro, numa lamentável crise de choro, como há muito tempo não tinha (LS, p. 94). É a tudo isso que se refere Pedro quando explica a Bernardo: “– Falo do coração devorado pelas paixões... daquele que não possui coragem para recuar e que avança até a morte, envenenado por desejos criminosos até o fundo do seu próprio desespero, por dinheiro... ou por amor...” (LS, p. 90). O amor a que alude Pedro, na verdade, tem mais a ver, no mundo criado por Lúcio Cardoso, com certo desejo mórbido. Como mostra Enaura Q. Rosa e Silva (2004, p. 53), o erotismo e o desejo constituem forças diabólicas no universo cardosiano porque baseadas na “satisfação do prazer, excluindo a participação do outro [...] Um certo prazer sádico, profanador da inocência”. É assim o desejo de Pedro e Bernardo por Emanuela; de Bernardo por Madalena; de Esperança por Sílvio; do farmacêutico por Clara; de Demétrio por Nina; de Ana por Alberto; de Mestre Juca e Rafael por Sinhá. Em função de todos esses grilhões, a vida se transforma em uma “estranha e absurda coisa” (CCA, p. 417), onde tudo não passa de uma espera inútil e sem sentido para a morte. Por isso, paira sobre as personagens cardosianas a idéia do suicídio. Mas o suicídio requer também uma liberdade que é igualmente negada às personagens típicas de Lúcio Cardoso, assoladas constantemente pela noção de pecado. Note-se como Valdo, em Crônica da casa assassinada, não tem sucesso em sua tentativa, enquanto Alberto, rude jardineiro sem laços, consegue efetivar o ato. E mais, a quem ousar (ab)usar da sua liberdade, estará reservada a 92 mais penosa das agonias e a mais terrível das mortes, como acontece com a personagem Nina, ainda na mesma obra, ou com Jaques, em Dias perdidos. Procurar os limites dessa natureza servil, por sua vez, revela-se, além de inútil, torturante, pois “desde que temos consciência de determinada coisa, não podemos mais fugir dela” (LS, p. 149). O narrador cardosiano (de acordo com a visão do mundo essencialista do autor), como veremos na próxima seção, caracteriza sempre as personagens em termos da sua natureza, da qual nunca conseguem fugir, superando-a. E é em sintonia com a mesma visão essencialista do autor que Madalena reflete: “Nunca nos libertamos do que realmente somos” – pensou consigo mesma. – “Eis que um dia, quando o cansaço chega, nos debruçamos sobre nós mesmos e sentimos que o fundo é o mesmo, que a única coisa diferente é a camada de poeira depositada pelo tempo” (LS, p. 103). Mais tarde, após experimentar uma profunda tristeza pela visão de uma mulher sozinha à janela (pelo mecanismo da projeção, perfeitamente descrito, como veremos), Madalena volta a constatar: “Essa mulher, vestida ou não de luto, era ela mesma, Madalena, e era por si que ela chorava. Ninguém pode fugir de si mesmo. Por muito que se lute, os mesmos sofrimentos voltam, enquanto fizerem parte integrante de nossa natureza” (LS, p. 124). Nem sempre – como no caso de Madalena, que citamos acima – as personagens têm consciência ou se vêem a si mesmos da mesma forma, mas no que eles induvitavelmente acreditam, em função das suas crenças religiosas (derivadas do mesmo catolicismo que professava Lúcio Cardoso) é em um destino que se corresponderia a um outro plano de realidade não acessível para quem não tem fé. Assim, por exemplo, Madalena, que nunca consegue entender a estranha atração e fascínio que Pedro exerce sobre ela, no início da relação, “foi invadida pela necessidade amarga de se entregar, de cumprir o seu destino até quase à renúncia de tudo: – É verdade que o amo, é mais forte do que eu...” (LS, p. 62). Em outro momento, cogitando a idéia de fugir de casa e do seu casamento, conclui: Onde iria quando atingisse o portão? Era melhor voltar. Dentro de casa, tornaria a se deitar e a pensar nas mesmas coisas. Qualquer tentativa de fugir ao seu destino era inteiramente inútil. Rondaria como uma condenada em torno dos acontecimentos e acabaria por voltar ao ponto de partida (LS, p. 129). Clara, em Dias perdidos, apóia-se na mesma crença para interpretar os percalços pelos que tivera e tem que passar: 93 Mas Sílvio piorou desde aquele instante e Clara sentiu-se inteiramente desnorteada. Aquilo pareceu-lhe de repente não um simples castigo por leviandade cometida, mas obscura e terrível advertência. Na verdade, a sua vida até agora nada tinha sido senão um longo mergulho no esquecimento e no pecado. E, levada pela tendência da sua natureza, exagerou o que se tinha passado, desfigurando tudo com esse obstinado terror das consciências excessivamente sensíveis. [...] Clara ajoelhou-se devagar junto ao filho adormecido, tentou reencontrar as palavras das orações que outrora tinha repetido tantas vezes. Agora, mais do que nunca, sentia a presença de Deus terrivelmente impressa em todos os acontecimentos daquele dia. Nunca tivera sensação tão nítida de uma existência sobrenatural, nunca o seu coração estivera mais violentamente aberto às solicitações da fé (DP, pp. 30-31). Na Igreja, mais tarde: “Sozinha, frente a frente àquele Deus a que tinha implorado tantas vezes com os lábios gelados, Clara percebia o abismo para que se encaminhava. E ninguém poderia auxiliá-la, nenhum ser humano poderia estender-lhe a mão, ninguém escutaria os seus apelos inúteis” (DP, p. 41). É em decorrência do desespero que a condição humana assim vista (e sentida pelas personagens) suscita, que a perquirição sobre a existência de Deus é uma preocupação constante, não só do escritor, mas também das suas personagens. Como sintetiza Daniela Borja Bessa (1998, p. 82), Procurando por Deus na religião e, muitas vezes, não o encontrando, Lúcio Cardoso, em suas obras, expõe sua profunda angústia diante dos limites religiosos que obscurecem a chegada de Deus. Ele está tão implicado em sua escrita que traz para sua produção os conflitos que assolam sua alma. À sua angústia religiosa ele responde escrevendo. Uma moral divina poderia trazer algum tipo de sossego às personagens (e ao seu autor-criador), que se debatem constantemente, como objetos ou escravos, com os seus instintos ou com uma força maior (destino), cuja origem desconhecem, incapacitados para sentir, na maioria dos casos, a não ser ódio, rancor e angústia. A personagem Ana de Crônica da casa assassinada representa o ápice dessa anulação, ao não conseguir reconhecer ou ter algum tipo de sentimento nem mesmo em relação a seu (suposto) próprio filho. Como aponta Octávio de Faria, na obra supracitada, o ódio “assume a sua verdadeira significação, o seu aspecto, digamos, ontológico. Apresenta-se ele então, realmente, como a grande força avassaladora, a concretização do mal que assola a casa dos Menezes e tudo destrói [...] [e] 94 devora todas as possibilidades de salvação” (FARIA, 1996, p. 669). Já em A luz no subsolo descobria Madalena: As noites eram povoadas de sonhos dolorosos. Dormia, mas o seu sono era diferente, um sono lúcido, uma vida de sombra. [...] Aprendera assim que certos sonos são como uma outra vida – o sofrimento e a negação continuam – só se desperta para esconder um ódio que a realidade estrangula no medo. No fundo de tudo é o medo de si mesmo, é o medo de permanecer sozinho, nesse mundo onde a dor de cada um se realiza solitária e morre solitária – se acaso morrer um dia (LS, p. 67). É na superação desse medo que o ódio pode transformar-se na força (também vista como maléfica) capaz de enfrentar o outro grande inimigo do homem, na concepção de mundo de Lúcio Cardoso: o hábito. A transgressão e o crime são duas formas de tentar burlar o destino, assumindo a individualidade, abrindo a possibilidade de atingir algum tipo de transcendência que, com sorte, poderá conduzir à salvação (post mortem) pela misericórdia de Deus. Já antecipamos que, nos romances de Lúcio Cardoso, a salvação só pode ser atingida mediante a danação. Como observa Flávia Trocoli Xavier da Silva (2000, p. 86), “romper com a cotidianidade para Lúcio Cardoso implica consciência de si pelo desespero e viceversa, colocar-se diante do bem e do mal, de Deus e do pecado, da vida e da morte, da dor e da alegria, como forças contrárias e não complementares”. E, aludindo especificamente a A luz no subsolo, acrescenta a mesma crítica: “Cometer um crime para Pedro traduz um desejo diabólico de rebaixamento, vileza e vergonha, mas, de certa maneira, a violência de Pedro é também um desejo de continuidade, porém, como será visto, a continuidade para ele não é possível em vida” (Ibidem, p. 86). Contrariamente ao que afirma Álvaro Lins, de acordo com quem “nenhum destes crimes constitui um elemento imprescindível na composição do romance [...] O crime [...] representou uma espécie de evasão final, uma necessidade mais romanesca do que propriamente lógica” (LINS, 1963, p. 111), consideramos que o crime – única possibilidade de criação para quem está irremediavelmente danado62 –, envolvendo geralmente alguma morte, representa nos romances de Lúcio Cardoso uma dupla redenção: a da vítima e a do verdugo (vimos acima o caso de Zeca). O crime parece ser a única possibilidade de ultrapassar os estreitos limites da servidão humana, a única hybris possível. Mestre Juca, por 62 Lembremos aqui a concepção já citada de Lúcio Cardoso: “Por que não ver no instinto criador outra coisa senão o lado oposto de forças inquietantes e monstruosas que nos compõem? Dificilmente o trabalho artístico é uma face da santidade” (CARDOSO, 1996b, p. 748). 95 exemplo, conquista um estado próximo do da santidade, após a libertação que significou para ele o assassinato de Sinhá: Ali estava ele e falava: ali, como sua história era banal, como era semelhante a todas as histórias que ela conhecia... Através de suas palavras, onde, menos do que grosseria, repontava uma terrível ingenuidade, uma total incapacidade para o cinismo – e Donana pensava: há uma imaturidade, uma candidez para certa espécie de crimes... para quase todos os crimes. [...] À medida que ele falava, e naquela meia-luz filtrada no alto pelas grades da janela, Donana o ia examinando – um moço? Um velho? – e não chegava a atinar com sua idade, imaginando-o não propriamente um moço, nem um velho, mas um homem usado, menos pelos excessos de sua vida – que faria ele? Beberia? – do que pela usura imposta por uma vida mecânica de hábitos e costumes mornos e sem graça. Ah, o tédio mata, o tédio corrompe e destrói! – ninguém melhor do que ela sabia disto. Ali estava aquele homem que falava, e era evidente que, nele, o que de mais fundo existia era um desejo de romper as prisões de sua própria vida, destruir a mornidão de sua morte lenta e diária, mesmo que essa destruição significasse uma outra morte, a sua, a de alguém outro, a destruição enfim – mas com ela a liberdade sem a qual não se poderia viver (V, pp. 200 e 203). Junto com o assassinato de Sinhá, termina enfim a anulação do seu próprio ser (nãoser) mediante um ato de vontade, mediante uma violência que expressa uma liberdade e “depois do crime, o homem degradado pelo ciúme reencontra sua humanidade no gesto de carinho pelo ser que seu desejo aniquilou. A tranqüilidade da personagem é um resquício do clima catártico que se instaura após o gesto trágico” (ROSA E SILVA, 2004, p. 51). É interessante resgatar, a propósito deste tipo de crimes passionais (e, lembrando que em O viajante havia mais uma morte prevista em um dos planos que bem poderia ser a do próprio Rafael assassinado por Donana de Lara), o depoimento do autor em seu “Diário do Terror”: Os seres ou não me interessam, por impossibilidade ou por excesso de conhecimento, ou me interessam até a paixão, até a afronta – os que eu amei, esgotei-os até a saciedade, porque a minha curiosidade era mortal e a minha paixão era maior do que a força deles, e adivinhando-os tanto, eu poderia assassiná-los (CARDOSO, 1996b, p. 746). Outra forma de redenção é a atingida através da loucura. Seres como Emanuela, por exemplo, impedidos de preservar a pureza no mundo terrenal regido pelo mal, também não conhecem a possibilidade do crime. Tanto no caso da loucura quanto no da transgressão, 96 como explica Consuelo Albergaria em “Espaço e transgressão”, o conflito instaurado no interior do indivíduo a partir de uma dissociação entre o seu desejo individual e o interesse do coletivo (ao qual ele se sente obrigado por laços de fidelidade), dá lugar à formação de componentes trágicos, onde a consciência do erro e da culpa são provenientes da falta da noção de equilíbrio. Ou dito de outra forma: a physis abalada pela hybris produz a amartia geradora da culpa. Exatamente como nas tragédias gregas. Evidentemente o resultado não pode ser muito diferente: castigo, autopunição e morte. Ou então, a saída se dá pelas portas da extravagância e da loucura. Como Timóteo. Mas será Timóteo realmente louco? (ALBERGARIA, 1996, p. 685). O nome Timóteo – como lembra também Albergaria (1996, p. 687) – quer dizer “o que venera Deus”. Isso nos permite levantar a hipótese de que fosse justamente ele o único membro dos Meneses a abrigar no seu coração valores verdadeiramente cristãos, mas que, em meio à decadência moral da família, perde-se em uma espécie de lucidez exacerbada que se confunde, na sua aparição final e espetacular, com o ápice da loucura, conduzindo-o à morte súbita. Em um nível mais amplo, a loucura está presente sobretudo na atmosfera alucinatória, “absurda, irreal” (LS, p. 67) de todas as obras, atmosfera criada pela percepção de forças misteriosas que induzem os seres a agir e que os unem em laços invisíveis, como os que dão nome à primeira parte de A luz no subsolo. No final, porém, a certeza da finitude do ser humano (com exceção daqueles poucos “iluminados”), da sua incapacidade de atingir a essência em sua existência carnal/material, como no final de Dias perdidos, em que Sílvio, reflete, após o desmoronamento de toda a sua vida e a morte/partida das pessoas que faziam parte dela: Era assim que aquela casa de fachada vermelha, aquele jardim de luzes espaçadas, as chaminés altas e até mesmo os vultos dos transeuntes, tudo trazia à memória de Sílvio a imagem de Diana, não uma imagem fragmentada, mas uma criatura afinal, sem parcelas na sombra, sem fugas, sem mistérios na vida passada. E, ao penetrar finalmente nesse terreno que lhe fora roubado durante tanto tempo, sentia a figura ideal levantar-se dos seus próprios escombros, eterna, inflexível, não mais encarnando o fracasso de uma união impossível, mas como o símbolo intangível da mulher que nos foi destinada, que procuramos sempre e não encontramos nunca. “Não tentei colocar muito alto um ídolo que não merece”, pensou ele, reportandose a fatos antigos. “O meu erro foi ter tentado fazer baixar do alto um ídolo que não pode viver entre os homens.” (DP, p. 404). 97 Após o confronto com o outro, a constatação da sua diferença (superioridade?) em relação a ele: Seria apenas uma ilusão? Sílvio sabia que não podia viver sem criar dentro de si a imagem de alguns deuses terrenos e insuflar-lhes alguns sentimentos que julgava imprescindíveis à existência sobre a terra. Ele sabia disto e tinha a impressão de que alguma coisa se salvara do imenso naufrágio. Experimentava a si próprio e duvidava ainda. E, enquanto o trem penetrava ruidosamente na gare cheia de gente, lançou um derradeiro olhar à estrela que ficava ao longe, alta, solene, brilhando azul no imenso silêncio da noite. Fazia isto como quem sonda o futuro, à procura de uma força qualquer que o auxiliasse a enfrentar o que ainda lhe restava reservado. E compreendeu que não se enganava e que uma luminosa imagem existia no fundo da sua alma. Calmo, descia de novo à luta, procurando preservar dos homens o seu grande segredo (DP, p. 406). Sílvio, como o jovem Lúcio, tem a pretensão de tornar-se escritor. Isso nos autoriza a interpretar aquela necessidade (e lenitivo) de criar deuses terrenos como a necessidade que o próprio Lúcio reconhece em si de criar através da escrita a fim de apaziguar o seu espírito constantemente atormentado pela dúvida. Não esqueçamos, porém, que, na vida de Sílvio, Esperança é o nome da prostituta a quem ele rejeita. Enfim, em uma variante acrescentada à edição do romance inacabado de Lúcio Cardoso, O viajante, deparamo-nos com um parágrafo que parece expressar (em síntese) o drama suscitado pela contradição63 de todos esses elementos que constituem a visão do mundo (profundamente pessimista) do autor mineiro e que leva todas as suas personagens mais importantes a formular questionamentos deste tipo: ... Sim, Deus existe. Mas você tem a certeza de que é a Deus que nós amamos? Se Ele existe é um dever – e a verdade é que amamos tão pouco os nossos deveres! Por que como pode haver amor onde existe obrigação? Ele pode nos dizer que somos livres, que é do nosso Livre Arbítrio... Mas nós sabemos que não temos por onde escolher: o que nos compete é a 63 É interessante notar que essa contradição causou impaciência e mesmo revolta por parte da crítica. Assim, Paulo Hecker Filho (apud DOS SANTOS, 2001, p. 181) condena, nos romances de Lúcio, a falta de um sistema filosófico coerente que embasasse suas criações, bem como os remanescentes de um catolicismo que tolhia a ousadia que o autor transmitia às suas personagens. A esta acusação, o autor mineiro responde, em carta ao crítico, que “não tenho e não quero ter filosofia – nunca pude servir-me de uma verdade a metro para julgar as coisas. Nem acredito que ao romancista seja necessário um compêndio explicativo, com doutrinas, capítulos e teorias elaborando uma imagem morta da vida. Filosofia própria do artista, sim [...] creio que nada mais tenha feito [...] senão exprimir minha filosofia – a única – e sem a qual não poderia ser nem mesmo um escritor de quinta, de última classe” (Ibidem, p. 183). 98 obrigação. Por que quem, conscientemente, escolherá a liberdade contra o castigo eterno?... (V, p. 261). É interessante notar que este trecho, redigido em primeira pessoa, surge solto no manuscrito de O viajante, sob a declaração “Sinhá”. Em função disso, podemos supor que o autor pôde ter pensado em atribuir essa fala (como demonstramos, representativa do seu próprio conflito existencial) à referida personagem, sem dúvida incapaz de exprimir um questionamento tão complexo, mas, sobretudo, em uma linguagem tão elaborada. Ora, o que, nesta ocasião, Lúcio Cardoso não chegou a fazer em O viajante – como veremos na última seção deste capítulo –, será um recurso fartamente utilizado em Crônica da casa assassinada. Reflexões como a citada acima explicam a sensação mais experimentada por todas as personagens cardosianas e também a mais anotada pelo autor no seu Diário: a angústia. Madalena, por exemplo, experimenta a angústia ao pensar nos seus sentimentos pelo marido: O que lhe era mais amargo é que, apesar de tudo, ela lhe perdoaria sempre. Mesmo o seu movimento inicial, quando não amava nela senão a si própria, mesmo o pequeno envenenamento de cada dia, em que Pedro introduzira no seu espírito o sabor de suas piores qualidades e dos seus melhores defeitos. Tudo ela lhe perdoava e lhe perdoaria sempre. Sentia-se angustiada pela febre. [...] Sentia, a cada instante, maior necessidade de carinho e de consolo (LS, p. 120). A angústia é acompanhada – ou mesmo provocada – pelo tédio existencial (prenúncio da morte ou ainda a própria morte que se faz presente na vida) que as personagens – assim como o escritor64 – experimentam em face do irreversível e inútil transcorrer do tempo. É isso o que sente Maria, prima de Madalena, no início de A luz no subsolo, momentos antes de abandonar a casa do casal Pedro e Madalena: Não mais ouvir a voz amada, não mais perceber a sua doce presença, sentir instantaneamente que a antiga vida a levava de novo nos seus braços, retornando com os dias longos e chuvosos, com o desalento das mansardas frias e das horas 64 “Não há dúvida de que a vida é bem insípida – a tenacidade com que nos fere nos mesmos pontos! Acredito que a idade traga um certo apaziguamento e que, à margem das coisas, o espetáculo talvez deva ser mais interessante, os homens mais diversos, a vida mais variada em suas surpresas. Mas enquanto estamos dentro dela, e mergulhando até os olhos nos seus acontecimentos [...] o seu insuportável vazio é como um cáustico que nos devora” (CARDOSO, 1970, p. 116). 99 passadas a esperar que outras horas distantes viessem por sua vez e também se fossem no seu doloroso escoamento. “Mais uma... mais uma...” diria o pesado relógio na sua indiferença atroz; nenhuma emoção se ergueria do fundo do seu peito, nem sequer aquele grito: “oh! mas é uma hora da ‘minha’ vida que se foi, é mais uma que eu atirei impunemente ao vento...”, grito que lhe escapava às vezes dos lábios, ao medir o avanço de mais uma parcela do tempo, de mais um passo fora da vida, diante de cuja impossibilidade todos os desejos de retorno e todos os arrependimentos se anulavam como débil fumo lançado à ventania. Somente uma dolorosa quietude, uma fria constatação de que a vida não foi constantemente feita para ser aproveitada (LS, p. 11). A angústia, o tédio e a solidão (resultado da profunda impossibilidade de comunicação entre os seres) conduzem ao desespero, sentimento que assola a imensa maioria das personagens cardosianas. É também Madalena, que após uma visita frustrada à casa da sua mãe (a quem tinha recorrido procurando compreensão), De volta para casa, [...] não podia vencer o desespero que ia se apossando de seu espírito. As esperanças que alimentara durante a manhã lhe apareciam perfeitamente ridículas, agora que percebia com implacável nitidez o modo por que falhara tudo, um plano inteiro de vida, ao leve esboço de um gesto mais esquivo... (LS, p. 39). A partir desse sentimento, a morte afigura-se como um alívio. O narrador de A luz no subsolo descreve o tormento de Pedro em sintonia com o tipo de reflexão que encontramos no Diário de Lúcio Cardoso: Pedro sabia-se doente. Irremediavelmente doente. Muitas vezes, quando a luz se apagava sobre a sua insônia, perguntava com a alma angustiada: de onde me vem esta desconfiança, este mal-estar que não me permite estar tranqüilo em lugar algum? Em certas noites, costumava acordar no meio de um sono, respondendo a uma pergunta: “ainda não chegou o tempo”. Tempo de quê? Por que sentia ele que esse momento ainda não era chegado? Mas não precisava se perguntar muito: ainda não era chegada a época de morrer. Sabia com uma trágica certeza que a sua hora soaria mais cedo do que para os outros – quando chegasse o momento, ele o saberia inevitavelmente. E há vários anos que esperava impassível essa hora. Essa consciência, essa coisa absurda e diabólica, atava-o de repente num salão ou no momento de se deitar. [...] Quando tudo dormia em torno dele, os seus olhos se abriam e a aflição rompia no seu peito: que estou eu fazendo neste mundo? Quem sou eu? Por que nasci de carne para sofrer sem culpa alguma? Dentro da vida, ele se sentia um desconhecido. Não tinha uma alma como os outros – era uma alma desconhecida para ele, dissociada de seu corpo, cega e carregada de remorsos que não eram seus. [...] 100 Uma pergunta apenas, uma pergunta passara a sangrar no seu peito: aquele que é destinado ao sofrimento que precisa fazer? Aceitar o seu sofrimento? Sim – sem dúvida. Mas quando esse sofrimento é originado por determinadas causas, impossíveis de se conciliarem com a “aceitação” dessa dor, que é preciso fazer? Esfacelar-se lentamente através do tempo, medir todas as etapas da amargura, arrastar-se como um embriagado de ópio entre as paredes estreitas das suas impossibilidades. Isto até que o “momento” chegasse. Então, exausto de forças, segurar um revólver e rebentar a cabeça (LS, pp. 140 a 142). Podemos concluir, pela leitura desta extensa citação e apoiando-nos na convicções do autor Lúcio Cardoso, que Pedro está doente de falta de fé. Por isso, irremissivelmente danado e desesperado. É o próprio autor, referindo-se a ele mesmo, quem sintetiza e explica no seu Diário o que acontece também com Pedro no trecho citado: “Aliado a tudo isto, um sentimento de angústia inexprimível: a sensação da morte próxima” (CARDOSO, 1970, p. 113). Seja como for, Lúcio Cardoso sente a necessidade de concluir (fechar) as suas narrativas. É o que o ele expressa no Diário ao comentar o final de A luz no subsolo: Tudo gira em torno de Deus – acredito ou não em sua existência? Por que deixei em suspenso a pergunta formulada em A Luz no Subsolo? Calo-me. Ele próprio me afirma que não é necessário que eu responda. Pergunto: e se eu disser que eu não sei? “Melhor para mim – diz ele – pois assim me facilita concluir” Concluir – não a meu respeito – mas a respeito de meus personagens, evidentemente. Porque Deus, para mim, seria exatamente isto: um meio de não se concluir nunca (CARDOSO, 1970, pp. 237-238). Acontece que, à maneira do Deus no qual ele acredita, Lúcio Cardoso é um autor criador que concebe que a sua função na obra romanesca é dar acabamento ao que não o tem: o homem. Em um mundo de não-realidade (e só por isso, coerentemente organizado e fechado) instaurado por um autor tradicional como ele “a necessidade de situar a personagem fora do contexto da visão do autor é um imperativo estético: cabe ao autor dar uma forma conclusiva a uma vivência em evolução. A personagem que vive os acontecimentos tem uma visão limitada, sendo incapaz de elaborar uma visão completa de si mesma” (MACHADO, 1995, p. 101 151). No entanto, ele não pode resolver tudo; ele apenas pode acabar o romance, a personagem, mas não pode dar resposta a sua angústia existencial (é o que ele confessa na citação acima). Isso porque ele concebe uma hierarquia: acima do autor criador, está o Criador, e a última palavra (o fechamento em relação ao autor Lúcio Cardoso) só poderá ser dita por ele, é o Interdito, a lei a que o homem não tem acesso, o Mistério. 1.3 O conteúdo é que faz a forma: o romance introspectivo e cristão de Lúcio Cardoso como veículo do seu pensamento indeterminado Há mais de dez anos que temas e planos de O Viajante vivem comigo. Leva ele, como epígrafe, uma citação de Byron. Numa época de joycianos e romancistas nouvelle vague, quero afrontar o preconceito desse pseudonovo com o direito de ostentar esse velho arabesco da coroa romântica. No fundo, o viajante é a essência do mal, em permanente trânsito pelos povoados mortos do interior (CARDOSO, 1970, pp. 289-290). Não sou, nunca fui um fin de siècle, misturado a resquícios românticos e heranças ancestrais. Sou totalmente um romântico, com más heranças próprias e sem responsabilidade de ninguém. Sou isto, se é possível assim reduzir uma pessoa viva a um esquema (Ibidem, pp. 138-139). Veremos nesta seção as implicações que tem sobre a forma a prática da escrita vista como um modo de autoconhecimento e como projeção dos conflitos internos de Lúcio Cardoso na tentativa de aliviar a sua angústia existencial. Para isso, analisaremos alguns aspectos estruturais e de composição de A luz no subsolo, Dias perdidos e O viajante, relacionando-os com os aspectos da visão do mundo do autor vistos na primeira seção deste capítulo. O caso de Crônica da casa assassinada será analisado mais pormenorizadamente na seção 1.4. Como vimos na introdução, Lúcio Cardoso, junto com Otávio de Faria e Cornélio Penna, é um dos mais importantes representantes do romance cristão no Brasil. No mundo, os pilares desta tradição são quatro escritores: Dostoievski, Bernanos, Julien Green e François Mauriac, dos quais Lúcio Cardoso era leitor apaixonado, segundo anotações e comentários do seu Diário. Como observa Albérès (1962, p. 273), esta linha do romance desenvolve-se de forma concomitante à (divulgação da) revolução do romance – bem mais célebre – efetivada por Proust, Joyce e Kafka. Em Polêmica e controvérsia em Lúcio Cardoso, Cássia dos Santos mostra o ambiente de rivalidade (e hostilidade) intelectual e literário que reinava no eixo Rio-São Paulo dos 102 decênios de 30 a 50. De um lado, os escritores realistas e socialistas, com os pontas-de-lança José Lins do Rego e Jorge Amado; do outro, os espiritualistas, católicos e simpatizantes com posições de direita, cujos principais representantes – pelo menos nos debates e enfrentamentos – foram Octávio de Faria e Lúcio Cardoso. Dos Santos cita vários depoimentos de artistas, mas podemos ressaltar, como exemplo, cartas de Mário de Andrade nas quais ele chamava a tendência intimista-espiritualista do segundo grupo de “corrente da Mania de Grandeza, universalista, psicofilosófica, profundista, valoreternista” (apud DOS SANTOS, 2001, p. 101) atacando explicitamente a de Faria e Cardoso. Isso, como aponta mais adiante a crítica, pressupunha a crença em uma dicotomia entre arte engajada e arte pura, considerando-se esta última (conforme o próprio Mário) “a arte que, ao se furtar à denúncia dos acontecimentos do momento, colaborava, ainda que não intencionalmente, com os fascistas e parafascistas” (Ibidem, p. 104). Lúcio Cardoso contestava as acusações em declarações em artigos como o publicado na revista Letras brasileiras em que afirma: “Arte pela arte”, entre nós, é como se convencionou chamar tudo o que não é grosseiramente primário, o que possui certa aristocracia, quer como conhecimento, quer como expressão isolada da experiência de um indivíduo, frente a certos problemas que, por tolice ou má fé, estes mesmos cavalheiros consideram como tabus. “Arte pela arte” é tudo o que não cheire a reportagem fácil e conhecimento superficial da vida [...] tudo o que sai (sic) um pouco fora da bitola comum e pretenda ter das coisas deste mundo uma visão mais ou menos pessoal. [...] Ora, esta gente que tudo sabe, ignora [...] que, onde entra certa dose de humano [...] onde existe o homem, finalmente, sua dor e sua miséria, não pode haver arte gratuita. O sofrimento não cria nada gratuito (apud DOS SANTOS, 2001, p. 137, grifo do autor). Como já vimos, o tipo de engajamento que mobiliza o autor mineiro e as suas personagens é de outra ordem. Em palavras de Walmir Ayala (1986, p. 449), Lúcio Cardoso “alienava-se da participação exterior, para integrar-se na grande e absoluta linhagem dos visionários, esta outra espécie de participação fatal, que é fusão na mais pura incandescência”. Após apontar a evidente subordinação da estética em benefício da ética, Flávia Trocoli Xavier da Silva (2000, p. 58) resume os propósitos do romance católico: “a vida da alma ou o ‘eu real’ identificados como perturbação e sofrimentos contínuos, a vida terrena metaforizada em prisão e em sombra, a busca sôfrega do martírio”. No entanto, a “aristocracia” das intenções declaradas por Lúcio, estender-se-á, como veremos, à forma da sua escrita. O que caracteriza ainda mais amplamente o romance cristão é o desenvolvimento de um drama que não faz mais do que refletir uma outra história – a verdadeira –, atualizada em 103 cada indivíduo que aspira à salvação (à maneira de Cristo) e que se desenvolve no plano transcendente, consistindo, basicamente, na luta entre o bem e o mal. Este tipo de romance preserva o que Auerbach chama de visão de realidade figural da tardia Antigüidade e da Idade Média, definindo-a nos seguintes termos: Para a visão mencionada, um acontecimento terreno significa, sem prejuízo da sua força real concreta aqui e agora, não somente a si mesma, mas também um outro acontecimento, que repete preanunciadora ou confirmativamente; e a conexão entre os acontecimentos não é vista preponderantemente como desenvolvimento temporal ou casual, mas como unidade dentro do plano divino, cujos membros e reflexos são todos os acontecimentos (AUERBACH, 2004, pp. 500-501). Em decorrência disso, como explica Albérès, o essencial, neste tipo de romance é “a narrativa humanamente incoerente, rebelde à psicologia clássica, invisivelmente dominada por uma fatalidade extra-humana de caráter moral e religiosa” (ALBÉRÈS, 1962, p. 274, grifos do autor, tradução nossa65). Assim, como mencionamos na seção anterior, os laços que unem as personagens entre si e em relação aos acontecimentos são misteriosos. Imediatamente, porém, Albérès chama a atenção sobre o caráter paradoxal dessa “moral”, aludindo aos romances de Dostoievski, nos quais os acontecimentos narrados não obedeceriam a qualquer noção de moralidade. Ao mesmo tempo, o questionamento implícito à lógica humana que detêm os romances cristãos une-os – revelando certo grau de parentesco – aos romances expressionistas, no sentido apontado – novamente – por Albérès de que: Esse mundo exasperado [do romance cristão] foi também o da arte expressionista: um mundo sombrio onde as pulsões humanas não pertencem à lógica dos sentimentos, mas a uma espécie de raiva e impotência que estaria no fundo do homem. [...] Tudo se passa em uma atmosfera realista e, entretanto, quase alucinante, na medida em que as paixões são injustificáveis e injustificadas, como nascidas de profundezas desconhecidas (ALBÉRÉS, 1962, p. 278, tradução nossa 66). Se levarmos em consideração o pensamento indeterminado do autor que tentamos desvendar em parte na seção anterior, isso explica porque o romance cristão foi o escolhido 65 L’essentiel est dans un nouveau “style” du roman : le récit humainement incohérent, rebelle à la psychologie classique, invisiblement dominé para una fatalité extra-humaine à caractère moral et religieux. 66 Ce monde exaspéré fut aussi bien celui de l’art expressioniste : un monde sombre où les pulsions humaines n’appartiennent pas à la logique des sentiments, mais à une sorte de rage et d’impuissance qui serait au fond de l’homme. [...] Tout se déroule dans une atmosphère réaliste et pourtant presque hallucinante, dans la mesure où les passions sont injustifiables et injustifiées, comme nées de profondeurs inconnues. 104 por Lúcio Cardoso para apresentar o drama vivenciado por suas criaturas atormentadas. Ele era profundamente católico e, mais, obcecado pelos dilemas que apresenta esse tipo de romance. A noção de realidade figural a que alude Auerbach em citação acima é exatamente a que corresponde à visão da vida do autor mineiro e que ele exprime em vários trechos do seu Diário. Por exemplo: “A verdade é escrita em linhas firmes do outro lado. Onde? Não sei – apenas sentimos, entre premonições e espantos, a certeza de que a vida completa existe na distância – como alguém que ao crepúsculo, vê no horizonte os sinais de uma tempestade longínqua” (CARDOSO, 1970, p. 97). Como bem assinala R.-M. Albérès, o romance cristão é um romance “trágico, onde tudo tem um ‘sentido segundo’, de natureza ‘espiritual’”, dando sempre a impressão de “que um drama humano preciso não é senão o ‘extra’, o eco terrestre de um drama celeste que nós não podemos ouvir” (ALBÉRÈS, 1962, p. 273, tradução nossa67). As personagens de Lúcio Cardoso podem apenas vislumbrar, em alguns instantes e de forma fugidia, os reflexos da eterna história celestial. É um desses relances de percepção que apavora Clara, em uma cena de Dias perdidos: Para onde quer que olhasse, via sempre o mesmo desenho cruelmente nítido, o mesmo recorte em torno da planície vazia de sua existência. Em certos momentos, ferida por um desses raios de intuição que é como um projeção fugitiva da verdade submersa, tomava-se de pânico, corria a refugiar-se no quarto, pedindo de joelhos a Deus que a salvasse daquele desespero (DP, p. 41). Por outro lado, A luz no subsolo, Dias perdidos, Crônica da casa assassinada e O viajante são romances intimistas, pois a vida interior das personagens ocupa o primeiro plano do tecido narrativo e é através da visão delas, em boa medida, que captamos os acontecimentos que configuram a história. Isto é um resultado coerente da convicção profunda do autor de que “a vida não é a constatação do ambiente exterior [...] a vida é ao contrário o que o homem sofre, a história das suas reações, os sentimentos que o habitam, as paixões que o conduzem” (CARDOSO apud DOS SANTOS, 2001, p. 59). A despeito dessa ênfase na interioridade e também em função da objetificação das personagens (assunto que abordaremos mais adiante), a história exterior mantém uma considerável relevância na obra do autor mineiro, que adota muitos dos recursos do romance tradicional. Por exemplo, o princípio de tensão que norteia a leitura das obras é ainda o 67 Roman “tragique” où tout a un “sens second”, de nature “spirituelle” [...] la même impression qu’un drame humain précis n’est que la “doublure”, l’écho terrestre, d’un drame céleste que nous ne pouvons entendre. 105 característico desse tipo de romance: notadamente, o suspense narrativo a serviço da intriga. Isso quer dizer que, apesar do mistério (religioso) donde procedem as forças (de origem inconsciente, do ponto de vista psicanalítico) que animam os seres que habitam esses mundos ficcionais, nas suas obras romanescas ainda é possível estabelecer critérios lógicos de causalidade que explicam, se não o fundo, o encadeamento dos fatos narrados. O suspense é claramente montado para adiar o reconhecimento das verdades mais superficiais. Como no romance tradicional, “Se então a história aparece ao leitor como a matéria da narrativa, a intriga decorre em contrapartida da abstração, pois ela resulta de um trabalho intelectual: o romancista organiza uma seqüência de mistérios dos quais cada um será elucidado no tempo previsto” (ZERAFFA, 1971, p. 29, tradução nossa68). De fato, nos quatro romances analisados – e a despeito de Crônica da casa assassinada assumir uma modalidade narrativa homodiegética múltipla –, resulta evidente a preocupação do autor por semear pistas que, mais tarde, no decorrer das obras, serão esclarecidas e/ou confirmadas sem falta69. Isto é uma característica básica do folhetim, como também – e como salienta Dos Santos fazendo referência sobretudo à novela Inácio – a conclusão de capítulos em momentos chaves, com vistas a obter um determinado efeito de suspense70. Por exemplo, a “Continuação da segunda narração de Padre Justino” de Crônica da casa assassinada, deixa-nos na expectativa de um crime que Ana (cuja perversidade já conhecemos) poderia vir a perpetrar. Relata o Padre: Recordo-me que a essa altura sua voz se tornou mais velada, até que esmaeceu e cessou completamente – como uma fonte estanca o ímpeto do seu primeiro borbotão. Fitei-a: vi que ela elevava a mão à altura do seio e apalpava uma forma escondida, que adivinhei ser a de um revólver. Erguendo-se, proferiu com os olhos molhados: 68 Si donc l’histoire apparaît au lecteur comme la matière du récit, l’intrigue relève en revanche de l’abstraction, car elle résulte d’un travail intellectuel : le romancier organise une suite de mystères dont chacun seront elucides en temps voulu. 69 Podem ser apontadas duas exceções: a primeira diz respeito à verdadeira filiação de André em Crônica da casa assassinada, que permanece dúbia, a despeito da confissão final de Ana. Neste ponto, concordamos plenamente com o juízo de Ruth Silviano Brandão (1998, p. 35): “Outra questão que sustenta a narrativa é o possível incesto entre Nina e André, que a maioria dos críticos nega ter havido, confiando nas palavras de Ana, que afirma ser ela a mãe de André, em sua última confissão para o padre Justino. Entretanto, a verdade de Ana está cheia de contradições e não se encaixa com outras partes do romance”. No entanto, em função do que já notamos no final da seção 1.2 e do que mostraremos na seção dedicada a este romance, acreditamos que essa dubiedade se deva mais a uma falha no acabamento do romance do que à intenção do autor, que, devido aos seus valores morais, faz questão de fechar o sentido da narrativa. Já em relação a O visitante, por ser um romance inacabado, não podemos realizar essa afirmativa de forma cabal. No entanto, os fragmentos que foram publicados quase não deixam lacunas na história narrada, deixando entrever, assim, que essa técnica narrativa possivelmente seria mantida no seu romance póstumo por parte do autor. 70 Ver exemplos em LS, pp. 92, 101, 282, 330; DP, pp. 185 e 223; CCA, pp. 440 e 555. 106 – E “ela” [Nina], Padre, que castigo merece ela agora? (CCA, p. 339). Outro traço em Lúcio que é característico do romance tradicional é o inusitado das situações apresentadas, que desaguam freqüentemente no melodrama, o que leva Flávia T. X. da Silva (2000, p. 38) a apontar, na poética de Lúcio Cardoso “a ambigüidade entre a ‘lógica do escândalo’ e o gênero folhetinesco, entre o gosto pelo excepcional e o mau-gosto”71. No romance moderno, pelo contrário, o quotidiano, o fato banal é o realçado. O gosto pelo acontecimento extraordinário e pelo estilo grandiloqüente pode muito bem estar associado à dificuldade que o autor confessa (1970, p. 153) em relação a lidar com o dia-a-dia monótono e vazio da existência, “essa severa inaptidão para o jogo diário – tão sem perspectiva! – que se chama a obrigação de viver” (CARDOSO, 1970, p. 162). Também, em resposta a uma crítica ao seu Diário e sugestão no sentido de falar de assuntos não abordados, diz Lúcio Cardoso: Não vejo, na verdade, nenhuma necessidade disto, primeiro porque não tenho nenhuma tese por assim dizer... gidiana, a defender, segundo porque não vejo nenhum interesse em enumerar fatos que me parecem mais desdenháveis do que outra coisa. E depois, finalmente, porque fatos, quando não projetam uma claridade qualquer pela que possam subsistir, são apenas fatos, e portanto destinados a serem arrolados na imensa lista de coisas devidas exclusivamente ao esquecimento (CARDOSO, 1970, p. 152). O tipo de fatos que interessam ao escritor Lúcio Cardoso, e que ele selecionará para conformarem as histórias dos seus romances, são aqueles que trazem luz a suas próprias incertezas e angústias existenciais e, sobretudo, religiosas; fatos, antes de mais nada, ligados à noção de pecado e transgressão (irremissível falta que determina a eterna queda do Homem). Por outro lado, Álvaro Lins destaca a surpresa como “o único instrumento com que conta o romancista para levantar e desdobrar situações” (LINS, 1963, p. 114). O exemplo paradigmático deste recurso nos quatro romances estudados, é o que encontramos no final de Crônica da casa da assassinada, quando ficamos sabendo, contra tudo o que fomos induzidos a acreditar durante a leitura do romance, que André seria filho de Ana e não de Nina e que, por conseguinte, o incesto que alimenta toda a trama não teria existido. 71 Flávia T. X. da Silva identifica os tópicos folhetinescos presentes em A luz no subsolo e que nós também detectamos nos outros romances estudados: “a oposição nítida entre o bem e o mal, a vitimização da mulher, a loucura e as tópicas da dívida, do estupro, do envenenamento, as conversas ouvidas às escondidas, os bilhetes perdidos que comportam segredos, a esperança de que criadas ajudem na conquista amorosa” (SILVA, 2000, p. 115). 107 Tanto em A luz no subsolo, Dias perdidos, Crônica da casa assassinada e O viajante, “as convenções de apresentação dos fatos e da narração da história” (FLETCHER e BRADBURY, 1989, p. 334) ainda importam e muito. Os exemplos abundam, mas vejamos alguns indícios semeados aqui e acolá nas obras objeto de nossa análise, com o intuito de produzir suspense. O encontro entre Jaques e Clara é descrito em termos muito parecidos ao de Pedro e Madalena em A luz no subsolo. Jaques é apresentado como um indivíduo que seduz as mulheres e que exerce um estranho fascínio sobre elas, fazendo-as perder o controle sobre as suas ações. Clara “No princípio tentara lutar, compreendendo que aquele homem era mais forte do que ela e que acabaria por submetê-la. [...] Cedera às suas palavras, que no momento pareciam sinceras. E eram – apenas não o seriam sempre” (DP, p. 11). Anos após o abandono do marido, em uma pequena festa da cidade onde mora, Vila Velha (a mesma de Crônica da casa assassinada e O viajante), [...] julgou distinguir dois olhos que a fitavam por detrás da folhagem. Instantaneamente todos os seus pensamentos desapareceram, como se tivessem cedido ao peso de uma ameaça. [...] Ao longe uma voz de mulher cantava. Dessa vez ela teve medo de ficar sozinha e se levantou, fixando de novo o arbusto onde vira brilharem os dois olhos. Devia ser um homem, só podia ser um homem. E ela se esforçou em vão por esquecer um nome que teimava em lhe aflorar aos lábios (DP, pp. 7778). Algumas linhas depois, temos a resolução do enigma: “Sim, pertenciam realmente ao farmacêutico os olhos que tinha entrevisto através da folhagem” (DP, p. 78). Este recurso é muito utilizado por Lúcio Cardoso. Em Crônica da casa assassinada, ele é efetivado através do relato do mesmo episódio por diferentes personagens, cada um contribuindo para completar o quadro da cena correspondente. O crime de Donana de Lara, em O viajante, é anunciado pelo narrador heterodiegético durante todo o primeiro capítulo, insistentemente, até chegarmos à dilucidação do enigma no final: “O que ela via não era o ato que estava prestes a cometer – mas o depois, quando ela já o houvesse cometido” (V, p. 7); “Então, seus passos se tornavam mais rápidos e ela parecia fugir, não “daquilo” que ficara lá no vale, mas desse hausto de pobreza que parecia procurar abraçá-la como duas mãos escuras” (V, p. 8); “Se Deus existisse, seu olhar se confrangeria, pois saberia qual era o oculto desígnio que ela levava no fundo do coração” (V, p. 9). 108 Além disso, todas as personagens têm premonições. Por exemplo, Donana de Lara: “Antes, cedo, qualquer coisa lhe dissera que Zeca havia se alterado, que ele sabia de tudo” (V, p. 4). Sinhá: Foi aí, neste pequeno reduto sufocante, que Sinhá continuou a pensar em Rafael. Só aí, desde que o vira na rua, aproximando-se dela com um sorriso nos lábios, teve medo – e não soube porque teve medo, nem porque lhe subiu à boca aquela vaga sensação de amargo – de repente, pressentiu que devia fugir daquele homem, e que o perigo se achava não do lado de mestre Juca, mas dele, precisamente dele, que não bebia e não pedira para que ela fosse boazinha (V, p. 44). Ou Bento Mendes: Por um desses inesperados truques psicológicos, que se processam não à superfície iluminada do espírito, mas nesse recôndito desvão onde se alimentam as certezas inconscientes, ele sabia de mais ainda, sabia depois de ter hesitado e lutado, que a morte de Dona Fina se daria precisamente naquela noite. De onde apreendera tudo isto, era difícil dizer [...] (V, p. 149). A descrição do ambiente está, muitas vezes, ao serviço dessa função premonitória. “As paisagens antropomórficas participam do ambiente trágico e metafórico dos seus romances” (Carelli, 1996a, p. 638). Isso é possível porque, na concepção do autor, o mundo físico não é mais do que uma aparência onde às vezes podemos surpreender sinais da verdadeira realidade (imaterial, espiritual). Como é sabido, a grosso modo, a luz representa o divino e as trevas, o inferno. Podemos constatar, em muitas citações incluídas na presente tese, tanto do Diário do autor, quanto dos romances, como ele concebe a existência em termos de luz e sombra, bem e mal, opostos enfim que não encontram uma conciliação. Revela-se assim, a lógica aristotélica (formal) assentada no sistema de oposições excludentes. A seguinte cena descreve os momentos finais da relação de Rafael (o Viajante) e Anita (talvez, a única mulher que ele amara): “Ah, se Anita soubesse!” – era o seu único pensamento. A última vez em que a vira... Entardecia, estavam na estação e deviam partir dentro em pouco. 109 Lembrava-se bem que era uma gare antiga e escura, atravancada de caixotes e de grandes latas de leite que um caminhão despejava na plataforma. Próximo, uma locomotiva executava manobras, deixando escapar grossos rolos de fumaça negra e enchendo o ar com um apito surdo, angustiado. Ela dissera de repente que não estava se sentindo bem, que ia ao lavabo. Sozinho, sentira um inesperado aperto no coração, o apito da locomotiva lhe parecera mais triste, como se fosse a própria voz daquele lugar desamparado (V, p. 231). E desamparado irá sentir-se Rafael logo depois quando Anita voltar e anunciar a sua decisão de não partir com ele. Detectamos nesse recurso ao claro/escuro como meio expressivo uma primeira característica da estética barroca, que a fortuna crítica de Lúcio Cardoso geralmente aponta na escrita do autor. Conforme Helmut Hatzfeld (1988, p. 80), na estética barroca, “se o claro-escuro apresenta um aspecto de simbolismo teatral, o motivo se amplia no conceito de que o mundo inteiro é um cenário finito que reflete o infinito”. Por isso, o escuro da natureza suscita em Madalena um mal-estar, um mau pressentimento: Não podia negar que o bambual tinha as suas horas agradáveis, e que ela as apreciava também [...]. Mas qualquer coisa dentro dela, ainda sem forma como a maioria de suas sensações, odiava aquele trecho escuro do jardim, onde a claridade não se escoava senão furtivamente. Era interessante procurar a origem verdadeira daquela aversão. Um acontecimento, um quase nada, aparecia no fundo de sua memória e, se bem que ela se recusasse a apoiar inteiramente esta idéia, não podia dissimular a importância de que se revestia a seus olhos (LS, p. 24). Em contrapartida, um dia ensolarado inspira-lhe entusiasmo e esperança: Tomara uma decisão. Talvez que a razão destas forças encontradas de um modo tão repentino no seu espírito fosse unicamente a influência da manhã que se estendia inteiramente sem nuvens, cobrindo a várzea de um verde quase luminoso e de uma alegria quase infantil. Talvez fosse oriundo dessa liberdade que dava uma nova vida ao seu ser, trazendo-a de volta do escuro chuvoso da noite anterior à serena felicidade daquele amanhecer. O certo é que, pesando pela primeira vez esses fatos em sua realidade completa, resolvera dizer tudo à mãe, contar todo o seu drama, viver (LS, p. 29). 110 A luz no subsolo e Dias perdidos apresentam uma estrutura similar, de exposição distribuída, isto é, de intercalação da “exposição com a linha principal de ação, na forma de pequenos flashes retrospectivos ou antecipadores, alternados ou mesmo entremeados” (MENDILOW, 1972, p. 118). Trata-se, nos dois casos, de estruturas lineares e fechadas (Cf. TADIÉ, 1992, p. 89), no entendido de que O que separa, com efeito, uma estrutura aberta da estrutura fechada é o facto de os fragmentos em que ela se decompõe não serem montáveis, não poderem ser reconstruídos numa unidade. Les hommes de bonne volonté dispõem-se em fragmentos inúmeros; mas o conjunto pode ser unificado; encontramos nele uma ordem perfeitamente lógica. A estética da colagem, pelo contrário, já não obedece à lógica. [...] A sua história, a ficção, é fragmentada: Cendrars procede por relâmpagos, e a própria frase se desagrega. É o mundo do caleidoscópio (TADIÉ, 1992, p. 111). Da mesma forma, em termos temáticos, tanto em A luz no subsolo quanto em Dias perdidos, Lúcio Cardoso opera um fechamento do sentido proposto pelas narrativas mediante as reflexões finais das personagens. O autor nos dá a chave de como os romances devem ser lidos e, exercendo o princípio de extraposição do narrador (autor)72, confere uma unidade à obra, obrigando o leitor a ajustar suas possíveis interpretações à intenção do autor. Em obras como as de Lúcio Cardoso vemos a pertinência da posição teórica intencionalista defendida por Wayne Booth em sua Retórica da ficção. Resta, contudo, certa abertura no final das narrativas, mas ela restringe-se ao Mistério (Interdito) que, conforme a visão do mundo do autor, é inacessível ao ser humano (e, por conseguinte, também ao escritor que o escolhe como tema principal): nos casos dos romances supracitados, o grande Mistério é representado pelo mistério da morte e pelo mistério da graça. Por último, O viajante apresenta uma estrutura singular de “capítulos alternados no tempo” (V, p. 132, nota de Adauto Lúcio Cardoso), isto é, cada capítulo inicia-se no tempo da narração e, concomitantemente, é introduzida uma analepse narrativa (exposição) que vai se alternando com a prossecução do episódio relativo ao presente da narração até coincidirem, nesse mesmo presente, no final do capítulo. 72 Explica Bakhtin: “[...] o autor não só vê e sabe tudo aquilo que vê e sabe cada um de seus personagens, separadamente e em conjunto, como também aquilo que, por princípio, é inacessível a eles. É neste excedente de visão e do conhecimento do autor com relação a seus personagens que se encontram os momentos de conclusão do todo, ou seja, a totalidade dos personagens e da obra em geral” (BAKHTIN apud MACHADO, 1995, p. 152). Resulta claro desta citação que Bakhtin está fazendo referência ao narrador onisciente, convenção típica do romance tradicional. 111 Com respeito ao tempo, nas narrativas romanescas de Lúcio Cardoso, em primeiro lugar, cabe assinalar que, como no romance cristão em geral: O tempo ficcional destes romances é duplo – a duração da manifestação particular, e os bastidores do tempo que se abrem atrás dela. De modo semelhante, cada personagem não é apenas um indivíduo vivendo o seu tempo, mas também uma configuração de uma série interminável que recua até o surgimento da humanidade (MENDILOW, 1972, p. 157). Por outro lado – como é sabido –, o tempo, no romance tradicional, costuma ser linear (a despeito de possíveis analepses ou prolepses narrativas73 ou diferenças de andamento do relato), seguindo a sucessão de certo número de acontecimentos que conformarão a história a ser contada. Neste tipo de romance, o principal estímulo para a leitura está constituído pelo conhecimento do desfecho da intriga74, que introduz o fator lógico, de causalidade, na história. Em virtude do predomínio dessa função narrativa no romance tradicional, a direção e o sentido do relato estão dados de antemão para o autor. Por isso, e em consonância com as observações de Jean Pouillon (1974, p. 152), podemos considerar que estes romances não são romances do tempo, no sentido de que, ao contrário daquele, pretendem eliminar a contingência75, sendo, por isso, denominados pelo crítico “maus romances do destino” (Ibidem). Neles, à maneira de um Deus, o narrador demonstra tudo saber sobre sua história, desde o começo, sendo, por exemplo, comum o uso de prolepses narrativas. O plano – como o plano divino que rege o destino das pessoas que nele acreditam – está traçado, não há lugar para desvios ou surpresas, pelo menos para o autor. Por motivos diversos, tanto Pouillon quanto Lukács mostram como o bom romance, nos fundamentos da sua forma, é contrário à noção de destino. Pouillon, porque considera que a objetividade do romance deve implicar, necessariamente, o respeito aos caracteres do tempo, bem como uma fidelidade aos modos de compreensão disponíveis ao ser humano, “visto como, seja qual for o modo de compreensão do herói do romance, nós não assistimos a um aparecimento instantâneo, mas sim à sua 73 Cf. Gérard Genette. Discurso da narrativa. Lisboa: Vega, s. d. Cf. E. M. Forster, Aspectos do romance. 75 Como sintetiza Francisco Larroyo, “projetar um plano de vida significa escolher entre diferentes possibilidades, propor-se isto em lugar daquilo; o que constitui, exatamente, a liberdade. O tempo existencial é, substancialmente, liberdade” (LARROYO, 1951, p. 112, tradução nossa). 74 112 existência no tempo” (POUILLON, 1974, p. 111). Ora, o principal caráter do tempo, conforme observa este crítico, é justamente a contingência. Já Lukács pensa que o romance – a forma que representa a luta do herói problemático para se adaptar a um mundo externo sempre hostil e alheio, abandonado de Deus, desprovido de ideais – deve esgotar-se apenas na representação da experiência vivida, que nunca conclui, que nunca adquire um sentido terminado e decisivo: sem mais vocação e sem mais deuses, não há destino a ser cumprido. Por isso, o tempo no romance é inerente à própria forma. Afirma o crítico alemão: É unicamente no romance, cujo conteúdo total consiste numa busca necessária da essência e numa impotência em a encontrar, que o tempo se encontra ali ligado à forma: o tempo é a maneira como a vida puramente orgânica resiste ao sentido presente, a maneira como a vida afirma a sua vontade de subsistir na sua própria imanência, perfeitamente fechada. Na epopéia, a imanência do sentido à vida é bastante forte para abolir o tempo. A vida acede enquanto tal à eternidade [...]. No romance, sentido e vida separam-se e, com eles, essência e temporalidade; [...] a totalidade da ação do romance não passa de um combate contra as forças do tempo (LUKÁCS, s. d., p. 129). O tempo de uma diegese, de um mundo de ficção, não funciona, no romance tradicional, da mesma forma que o tempo que atravessa toda existência. Isto se verifica mesmo quando o narrador não é onisciente (um narrador homodiegético, por exemplo), pois inclusive ele se limitará a contar uma determinada história com início, meio e fim, implicando, este último, a atribuição de certo sentido à sucessão (por isso considerada necessária) de fatos narrados. Até no caso das narrativas em primeira pessoa, os romances podem assumir a feição de romances do destino, quando elas são retrospectivas, pois o narrador confere um sentido a sua história de que ela carecia no momento em que era vivida. A qualidade dessas tentativas dependerá, segundo Poullion (1974, p. 152), de se esse sentido é mostrado como uma ilusão vivida pelas personagens (e pelo narrador autodiegético) ou de se ele quer ser justificado objetivamente mediante a eliminação de toda contingência. Seja como for, Pouillon ressaltará a importância de cada instante para a questão do sentido. Qualquer relação é contingente e, portanto, sintética, diz o crítico francês. Logo, ela poderia ter sido diferente do que é. Por isso: 113 Isto quer dizer que devemos buscar em cada instante o porquê e o como de suas ligações com os demais e não nestes últimos; é neste momento que eu volto a ligar-me ao que fui, é neste momento que projeto realizar mais tarde uma determinada ação [...]. Respeitar os caracteres do tempo significa portanto descrever presentes e não dissolvê-los num passado que, finalmente, permaneceria sempre inatingível (POUILLON, 1974, p. 114). Já observamos como essa não é a escolha do escritor Lúcio Cardoso, que opta por encerrar as suas narrativas. Além disso, em três dos romances abordados nesta tese, uma conseqüência direta da escolha de um narrador heterodiegético onisciente é o uso reiterado de prolepses narrativas, que demonstram que o narrador conhece o final da história que está contando e que, assim sendo, a mesma tem um sentido preestabelecido para o qual ele se encarregará de conduzir o leitor, utilizando determinados meios retóricos que mencionaremos mais adiante. O tempo linear permite a narração retrospectiva. Assim, por exemplo: “Mais tarde, muito mais tarde, quando Jaques regresasse ao lar, velho e doente, compreenderia que mais uma vez as duas imagens não se reajustavam” (DP, p. 27). Ou: E realmente Sílvio não temia coisa alguma, uma inesperada confiança substituía nele todo o rígido depósito das doutrinas aprendidas a custo, fazendo-o penetrar nesse território de amor humilde e puro, de fé e de esperança, que jamais deveria abandonar inteiramente no decorrer da vida (DP, p. 68). E, em O viajante, vemos Donana de Lara na praça, “Onde ela esperara pela segunda vez um morto, como esperaria ainda uma terceira, sentada, as mãos cruzadas, numa delas um bilhete amarrotado. Como ainda uma vez esperaria, muitos anos mais tarde” (V, p. 192). E somos informados que “isto foi só muitos meses depois, durante o julgamento que tanto abalou a cidade de Vila Velha” (V, p. 203). Isto não exclui a intervenção do tempo psicológico, regido pelas associações livres e pela irrupção de lembranças trazidas pela memória involuntária. A duração, porém, nos romances de Lúcio, restringe-se a comandar alguns aspectos da representação dos processos internos das personagens, mas não determina o andamento estrutural da narrativa. Este, como já vimos, está ao serviço daquela realidade figural, cujo desvendamento constitui principal escopo do romance de Lúcio Cardoso e do romance cristão em geral. 114 O exposto acima com respeito ao tempo permitiria falar, então, em “romances do destino”, não apenas pela atribuição de um sentido à história, o que permite jogar com o tempo na narração (e com o suspense), dado que o início, o meio e o fim são conhecidos e compreendidos, mas também porque tanto Lúcio Cardoso quanto cada uma de suas personagens acreditam no destino, outorgando aos fatos que vivenciam um sentido que acaba indo de encontro ao sentido final da obra-mundo da qual fazem parte: basicamente, a repetição daquela outra história que se desenrola em um plano transcendente, a da queda e (impossibilidade de) ressurreição do homem, pecador por natureza e sem redenção na vida terrena. A visão romântica da escrita que aparece nas epígrafes escolhidas para esta seção estão intimamente ligadas à crença em uma vocação/destino. Em resposta para entrevista não publicada (mas que ele faz questão de deixar registrada no Diário), Lúcio Cardoso enfatiza: Quero afirmar uma vez mais, com calor e humildade, minha crença no artista, no valor de sua missão e na superioridade de sua vocação.[...] Acho que a maioria dos grandes artistas com que conta a humanidade, é produto de épocas profundamente perturbadas, que o caos dos tempos tem fornecido o ímpeto para o aparecimento desses a que outrora Baudelaire chamava os phares. É que as épocas castigadas têm necessidade dos seus grandes homens. Nos momentos de profundo pessimismo, de desistência e negação do homem, é que é necessário fazer vibrar mais alto a voz da esperança. Todos os poetas são filhos da tempestade. [...] Em última análise, acredito que os artistas são criados e lacerados pelo tempo em que vivem. Não fosse a mais profunda carência de tempos como os nossos, a de santidade. Necessitamos de santos, como de artistas. Mas os santos são raros neste mundo imperfeito, e enquanto isto, são os artistas que vão pagando pelas ausências de que tanto sofremos (CARDOSO, 1970, p. 134). E como já antecipamos ao apresentar os romances, as personagens também interpretam as suas vivências como marcos do destino. Em decorrência de uma simples insinuação sexual mais impulsiva do farmacêutico, Clara tem a seguinte reação emocional: Então, pela primeira vez desde o início daquela história, Clara teve medo – e a intuição de que estava diante de alguma coisa mais grave do que um simples capricho. Aliás, quem conseguiria saber o momento exato em que um desejo superficial se transforma, deslocando com a sua força crescente todo o destino de um homem? Quem saberia localizar com precisão essas pedras que desviam o rumo das correntezas? (DP, p. 51). 115 Passeando pelas ruas de Vila Velha junto com Rafael, também a personagem Sinhá (moça simples da roça) experimenta uma sensação que ela não saberia definir ou expressar: Caminharam em direção à praça, indiferentes aos grupos que passavam – e Sinhá achava que era natural que tudo fosse assim, percebendo instintivamente que havia uma fatalidade inerente aos fatos, que ela ali se achava porque ali deveria estar, que o mundo, antes fragmentado pela incoerência dos acontecimentos, agora se compunha, sem palavras e sem esforço, como se afinal fosse a harmonia, ainda que difícil, a única justificativa para sua existência (V, p. 128). O final dos romances de Lúcio Cardoso (no caso de O viajante – reiteramos – não podemos confirmar isso por tratar-se de obra inacabada) é sempre um resumo do sentido visado pelo autor na voz de uma das suas personagens, que age como alter ego do autor. No caso do primeiro romance objeto de nossa análise, Flávia T. X. da Silva (2000, p. 68) aponta: Minha compreensão do conteúdo de A luz no subsolo tem por eixo o encontro de três vozes: a de Pedro, o protagonista, a de Bernardo, eleito seu interlocutor, e a do próprio narrador, que finaliza simbólica e enigmaticamente o romance. Essas três vozes refletem a cisão atormentada do pensamento de Lúcio Cardoso delineada em seu Diário completo [...]. Nessa mesma linha de pensamento – que compartilhamos – atentemos para as palavras finais de Bernardo no romance a que se refere da Silva à luz da seguinte reflexão do próprio autor no seu Diário: “Através de tantos gestos equívocos, os pensados e os realizados, nada tenho a acrescentar senão que tentei reencontrar apenas uma unidade perdida” (CARDOSO, 1970, p. 170). Bernardo: “Pois bem, Pedro, o amor é esse mesmo desejo divino da unidade, é o desespero da carne que procura a sua parte perdida” (LS, p. 357). No caso de Dias perdidos, já vimos como a chave do sentido final do romance é dada pela interpretação que o narrador dá à solidão final de Sílvio, cuja análise psicológica (realizada através de uma psiconarrativa) não sabemos em que medida corresponde aos sentimentos da personagem. Quanto à linguagem utilizada por Lúcio Cardoso e à relação do autor com a mesma enquanto meio de expressão, lembremos que, na sua escrita, a estética está subordinada à ética. Isso decorre de uma determinada concepção da arte e do papel do romancista em particular. Flávia Trocoli Xavier da Silva, em Fios da introspecção, sintetiza essa visão, comum aos escritores e críticos católicos contemporâneos a Lúcio Cardoso: 116 Os julgamentos e valores literários de Alceu Amoroso Lima, Lúcio Cardoso e Otávio de Faria afinam-se perfeitamente no conservadorismo formal, todos parecem concordar que o grande romancista é aquele que, adotando os valores metafísicos, se põe na busca pela verdade que está em Deus, ou seja, o artista é fundamentalmente um homem de idéias, de emoções, o romance é o lugar da concepção de mundo do romancista, nas palavras de Alceu Amoroso Lima: “A vitalidade, o sangue de uma obra não está no gênero e sim na sua substância” (SILVA, 2000, pp. 60-61). Walmir Ayala, no extremo oposto ao do conservadorismo, chama Lúcio Cardoso de inovador, mas essa inovação não estaria contida na forma: “Lúcio Cardoso se definia como um inovador, não à base de truques e inversões de ordem gramatical, tampouco de dicções imaginárias ou visuais. Era novo pela profundidade, pela coragem de sondar a emoção, de arrancar a mística do ser em sua dolorosa solidão” (AYALA, 1986, p. 449). Assim, a inovação do autor estaria sintonizada com os propósitos do romance católico em uma época pautada esteticamente pelos realistas e regionalistas da Geração de 30. Embora o autor reconheça certa limitação da linguagem para expressar determinados sentimentos ou aquilo que fica no plano do indizível – por incompreensível e inapreensível –, isto é, o Mistério divino76, isso não o leva a ensaiar tentativas de superação mediante qualquer tipo de experimentação formal ou mesmo através de questionamentos discursivos diretamente dirigidos à linguagem na voz dos narradores ou personagens. Nenhum dos quatro romances estudados constitui narrativas autoconscientes ou romances de introversão. De fato, os narradores jamais chegam a expor – colocando em evidência – ou questionar os meios de representação romanesca: não encontramos digressões metalingüísticas ou metapoéticas inseridas nos romances. Temos sim duas personagens com veleidades literárias (Pedro e Sílvio), mas isso não é utilizado, no romance, como meio para introduzir reflexões acerca do fazer literário ou artístico. Não podemos extrair, a partir do estudo dessas personagens em particular, qualquer tipo de visão sobre o artista ou sobre a função da arte, pois a alusão a suas vocações artísticas é secundária, não é desenvolvida e nem 76 Por exemplo, no seu Diário, Lúcio Cardoso comenta: “A idéia exposta acima é confusa, mas a emoção que a originou é verdadeira. Pena que não consigamos transmitir geralmente o que sentimos com tanta força – mas há coisas, realmente, que ainda pertencem de modo exclusivo ao domínio do segredo” (CARDOSO, 1970, p. 135); “Neste instante em que escrevo [...] em vão procuro algo que traduza o coração opresso que me bate no peito – todas as fórmulas me parecem difusas e leves, traduzindo apenas uma mostra sem conseqüência de meus desânimos e perturbações” (Ib., p. 162); “(Tudo o que está escrito acima me desgosta e me enerva, lembra-me palavras de qualquer ensaísta francês, soa-me artificial e vão [...] Não, decididamente, o silêncio é ainda a melhor coisa para exprimir o que se passa conosco; o silêncio pelo menos não nos trai e nem altera o nosso sofrimento, como as palavras...) (Ibidem, p. 167). 117 as suas motivações. Só poderemos encontrar frases soltas, do narrador ou das personagens, que indicam, como as frases citadas do escritor na nota nº76, uma certa impotência para exprimir com exatidão sentimentos mais profundos ou complexos. Assim, Clara: “Quanto às emoções, era impossível precisá-las. Jamais poderia dizer exatamente o que sentia” (DP, p. 60). Embora possa existir no romance tradicional certa dose de pesquisa estética, ela está associada mais comumente ao que os formalistas russos denominam literaturidade77, isto é, o conjunto daqueles recursos e marcas formais que investem uma obra do seu caráter literário propriamente dito. As peculiaridades do estilo de um escritor estão mais ao serviço do aprimoramento das convenções a sua disposição, do que de uma busca de questioná-las com vistas a uma superação. E isto é possível porque, em função do fim visado pelos romances tradicionais – ainda, fundamentalmente, narrar uma história –, o escritor não se vê tolhido por essas convenções, que se ajustam perfeitamente ao mesmo, pois para isso foram criadas e aperfeiçoadas no decorrer dos anos. O autor insere-se, assim, em uma tradição, a tradição da escritura do romance clássico e, depois, realista; do romance-folhetim do século XIX, aquele que, mediante o uso do passado simples e do recurso à terceira pessoa do singular, cumpre a função de “colocar a máscara e, ao mesmo tempo, apontá-la” (BARTHES, 1974, p. 136). É assim que Barthes define o Romance (com maiúscula) advindo dessa tradição: [...] enquanto nos clássicos – sabe-se que, no tocante à escritura, o classicismo se prolonga até Flaubert – a retirada da pessoa biológica atesta uma instalação do homem essencial, em romancistas como Cayrol, a invasão do ele é uma conquista progressiva dirigida contra a sombra espessa do eu existencial; isto porque o Romance, identificado por seus signos mais formais, é um ato de sociabilidade; ele institui a Literatura. [...] O Romance é uma Morte; faz da vida um destino, da lembrança um ato útil, e da duração um tempo dirigido e significativo (BARTHES, 1974, pp. 137 a 139, grifos do autor). Por isso é que, longe de elaborar um texto no qual a preocupação estética não seja patente, Lúcio Cardoso revela-se um digno representante dessa Literatura também com maiúscula, escritura da linguagem (e linhagem) enobrecida. A literaturidade, no sentido específico de cuidado com a forma em que é contada a história, no sentindo de busca de certo 77 O termo também foi traduzido para o português como literariedade ou literaridade. E Todorov, em As estruturas narrativas (1979, p. 70), usa também “poeticidade” como sinônimo. A literariedade estaria associada, assim, à noção de desfamiliarização no nível textual. 118 efeito estético, constitui, por isso, o critério valorativo quase exclusivo na hora de avaliar a obra. Esse efeito estético não necessariamente visa transmitir o belo. Embora muitas passagens dos romances de Lúcio Cardoso sejam, de fato, muito belas78, o autor, em função da temática de que trata, busca muito mais suscitar no leitor sensações mais próximas do que Freud denomina “o estranho” (ou sinistro), aquilo relacionado “induvitavelmente com o que é assustador – provoca medo e horror; certamente, também, a palavra nem sempre é usada num sentido claramente definível, de modo que tende a coincidir com aquilo que desperta o medo em geral” (FREUD, 1976, pp. 275-276). Além disso, acrescenta o fundador da psicanálise que “aquilo que é ‘estranho’ é assustador precisamente porque não é conhecido e familiar” (Ibidem, p. 277, grifo do autor). Rafael, Nina e Jaques (em menor medida) representam o próprio estranho, estrangeiros que vão provocando, em sua passagem, o despertar de tudo o que nos outros permanecia oculto e que não convinha que viesse à luz, notadamente o desejo: na chave cardosiana, sempre desejo de (auto)destruição. Uma das principais formas em que se apresenta o estranho é o fenômeno do duplo. Conforme Freud (1976, p. 293), “Originalmente, o ‘duplo’ era uma segurança contra a destruição do ego [...] provavelmente, a alma ‘imortal’ foi o primeiro ‘duplo’ do corpo”. Nos romances de Lúcio Cardoso, o duplo está muito presente, inclusive na figura do filho (Jaques/Sílvio; Nina/André), uma das formas de superação e preservação do ego que Otto Rank estudou mais detidamente no seu célebre estudo sobre o assunto. É interessante ressaltar, em consonância com a observação de Freud, a função que Nelly Novaes Coelho atribui à figura do filho nas narrativas de Lúcio Cardoso, por considerarmos que a mesma se ajusta perfeitamente aos casos supracitados de Dias perdidos e Crônica da casa assassinada: A revolta agônica do ser contra a inexorabilidade da morte é, sem dúvida, a mola geradora de uma das “constantes” mais importantes na estruturação dos dramas nos romances de Lúcio. Trata-se de uma personagem onipresente: o filho. Note-se que é sempre a perda ou a presença de um filho o “instrumento” de “revelação”, o clarão que ilumina toda a tragédia obscura da personagem: a inutilidade absoluta de sua vida e o doloroso anseio de perdurar, de sobreviver (COELHO, 1996, p. 781). No entanto, a modalidade de duplo à que mais recorre Lúcio Cardoso é a do duplocontrário (e complementar). Como explica Freud: 78 Adolfina Portella Bonapace, em sua tese de Doutorado, O belo posto em questão: Crônica da Casa Assassinada de Lúcio Cardoso” trabalha justamente com a questão da beleza na obra supracitada do autor mineiro, mostrando, conforme Mário Carelli (1996b, p. 643), “de maneira definitiva como o romance contém um angustiado questionamento sobre a beleza, erigida à posição de signo indecifrável no contexto da existência humana e de elo fundamental na estrutura da obra”. 119 O fato de que existe uma atividade dessa natureza [“consciência”], que pode tratar o resto do ego como um objeto – isto é, o fato de que o homem é capaz de auto-observação – torna possível investir a velha idéia de “duplo” de um novo significado e atribuir-lhe uma série de coisas – sobretudo aquelas coisas que, para a autocrítica, parecem pertencer ao antigo narcisismo superado dos primeiros anos. [...] Tratar-se-ia de uma ânsia de defesa que levou o ego a projetar para fora aquele material, como algo estranho a si mesmo (FREUD, 1976, pp. 294-295). Na escrita de Lúcio Cardoso, em que a psicanálise – como vimos – fica ofuscada pela visão religiosa, o que as criaturas do autor projetam é o mal que se manifesta nelas através daquelas forças cuja origem desconhecem e que elas não aceitam por estarem subjugadas à noção do pecado e, portanto, à culpa. São esses claramente os casos de Pedro/Bernardo e o Mendigo, Sílvio/Chico e Ana/Nina. O mecanismo é desvendado pela própria personagem Pedro (diabólico por causa da sua consciência), quando, dirigindo-se ao mendigo, explica: Mas o que havia sobretudo de densamente marcado naquele tipo, era uma curiosa atitude de refração, de recuo diante de coisas mínimas, de eterna fuga a algo que deve se cumprir e a que ele procurava desesperadamente se substrair, no esforço de se petrificar na penumbra e na negação de si mesmo. Talvez viesse daí o ar de resignação que o banhava, emprestando-lhe a semelhança que Pedro já notara da primeira vez [...]. – – Quem sou eu? – articulou uma voz opressa.[...] Há muito que o conheço com esse mesmo ar dissimulado. Você é a aceitação. É o que recebe sem discutir, é o que é. Para sua alma, não existe senão aquilo que respira em função do... [...] – – – Já o conheço bem. Você não é mais que uma parte. O todo não existe na sua personalidade. O que é o todo? Somos nós: eu reajo, você aceita. O que significa dizer que não somos senão uma e a mesma pessoa. [...] – [...] Escuta, meu amigo – eu sou um homem livre. Entretanto alguma coisa inabalável se opunha ao pleno desenvolvimento dos meus planos. Essa “alguma coisa” residia no mais profundo do meu ser e eu a procurei até que criou forma e apareceu, está ouvindo? [...] – [...] Eu o conheço bem, criatura vil, eu o arranquei de mim, eu o estrangulei em meu próprio sangue, em combates tremendos. (LS, pp. 183, 184, 186 e 187). 120 A questão da alma imortal apontada por Freud é um pressuposto implícito em toda a obra do romancista mineiro e a dualidade que sustenta todo o seu pensamento indeterminado (bem/mal, vida espiritual/vida terrenal, Deus/homem-filho) talvez seja o que lhe permita transitar tão abundantemente pelas diferentes modalidades do duplo. De qualquer maneira, há em Lúcio uma tentativa de superar os limites da condição humana (hybris) pela linguagem: decorre sem dúvida do seu “amor ao desmedido, ao trágico...” (CARDOSO, 1970, p. 152) a desmesura do seu estilo empolado, grandiloqüente e, muitas vezes, piegas em consonância com a mirabolância das situações apresentadas e com o desespero muitas vezes inexplicado que experimentam as personagens sem exceção. “O excesso é o elemento primordial que nos compõe”, afirma Lúcio Cardoso (1970, p. 107). E, quanto à escrita especificamente, define “O adjetivo para a prosa. O substantivo para a poesia” (Ib., p. 219). A estética mais diretamente vinculada ao excesso formal – e também ao cristianismo – é o Barroco79. Arte da Contrarreforma Católica e da realeza na Europa do século XVII, movimento de reação ao racionalismo renascentista, “estilo sensual, emocional e universalmente compreensível” (HAUSER, 2000, p. 453) caracteriza-se, conforme Hauser (2000, p. 447) pela “tentativa de suscitar no observador o sentimento de inesgotabilidade, incompreensibilidade e infinidade da representação”. Acrescenta o crítico alemão: A totalidade da arte barroca está repleta desse frêmito, cheia do eco do espaço infinito e das afinidades entre todos os seres. A obra de arte, como um todo, torna-se o símbolo do universo, com um organismo uniforme e vivo em todas as suas partes. Cada uma dessas partes aponta, como os corpos celestes, para uma continuidade infinita e ininterrupta; cada parte contém a lei que governa o todo, em cada uma delas está agindo o mesmo poder, o mesmo espírito. As diagonais impetuosas, os súbitos escorços, os exagerados efeitos de luz e sombra, tudo é expressão de um anseio irresistível e insaciável de infinito (HAUSER, 2000, p. 452). Unindo estes dois aspectos do barroco (o excesso e o sensualismo), cabe assinalar que no autor mineiro a questão do excessivo, do monstruoso, do mórbido, está diretamente relacionada com a questão do dilaceramento do corpo, da carne como lugar do pecado que impossibilita a realização para o homem. 79 O barroco também não é alheio ao elemento estranho vinculado ao sobrenatural. Como lembra Helmut Hatzfeld (1988, p. 24), “Existia na Espanha um gosto barroco permanente e eterno, que dava preferência a tudo o que é estranho, complicado; e que preferia o divino ao terrestre, belo e mundano”. 121 Em um sentido mais genêrico, como assinala João Adolfo Hansen sintetizando a hipótese de Eugenio D’Ors (1998, p. 58), existe “a idéia de que o espírito humano tem duas grandes matrizes constitutivas: às vezes ele é clássico – então, racional, harmônico, equilibrado – e às vezes ele é exaltado, excessivo, afetado, acumulado – e então é ‘barroco’”. Além dos motivos temáticos barrocos que podemos detectar a primeira vista nos romances de Lúcio Cardoso (como, por exemplo, o sic transit Gloria Mundi <transitoriedade da glória deste mundo>80; a inquietação das personagens em relação a Deus; a evidência do sobrenatural; a preocupação com a salvação e a miséria humanas; a ocorrência de paixões violentas e de caracteres extravagantes; a disjuntiva radical entre a santidade ou o pecado; a disputa acirrada entre a razão e as paixões no interior do indivíduo pelo controle do comportamento; o ideal ascético; a metamorfose ou o disfarce <ex. Timóteo, Maria Sinhá>; a obsessão moral que leva a um permanente exame de consciência; o cultivo do temor do inferno; a predileção por apresentar sentimentos contraditórios <por ex. em Bernardo, Valdo ou Mestre Juca81, na espécie de catarse aristotélica experimentada pelo carpinteiro ao assassinar Sinhá>), alguns traços da sua literatura são barrocos. Dentro do estilo excessivo que, como aponta Mário Carelli (1996a, p. 628), aludindo especificamente a A luz no subsolo, leva tantas vezes o autor mineiro a cair no kitsh e que leva Álvaro Lins a perguntar-se se será “o estilo mais propício a um romancista que opera no terreno psicológico” (LINS, 1963, p. 120), é possível deslindar alguns aspectos formais do estilo barroco também assinalados por Hatzfeld, como o excesso na decoração formal (1988, p. 27), as frases longas (1988, p. 81), o estilo paradoxal (ligado ao mencionado recurso do claro/escuro) e a magnificência (1988, p. 98). Em nenhum momento, essa forma se arroga a função de colocar em questão a veracidade ou a propriedade da representação e muito menos pretende tomar o lugar da própria história. Assim, os meios que oferece a linguagem literária tradicional – suas convenções e figuras – revelam-se eficazes para atingir o alvo visado pelo escritor mineiro. A figura mais utilizada por Lúcio Cardoso é a metáfora. Ao falar da artificialidade do artesanato do estilo praticado pelos escritores realistas e naturalistas (Maupassant, Zola, Daudet), Barthes observa: Vê-se que aqui nada é dado sem metáfora, pois é preciso assinalar insistentemente para o leitor que “é bem escrito” (ou seja, que o que ele 80 81 Ver, sobre o assunto, Barros, 2002, pp. 47-48. Ver Hatzfeld, pp. 19, 26, 31, 34, 74, 75, 81, 87, 88 e 97. 122 consome é Literatura). Tais metáforas, que atingem o menor verbo, não são absolutamente a intenção de um Humor que procurasse transmitir a singularidade de uma sensação, mas apenas uma marca literária que situa uma linguagem, exatamente como uma etiqueta informa de um preço (BARTHES, 1974, p. 157). Apesar de identificar perfeitamente a escritura de Lúcio Cardoso nessa categorização proposta por Barthes (sirvam como exemplo, todas as citações dos seus romances que incluímos neste capítulo), no caso do autor mineiro, porém, o predomínio da metáfora é motivado também por outro fator: ele revela-se o maior instrumento a serviço daquela realidade figural com que trabalha Lúcio Cardoso, pois permite presentificar o que está ausente, o que, por definição, é inapreensível para o ser humano e para a linguagem. Na verdade, enquanto romances cristãos, tanto A luz no subsolo quanto Crônica da casa assassinada, O viajante ou Dias perdidos (em menor medida) não são mais do que grandes metáforas ou alegorias, por remeterem a uma outra história (a verdadeira) que se oculta por trás dos fatos narrados. Da mesma forma, a metáfora auxilia na expressão de sentimentos ou sensações mais complexas: “[...] a imagem não é um estilo, mas ajuda-nos muitas vezes a esclarecer um pensamento difícil” (CARDOSO, 1996b, p. 749). É assim, por exemplo, que o narrador de Dias perdidos descreve a angústia de Clara ao auxiliar o seu marido doente após uma tontura: “E todos os problemas destes últimos tempos voltaram à sua consciência. Em primeiro lugar, o mais premente de todos, a questão do dinheiro. Não era difícil perceber que todos os outros se originavam desse, como filetes d’água da mesma tumultuosa fonte” (DP, p. 163). As metáforas podem ser, inclusive, explicadas, como no exemplo a seguir (cena da morte de Sinhá): Neste momento, por esse dom especial que Deus concede, e Deus concede, o que ainda era vivo viu – e viu apenas o que de vivo se constituiu o seu trajeto neste mundo. Sinhá conhecia apenas o Arraial, e o que soubera do Arraial, e Vila Velha depois, e o que Vila Velha lhe oferecera, a primeira, a decisiva consciência do amor. E isto era o que ela revia. Mas como sua mente de criança não soubesse traduzir os sentimentos senão pelas imagens que conhecera, o que se despedia apresentava-se nu, mas na forma daquilo que constituía a sua pequena experiência – os pássaros e as flores. E como neste mundo, no pequeno reduto dos seus dias, ela nada tivesse conhecido de mais importante do que o amor – o amor de Sinhá – o que ressurgia em sua memória era uma imagem de amor, e sendo de amor, era a única pela qual ela comprometera toda a inteireza de seu caráter. O amor para Sinhá, conforme 123 ela tinha dito um dia, tinha a forma de um pássaro – e foi essa imagem que refulgiu à sua consciência naquele derradeiro instante. Respingada de sangue, naquele escuro sem identidade, ela sentiu o vermelho como um gosto na boca – e o vermelho que sentia [...] não tinha o nome comum que vem aos lábios dos assassinados, e que é pasmo, impotência e vingança. Sinhá nada sabia, Sinhá tinha dezenove anos, e a imagem de sua morte, tinha a imagem do amor – era um tié-sangue (V, p. 174). Também usa a sinédoque, sobretudo para a caracterização de algumas personagens. Por exemplo, em A luz no subsolo, as mãos de Pedro, com as quais ela se envolve inclusive eroticamente, vão mostrando a Madalena a angústia que o seu marido tenta ocultar: Sobretudo a amedrontava aquele ar que o tomava todo, aquele modo de quem vai se despenhar sobre a poltrona, aquelas mãos que se movem hesitantes, abandonadas no tumulto das suas próprias emoções. Era diante daquelas mãos que Madalena se sentia subitamente invadida por uma onde de carinho e piedade. Seria bom segurá-las de encontro ao peito, senti-las aprisionadas entre as suas, como um pássaro sem asas para fugir. Que miraculosa piedade essa do seu coração, diante de duas mãos tão simples que se moviam de um lado para outro, que se apertavam inconscientes... Oh! eram elas que falavam mais decisivamente a favor de sua descoberta. Eram aquelas mãos que ignoravam ternuras, que só a sua alma sonhava, escondida na sombra de cada dedo, como um segredo frágil que pudesse desaparecer num gesto...[...] Madalena achava-se vazia, despida da menor emoção. Somente a presença de Pedro bastava para aturdi-la inteiramente. Reviu de novo, instantaneamente, as mãos sobre o espaldar da poltrona. Que teria acontecido?[...] “Meu Deus, como eu o amo!” pensou Madalena repentinamente, fixando os seus ombros e as suas mãos nervosas. Oh! se ela pudesse, erguer-se-ia, iria até ele e, tomando-lhe as mãos, enrolaria nelas os seus cabelos. [...] Abriu os olhos bruscamente e entreviu o vulto de Pedro. Não eram mais as mãos que o denunciavam, mas todo o seu rosto [...] (LS, pp. 95 a 100). Deparamo-nos, assim, com uma linguagem literária altamente elaborada, mas não com uma linguagem plenamente poética, pois ela não obriga o leitor a deter-se em sua própria tessitura, não impõe maiores dificuldades para sua compreensão: não há elipses, não há desvios sintáticos, não há criação no nível lexical, e a linguagem metafórica sempre se apóia em referentes claros e determináveis. A preocupação com a palavra existe, mas ela é menor do que no romance moderno, no qual ela se transforma em uma verdadeira obsessão. Assim, a estética está vinculada, antes, a uma atitude moralizante que caracteriza a escrita de Lúcio Cardoso, ligada a todas as questões religiosas desenvolvidas neste capítulo e utilizada como ferramenta retórica de persuasão em relação a essas convicções morais 124 reiteradamente apresentadas. Em consonância com os propósitos do romance cristão e católico e também com a estética barroca, o didatismo moral assume um claro protagonismo nos romances estudados. O romance cardosiano é permeado de digressões filosofantes ou religiosas (com nítida pretensão de universalidade) do narrador, vazadas no que Dorrit Cohn (1981, p. 40) chama presente gnômico. Esse tipo de intromissão também é característica do romance tradicional82 e não podemos deixar de sentir na obra do autor mineiro aquela riqueza “de observação aguda e de segurança” a que se refere Albérès (1962, p. 130) em sua Histoire du roman moderne. Por exemplo: Cada um de nós possui duas partes distintas – a que ama o sofrimento e a que repele violentamente esse mesmo sofrimento. Essas duas partes podem estar por muito tempo ou ainda constantemente em equilíbrio; são razões que se oferecem com o mesmo valor e transformam a vida do mesmo modo que a tormenta encrespa as ondas de um lago (LS, p. 331). Era destas coisas que ela se lembrava. No íntimo comparava o seu modo de sentir com o de Sílvio e não podia deixar de achar que a razão estava com o filho. [...] Talvez Clara não percebesse, mas o seu silêncio dava início a uma dessas lutas que costumam dividir as famílias em facções, partidos que se digladiam de maneira implacável ao longo dos anos, até que a morte desfralde sobre um dos campos a sua negra bandeira de paz. Os resultados desses combates são subterrâneos e corroem com a paciência de uma secreta chaga, mas acabam surgindo à luz do sol e exibindo o seu terrível trabalho, como o ódio que separa os irmãos vai afinal explodir no seio da eternidade, levando à presença de Deus, como inimigos, seres que viveram juntos a vida inteira. (DP, p. 151). O tipo de comentário que introduz esse narrador coincide, as mais das vezes, com a visão do mundo do próprio autor. Por isso, além do autor implícito, esse narrador pode ser considerado, em boa medida, como outra materialização (mais concreta) do autor no texto 82 Conforme Cohn, o que deixaria em evidência uma tendência comum a Fielding e a Thackeray e que desviaria seus romances da análise da vida interior é “a presença loquaz de um narrador incapaz de abster-se de colocar os pensamentos íntimos de suas personagens a serviço de suas próprias generalizações sobre a natureza humana. Não apenas ele se interessa muito mais por seu próprio comentário sobre os acontecimentos que pelas meditações às quais esses acontecimentos são capazes de dar lugar em suas personagens; mas a forma pela qual concebe seu papel de narrador o leva também a realizar juízos explícitos, de intenção freqüentemente didática. É característico da psiconarrativa, em um romance que privilegie o papel do narrador, começar por uma ou duas frases breves, no passado, seguidas por várias frases mais longas, mais circunstanciadas, e no presente” (COHN, 1981, p. 39, tradução nossa) 125 romanesco. É deste autor, sem dúvida, que Barthes proclama a morte em O rumor da língua. Diz o crítico francês: O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida por nossa sociedade na medida em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestígio do indivíduo ou, como se diz mais nobremente, da “pessoa humana”. [...] O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias dos escritores, nas entrevistas dos periódicos, e na própria consciência dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra (BARTHES, 1988, p. 66). Claramente influenciado por esse autor demiúrgico, afirma o narrador de A luz no subsolo: “[...] para quem ama, o mínimo sinal é uma diferença perceptível. Nada escapa ao olhar que segue sempre a criatura amada – olhar lúcido e ardente capaz de descer onde só se agitam as sombras da dúvida e do ciúme” (LS, p. 95) Aparece aqui, não só o recurso barroco do claro-escuro a que já fizemos referência, mas também uma visão do amor contaminado já por sentimentos negativos catalisadores de inquietação e angústia. E é assim que o narrador de Dias perdidos descreve a passagem de Sílvio para a puberdade, passagem desencadeada pelo olhar de uma menina: Já não era menino, mas um pequeno ser cheio de gravidade e de capacidade de compromisso, atento ao apelo daquele olhar que através do caos infantil lhe revelara a sua identidade de homem. Naquele terreno já nada mais seria lançado sem que fosse pesado e o coração interviesse para aceitar ou repetir. Naquele minuto ele tinha abandonado para sempre esse obscuro mundo em que a criança parece participar ainda da natureza das coisas, para ingressar na áspera luta dos seres, nesse combate sem tréguas no qual não sabemos se é o nosso sangue que se esgota ou se é o dos outros que vertemos – nessa série de enganos, de dádivas perdidas, de ofertas que não sabemos reconhecer, em tudo isto que caracteriza de modo tão patético e doloroso a natureza decaída do homem (DP, pp. 83-84). Fica em evidência nesta citação a concepção católica da existência terrena que Lúcio Cardoso acalentava, ao relatar, o narrador, a perda da inocência da criança com um profundo pessimismo. “Em textos como esses, ao desviar a atenção do leitor do caso individual da personagem fictícia, o narrador a atrai sobre seu próprio discurso, o de um sujeito inteligente e 126 eloqüente que se dirige ao leitor para falar da sua personagem, mas pelas costas” (COHN, 1981, p. 41, tradução nossa 83). É assim que se comporta o narrador no romance tradicional. É também a escolha da instância narrativa heterodiegética (em três dos romances analisados) que permite ao autor mineiro, introduzir, na análise psicológica das personagens, explicações de estados anímicos ou sensações sobre os quais elas não têm controle, desconhecendo-lhes os motivos. Explicações essas conformes à visão do mundo do próprio Lúcio Cardoso. Por exemplo, o narrador de A luz no subsolo descreve a angústia vivenciada por Maria na hora de sua partida da casa de Madalena nos seguintes termos: A suposição de que Madalena também pudesse sofrer fizera Maria esconder o rosto nas mãos, sem saber o que dissesse – fora um golpe certeiro, um rápido cintilar de estrela que a fizera perceber momentaneamente a vastidão de uma noite inteira, algo de penoso que viera se juntar a todos os empecilhos que a transtornavam e, na sua confusão, repetia para si mesma, incansavelmente: “tola! Será possível que eu jamais deixe de ser uma tola!” – e experimentava um acre sabor em se martirizar deste modo, como se todos aqueles fatos tivessem uma razão direta no seu ser e não implicassem, como realmente implicavam, numa ordem de acontecimentos de que em absoluto ela não participava (LS, p. 17, grifos nossos). As explicações podem também apoiar-se em um discurso psicanalítico, menos vigoroso do que o religioso. O narrador de Dias perdidos explica da seguinte forma o desentendimento entre Clara e o seu filho Sílvio: [Clara] Achava-o de um caráter extravagante, volúvel, inteiramente voltado para coisas sem importância. Instintivamente comparava-o a Jaques, encontrando pontos de semelhança entre os dois e concluindo que o pequeno sairia mais ao pai do que a ela. E à força de pensar nestas coisas convertia o filho num estranho, confundindo insuficiências da sua própria natureza com detalhes nascentes daquela alma que ainda não compreendia. Assim, o malentendido ia aumentando dia a dia, através de pequenos incidentes de origem mais profunda do que aquela que Clara chegava a apreender. Decerto ignorava que estava desde então traçando o caminho que para o futuro seguiriam as relações entre ambos (DP, p. 75). Embora Lúcio Cardoso confira certo tipo de protagonismo às divagações interiores das personagens, o narrador na sua obra ainda é muito forte e as suas opiniões acabam dirigindo a 83 Dans de tel textes, en détournant l’attention du lecteur du cas individuel du personnage fictif, le narrateur l’attire sur son propre discours, celui d’un sujet intelligent et disert qui s’adresse au lecteur pour lui parler de son personnage, mais derrière son dos. 127 narrativa (a leitura), impondo-se sobre o resto. Em Crônica da casa assassinada– como veremos na próxima seção – essas intervenções ficam a cargo das personagens, distribuindose entre elas, sendo que todas parecem pensar na mesma sintonia. E mais, como afirma Álvaro Lins “todos os personagens, por mais diferentes que sejam, falam quase sempre dessa maneira: a maneira pessoal do próprio novelista” (LINS, 1963, p. 121). Observemos partes do discurso de Pedro em A luz no subsolo: – É interessante, – disse consigo mesmo – nós não sabemos nunca onde começa o amor nem as outras relações entre os homens. Por trás de tudo, há sempre uma origem escura, um frêmito que passou desconhecido e que foi tocar, como um vento de outono, as cordas mais sensíveis de nosso ser. Tudo depende de um olhar ou de uma palavra vã – não se pode ferir a observação justa porque não há nada justo dentro das coisas criadas pela sensibilidade humana. Apenas sentimos que a ponta aguda veio tocar diretamente o nosso “mistério”, que a palavra ou o gesto veio pesada do sentido necessário para fazê-la viver em nós, mais tempo do que o intencionado. Assim é que não podemos nunca saber o valor exato da reação que produzimos sobre outras pessoas. Geralmente, todo um sistema de falsas deduções está colocado sobre este modo de ver; a visão que temos é deformada segundo as nossas exigências, e a maioria dos choques nasce da inutilidade dos nossos esforços para franquear as muralhas de uma realidade puramente ideal (LS, p. 84). Pergunta o mesmo Pedro a Bernardo se conhece o coração humano e, logo a seguir, esclarece: – Falo do coração devorado pelas paixões... daquele que não possui coragem para recuar e avança até a morte, envenenado por desejos criminosos até o fundo do seu próprio desespero, por dinheiro... ou por amor... [...] ou ainda por forças desconhecidas, por forças que perseguem noite e dia e enlaçam os corações desprevenidos... (LS, p. 90). Por último, em uma conversa com Emanuela, conclui: – Qual é o nosso destino? É estranho pensar-se nestas vidas que se chocam numa luta às cegas... Ouve, Emanuela, eu estou farto de lutar. Estou farto de passar as noites perguntando: é o homem uma obra-prima da natureza ou é o homem um ser superior, o grande tempo da criação? Que podemos nós fazer o que não podemos nós fazer? [...] – Não, minha pequena, eu não posso rezar. Eu fui feito para descobrir o “mistério” que a envolve. Sabe? Nós todos somos assim: sofremos pelo que 128 ignoramos dos outros. Ah! Se todos soubéssemos o segredo da natureza de cada um, a terra seria um paraíso! – Só Deus sabe tudo – articulou Emanuela. Pedro fitou-a, desta vez quase com desprezo: – Nós também podemos saber tudo. O homem é talvez uma obra-prima da natureza – neste caso, ele tem o direito de atravessar os seus limites, de conhecer além de suas possibilidades. Mas se então – está ouvindo? – o homem é a estrela luminosa do Universo, se ele é o astro solitário, aquele que ultrapassar o medíocre destinado, encontrará o seu Criador, o próprio Deus no fim do seu caminho (LS, p. 134) Diretamente vinculada a esse tipo de técnica narrativa, a retórica utilizada por Lúcio para guiar o leitor no imbricado das suas tramas é bastante ostensiva e direta. Sirvam como exemplo as reflexões supracitadas, mas também o uso de recursos mais sutis, como, por exemplo, a utilização de certos vocábulos com marcada coloração valorativa que conduzem a leitura para uma determinada interpretação. Atente-se, nesta citação, como o caráter pretensamente diabólico de Pedro é marcado pelo advérbio grifado: “E havia nessa pergunta um tom tão acentuadamente amargo e humilde que Pedro estremeceu, sacudido pela angústia. Mas, impiedosamente, prosseguiu: [...]” (LS, p. 184, grifos nossos). Da mesma forma, o desencanto e a amargura que o amor não correspondido de Esperança suscita na prostituta é interpretado pelo narrador de Dias perdidos a partir dos termos com que o autor Lúcio Cardoso avalia o amor (sobretudo, o amor carnal) e a própria existência (terrenal): “Apesar de sua experiência não ser muito profunda, sentira que tinha descido a esse estado de degradação em que nada mais é permitido àquele que ama senão adorar em silêncio; fora desta escravidão, seus gestos eram sempre ridículos, suas palavras falsas” (DP, p. 191, grifos nossos). Podemos concluir, então, que, com exceção de Crônica da casa assassinada, os romances alvo de nosso estudo são narrados em terceira pessoa, isto é, por um narrador onisciente e intruso, que intervém de forma direta, não apenas caracterizando as personagens e explicando seus sentimentos e contradições, como também introduzindo sentenças filosofantes no presente gnômico. Essa onisciência, contudo, conhece um limite no mistério – apenas uma face do Mistério maior no qual acredita Lúcio Cardoso – que envolve algumas personagens, como Pedro ou o viajante, de natureza enigmática. Os traços autobiográficos ficcionalizados das narrativas cardosianas a que fizemos referência resultam de interesse na nossa tese apenas na medida em que contribuem para confirmar e detectar, por trás das histórias narradas, a função que a escrita desempenhava para 129 Lúcio Cardoso, bem como a sua intenção (consciente ou inconsciente) de atribuição de um determinado sentido para as narrativas. Como já vimos, tudo, na visão de Lúcio Cardoso, é reflexo de uma segunda (ou primeira?) realidade transcendental onde estaria traçado o nosso destino: “Há um diálogo subterrâneo que se manifesta sem cessar, e que nos transforma neste mundo, em tentos de uma partida jogada no invisível” (CARDOSO, 1970, p.135). Essa partida corresponde à luta travada entre o bem e o mal. Isto é também o que confere um caráter trágico aos dramas vivenciados pelas personagens cardosianas. Trata-se de um trágico em um sentido bem particular, porque, embora as personagens de Lúcio Cardoso acreditem e afirmem constantemente a sua crença no destino, elas também sentem continuamente sobre os ombros a responsabilidade pelos seus atos e escolhas (o que abre espaço, no texto cardosiano, para questionamentos de tipo existencialista). Isso, então, configuraria uma espécie de tragicidade híbrida entre o trágico grego (em que o herói luta sem sucesso contra um destino sempre adverso) e o moderno, conforme definição proposta por Kierkegaard, 1979, p. 160: “O Drama moderno desembaraçou-se do destino; emancipou-se dramaticamente; é evidente, perscruta-se a si próprio e faz atuar o destino na consciência do drama. Coisa e manifestação são, nestas condições, o ato livre do herói que transporta aos ombros toda a responsabilidade”. É que as personagens de Lúcio Cardoso, como também explicita o autor no seu Diário (note-se, novamente, a noção de destino relacionada, desta vez, diretamente com o ofício de escritor), são, por sua vez, “tentos” do drama existencial sofrido pelo próprio autor, experimentando e materializando, assim, as suas próprias angústias e inquietações existenciais: Tenho para mim, e isto há vários anos, que a misericórdia de Deus para comigo, e a total iluminação da minha alma, só se farão através do meu trabalho. Lidando com essas tristes almas obscuras que invento, que eu não escolhi, mas que me foram dadas na sua solidão e no seu espanto – perdoeme falar deste modo – aprendi o quanto de ternura e de infinita piedade vai numa vocação. Eu sei, talvez elas não sejam nem mesmo esteticamente acabadas, mas ainda assim, essas figuras desajeitadas é que me fariam ver, através de tão áridos caminhos, a verdade parcial ou total para que Deus me reserva. De supor tantos seres transidos na sua miséria, é que sonhei um dia a possibilidade da infinita misericórdia de Deus (CARDOSO, 1970, p. 137). Por que escrevo? [...] é inútil procurar razões, sou feito com estes braços, estas mãos, estes olhos – e assim sendo, todo cheio de vozes que só sabem se exprimir através das vias brancas do papel, só consigo vislumbrar a 130 minha realidade através da informe projeção deste mundo confuso que me habita (CARDOSO, 1970, p. 1960). É justamente isso o que identifica Nelly Novaes Coelho (1996, p. 778) – e com quem concordamos – como origem de uma fraqueza na caracterização das personagens que nos impede de incorporá-las em nosso espírito como seres vivos independentes do seu criador. Da mesma forma que acontece no romance católico em geral, “A relação do romancista com as suas personagens não se parece com nenhuma outra, porque ele as olha com um olhar vindo de outro lado [...] O verdadeiro herói da narrativa é o santo, ‘homem sobrenatural’, para lá das lutas interiores, da ‘tentação do desespero’, do ‘renegar” (TADIÉ, 1992, p. 79). Em Lúcio, como em Bernanos, “O realismo é abalado pela profecia, a liberdade pelo trágico, a narração pelas instruções do autor” (TADIÉ, 1992, p. 190), mas o grau de pessimismo de Lúcio Cardoso revela-se maior do que o do autor francês, porquanto nas suas narrativas não encontramos santos e sim seres a quem lhes foi concedida a graça, mas que, impotentes para usufruir de qualquer dom que ela lhes pudesse trazer, são freqüentemente vencidos e esmagados pelo mal que assola o mundo terrenal. A estética barroca atinge a caracterização das personagens pelo jogo de claro-escuro de que algumas são objeto (o exemplo paradigmático é constituído por Nina, em Crônica da casa assassinada) bem como pelo jogo dos contrastes que se estabelece entre umas e outras. Um dos exemplos mais claros é a contraposição entre Pedro/Bernardo e Emanuela em A luz no subsolo: Pedro a contemplava, mudo, com o olhar frio, quase cruel. Madalena voltouse para a criada. Estava imensamente pálida e, apesar de conservar o mesmo ar infantil, transpirava violentamente da sua pessoa um medo extraordinário, um medo tão visível, que chegava a lhe marcar no rosto uma expressão angustiada de terror. (LS, p. 83) Que força havia, pois, naquela criança que pudesse despertar tão viva reação num homem como ele [Pedro]? (LS, p. 84) Bernardo sentiu-se mordido pela curiosidade. Talvez por causa da noite, talvez pela bebida, sentia uma misteriosa atração naquela criatura frágil. [...] E de súbito ele sentiu um desejo confuso por aquela menina, uma saudade estranha daquela carne, uma inquietação tão viva que parecia flamejar à flor da pele. [...] O olhar de Emanuela desceu até a sua alma. Bernardo sentiu que tudo dentro de si se convulsionava (LS, p. 111). 131 A pugna entre bem e mal, descrita em termos de atração e repulsa, representada pelo contraste entre Emanuela e os homens, vai terminar com a profanação da moça e com o triunfo do ódio sobre os seus sentimentos puros (LS, pp. 178-179). Por outra parte –como já vimos e como também observa Cássia dos Santos (2001, p. 111) em relação ao romance Dias perdidos –, muitas vezes as personagens expressam diretamente as opiniões do próprio autor, falam a sua língua, tornando-se objetos das intenções do autor. Verifica-se então uma objetificação daquelas coerente com os propósitos visados pelo romance cardosiano. Comentando a Bakhtin, é Cristóvão Tezza quem explica o que está na base desse procedimento narrativo e como ele é operado: Em “Sobre o autor e o herói na atividade estética”, Bakhtin sublinha como a natureza da relação entre consciências que preside cada palavra definirá também o seu gênero, e como a palavra estética faz uso direto das “outras palavras”, relativizando, porém, a sua autoridade semântica (a autoridade semântica do discurso ético, do discurso religioso, do discurso cognitivo, isto é, discursos em que a presença da autoridade do seu autor é direta); no caso da literatura, essa autoridade é refratada pelo olhar excedente do autorcriador. No caso de Dostoiévski, Bakhtin assinala o fato de que, nele, os hérois não se tornam objetos de um autor-criador; há neles um inacabamento essencial, uma relação ideológica de eqüivalência; não há nada que o narrador saiba deles que eles já não saibam de si mesmos (TEZZA, 2003, pp. 237-238, grifos do autor). Longe de um “inacabamento essencial”, nos romances de Lúcio Cardoso, a concepção essencialista da existência manifesta-se de forma clara na caracterização das personagens mediante a alusão a diferentes naturezas que corresponderiam a diversos tipos de pessoa. Os exemplos abundam nos quatro romances que estudamos. Vejamos alguns: Madalena “era um desses temperamentos votados à distância das alegrias e dos contatos humanos e que sonham com o calor das alegrias e desses contatos, justamente porque não podem respirar dentro deles” (LS, p. 334); quanto a Clara, “Não lhe foi difícil de perceber que apesar de todo o seu desejo, da sua angústia e do sentimento da sua solidão, sua natureza jamais lhe permitiria que descesse à miséria daquelas aventuras, toleradas por tantas mulheres casadas” (DP, p. 49); a Jaques “Nunca [...] passou pela cabeça que pudesse ser ele próprio o culpado de tudo, que o mal existisse na sua natureza como uma fonte de veneno” (DP, p. 137). E Rafael [...] sabia, e sabia muito bem que nenhuma delas ultrapassaria o espaço de alguns dias – quantos? – três no máximo... E como todo ser nativamente 132 imoral, emprestava não à aventura, que para ele consistia em nada, mas à personalidade de ambas, esse elemento de mal-estar, de corrupção, por assim dizer, que não pertencia a elas, mas a ele próprio (V, p. 84). Também essa crença em uma natureza imutável é explicitamente referida pelo narrador de O viajante na cena da morte de Sinhá: “e o vermelho que sentia, tanto é verdadeiro e justo o que em última instância nos forma e nos conduz, não tinha o nome comum que vem aos lábios dos assassinados, e que é pasmo, impotência e vingança” (V, p. 174). Além de, ao contrário de Gide (e do romance moderno em geral) que “nega a possibilidade de uma essência da pessoa: esta é uma sucessão de aspectos, um ‘inapreensível Proteu” (ZERAFFA, 1971, p. 98, tradução nossa), o narrador cardosiano sempre traz à tona a natureza das personagens, vinculando-as a características espirituais de influência religiosa. Por exemplo, Pedro84 e Nina são caracterizados como anjos maus ou exterminadores, seres diabólicos. Emanuela, Alberto e Sinhá, como seres puros. Nesse sentido, vemos colocada, no nível das personagens, a alusão constante à segunda realidade, realidade figural a que o romancista continuamente faz referência nas suas obras. Em Dias perdidos, na cena em que Diana cede ao convite de Chico para ir dar um passeio com ele (“praticando alguma coisa que Sílvio jamais lhe perdoaria”, p. 323), a alusão à tentação, ao inferno e ao diabo é evidente: [...] lembrando-se da infindável série de dias em que se consumira fechada naquela casa, sem o menor acidente para diverti-la, atirava-se cegamente, numa volúpia de aproveitar o momento que se apresentava, numa dolorosa e frenética ânsia de viver. O sol avermelhava a planície como se toda ela estivesse em fogo. E mesmo Chico, sob esta luz, adquiria um tom sinistro, quase escarlate, como se estivesse sob a claridade de um dia sobrenatural, fora do calendário humano (DP, p. 323). 84 Vejamos algumas caracterizações de Pedro nesse sentido: “Nada resistia àquele rosto severo quase até o mau humor, àquela decisão diabólica marcada nos olhos, nos lábios, na sua pessoa inteira. Madalena não pudera dizer nada, inteiramente dobrada àquele jugo” (LS, p. 52); Eis a imagem que Madalena tem de seu marido: “Agora, fitando-o silenciosamente nos olhos, começava a compreender a barreira que a impedia de se aproximar inteiramente dele – era medo, simplesmente isto, um medo cuja origem não podia discernir ainda, mas que se erguia palpável e vivo entre o seu olhar e o olhar de Pedro. [...] Não era apenas temor pela fragilidade dos sentimentos nele [...] ou por aquele vago que ela sentia se estender sobre suas palavras, que tinha medo. Era do seu estranho poder de dominar, mais forte do que todos os seus defeitos como um atributo exterior à sua personalidade” (LS, pp. 61-62); “Ela o contemplava, caído como um anjo-mau” (LS, p. 63); “Que poder diabólico tinha aquela criatura, para saber de tudo como sabia desde que se tratasse de um fato que ela desejava ocultar? Era uma espécie de consciência de sua fraqueza, da sua entrega total à personalidade de Pedro, de tal modo que ela sentia arder em si a mais incrível vergonha. Tudo terminará um dia – pensava ainda. Deixaria de amar aquele miserável” (LS, p. 73). “Oh! Decerto ninguém – exceto o demônio do marido – compreenderia o mistério daquele aniquilamento...” (LS, p. 109). E Bernardo, coincidindo com a imagem de Madalena, diz a Pedro: “– Bem vejo, meu caro, que você é uma arma do demônio, levantado contra o poder divino” (LS, p. 116). 133 Ana também é identificada ao próprio demônio no final da “Segunda narração do Padre Justino”: Quando dei por mim, o Sr. Valdo fitava-me com olhos onde se lia indisfarçável curiosidade. Era preciso dizer qualquer coisa e então, abandonando o sortilégio à hora luminosa e cheia de carícia que nos envolvia, indaguei: “E no demônio, o senhor acredita?” Eu o vi tremer, tremer, tremer e olhar para o fundo da varanda como se adivinhasse a presença de alguém. “Acredito” – respondeu uma voz tão apagada que mal pude ouvi-lo. Levantei por minha vez a cabeça, como se obedecesse a uma ordem sua – e foi aí que eu a vi, modestamente vestida, encostada à porta da sala e contrastando estranhamente com o ar radioso do meiodia (CCA, p. 327). Assim, como observa Belinda Cannone (2001, pp. 78-79), a atitude em face da criação das personagens (também no caso de Lúcio) obedece a uma determinada concepção da existência humana e do indivíduo que as personagens não fariam mais do que representar. “Para mim, em cada personagem há uma idéia que se transforma em destino no decorrer do livro. Essa idéia é que constitui a verdadeira existência do personagem” (CARDOSO apud DOS SANTOS, 2001, p. 57). Constatamos ali mais um traço romântico da escrita cardosiana. Como lembra Fernandes: A linearidade do ser contraria a própria essência do tempo: movimento. Sob esta ótica, pode-se dizer que existe no romantismo uma distonia entre o ser e o tempo, daí Machado de Assis condenar a idéia fixa que é, em última análise, a prefixação das atitudes, sentimentos e pensamentos da personagem romântica. O ser e o tempo são essencialmente transformações. [...] o ser romântico é um ser dirigido pela mente do narrador; seu lançamento no tempo e no espaço se dá em direção única, enquanto que no modernismo o ser é multidirecional, imprevisível (FERNANDES, 1986, p. 200). E desta forma, Lúcio Cardoso filia-se também à tradição da literatura brasileira: Ao contrário do pré-romantismo e romantismo europeus, o romantismo brasileiro está marcado, quase exclusivamente, por narrativas de terceira pessoa. Nelas, o ser, o fazer e o pensar da personagem são determinados unicamente pelo narrador que, como um demiurgo, a tudo constrói e dirige, mas sem participação alguma nos acontecimentos. A personagem é, assim, um ser do outro, ou mais exatamente, um ser da história, como o eram os deuses da cosmogonia dos mitos antigos e primitivos. 134 O enfoque sobre a personagem se dá na unidirecionalidade de suas ações e pensamentos. Face a sua despreocupação com o todo da existência, a narrativa se resume à amostragem de um objetivo único que dirige o agir da personagem. O herói [...] vive pela pena do narrador (FERNANDES, 1986, p. 226, grifos do autor). Nisso tudo, Lúcio Cardoso age de forma diametralmente oposta ao autor de romance polifônico, cuja consciência, como explica Bakhtin, não transforma as consciências dos outros (ou seja, as consciências dos heróis) em objetos nem faz destas definições acabadas à revelia. Ela sente ao seu lado e diante de si as consciências eqüipolentes dos outros, tão infinitas e inconclusas quanto ela mesma. Ele reflete e recria não um mundo de objetos mas precisamente essas consciências dos outros com os seus mundos, recriando-as na sua autêntica inconclusibilidade (pois a essência delas reside precisamente nessa inconclusibilidade) (BAKHTIN, 1981, p. 58, grifo do autor). As personagens cardosianas obedecem muitas vezes aos caprichos da história e do suspense. Assim o demonstram exemplos como os seguintes. Vejamos a cena em que Madalena, em A luz no subsolo, corresponde aos desejos de Pedro e notemos a profunda incoerência da sua ação e das suas palavras: – Que é que você deseja de mim? No olhar de Pedro se acendera uma luz indiferente. O rosto agudo se contraíra como sob o efeito de uma dor íntima, e, vagarosamente, tomara-a pelas mãos, enquanto ela se deixava levar, os dedos apertados entre os seus. Rapidamente, a sensação de “ameaça” voltara a empolgá-la. – Não! Não! – exclamou – Não posso fazer isto... Qualquer coisa entre nós... E se deteve ao notar a sua extrema palidez. – Tolice – murmurou com os lábios cerrados. – Não existe nada disto... Talvez você não acredite... Madalena sentiu que lhe tocava num ponto mortal. Ouviu a voz distante que lhe sussurrava: – Talvez não acredite... Talvez... sim, você julgou que fosse simples capricho? – Ela recuara. Ainda uma vez aquele homem adivinhara o que passara nela. Voltara a procurar-lhe as mãos fortes e se apoiara ao seu peito, sem nada mais para dizer. – Não me importa... E ao abandono de toda a sua vontade, concluiu: – Sou feliz. 135 [...] De repente, Pedro sentira o peito úmido de lágrimas. Madalena chorava. Era alguma coisa mais forte do que a sua felicidade, aquelas lágrimas que haviam chegado inesperadamente. [...] Entretanto, voltando aquela noite para casa, indagava a si mesma se poderia realmente existir amor onde se misturava um sentimento tão intenso de miséria (LS, pp. 58-59). Da mesma forma, no reencontro de Sílvio e Diana, em Dias perdidos, o narrador revela uma paixão súbita de Diana pelo protagonista do romance, que não só não se apóia na relação anterior deles e nem se confirma no resto da obra. Depois que Diana diz se identificar com a mãe, que “detestava até mesmo os sentimentos fortes e qualquer ruído agitava-lhe os nervos” (DP, p. 289), o narrador fecha a cena da seguinte forma: Sílvio fechou o álbum e dispôs-se a sair. Diana deu boa noite ao padrinho, que viera assistir à saída. Na rua ela enfiou o braço no dele e puseram-se a caminhar lentamente, a moça com a cabeça quase no seu ombro. Ela tinha a impressão de que as estrelas brilhavam mais nítidas e esforçava-se para dominar as batidas do coração, rápidas, descontroladas, intermitentes como as de alguém que, depois de um profundo desmaio, regressa finalmente à vida (DP, pp. 289-290). Isto, e um acentuado verbalismo que sufoca muitas vezes a ação, faz com que as personagens de Lúcio Cardoso se ressintam freqüentemente do mal que Álvaro Lins aponta fazendo referência à professora Hilda: Sabemos dela apenas o que nos informa o novelista no estilo direto de autor. O Sr. Lúcio Cardoso trata assim a sua personagem como só seria lícito num ensaio. Descreve-a a ela e ao seu sentimento de ódio, cumula-a de adjetivos, mas a professora Hilda não se movimenta por si mesma, não vive como os seres reais ou de ficção. É uma criatura estática, andando ou falando sem autonomia. Também não conseguimos sentir o seu ódio, que mais parece um sentimento abstrato, um sentimento que o Sr. Lúcio Cardoso analisasse impessoalmente, com um espírito de generalização (LINS, 1963, pp. 118-119, grifo do autor). 136 O grau de complexidade psicológica das personagens de Lúcio Cardoso é muito variado. Algumas personagens secundárias não são tratadas com demasiada profundidade pelo autor, mantendo uma mesma atitude (ou postura) existencial durante toda a narrativa. Por exemplo, Dona Isaura em O viajante. Por outro lado – e como observou Ruth Silviano Brandão (1998, p. 31) –, há figuras femininas ou masculinas simbólicas que parecem ter a finalidade de materializar paixões ou questões existenciais. É por isso que essas personagens, apesar da riqueza psicológica que o autor tenta lhes conferir, ajustam-se a um padrão caracterológico mais definido e uniforme. É o que se constata, em nosso entender, nas personagens de Crônica da casa assassinada, como veremos na próxima seção. No entanto, muitas vezes, o autor não é bem-sucedido nessa tentativa de outorgar complexidade aos comportamentos das personagens e elas acabam revelando-se, mais uma vez, apenas “tentos” do seu criador. Por exemplo, no caso de Madalena, em A luz no subsolo, após sermos informados, no início do romance, de que a personagem considerava os livros verdadeiros rivais amorosos, por captar toda a atenção do marido, sentindo-se estrangeira, angustiada e excluída pelo hábito da leitura85, chegando a sentir verdadeira aversão pelos livros, na p. 130 do mesmo romance, ela “Revia os títulos, guardava os nomes: Dante, Homero, nem sabia mais. Ela também os amava – Dante sobretudo”. Outra grande incongruência é a que diz respeito à crença no destino que acalenta esta personagem. É constante por parte do narrador (mediante o uso da psiconarrativa ou do monólogo narrativizado), sobretudo na primeira metade do romance, a narração de sentimentos de abnegação e resignação de Madalena em relação ao que ela consideraria o seu destino. Mais adiante, porém, surpreendemos uma reflexão de Madalena como a seguinte, de teor nitidamente existencialista: Via agora a existência como um imenso plano sombrio. Sobre ele as criaturas deslizavam, cegas e constrangidas pelo temor alheio e pelo temor de si mesmas. Havia os que se revoltavam e se destruíam no caminho – havia os que se atiravam da borda ao abismo e os que marchavam resignados até o âmago da treva. 85 “Tremia, do fundo da sua miséria, ao se lembrar que ele [Pedro] parecia amar somente os livros, escondendo por detrás deles as suas emoções e os seus sentimentos [...]. Ah! Livros... Desses dias distantes despertava a imagem de Cira, a sua irmã, sentada no tapete esfiapado da velha sala de jantar, dizendo com os olhos postos nela: ‘Não se case nunca com um professor, Madalena... Tenho horror dessa classe de gente!’. [...] Os livros eram apenas uma trincheira. Por trás das capas amarelas ela se sentia espiada, vigiada, escarnecida, sensações idênticas às que experimentara Maria. [...] Volumes venenosos que arrebatam a alma, com o mesmo capricho, com o mesmo afinco, com a mesma tranqüila perversidade de uma prostituta consciente. [...] Madalena os odiava acima de tudo, porque eles destruíam a sua tranqüilidade e a sua crença de viver. Eram eles que a afastavam de Pedro, dias seguidos, sem uma hora de tréguas. Eram eles que a distanciavam, e ela os odiava mais, porque a morte que causavam nenhuma lei condenava. [...] No fundo do gabinete, protegida pela sombra, ele os pegava um a um, apertando-os numa fúria alucinada, ao mesmo tempo que do fundo do seu peito crescia o ódio contra aqueles inimigos inertes. (LS, pp. 26, 27, 70 e 71). 137 Entretanto, ela vivia com o coração suspenso, à espera de alguma coisa. Talvez se debruçasse sobre o escuro e lançasse o seu grito de morte. Mas também podia ser que caminhasse somente, amparando-se no sofrimento dos outros para aceitar o seu, até onde a grande sombra submerge as inquietações e as revoltas sem remédio. Tudo podia ser, todos os planos cabiam dentro da sua vida (LS, pp. 129-130). Outras personagens vão crescendo no decorrer das narrativas cardosianas e vão revelando a sua complexidade ao sentirem ou assumirem condutas que desmentem ou problematizam essas frases que as caracterizavam. Consideramos que a personagem de mestre Juca é particularmente rica nesse sentido. O narrador de O viajante universaliza, em um fragmento de psiconarrativa que se refere a Rafael – e ao mesmo tempo em uma digressão – essa visão da complexidade da alma humana: Rafael não insistiu, apenas contentou-se em sorrir, olhando, não muito distante, o cobre dos instrumentos de música que brilhavam. (Que veria ele, que ocorreria ao certo em sua alma?) Por uma estranha inversão de valores, próprios à natureza humana, mas de explicação tão difícil e tão pouco acessível aos que supõem o homem uma equação linear e sem essa dramática alternância que nos leva constantemente de um pólo a outro, o que Rafael sentia era uma alteração no fundo do ser, um regresso, por assim dizer, a estados primitivos, que aqueles instrumentos lhe evocavam. Com o privilégio das naturezas sensíveis mas sem profundidade, era a estados primeiros, próximos da infância e da mocidade, que ele retornava: emoções indistintas, mas cheias de vibração e de irresponsabilidade alteavam-lhe as correntes profundas da natureza – ele se tornava jovem, de modo célere, brilhante, impetuoso, como as cores matinais que repontam no silêncio do céu ainda em plena noite (V, p. 129). Se considerarmos que essa visão pode ser a do próprio Lúcio Cardoso, então seremos forçados a afirmar que ele não foi muito bem-sucedido no empenho de apresentar as personagens fictícias de acordo com a sua intenção, seja devido a um descuido em revisar os passos e sentimentos das personagens após concluídos os romances, seja por não poder conter as próprias emoções (tingidas sempre de um certo maniqueísmo) ao ir escrevendo as narrativas e descrevendo os sentimentos das personagens. De fato, o que o autor faz, em consonância com a necessidade que ele sentia quanto a fechar as narrativas, é operar também um fechamento nas personagens. Como já observamos, o princípio de extraposição aplicado por Lúcio Cardoso determina a forma espacial da personagem, causando o fenômeno que Irene Machado sintetiza da seguinte forma: 138 A forma espacial é a construção da visão plástica do homem e do deslocamento da personagem no espaço. A personagem não se vê a si mesma, mas pode viver sua imagem internamente. Esta imagem plástica deve ser entendida como a forma de um caráter. Diz Bakhtin: “chamaremos de caráter a forma de relação recíproca entre a personagem e o autorcriador da totalidade do herói como personalidade determinada e em que esta tarefa apareça como a principal” (M. Bakhtin, 1982:153). O autor aproveita, em todos os momentos de sua criação, os privilégios de sua extraposição com relação à personagem que, mesmo assim, apresenta uma “orientação existencial contra a qual o autor se opõe” (MACHADO, 1995, p. 153, grifos da autora). Por outro lado, Michel Zeraffa (1971, p. 466) aponta o caráter como a forma que a personagem romanesca assume depois do tipo e antes de chegar a sua apresentação como consciência no romance moderno. O crítico francês define o caráter nos seguintes termos: “As personagens representativas animam, em contrapartida, o romanesco de participação. [...] a personagem representa, não uma função, um estado, uma condição, mas, antes, os atos que ela deve realizar e, sobretudo, a idéia, o princípio do qual aqueles decorrem necessariamente” (ZERAFFA, 1971, p. 308, grifo do autor, tradução nossa86). Seja como for, no caso das personagens de Lúcio Cardoso, trata-se ainda de personagens que se ajustam às convenções do romance tradicional, sendo perfeitamente caracterizadas, tanto fisicamente quanto em termos de situação de vida. Sabemos tudo dessas personagens (a não ser nos casos-limites de Pedro, Rafael ou Nina); inclusive, os seus pensamentos mais banais são, muitas vezes, explicados pelo narrador. Os exemplos abundam. Vejamos alguns colhidos de A luz no subsolo. Camila, mãe de Madalena, símbolo da decadência social (e da correspondente degradação física), é apresentada da seguinte forma: Camila acompanhava as filhas, ainda no tempo em que o álcool não lhe tinha minado tão profundamente o organismo; ataviada com luxo e falta de gosto, um diadema nos cabelos que iam embranquecendo, gostava de falar da gente reunida, descobrindo em cada um descuidos ridículos, ou uma pobreza envergonhada que procurava se ocultar. Camila sempre se julgara acima dos outros: filha de uma terra pobre, jamais pudera compreender a pobreza e amar a obscuridade. Era sempre a primeira onde estivesse, pedindo lugar com um simples gesto da altanaria herdado de distantes avós aristocráticos, ofuscando os pobres caboclos e a gente simples com o fulgor das suas jóias de família, quebrando por vezes essa vaga atitude imperial com uma risada 86 Des personnages représentatifs animent en revanche le romanesque de la participation. [...] le personnage represente non une fonction, un état, une condition, mais bien les actes qu’il doit accomplir, et surtout l’idée, le principe dont ceux-ci dérivent nécessairement. 139 forte ou uma palavra mais fácil escapada no calor de uma conversa amável (LS, p. 42). Pedro, de “testa ampla, os cabelos encaracolados, o nariz aquilino, sobre a boca grande de dentes fortes e regulares” (LS, p. 69), é descrito pelo olhar de Madalena: [...] aquele homem a quem contemplava agora não possuía o menos dos atributos que lhe descobrira momentos antes. Era uma criatura vulgar sem nenhum atrativo, um desses janotas de mau gosto, que não tinha esquecido sequer a corrente de ouro atravessada no bolso do colete. Para cúmulo, ficara sabendo que morava ali mesmo e era professor [...] (LS, p. 49). Já Adélia, mãe de Pedro, é apresentada pelo próprio narrador: Era uma velha antipática. Extremamente magra, os olhos maus circundados por um risco escuro, o nariz levemente aquilino. Devia ter sido bonita no seu tempo de moça. Pedro herdara dela aquele ar hostil e aqueles modos frios. Adélia dava a impressão de alguém eternamente preocupado com guardar as distâncias que a separavam das outras pessoas. Descobria-se ao primeiro lance que era uma criatura sem amigos, uma alma isolada e avara, incapaz de se entregar a outras. Natureza destinada a sofrer, Adélia não conhecera na vida senão as alegrias amargas da solidão. Perdendo o marido cedo, separada do filho, aguçara insensivelmente o que a natureza lhe dotara; era agora um espírito intratável, desconfiado e amargo, disposto a ver em tudo a intenção deliberada de humilhá-la, como se reunissem todas as forças do destino, para fazê-la pagar mais caro ainda o direito de sua pobre vida (LS, p. 152). Note-se nesta descrição como a personagem e a interpretação do caráter são expostas em termos que deixam transparecer claramente a visão do mundo de Lúcio Cardoso. Nesta ocasião – como na maioria dos casos –, narrador e autor coincidem. Pelo contrário, uma característica marcante do romance moderno é a perda de identidade da personagem, que logo absorve o leitor: E a identificação, a generalização, que permite semelhante anonimato: todo o leitor é como este desconhecido que diz eu, transforma-se nesse eu. É 140 aspirado pelo vazio da ausência nominal. Mas o que se perde é o relevo, a personalidade exterior [...] A ausência do nome de família concorda com a experiência do vazio, com todos os heróis sem nome que se seguirão na literatura, com as personagens sem rosto dos quadros de Chirico, das esculturas de Brancusi [...] (TADIÉ, 1992, p. 65). É interessante notar – ao pensar no apontado por Nathalie Sarraute (1987, pp. 74-7587) – a importância que os nomes têm nas narrativas de Lúcio Cardoso, ambientadas, como são, no interior de Minas Gerais, cenário de uma sociedade rural oligárquica em decadência, cuja elite faz questão de preservar sua posição social a qualquer custo contra o avanço irreversível do capitalismo industrial. Como muitas vezes acontece no romance tradicional, ao indicar estirpe, procedência, o nome institui-se em marca de personalidade que nos ajuda a compreender as personagens e o seu drama (nas narrativas de Lúcio Cardoso, de decadência). É assim no caso dos Meneses ou de Donana de Lara (Dona Ana Altiva de Oliveira Lara – V, p. 197). Em outros casos (Madalena, Pedro, Emanuela, Clara, Áurea, Ana, Timóteo, Graciosa, Rafael – em hebraico, “Deus o curou”), o nome das personagens remete simbolicamente à tradição bíblica ou a significados relacionados a determinado papel ou lugar naquela dimensão religiosa e transcendental que constitui o fundo das narrativas cardosianas. Quando certo enigma é mantido em relação a alguma personagem (por exemplo, Nina) é porque isso obedece a uma dimensão simbólica do romance, remete a algo que o autor aponta como incognoscível (o Mistério) para além da personagem88, mas não chega a alterar a concepção de construção de personagens do escritor como um todo. Alfredo Bosi resume essa característica da caracterização das personagens da seguinte forma: O leitor estranha, à primeira leitura, certa imotivação na conduta das personagens. É que os vínculos rotineiros de causa e efeito estão afrouxados 87 Eis porque a personagem não é mais, hoje, do que a sombra de si mesma. É a contragosto que o romancista lhe atribui tudo o que pode torná-la mais facilmente determinável: aspecto físico, gestos, ações, sensações, sentimentos correntes, há muito tempo estudados e conhecidos, que contribuem a conferir-lhe de tão bom grau a aparência da vida, oferecendo uma tomada de conhecimento tão confortável ao leitor. Mesmo o nome, do qual lhe é totalmente necessário travesti-la, é para o romancista um estorvo (SARRAUTE, 1987, pp. 74-75, tradução nossa). 88 Não podemos esquecer que essa análise psicológica está, em boa medida, subordinada a uma realidade figural maior, pois, no romance cristão, “Cada gesto, cada palavra [...] é ao mesmo tempo real, e até mesmo realista, e simbólica, pois remete para um sentido religioso; além disso, retoma uma outra história [...] Trata-se de uma história primordial, a História Sagrada, e portanto de uma metafísica como em todo o pensamento da origem, aquela que dá ao romance o seu sentido. [...] A verdade encontra-se apenas no olhar da santidade, que nada tem a ver com a penetração psicológica” (TADIÉ, 1992, p. 192). 141 nesse tipo de narrativa, já distante do mero relato psicológico. Lúcio Cardoso não é um memorialista, mas um inventor de totalidades existenciais. Não faz elencos de atitudes ilhadas: postula estados globais, religiosos, de graça e de pecado (BOSI, 2000, p. 414). É nesse contexto que “Pedro é apresentado explicitamente com um ser diabólico, um anjo decaído” (Carelli, 1996a, p. 628) enquanto a Nina ajusta-se perfeitamente a designação de anjo exterminador. Quanto ao narratário, resulta interessante notar que no romance tradicional nãoautoconsciente (como o de Lúcio) dificilmente se verifica a presença de um no texto, pois esse tipo de romance preocupa-se com a ilusão de realidade criada pela convenção romanesca. Isso é constatado, de fato, em A luz no subsolo, Dias perdidos e O viajante. Em Crônica da casa assassinada – e como veremos mais adiante –, o narratário aparece na figura de um interlocutor a quem algumas personagens se dirigem (nunca identificado). Também fica em evidência a concepção de um destinatário (leitor virtual) que justificaria a elaboração da Crônica por parte do Padre Justino. De qualquer forma, ambas as figuras são fictícias porque surgem da obra, da mesma forma que as personagens, e dividem o mesmo mundo de nãorealidade89. O que o romancista Lúcio Cardoso esperava provocar nos seus leitores era uma espécie de transmutação de emoção passional que chegasse ao abalo físico: “gostaria que aqueles que me acompanham se sentissem dominados, violentados até a saturação, e me rejeitassem com violência, o que seria uma demonstração da minha força, ou me aceitassem como um mal irremediável, o que seria um sinal de minha profundeza” (CARDOSO, 1996b, p. 744). No entanto, se nos circunscrevermos à função que caberá ao leitor real nos romances do autor mineiro, ela ainda será, em boa medida, a mesma função que destinava o romance tradicional a seus leitores, isto é, a de recolher as pistas e as informações que o narrador e as personagens vão semeando e oferecendo no decorrer da narrativa para, no final, unir as peças que conferirão um sentido fechado à história (superficial) contada. Assim, o seu esforço será sobretudo de memória, a mesma memória que institui-se como princípio estruturante de toda a Crônica da casa assassinada e do qual parte Marta Cavalcante de Barros (2002) para analisar a obra. O que dizer então da caracterização genológica do romance cardosiano? Em primeiro lugar, observamos que, de fato, se dá um notório entrecruzamento do épico e do lírico devido 89 Cf. Käte Hamburger, A lógica da criação literária. 142 ao viés introspectivo das narrativas do autor. Como foi dito acima, a sua escrita é permeada de metáforas que atingem todos os níveis da narrativa, desde as descrições até as intervenções das personagens. As descrições do ambiente desempenham uma função simbólica nos romances e Lúcio Cardoso: ora refletem o estado de ânimo de alguma personagem, ora balizam uma determinada situação já instaurada, ora agem como prenúncios de alguma coisa indeterminada prestes a acontecer. A natureza, por exemplo, anuncia a morte (e também uma possível? redenção) de Pedro no final de A luz no subsolo nos termos e no sentido metafísicos visados por Lúcio Cardoso: Da terra empapada pela chuva, subia um perfume intenso – as folhas, arqueadas pela água, cintilavam. A sombra era absoluta, mas no céu escuro, farrapos de nuvens descobriam vagarosamente estrelas solitárias. Todas as coisas pareciam despertar assim no meio da noite de um sono profundo; havia na figuração brutal das árvores imóveis e da terra úmida, algo de uma ressurreição tardia e cruel, um angustioso respirar de organismo liberto – os próprios arbustos secos e as flores despetaladas pela chuva erguiam-se vigorosamente sob o frio, incorporando às misteriosas relações da natureza os corpos secos e sem folhas ou as corolas amarfanhadas pelo vento (LS, p. 342). Em Crônica da casa assassinada, a natureza também exprime o desejo reprimido e prestes a rebentar de André por Nina: O verão ia alto, nenhuma brisa movia as folhas, só o sol ardia e crestava as folhas inanimadas. Como que toda aquela luz se transfundia no meu ser e, de súbito, tonto, eu me sentia atacado por uma quentura que nenhum remédio aplacava. Caminhava então pelo jardim, sem destino, a testa coberta de suor, o sangue latejando. Das umbelas formadas pelas laranjeiras baixas, chovia uma infinidade de flores amadurecidas pelo verão – e abelhas em ronda, atraídas pelo cheiro acidulado, enchiam a sombra de um zumbido persistente e monótono. Aquilo me irritava ainda mais, fugia e, no meu desatino, decepava uma flor, levava-a brutalmente às narinas: a corola, sentida, não tardava em murchar entre meus dedos. De longe, olhava a janela do quarto em que ela se achava [...] (CCA, p. 453). Como já desenvolvemos, essas descrições também estão a serviço da realidade figural, no sentido de reproduzir aquele contraste entre luz (divina) e sombra (maléfica, infernal) que caracteriza a estética barroca. É também a atmosfera criada pela descoberta daquelas pulsões primárias e inexplicáveis que mencionamos na seção anterior (ora percebidas pelas personagens, ora assinaladas pelo narrador através da psiconarrativa) a que confere às narrativas do autor alguns dos seus traços 143 expressionistas. Nesse sentido, Mário Carelli (1996a, p. 633) salienta a utilização do grotesco como uma marca expressionista da escrita cardosiana. “As paisagens antropomórficas participam do ambiente trágico e metafórico do seus romances” (Carelli, 1996a, p. 638). Sobre este assunto, ver a próxima nota de rodapé. Além da primazia da metáfora em suas narrativas, o autor toma de empréstimo à poesia alguns recursos de musicalidade, como as aliterações. Por exemplo: “Pesadas de longor, as notas longas dos violões acompanhavam a toada” (LS, p. 101). No entanto, ainda se observa, em virtude da importância que a intriga conserva na obra cardosiana, um predomínio da função narrativa sobre a lírica. Esse predomínio fica relativamente oculto por toda a maquinaria figurativa e retórica, mas continua sendo um predomínio: uma sucessão de verdadeiras peripécias, intrigas, crimes e confabulações prende a atenção do leitor que, se desprevenido, pode ler as narrativas como simples folhetins. As técnicas utilizadas por Lúcio Cardoso para mostrar a vida interior das suas personagens são a psiconarrativa, o monólogo narrativizado e o monólogo citado. Isso se condiz com a escolha de um narrador onisciente, que domina a narrativa e controla a exposição dos sentimentos e da intimidade das personagens, inserindo, além disso, explicações e comentários sobre os mesmos. O monólogo citado também entra ao serviço das intenções do narrador, como no trecho seguinte da despedida entre Maria e Madalena em A luz no subsolo: – Mas não posso mais, não é possível, Madalena! [...] Parecia a Madalena ser aquele grito quase um pedido de socorro – e agora, por um esforço alheio à sua vontade, media o tamanho do fato acontecido por essas palavras cheias de desespero. Na confusão do seu pensamento, nascia como que uma nova visão das coisas – e ainda desta vez Maria se colocava numa posição falsa –, e por muito que Madalena se esforçasse por atenuar a sua repulsa em relação à outra, não conseguia mais do que esconder um amargo silêncio, a dúvida que tinha penetrado em seu coração. “Será possível?” – perguntava a si mesma – e, fitando a cabeça debruçada, compreendia que era muito tarde – tudo estava perdido e não valia mais a pena pensar, pois, todas as vezes que tentasse renovar a sua amizade, encontraria, no fundo, o veneno daquela situação. Era uma coisa marcada para o resto dos seus dias – não se constrói facilmente aquilo que um momento de irreflexão destruiu sem esforço (LS, pp. 21-22). O mesmo recurso verifica-se na caracterização de Cira: Realmente, ela era bem diferente da irmã, Cira, mesmo depois de casada, nunca pudera abandonar a mãe. Sempre que lhe falavam nisto, movia a 144 cabeça e respondia vagarosamente, como quem penetrasse dentro de um sonho que era o alimento de sua vida: – “oh! não, eu partirei um dia, mas para longe... onde as estradas não se acabem” – e queria significar com isto a sua revolta pela morna condição em que vivia, quando podia tudo abandonar e ganhar outras terras onde a aventura lhe sorrisse. Fora assim toda a sua adolescência sonhando alguma coisa que a esperava lá fora, um mundo de perigos, uma “vida” verdadeira... (LS, p. 32). Notemos na seguinte passagem de O viajante como a psiconarrativa é nitidamente tingida com as concepções do próprio Lúcio Cardoso. Não poderemos atribuir a Donana de Lara (apresentada como uma mulher orgulhosa, perversa e sem escrúpulos durante todo o romance) o profundo tormento descrito. Note-se de passagem, como o estado de espírito é prenunciado pelo tempo (escuro) e acompanhado pelo símbolo do sino90: No fundo do horizonte, grossas nuvens se acumulavam, dir-se-ia que estava prestes a chover. Já um ressaibo frio, prenunciando as primeiras gotas de chuva, começava a chegar com o vento – e o cheiro de queimada, de mistura a ele, fazia-se a cada minuto mais forte. Donana apressou ainda mais o passo – corria quase. E nem sabia se o que a tangia era o medo da tempestade que se aproximava ou se era apenas um impulso oriundo de sua consciência em tumulto. Porque, já agora, ela não podia mais esconder: a imagem do crime incrustava-se ao seu pensamento com incrível nitidez. Era uma imagem de violência e de sangue, e aquilo, como um gosto físico, derramava em sua boca um sabor pastoso e amargo. O crime não era um movimento exterior e desinteressado de sua ausência: era ela mesma, essa solidão e esse gosto de saliva envenenada que lhe queimava os lábios. Foi neste momento preciso, e numa curva onde algumas árvores levantavam uma sombra mais densa, que o som do sino que ela já ouvira antes, e que vibrava no seu íntimo com tão solene reboar de bronze, pôs-se a vibrar de novo – e era pancada única e ritmada, um som crispado e seco, que repetia – Deus, Deus, Deus – sem que ela compreendesse o que fosse, nem porque aquilo assim a perseguia. Uma idéia, uma reminiscência talvez – mas o que quer que fosse, vibrou de modo tão nítido e autoritário no seu espírito, que ela se perturbou, perdeu o equilíbrio, tombou de joelhos – e seu rosto, violentamente, bateu de encontro a uma pedra. Ela não se levantou logo, 90 O uso deste tipo de símbolos ao serviço da ambientação estranha é freqüente nos romances de Lúcio Cardoso. Vejamos alguns fragmentos de A luz no subsolo: “Ficaram calados. De fora veio uma risada aguda de mulher. A vidraça flamejava ao sol, a tranqüilidade era absoluta. Somente as moscas zumbiam” (LS, p. 91); “Madalena permaneceu no mesmo lugar, sem saber como ligar o que ouvira ao que descobrira. De repente, alguma coisa gelada raspou de súbito no seu rosto, enquanto em torno dela se agitava um ruído surdo de asas. Deixou escapar um grito e, antes que pudesse controlar o seu movimento de terror, achava-se em pleno centro da alameda. [...] – Creio que foi um morcego, não? – perguntou sorrindo (LS, p. 106); “Ergueram-se lentamente. Distante, soavam cantos entrecortados da galos. Bernardo fitou em torno e teve um estremecimento de terror. Com o orvalho, as folhas cintilavam fracamente no escuro (LS, p. 113); “De quando em quando, ouvia-se o grito de um colmo rangendo. Com o coração sobressaltado, aventurou-se na treva, disposta a ganhar o portão e sair” (LS, p. 128); “Apagado, quase como um grito de socorro, retine o canto de um galo. O sono das coisas parece maior – entretanto uma misteriosa vida palpita no seio dos móveis e no ondular das cortinas” (LS, p. 145); “E, novamente, o silêncio desceu. Pela janela aberta, chegavam os uivos dos cães, os misteriosos susurros da noite” (LS, p. 179). 145 faltavam-lhe forças – e foi assim, de bruços sobre a terra, que ela começou a chorar e a se lamentar: – Perdoa-me Deus, perdoa-me por tudo o que eu fiz. Não sei o que tenho, nem o que quero. Minha vontade é viver, mas sei que não sou ninguém, e tenho culpa dos meus pecados. Mas perdoa-me, sou feita assim, não tenho jeito, nem quero ser melhor do que sou. Perdoa-me, Deus, perdoa-me... Não dizia isto em voz baixa, mas num tom soluçado e ardente (V, p. 18). É por isso que, em relação ao seu viés introspectivo – e a despeito da abundância de focalização interna –, o romance de Lúcio Cardoso pode ser caracterizado como psicológico, pois o que predomina nele (mais uma vez, como no romance tradicional) é a análise psicológica das personagens realizada por um narrador onisciente. Por outro lado, em Fios da introspecção, Flávia Trocoli Xavier da Silva (2000, p. 120) observa, já em trecho de A luz no subsolo, a dubiedade quanto à voz narrativa. Isso verifica-se também em Dias perdidos e O viajante. Por exemplo, nos seguintes excertos, resulta difícil afirmar se os pensamentos e reflexões são do narrador ou da personagem focada. Ao relembrar a história da sua paixão não correspondida por Madalena, Bernardo (ou o narrador?) chega à seguinte conclusão: Cada criatura nasce para ser escrava de alguém – ele se sentira para sempre um novo elo dessa cadeia viva de almas que se perseguem na corrida louca de sentimentos desencontrados e procuras na escuridão. Sem que pudesse saber como, ele se achava a lutar também, a combater com a alma ferida e o corpo enlouquecido pela febre do desejo, cegamente, roendo no silêncio o inenarrável amargor das mais cruéis decepções (LS, p. 109). E de quem é a reflexão em torno do caráter de Bernardo na seguinte citação, de Pedro ou do narrador? Decerto, Pedro sabia por quê. Não lhe escapava a certeza com que outro ia construindo os seus planos. Segundo por segundo, soubera seguir na mobilidade daquela fisionomia grosseira os traços do raciocínio alimentado pela vaidade e pela paixão. Há uma certa cegueira inata nos pensamentos realizados ao sopro das tempestades. As possibilidades aparecem fixadas em contornos precisos, num fulgor de miragem que firma as suas bases na necessidade de enganar os próprios sentidos. É uma visão parcial da realidade – o resto, obstáculo criado pela posição verdadeira dos fatos, permanece escondido, como que estagnado no fundo do charco onde fermenta a própria paixão cega (LS, p. 165). 146 Essa ambigüidade quanto à perspectiva adotada pela narração também contribui para conferir a sensação de predomínio da voz do próprio autor nos romances de Lúcio Cardoso. Isso não quer dizer, como foi apontado acima, que o fluxo de consciência das personagens, com os seus mecanismos de livre associação e de memória involuntária, não chegue a ser representado. Ele só não o é de forma autônoma e, portanto, a sua ocorrência é bem restrita, apesar de existente. É o que se constata nos seguintes excertos de A luz no subsolo e de Dias perdidos: Novamente chegavam à sua memória, como o refluir ritmado das marés, recordações sem nexo, coisas de que nunca se lembrara e que chegavam assim de repente, estranguladas num doloroso sentimento de impossibilidade. Talvez que se ela cerrasse por momentos mais longos os olhos cansados, veria a fuga leve do tempo, o lento murmúrio dos dias recuando para a sombra, sem que nenhum gesto pudesse valer ao atordoamento da vida que se esgota (LS, p. 129). Durante alguns minutos sentiu-se tomada por insuportável mal-estar.[...] Do fundo do carro, um cego que subira na estação anterior rodou a manivela do seu realejo. A música fanhosa, de notas primitivas, encheu o ambiente enfumaçado, comprimindo ainda mais o coração de Clara. Viu-se menina, sentada num banquinho, um bordado nos joelhos. Era a hora do almoço, e do fundo da sala vinha um ruído de talheres. Na rua tocava um realejo como aquele, enquanto uma grande mancha de sol se alastrava no assoalho lavado. “É uma tolice”, disse Clara para si mesma, interrompendo o fio das suas lembranças. Mas apesar de todos os seus esforços, apesar de repetir inumeráveis vezes “é uma tolice, uma pura tolice”, não conseguiu mais escapar à sensação indefinida, pegajosa, que parecia mergulhar o seu espírito num mundo de inquietação, de desânimo e de melancolia (DP, p. 19-20). O que não há, nos quatros romances de Lúcio Cardoso que nos propomos analisar, é monólogo autônomo. Assim, em A luz no subsolo, Dias perdidos e O viajante, na estruturação, nos recursos retóricos utilizados e no contraponto das vozes das personagens, é possível detectar a presença do autor implícito, que a todos eles termina outorgando um certo sentido final, subjacente a todas as narrativas e no qual identificamos as preocupações, angústias e conflitos do próprio Lúcio Cardoso. Neste sentido, podemos afirmar que Lúcio vive em sua obra e, no dizer de Jean Rousset (1995, p. X) vive nela “com o máximo de intensidade”. A despeito disso, na obra de Lúcio Cardoso não existe uma redistribuição dos papéis de autor, narrador e personagens como a que se verifica no romance moderno; o que há é uma 147 objetificação, uma subordinação de todas as vozes às intenções do autor (implícito). A aproximação entre cinema e escrita, entre o papel do diretor e o do escritor, que o autor realiza em comentário sobre um livro de Edmonde-Magny não é fortuita: Desvenda-se com segurança o parentesco entre romance e cinema, que são, induvitavelmente, as artes mais próximas entre si. Não creio que nenhum romancista autêntico, e conhecedor dos processos técnicos do cinema, aliado a um instintivo conhecimento da arte de representar, possa se sentir intimidado com uma câmera – ele se tornará fatalmente um diretor, e criará também no filme o seu estilo, tal como no livro. Eis as palavras finais de um dos capítulos de Edmonde-Magny: “Vai-se caminhando cada vez mais, parece, ao momento em que o filme, como o romance, poderá ser atribuído sem ambigüidades nem restrições a um autor único, e não é interdito imaginar o momento em que, nas cinematecas do futuro, seções inteiras, poderão se intitular orgulhosamente ‘Obras completas’ de René Clair, de Fritz Lang ou de Preston Sturges” (CARDOSO, 1970, p. 123). 1.4 Crônica da casa assassinada: uma casa assombrada pelo fantasma do autor O último romance concluído de Lúcio Cardoso, Crônica da casa assassinada (1959), é considerado por grande parte da fortuna crítica do autor (CARVALHO, s. d.; MOISÉS, 1989; BOSI, 1994 e 1996; BRAYNER, 1996; CARELLI, 1996a; CARELLI, 1996c; MARTINS, 1996), sua obra-prima, ou, no mínimo, seu projeto mais ambicioso, em função da extensão da obra, de sua estrutura fragmentária, enfim, da profundidade e do alcance das questões apresentadas no romance (que sintetizam as problemáticas que obsedaram o autor durante toda a sua vida e carreira). Além disso, este romance apresenta características que o diferenciam dos outros três romances analisados na presente tese. Crônica da casa assassinada compõe-se de cartas, confissões, narrativas, narrações, diários, depoimentos e memórias. Não podemos dizer, contudo, que encontremos propriamente estilizações dessas formas extra-literárias: como veremos, tudo neste romance assume o mesmo estilo. E nem isso impede que outras características presentes nos outros romances estudados de Lúcio Cardoso não se verifiquem também nesta obra. Na Crônica encontramos prolepses narrativas e prenúncios do que virá a acontecer. Um bom exemplo disso é a cena do velório de Nina em que André se despede do corpo – perante o olhar escandalizado de Donana de Lara e de Ana –, antecipando, com as suas palavras, o tipo de relação que mantivera com a mãe (CCA, p. 11). Neste romance, contudo, o suspense é criado 148 também pelo modo em que são intercalados e articulados os diferentes fragmentos que compõem a obra, sendo que um mesmo documento pode ser dividido (principalmente, no caso dos diários) em várias partes dispostas em lugares estratégicos (pois a sucessão está ao serviço da trama), conter, começar ou terminar com reticências, como, por exemplo a “Primeira Carta de Nina a Valdo Meneses” etc. Como observa Sônia Brayner (1996, p. 721), em Crônica da casa assassinada, “A consciência da estrutura é clara e os seccionamentos estão submetidos ao rigor de uma reflexividade interna, que os mantém inteligíveis”. Também, em função de sua estrutura fragmentária, neste romance, a estrutura de exposição distribuída se dá de uma forma um pouco diferente. Ela não é introduzida por um narrador, mas é acionada pela intercalação dos diferentes “documentos” que compõem a narrativa. Eles remetem, por sua vez, a diferentes tempos da história narrada, mas sempre anteriores com respeito ao tempo da sua “organização”, realizada quando se supõe que todos os protagonistas da história já estivessem mortos. A estrutura segue o modelo familiar (Cf. TADIÉ, 1992, p. 95). E como no caso de A luz no subsolo e de Dias perdidos (onde também é retratada a história de uma família), constata-se a afirmação de Tadié de que “Ao pintarem certas famílias, outros romancistas [assim como Lúcio Cardoso] introduzem um movimento. É o movimento, descendente, da decadência” (TADIÉ, 1992, p. 98). Além disso, nos livros de Lúcio, essa estrutura estende-se à Casa (vazia) como símbolo da linhagem. E, por último, estende-se à degradação do Homem no caminho da sua inevitável danação. O traço que mais diferencia este romance dos analisados até aqui é que Crônica da casa assassinada é totalmente escrito em primeira pessoa, conforme uma estrutura de focalização múltipla. Todos os narradores são homodiegéticos. Assim, em princípio, fica excluída deste romance a possibilidade de intervenção de um narrador onisciente. Uma conseqüência do uso da primeira pessoa, somada a que os depoimentos dos diferentes narradores são escritos, é que os testemunhos destes – como observa Marta Cavalcante de Barros – revelam um jogo de “mostrar/esconder, ser/aparecer, disseminar/agrupar, fragmento/unidade” (BARROS, 2002, p. 43) em função do teor subjetivo das suas narrativas, norteadas pelo desejo e condicionadas pelos mecanismos psicológicos que ele promove. Inclusive, como mostra ainda a crítica, em virtude do funcionamento da memória, a narrativa pode transformar-se no reflexo “do que poderíamos ter sido, do possível, o constantemente inatingido” (BARROS, 2002, p. 45, grifos da autora). Por isso, trata-se de narradores pouco dignos de confiança. 149 De qualquer forma, a escolha narrativa determina uma proposta diferente de onisciência, “a visão estereoscópica” definida por Oscar Tacca (fazendo referência ao trabalho de Durrell) nos seguintes termos: Desta visão plural ou prismática [...] nasce um novo modo de conhecimento romanesco, soma de conhecimentos parciais – raramente coincidentes, freqüentemente dissidentes e até contraditórios – de grande riqueza e interesse para uma compreensão mais profunda do drama, mas cingida a um modo normal de percepção” (TACCA, 1983, p. 89, grifo do autor). Existe, pois, outra forma de onisciência, ou de quase onisciência, que consiste em saber tudo, já não de um ponto de vista superior e inumano, à maneira do narrador onisciente, mas acumulando a informação que sobre um personagem (ou episódio) têm os restantes: é essa visão plural, polivalente ou pluri-perspectiva que traz sempre à memória um exemplo cinematográfico: Rashomon. [...] [...] na visão onisciente, o fundamental é o dom de penetração, de clarividência; enquanto que, na visão estereoscópica, é o dom da ubiqüidade. O autor nunca surge, o próprio narrador parece ausente: tudo sucede como se os próprios personagens apresentassem as provas avulsas de uma deposição. (TACCA, 1983, p. 90, grifos do autor). A despeito disso, como veremos, em Crônica da casa assassinada o autor surge mediante diferentes mecanismos que denunciam a sua presença. Outro recurso utilizado por Lúcio Cardoso, no romance que nos ocupa, é o de criar o efeito de uma certa objetividade (ao sugerir a ausência do autor), artifício que consiste em atribuir à obra outros autores, cujos depoimentos, diários e cartas seriam “organizados” ulteriormente por alguém cuja identidade não se revela, por insignificante. Observa Oscar Tacca: O romance de transcrição, curiosamente, vai desde a recusa de uma autoria intrusa (o autor é expulso do texto) até à adopção de uma leitura intrusa. Com efeito, há uma diferença essencial entre o relato abertamente destinado aos leitores (forma corrente e habitual do romance) e aqueles que têm o seu próprio destinatário (interno), nos quais o leitor se introduz ‘indiscretamente’. Tanto o romance epistolar como o diário íntimo jogam com este recurso (TACCA, 1983, pp. 53-54, grifos do autor). O que temos em Crônica da casa assassinada é uma narrativa retrospectiva a cargo de narradores homodiegéticos ou, então, cartas de Nina redigidos (e dirigidos) em função de 150 determinado interesse imediato. Isso faz com que, ainda com respeito a esta obra, possamos falar em “romance do destino”, pois como observara Sartre – condenando esse tipo de narrativa – “ela conta uma vida em sentido inverso, começando pelo final, isto é, pelo conhecimento implícito que possui o narrador da origem de sua história. Ao fazer isso, ele confere, posteriormente, um sentido ao acontecimento passado que ele não podia ter enquanto ele era vivido” (ROUSSET, 1972, p. 26, tradução nossa91). Em Crônica da casa assassinada, a tomada de consciência, por parte do leitor, dessa característica da narrativa retrospectiva assume uma importância vital, pois – como vimos – as personagens, não apenas outorgam um sentido ao que relatam, como também, em função de um jogo dialógico (isto é ideológico), que constitui o próprio cerne da trama, empenham-se em (con)vencer sempre o seu interlocutor sobre a veracidade da sua versão dos fatos. A função desse destinatário em Crônica da casa assassinada é apontado por Sônia Brayner, com quem concordamos: “Essa presença coercitiva, pois solicita os depoimentos, é ficcionalizada para que o aspecto de mistério de um possível crime paire sobre os acontecimentos, já distantes no tempo e com os participantes, na sua maioria, mortos ou ausentes” (BRAYNER, 1996, p. 719). No que diz especificamente ao diário como forma (no romance supracitado, temos acesso aos diários de André, Betty e Timóteo), observa Sébastien Hubier: O diário, doravante concebido e escrito para ser lido, corresponde a uma vontade de esconder e de revelar sucessivamente a verdade, da qual por sua vez o leitor usufrui, ao estar está singularmente situado em posição de confidente e de voyeur, de alter ego e de perfeito estranho (HUBIER, 2003, p. 60, tradução nossa92). É por isso que, em Crônica da casa assassinada, o narratário institui-se em elemento unificador e estruturador da obra. Por outro lado – e como será desenvolvido a seguir –, aplica-se ao romance que nos ocupa a crítica à qual se antecipa o narrador transcritor de Les liaisons dangereuses e que Oscar Tacca (1983, p. 53) resgata: 91 [...] celui-ci raconte une vie à l’envers, en commençant par la fin, c’est-à-dire par la connaissance implicite que possède le narrateur de l’issue de son histoire. Ce faisant, il confère après coup un sens à l’événement passé que celui-ci ne pouvait avoir lorsqu’il était vécu. 92 Le journal, désormais conçu et écrit pour être lu, correspond à une volonté de cacher et de dévoiler successivement la vérité, dont le lecteur à son tour profite, qui est singulièrement placé en position de confident et de voyeur, d’alter ego et de parfait étranger. 151 Não deixa de ser surpreendente verificar com quanta sagacidade e quão antecipadamente ele assinala, sob o pretexto de responder às objecções que teriam merecido as suas reservas e os seus propósitos, alguns dos problemas postos pelo romance epistolar ou pelo recurso à transcrição. Assim, por exemplo, e entre outros, o problema da variedade de estilos ou da atracção do documento. É bastante freqüente que este romance seja qualificado como polifônico (CARELLI, 1996a; CARELLI, 1996c; ROSA E SILVA, 2004, p. 148 e 163). Em função de uma série de elementos que constituem o estilo que norteou a sua construção, tanto estética quanto ideologicamente uno, perguntamo-nos se a qualidade (em princípio) polifônica do romance não se tornaria contestável. Mesmo se isso fosse verificado, consideramos que uma análise do romance à luz da teoria de Bakthin pode resultar enriquecedora, pois pode mostrar como o dialogismo pode intervir como elemento estruturante em uma obra eminentemente intimista. 1.4.1 A bivocalidade da prosa cardosiana em Crônica da casa assassinada Em Questões de literatura e estética: a teoria do romance, Mikhail Bakhtin distingue entre a língua viva (eminentemente social, ideológica e plurilíngüe) e a língua que constitui o objeto de estudo da lingüística (a língua comum), produto de uma abstração para efeitos de sua análise sistemática. Basicamente, define Bakhtin: A linguagem comum e única é um sistema de normas lingüísticas. [...] Temos em vista não o minimum lingüístico abstrato da língua comum, no sentido do sistema de formas elementares (de símbolos lingüísticos) que assegure um minimum de compreensão na comunicação prática. Tomamos a língua não como um sistema de categorias gramaticais abstratas, mas como uma língua ideologicamente saturada, como uma concepção de mundo, e até como uma opinião concreta que garante um maximum de compreensão mútua, em todas as esferas da vida ideológica. Eis porque a língua única expressa as forças de união e de centralização concretas, ideológicas e verbais, que decorrem da relação indissolúvel com os processos de centralização sócio-política e cultural (BAKHTIN, 1990, p. 81). A filosofia da linguagem e a lingüística conhecem apenas a compreensão passiva do discurso, sobretudo no plano da língua geral, isto é, a compreensão do significado neutro da enunciação, e não do seu sentido atual (Ibidem, p. 90, grifos do autor). 152 Ora, segundo Bakhtin, o que diferencia o discurso poético do prosaico é a bissemia (univocalidade) do primeiro – decorrente do funcionamento do símbolo poético, que “pressupõe a unidade e a identidade da voz consigo mesma, e sua total solidão no discurso” (BAKTHIN, 1990, p. 130) – e o caráter bivocal do segundo, em que se dá, sempre, o entrecruzamento de falas diversas (no mínimo duas, a do autor-criador e a do narrador ou da personagem, ou seja, aquele que fala no romance). A palavra bivocalizada é, por isso, discurso dentro do discurso, e “o discurso bivocal sempre é internamente dialogizado” (Ibidem, p. 127). Assim, a prosa, e principalmente, o romance, conforme o mesmo autor, realizam no plano da língua literária (“uma das línguas do plurilingüismo” – Ibidem, p. 82) ou transferem para a mesma, o plurilingüismo que caracteriza a língua viva. O que encontramos no romance é sempre uma linguagem objetivada, que servirá para refratar as intenções do autor da obra, seja diretamente ou mediante oposição. É nesse sentido que Bakhtin assinala que “o problema central da estilística do romance pode ser formulado como o problema da representação literária da linguagem, o problema da imagem da linguagem” (Ibidem, p. 138, grifos do autor). Ainda em Questões de literatura e estética, Bakhtin aponta que “pode-se relacionar todos os procedimentos de criação do modelo da linguagem no romance em três categorias básicas: 1. hibridização, 2. inter-relação dialogizada de linguagens, 3. diálogos puros” (BAKHTIN, 1990, p. 156). A construção híbrida, evidentemente associada à primeira categoria, constitui a forma paradigmática de introduzir o plurilingüismo no romance, no discurso do narrador ou da personagem, de forma dissimulada. Diz Bakhtin: Denominamos construção híbrida o enunciado que, segundo índices gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, mas onde, na realidade, estão confundidos dois enunciados, dois modos de falar, dois estilos, duas “linguagens”, duas perspectivas semânticas e axiológicas. Repetimos que entre esses enunciados, estilos, linguagens, perspectivas, não há nenhuma fronteira formal, composicional e sintática [...] (BAKHTIN, 1990, p. 110). 153 Em Crônica da casa assassinada não encontramos a fala de um único narrador onisciente. Os focos narrativos são múltiplos e estarão a cargo de cada personagem, que narrará os fatos do seu ponto de vista e em primeira pessoa. Em contrapartida, deparamo-nos com um estilo único de narrar. Eis aí onde detectamos, quase exclusivamente, a bivocalidade da linguagem em Crônica da casa assassinada. Ao comentar a introdução da oralidade nas composições romanescas escritas a partir de lendas e relatos da tradição oral, Irene Machado observa que ali “tal como em Cervantes, a oralidade é introduzida no tecido discursivo enobrecido. A sobriedade do discurso narrativo, tanto na descrição como na fala das personagens, se encarrega de criar uma imagem precisa e cuidada de uma linguagem datada” (MACHADO, 1995, p. 61). A escritura literária de Lúcio Cardoso absorve o discurso das suas personagens, que se expressam, todas, à maneira do autor. Todas elas são extremamente perspicazes e detalhistas. Todas se detêm nas minúcias do ambiente, no sumário narrativo, para depois detalhar as cenas vivenciadas por eles mesmos e expor pormenorizadamente suas impressões e suspeitas em relação ao narrado e às outras personagens envolvidas, seja no tempo do narrado, seja no tempo da narração (até nos diários aparecem escritos à margem que denunciam a distância temporal com respeito ao acontecido no relato principal e ao momento da primeira narração93). Assim, revela-se “a correspondência harmoniosa entre os discursos representados” (MACHADO, 1995, p. 111) que Bakhtin traduz pelo “princípio de literaturidade: tanto o discurso do autor como o de seus personagens se exprimem de acordo com os recursos da linguagem enobrecida escrita. Nesse caso, não há vestígio de fala” (Ib., p. 111). Em função dessa explicitação das impressões, não há propriamente construções híbridas na Crônica, não há alusões à fala de um outro em forma dissimulada dentro de um mesmo enunciado sem marcas formais que separem as duas vozes. O confronto é explicitado mediante o uso do monólogo citado (marcado por aspas ou orações separadas). Assim, por exemplo, diz o médico, fazendo referência a Nina: Diziam-na perigosa, fascinante, cheia de fantasia e de autoridade – e eu, que já vira nosso estreito círculo ferver e aquietar-se em torno de tantas personalidades diferentes, indagava de mim mesmo o que caracterizaria aquela, para que durasse tanto ao sabor do vaivém geral das conversas. 93 Júlio Castañon Guimarães aponta que esses trechos “foram efetivamente introduzidos nas sucessivas reformulações dos originais – no caso, o procedimento narrativo coincide com um procedimento de elaboração. Nesses trechos encontram-se bons exemplos de acréscimos feitos nos manuscritos e operacionalizados ficcionalmente” (GUIMARÃES, 1996, p. 654). Cabe perguntar-nos, em função do observado acima, se essa operacionalização foi eficaz, não redundando em prejuízo para a obra. 154 “Talvez apenas porque seja uma mulher de fora, e uma bela mulher” – pensava (CCA, p. 72). Relacionada ao segundo paradigma citado acima temos a estilização. Bakhtin (1990, pp. 96-97, 99) assinala basicamente três tipos de estilizações do discurso de outrem na língua literária oral e escrita (que correspondem às três formas básicas de estratificação da mesma): de gêneros (extraliterários ou literários), de jargões profissionais e de dialetos sociais. No que concerne à questão dos gêneros, especificamente, observa Bakhtin: Os gêneros introduzidos no romance conservam habitualmente a sua elasticidade estrutural, a sua autonomia e a sua originalidade lingüística e estilística. [...] Todos esses gêneros que entram no romance introduzem nele as suas linguagens e, portanto, estratificam a sua unidade lingüística e aprofundam de um modo novo o seu plurilingüismo [...] O problema se complica bastante com a introdução dos gêneros essenciais para o romance (confissão, diário, etc.). Eles também introduzem suas linguagens no romance, mas essas linguagens são importantes principalmente como pontos de vista produtivo-objetais, privados de convencionalidade literária, que ampliam o horizonte lingüístico e literário, que ajudam a conquistar novos mundos de concepções verbais para a literatura, mundos já sondados e parcialmente conquistados em outras esferas (extraliterárias) da vida lingüística (BAKHTIN, 1990, pp. 124-126). Ao não comportarem, na verdade, diferentes linguagens, as diversas formas que encontramos em Crônica da casa assassinada (diários, confissões, depoimentos etc.) não contribuem para aprofundar o plurilingüismo do romance cardosiano. De fato, nenhuma delas carece de “convencionalidade literária” em virtude, justamente, da uniformidade estilística referida acima. Nem sequer encontramos uma transposição dessas formas enquanto tais, independentemente da linguagem utilizada. Nas cartas, por exemplo, não consta (em forma explícita) a maioria das partes integrantes da forma epistolar (geralmente, são considerados o lugar, a data, o destinatário, a assinatura, o segredo, valor biográfico e estético e o conteúdo propriamente dito94). Por outro lado, o funcionalismo, isto é, “a declaração de princípios, seu manifesto voluntarista, a assunção, por parte do escritor, do compromisso de usar suas páginas para obter algum resultado específico”, a constância “entre suas anotações [do autor] [do] porquê, para quê, com que esperança (louca ou mesquinha, tímida ou temerária) resolve94 Cf. Rocha, André. A epistolografia em Portugal (1985). 155 se escrevê-lo [o diário]”, que Alan Pauls (1996, p. 5, tradução nossa95) considera inexorável do diário íntimo, aparece em muitos capítulos da Crônica, a despeito do título (e da classificação genológica) que o identifica. Assim, por exemplo, encontramos justificativas do relato na “Segunda Narrativa do Médico” (CCA, p. 166), no “Diário de André (II)” (CCA, p. 225), na “Continuação da carta de Nina ao Coronel” (CCA, p. 237), na “Terceira narrativa do médico” (CCA, p. 283), na “Terceira Confissão de Ana” (CCA, p. 313), no “Depoimento do Coronel” (CCA, p. 412). Essa unidade de estilo faz com que muitas vezes algumas colocações das personagens possam soar redundantes, ilógicas ou incoerentes: Betty, a governanta da Chácara dos Meneses, em seu diário, dá uma explicação (bastante geral e, por conseguinte, evidente) da arquitetura da casa na qual morou durante décadas, “para que mais tarde, se houver necessidade, possa me lembrar de tudo” (CCA, p. 160); a seguir, ainda na mesma parte do mesmo diário, interrompendo um diálogo com Nina que constituíra o centro do seu relato, anota um comentário sobre a atmosfera absolutamente supérfluo. Na verdade, ele ali aparece apenas porque faz parte do estilo do romance (de fato, todos os capítulos contêm observações do mesmo tipo), que – como vimos na segunda seção deste capítulo – nada mais é do que o estilo de Lúcio Cardoso, que conserva a linguagem enobrecida da tradição literária romântica e realista: Em torno de nós, docemente, a sombra ia-se acumulando. Lá fora, na tarde que começava, os pássaros tombavam como folhas perdidas. Uma andorinha tonta, o peito branco arfando, pousou um minuto na grade de ferro da janela. E um cheiro bom de romãzeira em flor errou na atmosfera (CCA, p. 165). O caráter eminentemente plástico da prosa cardosiana – também relacionado ao barroco – é freqüentemente ressaltado por sua crítica96, parecendo refletir, no plano estético, “a constante sede de paisagens” (CARDOSO, 1970, p. 130) a que o próprio autor alude em seu Diário. “A ‘projeção visual’ se realiza na riqueza de imagens” (CARELLI, 1996c, p. 724). 95 O fragmento do original completo donde extraímos as citações é o seguinte: “Y sin embargo, ¿qué diario no incluye su declaración de principios, su manifiesto voluntarista, la asunción, por parte del escritor, del compromiso de usar sus páginas para obtener algún resultado específico? Es una instancia típica, casi obligatoria, que el género no parece compartir con muchos otros: imposible escribir un diario íntimo sin hacer constar entre sus anotaciones por qué, para qué, con qué esperanza (loca o mezquina, tímida o temeraria) se decide escribirlo. Funcionalismo inexorable del diario íntimo” (Pauls, 1996, p. 5). 96 Sobre o uso das cores na escrita cardosiana, é interessante o trabalho de Andréa Vilela, “A liturgia das cores de uma obra profana”. 156 Quanto aos dialetos (ou línguas) sociais e/ou profissionais, independente da posição ou origem social do detentor momentâneo do foco narrativo (trate-se de uma empregada doméstica, um farmacêutico, um médico, um coronel, um fazendeiro, um adolescente, uma mulher simples do interior, uma mulher da cidade, um travesti etc.) – como já foi dito –, todos usam a mesma linguagem, o mesmo estilo, nunca esquecendo dar detalhes do ambiente (similares à citada acima; ver também p. 150) – à guisa de preâmbulo para as cenas que irão relatar – e sem esquecer as impressões pessoais, extremamente aguçadas e pertinentes. Vejamos, por exemplo, como todos observam os mínimos gestos de seus interlocutores, procurando desvendar os seus mistérios e intenções ocultas97: Vejo Donana de Lara que recua com uma expressão de escândalo, e tia Ana que me olha com evidente repulsa. Duas mãos pálidas, torneadas no silêncio e na avareza, escorregam sobre o lençol, compondo-o – imagino que pertençam a tio Demétrio (CCA, André, p. 11). – Boa noite – respondeu-me o Sr. Demétrio, e ficou diante de mim, parado, esperando sem dúvida que eu iniciasse a conversa. Não sei que esquisita maldade se apoderou naquele instante do meu coração – ah, aqueles Meneses! – e por puro capricho continuei em silêncio, o dicionário aberto entre as mãos e contemplando sem pestanejar a face que se achava diante de mim. [...] O que mais impressionava nele, repito, era o aspecto doentio, próprio dos seres que vivem à sombra, segregados do mundo. Talvez essa impressão viesse exclusivamente de sua tez macerada, mas a verdade é que se adivinhava imediatamente a criatura de paragens estranhas, o pássaro noturno, que o sol ofusca e revela (CCA, o farmacêutico, p. 46). Esta forma de introduzir o discurso de outrem no romance corresponde ao que Bakhtin (1981, p. 173) denomina discurso da personagem representada e que Irene Machado sintetiza da seguinte forma: O discurso do personagem é elaborado [...] como objeto da intenção do autor, nunca do ponto de vista de sua própria orientação objetiva. Este tipo de discurso não esconde sua feição monologal, pois tenta uniformizar o tom do discurso do outro. Assim, tanto o diálogo como o monólogo ou solilóquio do personagem são construídos dentro de um estilo pictórico (MACHADO, 1995, p. 137). O estilo pictórico é perfeitamente ilustrado pela seguinte citação de Crônica da casa assassinada, bem como por todas as incluídas nesta seção. 97 Nos seguintes dois grupos de citações, indicaremos, antes do número de página, o nome do personagem à que correspondem as falas para melhor ilustrar os fenômenos analisados. 157 Não podia deixar de vê-lo sem certa admiração: ali estava, gordo, o peito estofado, as lantejoulas rebrilhando na escuridão. As lantejoulas, seu próprio símbolo: luxuosas e inúteis. Que poder o havia arrastado até aquela posição, de que elementos contraditórios e sarcásticos compusera sua personalidade, para que também explodisse, inesperado e forte, com todas as heranças e ressaibos dos Meneses? Ah, que aquele estranho ser sem sexo era bem um Meneses – e quem sabe um dia, como ele anunciava, eu não veria em sua forma rústica e profunda cintilar o próprio espírito da família, esse eterno vento que deveria ter soprado também sobre o destino de Maria Sinhá? (CCA, Betty, p. 56). Quando este estilo é utilizado, “O discurso direto que representa o pensamento é apenas uma articulação citada pelo contexto narrativo. [...] Trata-se de um modo de transmissão em que o discurso do outro se submete ao traçado pictórico da enunciação do autor. Mas tal estilização não elimina o caráter oral do discurso” (MACHADO, 1995, p. 115). Por outro lado, a visão estereoscópica aplica-se à caracterização das personagens. É Betty, e não o narrador, quem observa Timóteo: “Diante de mim, ofegante, ele devia ter seguido a curva de meu pensamento” (CCA, Betty, p. 59). Chamado a atender Valdo, após sua tentativa de suicídio, o médico observa minuciosamente o ambiente da Chácara dos Meneses para, mais tarde, com a maior precisão, anotar as suas impressões em sua primeira narrativa: A singularidade do ambiente foi a primeira coisa que me chamou a atenção – a segunda, é que o ferido me pareceu mais gravemente atingido do que haviam me informado. A única pessoa que se achava a seu lado era o Sr. Demétrio, e talvez para afetar displicência, e assim incutir-me uma confiança que eu não tinha, sentara-se numa cadeira baixa, cruzara as pernas e fingia que lia um jornal. Reparei desde o início que ele se achava extremamente irritado – era este sentimento de irritação, aliás, o que primeiro sobressaía em sua atitude, que normalmente devia ser de zelo e de preocupação (CCA, o médico, pp. 72-73). Note-se, como Nina, em carta ao Coronel também salienta a importância do ambiente no casarão dos Meneses para a compreensão dos fatos e do caráter das personagens (no caso, Timóteo): Mas para delinear sua personalidade, seria preciso recorrer menos ao desenho de suas ações ou de seus sentimentos, do que à atmosfera que o cercava – densa, carregada de eletricidade, instável como a que flutua no 158 fundo de certos bares fumarentos. Ações ou sentimentos, caso o retratassem, seriam como esteios daquele nevoento mundo em que habitava. Luxuoso, profundo, ele navegava na sua habitação como um peixe no reduto marítimo de seu aquário. Suas frases poderiam ser entrecortadas, desconexas para quem o ouvia apenas; mas para quem o pressentia, havia coerência entre seus ditos e o fundo causticado do seu pensamento (CCA, Nina, p. 236). Por último, vejamos como Valdo justifica o comportamento de sua esposa, apoiandose em fundamentos que perfeitamente poderiam ser os do próprio Lúcio Cardoso: “Nina não é culpada, eu sei, talvez não seja consciente dos atos que pratica, mas o mal está irremediavelmente argamassado à sua natureza, e tudo o que vem dela respira um insuportável ar de decomposição” (CCA, Valdo, p. 268). É que, prolixos e demonstrando um especial gosto pelas minúcias nos seus relatos, todas as personagens são por igual perspicazes e preocupadas pelas mesmas questões (as centrais são as concernentes ao embate entre o bem e o mal – ou Deus e o Diabo –, ao pecado, à verdade, à morte – e à ressurreição –, à liberdade e ao destino). Verifica-se, portanto, também uma uniformidade ideológica, que não faz mais do que refletir e confirmar a uniformidade lingüística que vimos mostrando até aqui. Comparemos, por exemplo, as seguintes considerações filosóficas, existenciais, éticas, estéticas e, inclusive, literárias que podemos identificar com as próprias do autor, e que nos romances anteriores são mormente introduzidas diretamente pelo narrador. Observemos, por exemplo, o gosto pela metáfora in praesentia na seguinte declaração de Timóteo: Ah, Betty, não veja em mim, nas minhas roupas, senão uma alegoria: quero erguer para os outros uma imagem da coragem que não tive. Passeio-me tal como quero, ataviado e livre, mas ai de mim, é dentro de uma jaula que o faço. É esta a única liberdade que possuímos integral: a de sermos monstros para nós mesmos (CCA, Timóteo, p. 57). Também o farmacêutico se permite usar uma linguagem poética que em nada está relacionada com a personalidade da personagem: Ah, que sabemos nós do coração humano – no fundo, nesse insondável lugar onde se representa a última cena de uma comédia sem espectadores, talvez estivesse apenas reagindo contra a sanha dos Meneses, sua opressiva e constante tirania (CCA, o farmacêutico, p. 117). 159 É interessante notar neste ponto que, a despeito do que aponta Jean Rousset em Narcisse romancier (1972, p. 76), no sentido de que o tipo de intrusão moralizante ou filosofante típica do narrador tradicional e onisciente, só seria cabível em obras escritas em terceira pessoa, em Crônica da casa assassinada, essas digressões são proferidas pelos próprios personagens, mas exatamente no mesmo tom e com a mesma assiduidade com que aparecem em A luz no subsolo, Dias perdidos ou O viajante98. Vejamos mais dois exemplos: Vejo agora o quanto me enganei, e hesito, e tremo ainda, tropeçando nas expressões como uma colegial que lutasse com a dificuldade de um tema. É que não se trata de um fato positivo, de uma revelação palpável que eu possa apresentar como prova – digamos assim – definitiva de tudo o que afirmo. Porque a verdade é que nem mesmo tenho a pretensão de afirmar o que quer que seja, e ao longo das linhas que se acumulam diante de mim apenas deixo transbordar a minha alma e tudo o que nela vai de tremenda confusão. Esta é que é a verdade, Padre, a única que realmente posso evidenciar nesta carta – e no entanto, para atirar-me a esta confissão, foi necessário uma certeza que ainda hoje me faz tremer, uma consciência aguda e martirizada que vale mais do que todos os atestados juntos. Que é a verdade? (CCA, Ana, p. 119). (Ah, esta imagem de gangrena, quantas vezes teria de voltar a ela – não agora, mais tarde – a fim de explicar o que eu sentia e o drama que se desenrolava em torno de mim. Gangrena, carne desfeita, arroxeada e sem serventia, por onde o sangue já não circula, e a força se esvai, delatando a pobreza do tecido e essa eloqüente miséria da carne humana. Veias em fúria, escravizadas à alucinação de um outro ser oculto e monstruoso que habita a composição final de nossa trama, famélico e desregrado, erguendo ao longo do terreno vencido os esteios escarlates de sua vitória mortal e purulenta) (CCA, o médico, p. 178). Observemos nesta última citação como a metáfora da gangrena que o médico diz ter usado de forma recorrente, é explicada. Este é um procedimento que já assinalamos como sendo de Lúcio Cardoso. Angustiado pelo ainda não confessado desejo que sente por sua mãe, o adolescente André anota em seu diário: De qualquer modo, a vida pareceu-me tocada de um sentido mais denso e mais obscuro: o rapaz que ali se compunha, assumia seu novo aspecto com 98 Em casos como os que citamos aqui, confirmamos concretamente na obra literária as seguintes considerações de Oscar Tacca: “Quando esse ‘écart’, quando essa separação ou distância [entre personagem e narrador] é demasiado grande e apreensível, surge, irremediavelmente, a certeza de uma intrusão de autor, ainda que subreptícia: o discurso, excessivamente casual, pertence falsamente ao personagem: entrevemos o autor dandolhe corda para que diga o que ele quer que ele diga” (TACCA, 1983, p. 86). 160 uma consciência que era inédita na figuração de seu caráter. Não havia nisto vaidade, mas a certeza de que devia afrontar os obstáculos que me aguardavam, de peito descoberto – como um homem, experimentando seu duro ofício de viver e de continuar através das pequenas mortes sucedidas ao embate dos fatos (CCA, André, p. 261). Ana, mulher simples e anulada, resolve sua dúvida existencial utilizando a figura do duplo: Não sei dizer por que sou assim [...]. O que sobra, afinal, é este ser no fundo do espelho: move-se de um lado para outro, pisca, sorri, mas está morto há muito, e o que está morto não ressuscita mais nem do lodo e nem da infecundidade (CCA, Ana, p. 315). Também demonstra ter consciência de sua servidão existencial, embora essa consciência não venha a sugerir em nenhum momento, para a personagem, a possibilidade de uma mudança: Ah, ela estava com a razão, não havia dúvida – e de que modo humilhante para mim! Ali, com o revólver ainda nas mãos, só poderia reconhecer que me vencera – a mim, a todos nós, escravos de um hábito, de uma verdade, de um ensinamento que não ousamos destruir e nem ultrapassar (CCA, Ana, p. 349). Valdo descobre no fundo de si um terror ancestral do sobrenatural ou sublime: (Naquele momento, confesso, solapado totalmente o pequeno fiapo de esperança em que me apoiara, tive medo – não um simples medo do que pudesse acontecer nem do que viesse a presenciar, mas um medo imperioso e agudo, que subia de escuras regiões onde havia se instalado o primeiro terror do homem (CCA, Valdo, p. 480). Além disso, é interessante notar – como já foi antecipado neste capítulo – como encontramos nas falas de todas as personagens reflexões com pretensão de universalidade semelhantes às que profere o narrador onisciente dos outros romances de Lúcio Cardoso de que nos ocupamos em nossa tese. Assim: “A verdade é uma ciência solitária” (CCA, Timóteo, p. 59). Ah, Betty, a alma é uma coisa forte, uma força que não se vê, indestrutível. Se uma minúscula parcela de pecado – um nada, um sonho, um desejo mau – pode destrui-la, que não fará uma dose maciça de veneno, uma culpa 161 instilada gota a gota no coração que se quer destruir? (CCA, Timóteo, p. 139). Que são os fatos de que nos lembramos, senão a consciência de uma fugitiva luz pairando oculta sobre a verdade das coisas? (CCA, André, p. 215). Isto é possível porque, neste romance, a partir da relação de extraposição entre autor e personagens, opera-se, exclusivamente, uma apropriação destes últimos pelo autor99. Vejamos mais dois exemplos deste fenômeno narrativo: (O mistério dos homens: mesmo o mais forte, o mais equilibrado – mesmo um Meneses – tornava-se pueril ante o ímpeto de um inimigo embuçado no desconhecido.) (CCA, o médico, p. 445). (Aqui paro um momento, e é evocando a sua própria visão que indago: que é a beleza? A beleza é uma destinação de nossos fluidos íntimos, um êxtase secreto, um afinamento entre o mundo interior e a existência cá fora. Um dom de harmonia, se assim posso me exprimir. [...]) (CCA, Timóteo, p. 528). Em função dessa unidade de estilo, se conseguimos identificar a profissão ou ocupação das personagens é somente porque, às vezes, elas realizam alusões às suas atividades ou explicam fenômenos utilizando um vocabulário mais específico, um discurso informativo, mas isso não altera o estilo geral da narrativa, inclusive a linguagem utilizada. Assim, informa o médico: O que expliquei a ele foram essas coisas banais, que todos nós sabemos, isto é, que o câncer é uma doença de origem desconhecida e que, apesar da certeza com que se pode estabelecer seu diagnóstico, ainda não possui no entanto uma terapêutica que se possa considerar absolutamente eficiente. (Passado tanto tempo, ao rever essas declarações abandonadas no fundo da gaveta, repito – não existia naquela época como não existe ainda. A única diferença é que aumentou hoje o terreno das probabilidades, e o processo cirúrgico evoluiu; atualmente ninguém mais dá o aparecimento do câncer como sinal de inflexível condenação, tal como sucedia naquela época. Hoje, já surgem casos que se podem considerar como fáceis, curas mais do que prováveis, mas a verdade é que então qualquer prognóstico era circunscrito ao terreno da aventura. Quase sempre se via o aproximar da morte sem que se pudesse fazer alguma coisa; o médico, simplesmente, deixava o doente 99 Como aponta Irene A. Machado, existem também outras possibilidades de relação entre autor e personagens. Sintetiza a crítica: “Para Bakhtin, a relação de extraposição é o campo fértil da manifestação dialógica. [...] Pode ocorrer a fusão dos dois campos de visão, seja pela apropriação do autor pelo personagem, seja pela apropriação do personagem pelo autor, ou ainda quando o personagem é seu próprio autor” (MACHADO, 1995, p. 92, grifos da autora). 162 entregue à vontade de Deus.) Esclareci ainda que se tratava de um mal insidioso: podia desaparecer momentaneamente, mas para reaparecer mais longe, ativo e triunfante (CCA, pp. 446-447). Também o farmacêutico alude às suas atividades: Haviam-me assegurado que certas folhas medicinais (o quebra-pedra, por exemplo) só podem ser reduzidas a pó depois de secas ao sol, e que perderiam muito de seu poder se trabalhadas ao calor do forno. Ora, eu tentava naquela época uma série de combinações com plantas conhecidas e descobria algumas infusões que estavam dando bons resultados em determinados males. Assim, aproveitando o dia que fora de calor intenso, dispusera sobre uma folha de zinco exposta à soalheira, ramos de uma erva fibrosa que me parecia benéfica aos reumáticos (CCA, p. 504). O mesmo se verifica nas intervenções de Padre Justino e de Betty. Essas alusões não bastam para configurar estilizações de jargões profissionais, pois, reiteramos, todos os personagens falam da mesma forma, utilizando uma linguagem padrão culta a que não falta um alto grau do que Bakhtin (1990, p. 126) chama de “convencionalidade literária”. E, dentro dessa convenção, nenhum deles parece encontrar maiores dificuldades para exprimir a complexidade de suas impressões e pensamentos. Denotam, sim, uma preocupação por parte do autor em relação ao realismo – ou verossimilhança – da sua narrativa, o que, mais uma vez, remete-nos à tradição da literatura realista. Já os diálogos puros, isto é – lembrando –, a terceira categoria de procedimentos de criação do modelo da linguagem no romance a que se refere Bakhtin, são fartamente utilizados em Crônica da casa assassinada. Todas as personagens reproduzem nos seus relatos os diálogos dos quais participaram – ou presenciaram – com uma surpreendente riqueza de detalhes. No entanto, como adverte Bakhtin (1990, p. 124), o diálogo dramático não resulta tão rico em possibilidades dialógicas quanto o diálogo romanesco específico. Isto porque, como lembra Julia Kristeva (2005, p. 70, grifos da autora), Para Bakhtin, a divisão diálogo-monólogo tem uma significação que ultrapassa largamente o sentido concreto, utilizado pelos formalistas. Não corresponde à distinção direto-indireto (monólogo-diálogo) numa narrativa ou numa peça. Em Bakhtin, o diálogo pode ser monológico, e o que chamamos monólogo é freqüentemente dialógico. 163 De outro lado, em Problemas da poética de Dostoievski, aprofundando o seu estudo, Bakhtin (1981, p. 173) propõe uma lista das variedades (e tipos) que pode assumir o discurso bivocal, concebendo como tipo ativo a polêmica interna velada, a réplica do diálogo e o diálogo velado, entre outros. Em Crônica da casa assassinada, no nível do discurso das personagens, não podemos dizer que exista nada velado: Tudo é explicitado: as suspeitas, os diálogos, os destinatários das réplicas, as (auto) justificações etc. Como observa oportunamente Massaud Moisés: O romancista detecta, como se observa, os implícitos de cada frase ou gesto: nada lhe escapa à percuciente retina, tudo está à vista, à superfície. Dir-se-ia que a profundidade é, no caso, uma categoria abstrata; ou, ao invés, aderida à periferia dos seres e acontecimentos. Assim entendida, a ficção de Lúcio Cardoso se definiria por um intimismo onde nada se substrai ao olhar do narrador e, portanto, do leitor, como se o inconsciente dos figurantes em cena (e por que não do autor?) se atualizasse permanentemente na consciência: fornecidas pelo narrador as chaves dos enigmas, as personagens põem à mostra o seu universo de sombras. Finalmente, é possível admitir que inexistem subentendidos, ou regiões inacessíveis à sonda analítica do narrador/autor: parodiando Fernando Pessoa, para quem tudo é oculto, aqui nada é oculto (MOISÉS, 1989, pp. 297-298). Vejamos, por exemplo, como Valdo deixa em evidência, através de um comentário entre parênteses, a hipocrisia de Demétrio ao receber o Barão por ocasião do velório de Nina: – Que desgraça, Senhor Barão! (Que desgraça: e ele a mandara enrolar num lençol com o corpo ainda quente, apenas para precipitar a chegada do Barão! Tremi de indignação, imaginando aquela hipocrisia toda...) (CCA, p. 539). Não podemos deixar de sentir esse comentário como desnecessário. Logo a seguir, ainda comentando a mesma cena, Valdo revelará o conteúdo do embornal que o Barão trazia em seu braço – gulodices –, desvendando (e condenando explicitamente) os modos grosseiros do nobre – e, sobretudo, sua gula. Dessa forma, Crônica da cassa assassinada assemelha-se a um grande diálogo dramático, correspondendo, cada capítulo, a uma réplica do mesmo. Esse diálogo parece pretender dar conta de todas as lacunas de significado abertas pelas réplicas anteriores. Assim, 164 por exemplo, se no capítulo “Diário de André (V – continuação)”, nas pp. 309-310, André anota que teve a impressão de que ele e Nina talvez estivessem sendo espreitados – por um movimento da folhagem –, no capítulo “Continuação da Terceira Confissão de Ana”, esta personagem dá todos os detalhes de suas perseguições aos amantes. Só tem uma incógnita que não é resolvida porque é inacessível: o Mistério, materializado no romance pela personagem Nina, imprevisível (e inapreensível) como a própria vida e que, por isso – apesar do enorme fascínio e atenção que suscita em todos, sem exceção, ninguém chega a conhecer (ou abranger) na totalidade. De fato, consideramos ser esse o tema central que norteia, não apenas a narrativa de Crônica da casa assassinada, como também toda a obra de Lúcio Cardoso. Cabe notar que, para efeitos de manter esse mistério, em Crônica da casa assassinada, a palavra só é concedida diretamente à personagem Nina em cartas – todas elas, aliás, com reticências – em que fica manifesto que, no momento da escrita, ela sempre leva em consideração o seu interlocutor – antecipando-se muitas vezes a suas reações e réplicas virtuais –, mesmo quando afirma que não vai enviar a carta, como no capítulo “Continuação da carta de Nina ao Coronel”. Por exemplo, em carta ao marido, diz expressamente: Adivinho a ruga cavada em sua testa, o ar desconfiado que sempre toma nessas ocasiões, e as falsas acusações que vai armazenando em seu espírito. Prevejo suas suposições e suas suspeitas em relação à vida que levo, e à minha situação atual. Não, Valdo, não pense que estou recorrendo a você para satisfazer caprichos e luxos que considera inteiramente desnecessários (CCA, pp. 33-34). A despeito dessa pretensão, esse grande diálogo (ou polêmica aberta) apresenta várias falhas e fissuras que fazem tremer a verossimilhança do romance. Falamos em verossimilhança porque acreditamos, como já observamos, e junto com Massaud Moisés, que o autor mineiro tinha a intenção de construir narrativas realistas. Diz o crítico: Com esse instrumento, Lúcio Cardoso transforma em verossímil o absurdo, o anômalo, o imprevisto; tem o condão de nos fazer aceitar o inusitado como natural, necessário ou espontâneo. Ou, ao contrário, torna reais ou plausíveis os acasos do cotidiano, as surpresas do dia-a-dia. Desse ângulo, sua introspecção seria realista, e a literatura da segunda fase uma espécie de realismo transcendental, precursor do realismo mágico pelas aderências surrealistas. E o autor se identificaria como um realista, apenas substituindo os temas e o tom de Maleita e Salgueiro, e pondo o abstrato, o onírico, o demencial, onde havia o social: não pouco de sua força provém justamente 165 do apego à realidade, ainda quando, ou sobretudo, assinalada pelo mais espesso mistério (MOISÉS, 1989, p. 304). Nessa ânsia de realismo, porém, o autor acaba caindo em excessos. É tamanha a preocupação por completar os vazios de significados que ficaram pendentes em capítulos anteriores que não resulta difícil surpreender incongruências. Por exemplo, em carta a Nina, Valdo conta a sua esposa uma cena de forma pormenorizada. Essa preocupação do autor da carta se revela desnecessária, pois a destinatária se encontrava presente na mesma. Assim: Lembro-me que você examinou a arma com cuidado e, repentinamente, como se do lado de fora alguma coisa lhe chamasse a atenção, precipitou-se para a janela, debruçando-se sobre a escuridão. Nada se distinguia lá fora senão a copa das árvores que o vento agitava. Indaguei o que havia acontecido e você, sem se voltar, respondeu: – Não sei, pareceu-me ter visto alguém ali. Procurei convencê-la de que havia sido apenas uma sombra, um galho de árvore talvez, mas você continuou afirmando que não era a projeção de nenhum galho, mas um ser vivo, autêntico, que deslizara sob a ramada. Quando abandonou a janela existia uma impressão nova em seu rosto. Calma, ainda rodou o revólver entre as mãos e, de súbito, como movida por uma inspiração – que idéia lhe ocorreu, Nina, por que seus olhos brilharam daquele modo? – você o atirou pela janela dizendo: – Que desapareça, que apodreça no jardim esta arma infernal (CCA, p. 146). Na verdade, o que o autor pretende ao introduzir esse relato é inteirar o leitor das impressões de Valdo sobre o incidente, a fim de despertar nele a suspeita da teoria sustentada por Ana de que Nina poderia ter visto Alberto naquele momento e atirado o revólver de propósito. Essas incongruências podem resultar da contradição entre as intenções inovadoras de Lúcio Cardoso ao estruturar o seu romance como um conjunto de narrativas independentes que exprimiriam visões diferentes – e não necessariamente coesas – sobre os mesmos fatos e a irrefreada tendência do autor ao realismo e às convenções do romance tradicional (sobretudo no que diz respeito ao fechamento da narrativa). Como observa oportunamente Oscar Tacca: [...] enquanto as memórias contam, forçosamente, no pretérito, o diário e as cartas fazem-no no presente, ou num pretérito imediato, mas, em ambos os casos, a partir de um presente vivido para um futuro desconhecido, isto é, aberto a todas as possibilidades. [...] Mas, como se trata de epistolários e de diários íntimos fictícios, nos quais o narrador escreve a história partindo da sua consumação total, nem sempre se respeitaram as imposições que o caso exige, surgindo incoerências entre aquilo que é narrado e a narração (TACCA, 1983, pp. 114-115). 166 Vejamos outros momentos no romance em que a coesão e a lógica que o autor parece (per)seguir durante toda a organização do romance se perdem. No “Diário de André (VII)”, há uma confusão temporal. A personagem começa escrevendo o diário imediatamente depois da partida de sua mãe para a cidade, para depois relatar um de seus primeiros encontros com Nina. Ao chegar a determinado ponto de sua narrativa, comenta: De repente, e com uma simples pancada, ela me fizera ver a minha dignidade, e do menino que encontrara sentado naquela clareira, fizera de repente um homem um tanto surpreendido ainda, mas já pronto a trilhar o seu caminho. Muitos anos mais tarde, ao lembrar-me desse gesto, sentiria na carne um gosto fremente e voluptuoso – e não raras outras, sem conter a sensualidade atuante no meu ser, era sob a forma brusca e crispada de uma vergastada que ela surgiria, como se um eco longínquo, vindo da infância, repetisse o gosto acre de sua extraordinária descoberta (CCA, p. 400). Se compararmos o início desse mesmo capítulo com o trecho transcrito acima, não poderemos definir qual é o tempo da narração. Mas a maior incongruência talvez seja a existência do capítulo intitulado “Do livro de memórias de Timóteo (II)”. Como Timóteo haveria de narrar o acontecido durante o velório de Nina depois de ter sofrido um derrame cerebral (CCA, p. 555) que – ficamos sabendo no final do romance – causou a sua morte? Por tudo o exposto, concluímos que a bivocalidade que prevalece no discurso cardosiano restringe-se à refração das intenções do autor no discurso das personagens. E, em consonância com o grande conflito que obseda Lúcio, um discurso age como pano de fundo e é apenas em função dele que poderíamos afirmar que existe em Crônica da casa assassinada uma polêmica velada: o discurso religioso, mais especificamente, católico. Essa polêmica, entretanto, é importante o suficiente para possibilitar a estrutura sinfônica do romance e determinar o seu estilo. Há inserido na própria obra um símbolo dessa polêmica: a substituição do retrato de Maria Sinhá, na sala da Chácara dos Meneses, pelo quadro da Ceia de Cristo (CCA, p. 33). Como a “mancha larga” que evidencia a substituição do quadro antigo – denunciando, ao mesmo tempo, sempre, o autoritário gesto que determinara a sua ausência, o discurso católico se imiscui sem cessar (revelando a sua presença) pelas frestas das reflexões e questionamentos de todas as personagens, atormentadas pela culpa advinda da consciência do pecado. 167 1.4.2 A visão estereocópica de Crônica da casa assassinada Mário Carelli, após caracterizar Crônica da casa assassinada como um romance polifônico, aponta uma estrutura narrativa em que os diversos personagens entrariam num jogo de heterônimos orquestrados pela Voz do autor. Todos participam de um mesmo pesadelo acordado, nenhum protagonista-narrador possui a verdade. Só a conjunção das diversas visões parcelares e por vezes contraditórias permite a percepção globalizante de uma realidade complexa e ambígua (CARELLI, 1996c, p. 724). O romance é, com efeito, estruturado na forma de um calidoscópio e a imagem que vemos no centro do mesmo – imagem sempre deformada conforme o olhar de cada personagem – é a de Nina, símbolo do grande mistério que envolve a existência humana, o próprio mistério da vida (ou de Deus, na visão religiosa de Lúcio Cardoso). Em torno dessa personagem central – da sua vida, do seu caráter e das suas ações, que constituem a preocupação central de todas as outras personagens – debate-se constantemente acerca do bem e do mal – e dos seus difusos limites –, do pecado, da existência ou ausência de um Deus etc. Assim, de acordo com o foco narrativo, iremos formando diversas combinações, somando peças a um quebra-cabeça sobre Nina, que não se completará no final do romance. Enquanto algumas personagens irão apresentar quadros nefastos da personagem, outros guardarão verdadeira devoção em relação a ela; todas, porém, demonstrarão o mesmo desmesurado fascínio (ora qualificado como diabólico, ora como sagrado) por ela. Isso dependerá do grau de adesão das mesmas às convenções sociais e religiosas, em suma, à tradição (que representam, no romance, o símbolo da morte, opondo-se, com isso, a tudo o que representa Nina: a espontaneidade, a liberdade, a criatividade etc.). Em decorrência disso, resulta fácil determinar os dois bandos, de adesão e de repulsa (mas sempre, de vigorosas paixão e atração) em relação a Nina. O primeiro grupo estaria constituído por André, Timóteo, Betty e o Coronel. O segundo, por Valdo, Demétrio e Ana. Valdo parece oscilar mais em sua posição devido ao seu caráter maleável, mas, de fato, só no final do romance consegue libertar-se da influência dominante do irmão (e de tudo o que ele representa). Em terceiro lugar, temos ainda um grupo mais neutro (ou imparcial) por não estarem, seus membros, diretamente envolvidos nos dramas vivenciados na Chácara dos Meneses, embora 168 demonstrem o mesmo interesse e fascínio por Nina: são eles o farmacêutico, o médico e Padre Justino. Vejamos, como exemplo do referido, a descrição que de Nina nos fornece um membro de cada grupo, André, Ana e do médico sucessivamente: Nenhum outro ser parecia mais imune e mais afastado da destruição. [...] Nenhum outro ser existira mais intensamente preso à mecânica da vida, e seu riso, como sua fala, como sua presença inteira, era um milagre que acreditávamos destinado a subsistir a todos os desastres (CCA, André, p. 8, 9). Mas a verdade é que eu não a perdia de vista, acompanhava-a como uma sombra, espreitava-a pelas frestas, através das portas entreabertas, junto ás vidraças descidas, de qualquer modo que pudesse vislumbrar sua silhueta estranha e magnética. Foi por esta época que ela se mudou para o Pavilhão [...] Naquele momento eu a invejei, por ficar livre de nós, da Chácara – oh, com que certeza ela sabia o que desejava! – e por ter liberdade, se quisesse, de levar uma vida completamente à parte, esquecida da existência dos Meneses. Mas, coisa curiosa, sozinha agora no prédio grande da Chácara, eu não tinha mais sossego, imaginando o que estaria fazendo minha cunhada, quais seriam seus propósitos e pensamentos. [...] Foi esta curiosidade que me revelou a presença tácita do demônio (CCA, Ana, pp. 125-126). Sua voz era tranqüila e um tanto imperiosa. [...] E inclinei-me, certo de que me achava diante da esposa do Sr. Valdo. Sua beleza, já lendária no povoado, não poderia me enganar e, mesmo prejudicada pela escuridão, era fácil constatar de que me achava simplesmente diante da mais bela mulher que já vira em minha vida. [...] Uma ou outra vez poderia eu ter notado certo tremor em sua voz, mas era fácil perceber que se tratava apenas de uma irritação contida ante fatos que provavelmente tinham vindo deter a marcha de um plano elaborado anteriormente com o maior cuidado. [...] Suspeitei que semelhante perturbação não tivesse uma causa normal, e cheguei a perceber em seus traços um intumescimento que denunciava a gravidez. Mesmo assim, como me pareceu bela, cem mil vezes mais bela do que antes, mais bela do que todas as mulheres que eu tinha visto até aquela data. [...] Não sei por quê, talvez já influenciado pela atmosfera inquieta que vira pesar sobre a Chácara, tive medo de que alguém surgisse e me visse tão estreitamente unido àquela mulher – não havia dúvida de que ela pouco ligava aos preconceitos. Mas na sua beleza – e eu de vez em quando examinava-a furtivamente – havia um signo qualquer de fatalidade (CCA, o médico, pp. 77, 78, 80, 81). Como é possível observar, todos os testemunhos revelam um bom grau de perturbação e/ou fascínio. Timóteo é quem parece conseguir sintetizar essas diferentes visões de maneira brilhante ao definir Nina como um “anjo exterminador” (CCA, p. 529). 169 Por trás desse jogo de espelhos, porém, temos duas grandes vozes que se contrapõem, mas que não tomam a palavra diretamente: a de Lúcio Cardoso e a da sociedade mineira, representada pelo personagem de Demétrio100. Como declara o próprio Lúcio Cardoso: Meu movimento de luta, aquilo que busco destruir e incendiar pela visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão é Minas Gerais. Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que levanto, com a aprovação ou não de quem quer que seja, é contra Minas Gerais. Que me entendam bem: contra a família mineira. Contra a literatura mineira. Contra a concepção de vida mineira. Contra a fabula mineira. Contra o espírito bancário que assola Minas Gerais. Enfim, contra Minas, na sua carne e no seu espírito (Apud. CARELLI, 1996b, p. 641)101. Quanto à refração das intenções do autor na voz das personagens, consideramos que muitas falas de Timóteo, do Padre Justino e da própria Nina refletem especialmente pensamentos e reflexões de Lúcio Cardoso. Por exemplo, é assim que Betty conta as impressões de Nina sobre o estado natal de Lúcio Cardoso: “Ah, Minas Gerais, bradava ela, essa gente calada e feia que viera observando no trem... Pelo jeito, eram tristes e avarentos, duas coisas que ela detestava”. Depois, ao se referir a Demétrio em carta a Valdo, a própria Nina relatará: Já tocava o trinco da porta, quando ouvi aquele brado estranho – Nina! – e era como se do fundo dele subisse de um jato a água estagnada e preta de sua paixão... Sem tê-lo visto ainda, adivinhava sua presença por trás de mim, e o galope do seu coração. Nem sequer me voltei, juro, mas no decorrer da noite, como se tivessem poder para varar as paredes, senti durante todo o tempo suas pupilas que me acompanhavam – e eram as pupilas de um louco, de um homem com sede e com fome, sem coragem para tocar no alimento que se achava diante dele. Minha mão esmorece, a pena tomba: é inútil descrever-lhe que tipo de demônio você tem em casa (CCA, p. 38). 100 A fala de Demétrio é apenas parcialmente reproduzida por outras personagens em alguns dos seus relatos, mas o leitor nunca toma conhecimento dos seus próprios pensamentos e reflexões. 101 Embora consideremos que em Crônica da casa assassinada se dá nitidamente esse confronto ideológico, é preciso frisar aqui a complexidade da relação de Lúcio Cardoso com a sua terra de origem. Com efeito, se, de um lado, temos um depoimento como o citado acima, no seu Diário encontramos também uma verdadeira declaração de amor a Minas Gerais: “ Não quero ser francês, nem internacional, nem europeu. Se tiver forças, se Deus me ajudar, desejaria apenas transmitir a tristeza peculiar e cheia de dolência que vi em tantos tipos diferentes da minha infância, que reencontrei mais tarde, que descubro em mim mesmo, e que é uma das qualidades da “alma” dessa gente enferma e escravizada que é a nossa. Essas coisas me constituem; se eu não tiver tempo de ir às terras de França, já acho muito, já considero uma graça de Deus, ter visto com bons olhos de amor, esses caminhos difíceis, sulcados pela lembrança de tantas jornadas trabalhosas que cortam as montanhas de Minas Gerais, e onde vive uma velha gente puritana, que se achega à beira da linha férrea, quando o trem passa, emergindo da bruma matinal com grandes latas de leite, e um olhar tranqüilo que, desde longe, acolhe o viajante como um secreto voto de boas-vindas” (CARDOSO, 1970, p. 141). 170 Em Littératures intimes, Sébastien Hubier (2003, p. 84, tradução nossa) aponta a possibilidade de ocorrência, no romance, “de uma personagem que aparece como um ‘eu seletivo’ do autor”, “um ‘ser imaginário composto com elementos vivos tomados de empréstimo à natureza e à experiência do autor” (V. RAOUL apud Hubier, 2003, p. 84). E há, no universo ficcional cardosiano algumas personagens que podem ser considerados alter egos do autor, pela sintonia com o universo de pensamento e de valores, as idéias e convicções do autor. No caso de Timóteo, por exemplo, Júlio Castañon Guimarães (1996, p. 647), em artigo sobre a produção do texto elaborado para a edição crítica de Crônica da casa assassinada, aponta o “estreito parentesco entre trechos do Diário de terror (deixado inédito pelo autor) e trechos de dois capítulos da Crônica intitulados “Do livro de memórias de Timóteo”. Essa observação é confirmada pelo coordenador, Mário Carelli, na p. 743 de Crônica da casa assassinada, Edição crítica (1996) em apresentação de fragmentos do referido Diário, estendendo as considerações de semelhanças concernentes a Timóteo às personagens Padre Justino e André. É este último (e não o autor) quem exprime no seu Diário: Um vácuo fez-se em mim, tão duro como se fosse de pedra. Senti-me sorvendo o ar, caminhando, existindo, como se a matéria que me constituísse houvesse repentinamente se oxidado. E nunca soubera com tanta certeza como naquele instante que, enquanto existisse, proclamaria de pé que o gênero humano é desgraçado, e que a única coisa que se concede a ele, em qualquer terreno que seja, é a porta fechada. O resto, ai de nós, é quimera, é delírio, é fraqueza. Tudo o que eu representava, como uma ilha cercada pelas encapeladas ondas daquele mar de morte, admitia que a raça era desgraçada, condenada para todo o sempre a uma clamorosa e opressiva solidão. A ponte não existe, jamais existiu: quem nos responde é um Juiz de fala oposta à nossa. E sendo assim, desgraçada também a potência que nos inventou, pois inventou também ao mesmo tempo a ânsia inútil, o furor do escravo, e a perpétua vigília por trás desse cárcere de que só escapamos pelo esforço da demência, do mistério ou da confusão (CCA, p. 463). No outro extremo (o de oposição) da grade de refração das intenções do autor, vejamos a fúria com que Demétrio fala no irmão Timóteo: “Quem pode lhe ter dito isto, exclamou, senão aquele insensato do meu irmão? Provavelmente o que ele planeja é enlamear nosso nome para sempre, mas eu não permitirei que se afaste desta casa enquanto estiver vivo. No fundo é um ateu, um revolucionário, um homem que não acredita em coisa alguma – melhor fora ter morrido do que tentar destruir o nome de Meneses pela sua vida dissoluta...” (CCA, p. 123). 171 Fica manifesto com essas duas citações o grau de enfrentamento e repulsa existente entre as duas grandes vozes (ou posturas existenciais e morais) que polemizam em Crônica da casa assassinada. 1.4.3 O autor implícito em Crônica da casa assassinada Crônica da casa assassinada é uma coletânea de escritos, recuperados por alguém e ordenados de acordo com um critério bem definido: os fragmentos seguem a seqüência cronológica da história que pretende ser narrada, de forma que cada fragmento vai preenchendo as lacunas de significação deixadas pelos fragmentos anteriores. Inclusive, para esses efeitos, uma mesma confissão, carta ou narração, ou um mesmo fragmento de diário pode ser dividido em partes ou continuações, interpondo-se entre essas partes outros escritos. Nos últimos capítulos, temos deslocamentos temporais maiores, pois é onde são desvendados os detalhes que sustentam os pontos cegos da intriga. No entanto, após a leitura do romance, não ficamos sabendo quem é o “organizador” (Cf. BRAYNER, 1996, p. 720) de todos esses fragmentos. Não aparece nenhum narrador explícito. Em vários relatos (alguns inclusive são chamados diretamente “depoimento”) encontramos índices de um interlocutor, mas nunca é explicitado de quem se trata, podendo ser considerado, então, apenas um leitor implícito. Por exemplo, na “Primeira narrativa do farmacêutico” (CCA, p. 43), esta personagem começa se apresentando e na “Segunda narrativa do médico” (CCA, p. 166), dá toda uma explicação de por que considera necessário lembrar os fatos a serem relatados. Para que/quem eles fazem isso? Também é do farmacêutico a seguinte declaração que exprime toda uma preocupação de clareza em prol de certa verdade procurada (por quem?): (Não sei por quê, mas talvez deva aqui, antes de começar a descrever em que consistiu sua conversa, reviver uma antiga lembrança pessoal, pois ela se une a tudo o que ouvi depois, e completa mais ou menos a identidade da pessoa a que se refere. Quero destacar, para bom entendimento de tudo, a impressão que o inesperado casamento do Sr. Valdo causou em Vila Velha [...]) (CCA, p. 102, grifos nossos). Em sua última narração, o médico deixa em evidência um interlocutor, ao realizar também uma “declaração”: “Mas declaro que um estremecimento me percorria o corpo, que uma neblina me turvava os olhos e que, de termômetro em punho, eu repetia: nunca dizer, esconder tudo, à custa da própria vida” (CCA, p. 441, grifo nosso). 172 Valdo também exprime o mesmo cuidado em termos de clareza: “Esclareço, porque o detalhe me parece importante: apesar de achar cedo demais para uma tarefa daquelas, não me sentiria chocado caso seus gestos expressassem somente o zelo de que se achava possuído” (CCA, p. 518, grifo nosso). Nas seguintes citações surpreendemos um narratário: ... E finalmente concordo em narrar o que presenciei naquela época, apesar de serem fatos tão antigos que provavelmente já não existe mais nenhum dos personagens que neles tomaram parte. Bem pensado, é talvez este o motivo que me leva a usar a pena, e se a letra parece aqui ou ali um pouco mais tremida, é que a idade não me permite escrever com a facilidade de outros tempos, e nem a memória é tão pronta a acudir ao meu chamado. No entanto, creio poder precisar exatamente o dia a que o senhor se refere. Neste ponto, suas indagações são úteis, pois obrigam-me a situar lembranças que flutuam desamparadas ao sabor da memória (CCA, p. 283, grifos nossos). No final da Crônica, podemos ter a impressão de que seria o Padre Justino quem recolhe os manuscritos e os ordena, mas as afirmações das seguintes citações, extraídas do “Pós-escrito numa carta de Padre Justino”, excluem essa possibilidade: Sim, resolvi atender ao pedido dessa pessoa. Não a conheço, nem sequer imagino por que colige tais fatos, mas imagino que realmente seja premente o interesse que a move. E ainda mais do que isto, acredito que qualquer que seja o motivo desta premência, só pode ser um fato abençoado por Deus, pois a última das coisas a que o Todo-Poderoso nega seu beneplácito, é à eclosão da verdade. Não sei o que essa pessoa procura, mas sinto nas palavras com que solicitou meu depoimento, uma sede de justiça. E se acedo afinal – e inteiramente – ao seu convite, é menos pela lembrança total dos acontecimentos – tantas coisas se perdem com o correr dos tempos... – do que pelo vago desejo de restabelecer o respeito à memória de um ser que muito pagou neste mundo, por faltas que nem sempre foram inteiramente suas (CCA, pp. 563-564, grifos nossos). Preste bem atenção, que eu nada tento amenizar – apenas, e como disse mais acima, procuro restabelecer o respeito à memória de um ser que muito pagou neste mundo por faltas que nem sempre foram inteiramente suas (CCA, p. 572, grifos nossos). Temos também indícios da participação desse organizador nos momentos em que aparecem (geralmente entre parênteses) esclarecimentos quanto à localização ou à letra (diferente) de determinados (pós-) escritos (Ex. CCA, pp. 225, 253). 173 É em função desses elementos – e sobretudo a partir do total apagamento de um narrador heterodiegético identificável – que consideramos que em Crônica da casa assassinada a ocorrência de um autor implícito fica especialmente em evidência. Ao analisar este mesmo romance, em “Lúcio Cardoso e a inquietude existencial”, Nelly Novaes Coelho (1996, p. 778) identifica a voz de um narrador que podemos localizar apenas na atmosfera que envolve as personagens, não chegando a se materializar. Esse, aliás, parecia constituir um objetivo visado por Lúcio Cardoso na elaboração dos seus romances. Como afirma o autor: Não compreendo o romance como uma pintura, mas como um estado de paixão; não quero que o meu possível leitor encontre tal ou tal árvore, tal ou tal banco, semelhante ao banco, à árvore que ele conhece. Quero que através de aparências familiares, ele depare em meus escritos uma árvore e um banco recriados através de um movimento de paixão, e que assim designados, reconhecidos, ele possa situá-los em meu espírito como acessórios da minha atmosfera de paixão e tempestade (CARDOSO, 1996b, p. 744). 1.4.4 A polifonia sob questão Em primeiro lugar, cabe apontar que o estilo único em que está escrito Crônica da casa assassinada não é o fator determinante para o questionamento em relação à polifonia do romance. Como claramente assinala Bakhtin, fazendo referência à crítica que recebia Dostoievski devido a sua linguagem única: Ocorre, porém, que a diferenciação da linguagem e as acentuadas “características do discurso” dos heróis têm precisamente maior significação artística para a criação das imagens objetificadas e acabadas das pessoas. Quanto mais coisificada a personagem, tanto mais acentuadamente se manifesta a fisionomia da sua linguagem. No romance polifônico, o valor da variedade da linguagem e das características do discurso é mantido, se bem que esse valor diminui e, o mais importante, modificam-se as funções artísticas desses fenômenos. O problema não está na existência de certos estilos de linguagem, dialetos sociais, etc., existência essa estabelecida por meio de critérios meramente lingüísticos; o problema está em saber sob que ângulo dialógico eles se confrontam ou se opõem na obra (BAKHTIN, 1981, p. 158, grifos do autor). 174 Também – em função do exposto anteriormente – consideramos que se dá no romance que analisamos um jogo claramente dialógico entre todas as personagens. A despeito disso, achamos que o romance, em sua totalidade enquanto obra – no nível da narração – não é polifônico. Ainda que o grande enigma do livro fique sem resposta – afinal, qual era a natureza de Nina (qual é o Interdito, a palavra que não pode ser pronunciada, o Mistério de Deus), diabólica ou sagrada?102 –, não podemos deixar de reparar no caráter convencional do último capítulo, “Pós-escrito numa carta de Padre Justino”, que dá a impressão de ter sido (realmente) aposto ao romance, em uma decisão ulterior do autor, ao mudar radicalmente (em um só capítulo) a direção das pistas semeadas durante todo o romance (e o caráter dúbio de muitas delas) quanto à elucidação, por parte do leitor, do enigma que norteia a narrativa. Não podemos deixar de sentir – junto com Nelly Novaes Coelho (1996, p. 782) – que esse final empobrece o romance e, inclusive, dado o caráter superficial que denota, introduz novas incongruências em relação a partes anteriores do mesmo, pois “a confissão de Ana destrói pelo alicerce aquilo que alimentara o romance” (Ib., p. 782). Assim, cabe resgatar aqui a afirmação de Schnaiderman, citada em nossa introdução, que atentava para a o conflito existente nos romances de Dostoievski entre “entre a incompletude interior das personagens e do diálogo e a finitude exterior (na maioria dos casos, compositiva) de cada romance” (SCHNAIDERMAN, 1982, p. 68). Mais uma vez, ressalta neste final a vocação realista e didática (inclusive pela recusa a transgredir o maior interdito moral do ser humano) do romance de Lúcio Cardoso. A necessidade de concluir (no sentido de fechar) as narrativas também é confirmada. Além do trabalho de organização realizado por alguém que não aparece no romance e que não pode ser identificado a partir das alusões que a esse alguém fazem diferentes personagens (e, por isso, atribuível ao autor implícito), outra circunstância em Crônica da casa assassinada leva a identificar a voz dominante da narrativa a uma das “versões implícitas” (na expressão de Booth, 1980, p. 88) do próprio Lúcio Cardoso: é o fato de que quem fica com a versão final da história e realiza todo uma alegação em torno de sua conclusão é o Padre Justino. Ora, em função das suas considerações filosóficas e religiosas e também por suas preocupações, podemos perfeitamente considerar este personagem um alter ego de Lúcio Cardoso. Resulta fácil conferir essa afinidade entre ambos, comparando afirmações dos dois. Por exemplo: “(Foi aí, foi nesse instante, que eu descobri que os seres mudam, não são arquiteturas fixas, mas forças em propulsão a caminho do seu estado 102 Como sintetiza Ana, no último capítulo de Crônica da casa assassinada, “Não sei, porque naquela mulher tudo se contradizia, e havia nela um lado inteiramente mergulhado na sombra” (CCA, p. 576). 175 definitivo)” (CCA, Padre Justino, p. 211); “Nenhuma proposição para a estabilidade – não há estabilidade. O ser não é uma estrutura fixa num eixo, mas qualquer coisa indeterminada, fluídica que oscila de um pólo para outro, como a noite para o dia” (CARDOSO, 1996b, p. 743). “Lúcio Cardoso ratifica sua ética às avessas quando propõe, na fala da personagem Padre Justino, que o demônio não se identifica com a desordem, mas com a certeza”, afirma a pesquisadora Enaura Quixabeira Rosa e Silva (2004, p. 118). E Marta Cavalcante de Barros também aponta como o estilo único da Crônica denuncia uma presença fortemente marcada que manipula esses discursos, não cedendo espaço às suas criaturas. [...] Todas as vozes do universo fictício revelam-se como espécies de máscaras desse ‘Eu’. Os narradores de primeira pessoa vão se revelando como desdobramentos de si mesmos e desse autor implícito, numa busca de apreensão de uma totalidade (BARROS, 2002, pp. 39-40). Além disso – como já foi dito –, o Diário do autor revela uma profunda inquietação existencial que nunca achou sossego na alma do autor. À declarada determinação de viver uma vida autêntica (livre do hábito e das convenções ancilosadas) opunham-se os dogmas da fé, como também as rígidas tradições do patriarcalismo mineiro, que ele atacava sem descanso, conforme declaração do autor citada acima. Certamente, depois da descrição pormenorizada do desabamento (leia-se “morte”) e da ruína da Chácara e da família Meneses, as palavras finais de Padre Justino soam como uma justificativa ou uma possível solução para o grande dilema que perturbava o próprio escritor. Embora os dois trechos de “Pós-escrito numa carta do Padre Justino” citados anteriormente, nos quais ele se dirige a um interlocutor não autorizem a identificar esse personagem com o organizador do romance103, ele mesmo, no mesmo capítulo, acaba se identificando com o escritor, ao falar em “romance” e ao se dirigir a um possível leitor (neste caso, por ser explicitamente invocado, narratário): “Está vendo, está assistindo plenamente o levantamento das linhas essenciais deste romance?” (CCA, p. 571). De outro lado, somos 103 Como vimos na introdução de nossa tese, o autor implícito jamais se identifica exatamente, nem com o narrador e nem com alguma personagem, visto tratar-se de uma instância mais vaga ou dispersa, imagem do autor empírico no texto. 176 informados de que Padre Justino investigava104. Isso confere mais força a nossa impressão de identificação parcial desta personagem com o próprio escritor, o que, nos termos de Bakhtin denuncia apenas um grau acentuado de refração positiva das intenções do autor. Assim, em virtude de tudo o exposto, Crônica da casa assassinada não respeitaria a essência da polifonia, que, conforme Bakhtin consiste justamente no fato de que as vozes, aqui, permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de ordem superior à da homofonia. E se falarmos de vontade individual, então é precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades individuais, realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma vontade. Poderse-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia é a vontade de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento (BAKHTIN, 1981, p. 16). Tudo no romance alvo de nosso estudo parece estar a serviço da vontade de Lúcio Cardoso e das suas preocupações metafísicas e morais pessoais, sendo, na realidade, suas personagens, desprovidas de real independência em relação ao seu criador. Não é “a vontade do acontecimento” a que desponta na voz de Padre Justino nas linhas finais do romance. Assim, como aponta oportunamente Nelly Novaes Coelho, o escritor acaba se comportando como poeta (no sentido que aponta Bakhtin): Contribuindo para acentuar o impreciso e movediço das situações e reações humanas dentro do livro, há ainda um elemento estrutural decisivo: a fórmula narrativa adotada, isto é, a técnica da “consciência central” (= enredo apresentado ao leitor apenas através das reações das personagens). A nosso ver, Lúcio possuía um talento essencialmente de poeta. Daí a ausência de despersonalização que é facilmente verificada na manipulação desse foco narrativo múltiplo (= multiplicação de perspectivas distintas, elucidando cada qual a sua visão de um fenômeno central, no caso a personalidade enigmática de Nina). Dessa ausência de despersonalização decorre inevitavelmente a inverossimilhança em que caem a cada momento os vários depoimentos, prejudicando a magia que fluindo da narrativa deve envolver o leitor e fazêlo participar daquilo que é narrado. Assim, através de todos os focos [...] o que permanece sempre indisfarçável é a “voz” a que já aludimos acima, aquela “voz” que dá a coerência interna de seus romances e faz com que todas as personagens surjam como máscaras diversas de um único ser (COELHO, 1996, p. 782). 104 Diz o personagem em sua “Primeira narração”: “A este respeito nada sei, nunca o soube, aliás. Por mais que investigasse – e muito o fiz no decorrer do tempo – jamais pude situar exatamente a posição daquela mulher em tão triste ocorrência” (CCA, p. 207). 177 Como mostra Bakhtin, o discurso lírico caracteriza-se por sua univocidade105, é essencialmente monológico. Assim: A exigência fundamental do estilo poético é a responsabilidade constante e direta do poeta pela linguagem de toda a obra como sua própria linguagem, a completa solidariedade com cada elemento, tom e nuança. Ele satisfaz a uma única linguagem e a uma única consciência lingüística. O poeta não pode contrapor a sua consciência poética e seus intentos àquela linguagem que ele usa, pois está totalmente nela e por esta razão não pode fazer dela, dentro dos limites do estilo, um objeto de percepção, reflexão ou de relação. A linguagem é dada a ele somente a partir do interior, no seu trabalho intencional, e não exterior, na sua especificidade e limitação objetivas. [...] A unidade e unicidade da linguagem são condições obrigatórias para realizar a individualidade intencional e direta do estilo poético e da sua estabilidade monológica. Isto não significa certamente que o plurilingüismo ou mesmo o multilingüismo não possam penetrar inteiramente na obra poética. (BAKHTIN, 1994, p. 94). É exatamente no nível das personagens que observamos a ocorrência de certo plurilingüismo (ideológico) que sustenta o dialogismo existente em Crônica da casa assassinada. No entanto, no “plano da linguagem real da obra” (Ib., p. 94), deparamo-nos com uma “linguagem única, diretamente intencional, a partir de cujo ponto de vista as outras linguagens [...] são percebidas como objetivadas e em nada equivalentes a ele” (Ibidem, p. 95). Em nosso juízo – e de acordo com tudo o exposto nesta seção – em Crônica da casa assassinada há, de fato, uma palavra final: a do Padre Justino. E a voz que a profere já não é simplesmente a de uma personagem, cuja fala guarda uma relação de eqüipolência com respeito às das outras personagens. É o próprio autor quem, após apresentar a seqüência de falas dissonantes e eqüipolentes de acordo com determinado plano organizativo, toma a palavra nesse final de Crônica da casa assassinada, exprimindo a sua esperança e as suas próprias convicções acerca do mal e do bem, de Deus e da função redentora do pecado – do mal – para o ser humano. Ao guardar para si (sob a máscara do Padre Justino) “um excedente essencial (do ponto de vista de uma verdade incógnita) do autor” (BAKTHIN, 1981, pp. 6162) – a não-consumação de um incesto entre Nina e André –, Lúcio Cardoso age como o autor do romance monológico, aquele Autor com maiúscula de quem Barthes decretara a morte definitivamente em O rumor da língua. Ao fazer isso, ele destrói a posição dialógica eqüipolente que tentara estabelecer em relação às suas personagens durante toda a narrativa e, 105 Lembramos que isto é oportunamente contestado e relativizado por Schnaiderman nos seus estudos sobre Bakhtin. 178 ao desfazer, no final de Crônica da casa assassinada, a coerência interna da obra, revela o mundo objetivo uno do autor, que se impõe e fecha a narrativa. O campo de visão monológico do autor, que o romance polifônico visa demolir é, assim, posto a nu. Daí concluirmos que esse extenso romance é, na verdade, a expressão de uma única vontade, a vontade desse autor implícito, para além do dialogismo existente no nível das personagens. Em lugar da “multiplicidade de centros-consciências não reduzidos a um denominador ideológico” (BAKHTIN, 1981, p. 12), em Crônica da casa assassinada aquela multiplicidade seria, de fato, reduzida a esse denominador comum. Poderíamos, então, apropriar-nos do feliz achado adjetival de Lêdo Ivo (apud. CARELLI, 1996b, p. 642) para caracterizar a prosa de nosso autor e designar “sinfônico” o romance de Lúcio Cardoso, mas não polifônico. Apesar de encontrarmos nele a coparticipação de vários instrumentos, à diferença do que acontece no romance polifônico (onde nunca é atingida uma consonância perfeita), esses instrumentos acabam executando, mediante a comunhão orquestrada de todas as participações individuais, uma melodia una em que todos se confundem e em que nenhum instrumento se destaca ou destoa, obstaculizando a marcha do grande compasso geral. Um compasso que ajuda a embalar (aliviar) a angústia existencial de nosso escritor. Como resgata Nelly Novaes Coelho: Como disse certa vez o também agônico romancista português, Raul Brandão, ao falar de si mesmo, Lúcio Cardoso poderia ter dito: “Não sou psicólogo. Não sei ler nas almas dos outros. Apenas sei ler na minha alma”. Tanto quanto compreendemos a essência do seu romance, acreditamos que essas palavras se lhe aplicam perfeitamente. [...] Note-se, portanto, que acima de tudo suas personagens parecem servir de “instrumento” a uma presença mais forte: a voz do narrador... essa voz que faz, de todos os seus romances, um obsessivo e angustiante monólogo, a desvendar, em bruscos clarões, uma sede de vida e de afirmação existencial em que se sente o halo do demoníaco (COELHO, 1996, p. 778). 179 2 CLARICE LISPECTOR: A ESCRITURA QUE SE CUMPRE NO TEMPO Quanto a eu me delatar, realmente isso é fatal, não digo nas colunas, mas nos romances. Estes não são autobiográficos nem de longe, mas fico depois sabendo por quem os lê que eu me delatei. No entanto, paradoxalmente, e lado a lado com o desejo de defender a própria intimidade, há o desejo intenso de me confessar em público e não a um padre. O desejo de enfim dizer o que nós todos sabemos e no entanto mantemos em segredo como se fosse proibido dizer às crianças que Papai Noel não existe, embora sabendo que elas sabem que não existe. Mas quem sabe se um dia, L. de A., saberei escrever ou um romance ou um conto no qual a intimidade mais recôndita de uma pessoa seja revelada sem que isso a deixe exposta, nua e sem pudor. Se bem que não haja perigo: a intimidade humana vai tão longe que seus últimos passos já se confundem com os primeiros passos do que chamamos de Deus (LISPECTOR, 1999a, pp. 78-79). Avisem-me se eu começar a me tornar eu mesma demais. É minha tendência (LISPECTOR, 1999a, p. 194). Em nossa dissertação de Mestrado, Sob o disfarce da crônica: o delineamento de um projeto estético em Clarice Lispector, a partir do trabalho jornalístico da autora – reunido fundamentalmente em dois volumes, Para não esquecer e A descoberta do mundo – e de depoimentos seus, esboçamos o que seria um projeto estético embasado em uma particular visão do mundo. Nos romances de Clarice Lispector, objeto de nossa tese, essa visão do mundo é confirmada e ampliada, ao tornar-se mais complexa e indeterminada, no sentido de que, em função de seus próprios pressupostos, a mesma não constitui um sistema fechado e perfeitamente coerente, evoluindo com o tempo e a cada novo exercício/experimentação106. Mostrar o desdobramento, nos romances, daquele projeto que a autora revela nas suas 106 Sempre que utilizarmos o termo “experimentação” para referir-nos ao trabalho de Clarice Lispector, far-loemos respeitando o significado que a autora sugeria em sua conferência “Literatura de vanguarda no Brasil”, a saber: “Ou vanguarda seria a nova forma, usada para rebentar a visão estratificada e forçar, pela arrebentação, a visão de uma realidade outra – ou, em suma, da realidade? [...] Qualquer verdadeira experimentação levaria a maior autoconhecimento, o que significaria: conhecimento. Vanguarda seria, pois, em última análise, um dos instrumentos de conhecimento, um instrumento avançado de pesquisa. Esse modo de experimentação partiria de renovações formais que levariam ao reexame de conceitos, mesmo de conceitos não formulados. Mas poderia também partir da consciência, mesmo não formulada, de conceitos novos, e revestir-se inclusive de uma forma clássica – e isso já contrariava o conceito de vanguarda, em estrito senso, como é geralmente configurado?” (LISPECTOR, 2005, p. 97). 180 reflexões metapoéticas e metalingüísticas será o principal alvo da seguinte seção. Esse desdobramento nos permitirá detectar a existência de uma intenção autoral para além dos dados (auto)biográficos que é possível identificar em todas as obras de Clarice Lispector e que apenas servirão, em nosso trabalho, como um dos elementos utilizados para identificar aquela intenção sob o jogo de máscaras que suas obras de ficção constituem107. Essa presença autoral que consegue se imiscuir no texto literário graças à existência do que Georges Poulet (1990b, pp. 287-288) chama de um pensamento indeterminado que subjaz às obras, sendolhes anterior, ao menos em parte, de forma consciente ou inconsciente. O caráter de materialização ou atualização de um mesmo pensamento é constatado se notarmos a relação e o diálogo intenso que se estabelece entre os romances de Clarice Lispector. Por outro lado, esse pensamento – e como veremos neste capítulo –, em função da sua indeterminação radical, está sempre em formação, impregnando todas as obras, mas apresentando matizes diferenciados em cada obra-camada que vem acrescentar-se às anteriores. 2.1 O sentimento-pensamento indeterminado em Clarice Lispector108 “Eu não sei resumir minha filosofia de vida em palavras”, afirmou certa vez a nossa escritora (apud. BORELLI, 1981, p. 18). Nem nós temos a intenção de assumir tarefa tão pretensiosa (ou simplificadora); apenas visamos traçar algumas linhas centrais do pensamento indeterminado de Clarice Lispector que sirvam como norte à nossa análise dos romances, sob a ótica da presença autoral para além dos dados biográficos episódicos que neles encontramos. Em primeiro lugar, em nossa dissertação detectamos, na concepção do mundo expressa por Clarice Lispector nos textos em que ela fala por si própria (crônicas, entrevistas, depoimentos), uma relação ou comunicação entre os seres (animados e inanimados) que se instauraria através dos sentidos e na forma de uma percepção primordial, que excluiria intermediações como pensamento, raciocínio e linguagem. “Passa-se a sentir que tudo o que existe – pessoa ou coisa – respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia” 107 O trabalho de confronto e/ou análise da vida e da obra de Clarice Lispector já foi realizado sob diferentes ângulos em obras que visam também objetivos diferentes, a saber: BORELLI, Olga. Clarice Lispector. Esboço para um possível retrato; FERREIRA, Teresa Cristina Montero. Eu sou uma pergunta: Uma biografia de Clarice Lispector; GOTLIB, Nádia Battella. Clarice. Uma vida que se conta; MANZO, Lícia. Era uma vez: Eu; MIRANDA, Ana. Clarice Lispector. O tesouro de minha cidade; WALDMAN, Berta. A paixão segundo C. L. 108 No início desta seção, realizamos uma retomada (síntese) de nossa dissertação de Mestrado, pois a presente tese de Doutorado parte, em boa medida, daquela pesquisa. 181 (LISPECTOR, 1999a, p. 91); “Ah, a vida é maravilhosa com suas teias captantes” (LISPECTOR, 1999a, p. 194). Ou ainda: “Olho a cadeira estilo império e dessa vez foi como se ela também me tivesse olhado e visto” (LISPECTOR, 1999a, p. 245). Isso nos remeteu imediatamente à noção empregada por Merleau-Ponty (1980a, p. 85) de “Lebenswelt”, isto é, o mundo da vida, o mundo com o qual (enquanto seres sempre em situação) nos relacionamos na nossa experiência e através de nosso corpo (daí a importância fundamental dos sentidos como portas da percepção), que é feito da mesma matéria que as coisas. Ainda em consonância com o pensamento do filósofo francês, Clarice Lispector propõe constantemente a volta a um mundo primordial, fonte dos dados que a consciência utilizará mais tarde para elaborar as diferentes representações, em um trabalho de abstração que afastará o pensamento daquela realidade que lhe dá sustentação primeira. Só após esse trabalho da consciência, sujeito e objeto se separam da forma indicada pelo cogito cartesiano. Lamentando a perda da troca imediata entre sujeito e objeto, reflete nossa autora: Como conhecer jamais o menino? Para conhecê-lo tenho que esperar que ele se deteriore, e só então ele estará ao meu alcance. Lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém conhecerá o hoje dele. Nem ele próprio. Quanto a mim, olho e é inútil: não consigo entender coisa apenas atual totalmente atual. O que conheço dele é a sua situação: o menino é aquele em que acabaram de nascer os primeiros dentes e é o mesmo que será médico ou carpinteiro. Enquanto isso – lá está ele sentado no chão, de um real que tenho de chamar de vegetativo para poder entender. Trinta mil desses meninos sentados no chão, teriam eles a chance de construir um mundo outro, um que levasse em conta a memória da atualidade absoluta a que um dia já pertencemos? (LISPECTOR, 1999a, pp. 240-241) Clarice chama-nos a atenção também para outra questão apontada por Merleau-Ponty: a da conexão entre os sentidos, separados também pelo pensamento analítico. Como observa o filósofo francês: Na percepção primordial, esta percepção do tato e da visão são desconhecidas. Com a ciência do corpo humano aprendemos depois a distinguir os sentidos. A coisa vivida não é reencontrada ou construída a partir dos dados dos sentidos, mas de pronto se oferece como o centro de onde se irradiam. Vemos a profundidade, o aveludado, a maciez, a dureza dos objetos – Cézanne dizia mesmo: seu odor. Se o pintor quer exprimir o mundo, é preciso que a composição das cores traga em si este Todo indivisível; de outra maneira, sua pintura será uma alusão às coisas e não as mostrará numa unidade imperiosa, na presença, na plenitude insuperável que é para todos nós a definição do real (Merleau-Ponty, 1980b, p. 118). 182 Essa mesma constatação é a que Clarice traduz com o uso constante que faz da sinestesia em sua obra, exprimindo a confusão de sentidos primordial que caracteriza a sensação. Por exemplo, afirma em “Atualidade do ovo e da galinha” que “A aura de meus dedos é que vê o ovo” (LISPECTOR, 1999a, p. 207). A união inextricável, na Natureza, de sujeito e objeto109, a percepção da artificialidade de sua separação, faz com que Clarice insista na unidade do Mundo (nas palavras de MerleauPonty, 1980a, p. 86, aquele “só Ser atual”), concepção que assume na sua escritura uma dimensão mística que permeia toda a sua obra: O que é Natureza? Pergunta difícil de se responder porque nós também fazemos parte dela e sem distância suficiente para encará-la: em mim ela brota de meu âmago qual semente que rompe a terra. Natureza – como explicar o seu significado único e total? Como entender sua simplicidade enigmática? Nem me lembro como ou quando me ensinaram ou li essa palavra – mas não a explicaram. E no entanto entendi. Quem não sabe o que é jamais chegará a saber. Há coisas que não se aprendem (LISPECTOR, 1999a, p. 397). Diretamente relacionado com esse sentimento de Unidade e de Natureza, o que a autora, em seus depoimentos, denomina “o Deus” parece-se bastante ao que Mikel Dufrenne (1969, p. 196) denomina “fundo”, “princípio obscuro do começo: não o possível lógico, mas gérmen, possibilidade vital”. Isso aproximaria a visão do mundo de Clarice Lispector de uma concepção panteísta do espírito, que considera todos os seres como extensão da natureza ou (o que seria o mesmo) da matéria divina110. Observemos o seguinte trecho de “Travessuras de uma menina” (Noveleta)111: 109 Mundo e indivíduo são também interdependentes na visão do mundo clariceana e as coisas só “existem para”: “Não há lógica, se se for pensar um pouco, na ilogicidade perfeitamente equilibrada da natureza. Da natureza humana também. O que seria do mundo, do cosmos, se o homem não existisse” (LISPECTOR, 1999a, p. 246). 110 “[...] há uma outra fonte na idéia de Deus: a que por vezes chamamos naturismo, o sentimento embargante da necessidade e também da grandeza. Trata-se de dois aspectos da Natureza que ainda desta vez ultrapassa o homem, mas não o transcende e sim o transporta. A religião é, então, como diz muito bem Simondon, o sentimento do fundo. O fato de que o fundo aqui se opõe à figura que desenha os objetos separados discernidos pela percepção, e sobre os quais exerce a magia, de modo algum exclui que esse fundo seja sentido como a força que anima cada coisa e o vínculo que as une, como a plenitude ou o reservatório. Deus é então o nome dessa Natureza, a imanência absoluta da necessidade, o ser-aí do ser, irresistível e injustificável” (DUFRENNE, 1969, p. 191). 111 Cabe notar que este conto já tinha sido publicado em A legião estrangeira (1964) sob o título “Os desastres de Sofia”. 183 Só Deus perdoaria o que eu era porque só Ele sabia do que me fizera e para o quê. Eu me deixava, pois, ser matéria dEle. Ser matéria de Deus era minha única bondade. E a fonte de um nascente misticismo. Não misticismo por ele, mas pela matéria dEle, mas pela vida crua e cheia de prazeres: eu era uma adoradora. Aceitava a vastidão do que eu não conhecia e a ela me confiava toda, com segredos de confessionário (LISPECTOR, 1999a, p. 260). Não foge, porém, às considerações clariceanas, a diferença fundamental entre sujeito e objeto: a consciência, que transforma aquele olhar primigênio em “visão” (também na concepção de Merleau-Ponty, 1980a, p. 95), visão essa que consiste no acréscimo que aquela adiciona às informações corporais a fim de elaborar as representações. Esses acréscimos transformam-se logo em toda uma aparelhagem de pré-concepções que o indivíduo incorpora e carrega, constituindo, em definitivo, o que chamamos de conhecimento. O conhecimento, único saber legitimado pelo esclarecimento (Cf. Adorno e Horkheimer, 1985) e imprescindível para o domínio sobre a matéria e para a ação (e, por isso, utilitarista por definição) é o que, ironicamente, nos afasta da percepção direta da experiência atual. Por isso, observa nossa autora em ensaio de A descoberta do mundo: Mas aquele que estivesse completamente livre de soluções convencionais e utilitárias veria o mundo, ou melhor, teria o mundo de um modo como jamais artista nenhum o teve. Quer dizer, totalmente e na sua verdadeira realidade. [...] Mas se homem, esse único, não fosse artista – não sentisse a necessidade de transformar as coisas para lhes dar uma realidade maior – não sentisse enfim necessidade de arte, então quando ele falasse nos espantaria. Ele diria as coisas com a pureza de quem viu que o rei está nu. Nós o consultaríamos como cegos e surdos que querem ver e ouvir. Teríamos um profeta, não do futuro, mas do presente (LISPECTOR, 1999a, pp. 228-229). Na mesma linha de pensamento, também a cultura, naquele sentido no qual o termo estaria referido a certo conhecimento letrado, é recusada por Clarice Lispector: “Ser intelectual é também ter cultura, e eu sou tão má leitora que, agora já sem pudor, digo que não tenho cultura mesmo. Nem sequer li as obras importantes da humanidade” (LISPECTOR, 1999a, p. 149). Entretanto, recorrer àquelas “negociatas” (LISPECTOR, 1999a, p. 408), àquele tipo de subterfúgios (muletas mentais) que Clarice detecta em seu próprio pensamento (e, por extensão, no de toda a humanidade), resulta indispensável para a sobrevivência e para a 184 comunicação humanas, sendo, além disso, tranqüilizador, pois todo nosso sistema de vida se assenta nelas. Em função disso é que nossa autora confirma que as coisas só “existem para”: “Como seriam as coisas e as pessoas antes que lhes tivéssemos dado o sentido de nossa esperança e visão humanas? Devia ser terrível” (LISPECTOR, 1999a, p. 205). Já a verdade e o infinito não têm qualidades, lembra-nos a autora em “Divagando sobre tolices” (1999a, p. 292) e, por isso, não se deixam apreender tão facilmente. Se quisermos atingi-los, esses mesmos subterfúgios hão de transformar-se, imediatamente, em obstáculos. Quanto mais especificarmos, separando mediante conceitos o que é uno, mais nos afastaremos da realidade primordial: “Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. A verdade sempre destrói a humanidade. [...] A lei geral para continuarmos vivos: pode-se dizer “um rosto bonito”, mas quem disser “o rosto” morre por ter esgotado o assunto” (LISPECTOR, 1999a, p. 208). E ainda: Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Pois, sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. – Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. – Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim: existo, logo sei. – O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. (LISPECTOR, 1999a, p. 207) Temos nesta última citação uma reformulação do cogito cartesiano ao gosto de Clarice Lispector: “existo, logo sei”. É da existência no mundo da vida, da interação e relação com as coisas do mundo a partir do corpo que nasce o saber mais profundo, aquele que é anterior ao pensamento. O tempo também é objeto dessa separação, ao ser dividido vulgarmente em passado, presente e futuro. No entanto, como observa Bergson (1956, p. 51), no fluir ininterrupto da duração, passado e presente se interpenetram sem cessar. A memória que, na filosofia de Bergson (1956, p. 21), identifica-se à consciência, assume na poética clariceana uma base biológica, ontológica: “Como conseguirei saber do que nem ao menos sei? assim: como se me lembrasse. Com um esforço de memória, como se eu nunca tivesse nascido. Nunca nasci, nunca vivi: mas eu me lembro, e a lembrança é em carne viva” (LISPECTOR, 1999a, p. 385). Dessa forma, a memória, para a autora, estaria mais atrelada ao corpo físico, remetendo 185 a um tipo de sabedoria pré-consciente que nos permite agir muitas vezes antes de pensar: “O que ajo não penso” (LISPECTOR, 1999a, p. 465). Como aponta Paulo Sérgio do Carmo em seu estudo sobre Merleau-Ponty: Há uma espontaneidade no corpo que perpassa também outras regiões do mundo existencial. Como já vimos, os atos, os gestos, as palavras, não seriam possíveis se a cada momento tivéssemos que pensá-los antecipadamente; eles ocorrem de maneira espontânea, sem seguir qualquer ordem reflexiva (DO CARMO, 2000, p. 57). Clarice Lispector vai propor, como única forma de apreensão da duração, a intuição. É uma intuição que se assemelha bastante à definida por Bergson como a “simpatia pela qual nos transportamos ao interior de um objeto para coincidir com o que ele tem de único e por conseguinte de inexprimível” (Bergson, 1956, pp. 16-17, tradução nossa112). “Intuição” opõese, no pensamento de Bergson (Ib., p. 17), à “análise”, que corresponde à operação realizada pelo pensamento e já mencionada aqui. É nesse sentido que a autora, em pequeno ensaio incluído em A descoberta do mundo, afirma: “Refletindo um pouco, cheguei à ligeiramente assustadora certeza de que os pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Simplesmente descobri de súbito que pensar não é natural” (LISPECTOR, 1999a, p. 205). Ou: “Não há dúvida: pensar me irrita, pois antes de começar a tentar pensar eu sabia muito bem o que eu sabia” (LISPECTOR, 1980a, p. 40). Esquivar, driblar ou enganar o trabalho operado pelo pensamento, contudo, não é fácil, pois, como vimos, a consciência (ou memória) age em todo ato de percepção. Em boa medida, a intuição clariceana é um ato involuntário (e aí reside a grande diferença em relação à intuição bergsoniana; ver Bergson, 1979, p. 150). Certos instantes-visão ou epifanias113 curtas (revelações terrenas, conforme expressão de Flávia Trocoli Xavier da Silva, 2000, p. 73), como o relatado no exemplo a seguir, darão conta dessa apreensão fugidia e inexprimível da verdade: “O homem que estava na sala percebeu a vivacidade dos movimentos, não soube 112 “[...] simpatía por la cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único y por consiguiente inexpresable.” 113 Em A escritura de Clarice Lispector, Olga de Sá (1993, pp. 163 a 211) faz um extenso e pormenorizado estudo da epifania no trabalho da autora, distinguindo entre epifanias positivas e negativas (críticas, corrosivas, de enjôo, de náusea). Partindo da origem etimológica da palavra (do grego, “manifestação”, “aparição”) e analisando, logo a seguir, o uso literário da epifania no romance de James Joyce, especifica a crítica com respeito à escritura clariceana: “A epifania não é uma simples técnica e talvez nem mesmo um processo fundamental de sua expressão, a não ser que seja entendida como integrada na sua visão do mundo. A epifania não é um motivo, não é um tema da obra clariceana. Será um procedimento? Parece-nos que sim. [...] o procedimento de ‘estranhamento’, em Clarice Lispector, é a epifania” (SÁ, 1993, p. 134). 186 entender o que percebera mas, como realmente percebera, disse tentativamente, sabendo que não estava exprimindo sua própria percepção: o chão está limpo agora” (LISPECTOR, 1999a, p. 248). Às vezes, esses instantes se prolongam, dando lugar a epifanias mais duradouras, que geram toda uma crise interna na personagem, ou, então, ao que a autora chama de “estado de graça” (LISPECTOR, 1999a, pp. 91 a 93). Trata-se de uma espécie de limbo, intervalo involuntário da razão, que possibilita o acesso àquele mundo transcendente em que mora a verdade: “No estado de graça vê-se às vezes a profunda beleza, antes inatingível, de outra pessoa” (LISPECTOR, 1999a, p. 91). Um instrumento que vai ser fundamental para atingir esse outro saber (não das qualidades, mas do ser em si), junto com os sentidos, será certa ignorância visada, fruto de um exercício constante e paciente de “esquecimento” daquele outro instrumental oferecido ao homem pelo pensamento. O acervo científico não pode ser ignorado. Pelo contrário, para superá-lo é preciso conhecê-lo a ponto de identificar as suas limitações e, assim, poder tentar superá-las: “É preciso antes saber, depois esquecer. Só então se começa a respirar livremente” (LISPECTOR, 1999a, p. 349). A intuição realiza o caminho inverso do pensamento: enquanto este se aproxima das coisas para depois delas afastar-se, isolando-se em conceitos abstratos, a intuição, ao habitar as coisas, pratica uma transcendência na materialidade das mesmas para atingir seu cerne; então, a transcendência vira imanência. É nesse sentido que a intuição se traduziria numa espécie de pensar-sentir, que Clarice Lispector, em uma de suas contribuições para O Jornal do Brasil, descreve da seguinte forma: Como se pode imaginar, a mulher que estava pensando nisso não estava absolutamente pensando propriamente. Estava o que se chama de absorta, de ausente. Tanto que, após um determinado instante em que sua ausência (que era um pensamento profundo, profundo no sentido de nãopensável e não-dizível), após um determinado instante em que sua ausência fraquejou por um instante, ela sucumbiu ao uso da palavrapensada (que a transformou em fato), a partir do momento em que ela factualizou-se por um segundo em pensamento – ela se enganchou um instante em si mesma, atrapalhou-se um segundo como um sonâmbulo que esbarra sua liberdade numa cadeira, suspirou um instante, parte involuntariamente para aliviar o que se tornara de algum modo intenso, parte voluntariamente para apressar sua própria metamorfose em fato (LISPECTOR, 1999a, pp. 247 e 248, grifos nossos). 187 É nesse lugar do pensar-sentir que a autora esbarra com a limitação da linguagem. A verdade é inexprimível: “Sinto que sei de umas verdades. Mas não sei se as entenderia mentalmente. E preciso amadurecer um pouco mais para me achegar a essas verdades. Que já pressinto. Mas as verdades não têm palavras” (LISPECTOR, 1999a, p. 340). Em contrapartida, o ser humano pode perceber a verdade em seu próprio âmago, porque, como filho da Natureza, é também parte de seu mistério: Interessa-me o mistério. Preciso ter um ritual para o mistério? Acho que sim. Para me prender à matemática das coisas. No entanto, já estou de algum modo presa à terra: sou uma filha da natureza: quero pegar, sentir, tocar, ser. E tudo isso já faz parte de um todo, de um mistério (LISPECTOR, 1999a, p. 347). E essa percepção superior deve ser desenvolvida através de uma atitude ou disposição em face das coisas: Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação: quero entender um pouco. Não demais: mas pelo menos entender que não entendo (LISPECTOR, 1999a, p. 172). No ponto no qual essa apreensão absoluta é atingida, descobre-se, no centro do próprio “eu”, a essência do “vós”, do outrem. Essa descoberta implica uma espécie de comunicação muda entre os seres que dá acesso a uma sensação de completude: Com duas pessoas eu já entrei em comunicação tão forte que deixei de existir, sendo. Como explicar? Olhávamo-nos nos olhos e não dizíamos nada, e eu era a outra pessoa e a outra pessoa era eu. É tão difícil falar, é tão difícil dizer coisas que não podem ser ditas, é tão silencioso. Como traduzir o profundo 188 silêncio do encontro entre duas almas? É dificílimo contar: nós estávamos nos olhando fixamente, e assim ficamos por uns instantes. Éramos um só ser. Esses momentos são o meu segredo. Houve o que se chama de comunhão perfeita. Eu chamo isso de: estado agudo de felicidade. Estou terrivelmente lúcida e parece que estou atingindo um plano mais alto de humanidade. Foram os momentos mais altos que jamais tive (LISPECTOR, 1999a, p. 341). E é exatamente essa a experiência que a autora considera maior e que descreve também nos seguintes termos: “Eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o âmago dos outros: e o âmago dos outros era eu” (LISPECTOR, 1999a, p. 385). A frase que serve de epígrafe a A paixão segundo G.H. traduz essa mesma idéia de consubstanciação com o outro e, não por acaso, é citada em duas oportunidades em A descoberta do mundo: “Uma vida completa talvez seja a que termine em tal plena identificação com o não-eu, que não resta nenhum eu para morrer” (LISPECTOR, 1999a, p. 283 e 359). Como também observa Bergson (1979, p. 114), a intuição, enquanto “visão direta do espírito pelo espírito [...] nos faz constatar que o inconsciente lá está” e, como a separação entre as psiques não é tão rígida quanto aquela que existe entre os corpos, a intuição viabilizaria essa comunhão do eu com o não-eu. Pelo exposto, o poder e o alcance da inteligência são relativizados e inclusive menosprezados pela autora de Perto do coração selvagem: “De novo, não se trata de modéstia e sim de uma realidade que nem de longe me fere. Ser intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço: uso é a intuição, o instinto.” (LISPECTOR, 1999a, p. 149). Ou ainda: “Mas é que o erro das pessoas inteligentes é tão mais grave: eles têm os argumentos que provam” (LISPECTOR, 1999a, p. 391). Na verdade, conforme o sentimento-pensamento-visão de Clarice Lispector, não seria preciso provar nada. Bastaria abrir-nos à primeira percepção, fonte de informação na que baseamos nossa experiência e nosso estar no mundo, para definir o que seja o real ou o verdadeiro, para além da realidade material “objetiva”. O mundo se oferece a nós e inclusive existe em nós mediante nosso corpo. Apenas é preciso “habitá-lo”, captá-lo em sua duração infinita. Diretamente ligada à questão do corpo como principal matriz de nossa percepção, encontramos em Clarice a afirmação de indissolubilidade entre corpo e espírito. O corpo acompanharia espontaneamente os movimentos do espírito da mesma forma que o espírito só 189 pode se realizar mediante a sua materialização, não existindo sem ela. É nesse sentido que podemos ler a seguinte constatação da autora alvo de nosso estudo: “Sai-se do estado de graça com o rosto liso, os olhos abertos e pensativos e, embora não se tenha sorrido, é como se o corpo todo viesse de um sorriso suave” (LISPECTOR, 1999a, p. 93). Só a intuição pura, e apenas no seu estágio primário (isto é, quando ainda não visa à expressão), pode prescindir da forma. A duração, ligada ao inconsciente, é perpétuo movimento de criação que acompanha o tempo em seu fluir ininterrupto. E essa duração nos constitui enquanto seres vivos. Por isso: “Sem nem de longe ser de gênio, quantas revelações. Quantos pulsos apanhados no fino ar. Os delicados fios suspensos na câmara do consciente. E no inconsciente a própria enorme aranha” (LISPECTOR, 1999a, p. 194). No entanto, o espírito, para aparecer, precisará da mediação da forma e, por isso, a luta entre forma e conteúdo se dá na consciência, no pensamento e na linguagem (limitados, como já vimos), não antes. E é ao deparar-se com essa dificuldade em princípio intransponível que Clarice Lispector outorga uma importância fundamental ao instinto, bem como um novo status à loucura, apelando, ao mesmo tempo, para uma dimensão pré-racional e para uma dimensão transcendental, ambas ligadas ao inconsciente. Daí, a constante presença dos animais na obra de Clarice Lispector. Vejamos o que a autora aponta em “Estado de graça – Trecho”: Não sei por quê, mas acho que os animais entram com mais freqüência na graça de existir do que os humanos. Só que eles não sabem e os humanos percebem. Os humanos têm obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica, compreensão. Enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto (LISPECTOR, 1999a, p. 92). A criança assume um lugar similar. Atente-se para o uso do adjetivo “infantis” no próximo trecho também extraído de “Estado de graça – Trecho”: “Se durasse muito, bem sei, eu que conheço minhas ambições quase infantis, eu terminaria tentando entrar nos mistérios da Natureza” (LISPECTOR, 1999a, p. 92). E a passagem da criança para o adulto é descrita em termos de perda, perda da percepção da existência em seu fluir ininterrupto, entrada ao mundo do conceito (morte do tempo atual e da intuição pura e simples pela sua materialização em “expressão”): 190 O próprio menino ajudará sua domesticação: ele é esforçado e coopera. Coopera sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para seu auto-sacrifício. Ultimamente ele até tem treinado muito. E assim continuará progredindo até que, pouco a pouco – pela bondade necessária com que nos salvamos – ele passará do tempo atual ao tempo cotidiano, da meditação à expressão, da existência à vida. Fazendo o grande sacrifício de não ser louco. Eu não sou louco por solidariedade com os milhares de nós que, para construir o possível, também sacrificaram a verdade que seria uma loucura (LISPECTOR, 1999a, p. 241). Quanto à loucura, a autora também observa – e em consonância com o final da citação acima: “A loucura é vizinha da mais cruel sensatez“ (LISPECTOR, 1999a, p. 244). Chega inclusive a afirmar que “O futuro da tecnologia ameaça destruir tudo o que é humano no homem, mas a tecnologia não atinge a loucura: e nela então o humano do homem se refugia” (LISPECTOR, 1999a, p. 245). Se quisermos traduzir nosso ser mais profundo em termos racionais, eis o que encontraremos: a loucura. A função que Clarice Lispector atribuirá à arte (e à escrita) estará diretamente relacionada a essa visão do mundo que resumimos até agora. O escopo da arte, para a autora, é o de aproximar-se o mais perto possível daquele cerne de vida, daquele absoluto que transcende os seres em suas individualidades e que, ao mesmo tempo, se encontra alojado no mais profundo de cada um deles, na matéria e no inconsciente. Daí surge o seguinte devaneio: Estou à procura de um livro para ler. É um livro todo especial. Eu o imagino como um rosto sem traços. Não lhe sei o nome nem o autor. Quem sabe, às vezes penso que estou à procura de um livro que eu mesma escreveria. Não sei. Mas faço tantas fantasias a respeito desse livro desconhecido e já tão profundamente amado. Uma das fantasias é assim: eu estaria lendo e de súbito, a uma frase lida, com lágrimas nos olhos diria em êxtase de dor e de enfim libertação: “Mas é que eu não sabia que se pode tudo, meu Deus!” (LISPECTOR, 1999a, p. 233). É nesse sentido que, em nossa dissertação – e em consonância com artigo de Plínio W. Prado Jr., “O impronunciável. Notas sobre um fracasso sublime”114–, identificamos o projeto 114 Neste artigo, Plínio W. Prado Jr. empreende a tarefa de explicar a natureza da maneira de escrever clariceana, que, afastando-se cada vez mais da função representativa e da lógica da exclusão assentada nos pares opositivos, une a forma ao afeto. Ao concluir o seu ensaio, Prado Jr. demonstra que “a escritura clariceana procede, à sua 191 estético de Clarice Lispector com uma poética do sublime. Tomamos este termo de Kant (2002) e em sua relação de oposição ao belo. Em síntese, enquanto o belo consiste em um sentimento de prazer (universal) produzido pela harmonia das faculdades (entendimento e imaginação) em seu jogo115, o sublime se caracterizaria por uma violência (no sentido de imposição de um limite) operada pela razão sobre a imaginação a fim de que esta não se perca perante a apreensão de realidades que excedem as medidas atingidas pelo raciocínio por estarem vinculadas ao infinito. O sentimento que o indivíduo experimenta diante do sublime pode oscilar da calma admiração (quando é agradável), até a angústia, a inquietação ou mesmo o horror. Considerações como a seguinte abonam essa hipótese: “Eu não penso em escrever beleza, seria fácil. Eu escrevi espanto e o deixei inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério” (LISPECTOR Apud. Borelli, 1980, p. 81). É a essa realidade maior que aspira chegar o texto de Clarice Lispector, tecido de entrelinhas. O sublime manifesta-a de forma mais contundente, mas é possível percebê-la em todas as coisas e na natureza mediante aquele exercício de pensar-sentir que nos propõe Clarice Lispector. Para a autora, esse é o objeto de toda arte, objeto a que chama também de “o Deus”. Nesse sentido, com sua obra, ela abona as seguintes palavras de Mikel Dufrenne na obra em que este explica em que consiste O poético: a Natureza não fala de um Deus que a transcendesse: se céus e terra narram a glória de Deus, é de um Deus que é a Natureza, que é o céus e a terra, na medida em que seu aparecer atesta o ser como fundo ou, como diz Ruyer, como “ponto possível de convergência das expressividades”. Ruyer, constatando que muitos filósofos rejeitaram o conceito no princípio era o Verbo, propõe, sobre essa fórmula, “uma nova versão: no princípio era o que é exprimido pela expressividade”. [...] Essa fonte de expressividade é a Natureza, a força do ser em todo ser que aparece com força suficiente para nele exprimir a Natureza, de sorte que a Natureza se exprime através dele (1969, pp. 227-228, grifos do autor). maneira, de uma estética do sublime. Já se terá então compreendido que tudo o que tentamos destacar aqui envia a essa estética paradoxal do não-belo: o evento e o sentimento contraditório que o assinala; a ‘transcendência’ ou a defasagem do instante-já em relação a si próprio; o desregulamento da poética dos gêneros e a desarticulação da sintaxe; a não-palavra e a mudez, que atestam a finitude da capacidade de dar forma à ‘coisa’; a melancolia mas também a alegria de pelo menos testemunhar o indizível, cumprindo um destino que impele a remontar ao incondicionado; a convicção de que o importante não se assinala senão negativamente: é impalpável, incompreensível, inominável etc.” (PRADO JR, 1989, p. 28, grifos do autor). 115 Sintetiza Kant (2002, p. 64): “o belo é o que apraz universalmente sem conceito”. 192 A autora também chama essa essência vital de “aquele ponto em que a dor se mistura à profunda alegria e a alegria chega a ser dolorosa116 – pois esse ponto é o aguilhão da vida” (LISPECTOR, 1999a, p. 201). Ou, ainda traduzindo o ideal absoluto da arte, diz Clarice: “De estar viva – senti – terei que fazer o meu motivo e tema” (LISPECTOR, 1999a, p. 205). Isto revela o profundo teor filosófico da obra clariceana, de procura da “verdade” (em um sentido equivalente a “essência da vida”). Daí deriva também a profunda vocação introspectiva da escritura de Clarice Lispector, em que os fatos adquirem um status secundário em benefício das impressões que eles suscitam no espírito das personagens. Desde criança, a autora tentava publicar histórias que “nenhuma contava propriamente uma história com os fatos necessários a uma história” (LISPECTOR, 1980a, p. 34), pois já era antes através do mergulho no ser, nesse movimento introspectivo, que se cumpria – mesmo sem a menina ser consciente disso – a primeira função da arte para Clarice: o autoconhecimento. Este atingirá o leitor que se deixar levar pela corrente de criação clariceana, pois ele irá descobrir nele mesmo as potencialidades de percepção e de visão que o texto de Clarice Lispector epifanicamente revela e anuncia. E ao encontrar-se a si mesmo, o leitor passa a ser co-criador da obra de arte, em um jogo de espelhos que envolve criadores e criaturas: “O personagem leitor é um personagem curioso, estranho. Ao mesmo tempo que inteiramente individual e com reações próprias, é tão terrivelmente ligado ao escritor que na verdade ele, o leitor, é o escritor” (LISPECTOR, 1999a, p. 79). Isso porque a procura de um sentido diante da manifestação do sublime estende-se ao leitor, que se torna um sujeito produtor de significação. Leitor universal117, porquanto se depara com a universalidade de um absoluto. Reside aí o profundo caráter subversivo que a arte deve ter para Clarice Lispector: ela deve abrir caminhos de percepção para produzir aquele alargamento de sensibilidade que permita ao autor e ao leitor libertar-se dos condicionamentos do pensamento: “O ovo118 vive foragido por estar sempre adiantado demais para sua época: ele é mais do que atual: ele é no futuro. – O ovo por enquanto será sempre revolucionário” (LISPECTOR, 1999a, p. 208). 116 Como veremos na próxima seção, o uso deste oxímoro constitui uma marca característica da escrita clariceana. 117 “Eu escrevo para quem quiser me ler”, diz nossa autora em resposta à carta de um leitor da coluna do Jornal do Brasil (LISPECTOR, 1999a, p. 93). 118 Cabe apontar que, em nossa dissertação, consideramos que, no que se refere ao produto do ato criativo na visão estética de Clarice Lispector, o ovo torna-se o símbolo mais emblemático, pois ele, sendo obra perfeita (“o ovo é uma exteriorização” <LISPECTOR, 1999a, p. 207>), contém em si, ao mesmo tempo, o mistério (seu conteúdo é invisível) e o cerne da vida. Vida essa que, por outro lado, mais tarde se tornará autônoma, da mesma forma que acontece com a obra em relação a seu autor. 193 Em face dessa espécie de missão, a questão do sucesso (noção derivada da indústria cultural) passa a ser supérflua e sem cabimento. Isso está diretamente relacionado com a dificuldade que a escritora manifesta quanto a receber dinheiro por sua tarefa119, ou, ainda, com a negação absoluta quanto a ceder a qualquer prerrogativa de mercado ou editorial. Para não abdicar dessa liberdade, nega inclusive ser uma profissional da escrita: Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, consigo mesmo de escrever... ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser uma profissional para manter minha liberdade (Entrevista à TV Cultura de São Paulo, 1977). Também em decorrência daquele alvo de busca da verdade mais profunda (na que universo e indivíduo se encontram), arte e vida assimilam-se na visão do mundo clariceana. Procurar a verdade do Ser é procurar a verdade de si (autoconhecimento). E é essa procura que dá sentido à existência, para nossa autora. Por isso, ela confessa: “Eu acho que quando não escrevo estou morta” (Entrevista à TV Cultura de São Paulo, 1977). Dentre os muitos exemplos que poderíamos citar, escolhemos aqui assinalar a única diferença encontrada entre as duas versões de “Submissão ao processo” (LISPECTOR, 1999a, p. 445; LISPECTOR, 1980a, p. 125, grifos nossos). De fato, a mesma consiste em que, na versão de A descoberta do mundo, a autora se refere ao processo de viver enquanto que em Para não esquecer, ela alude ao processo de escrever: O processo de viver (DM) / escrever (PNE) é feito de erros – a maioria essenciais – de coragem e preguiça, desespero e esperança de vegetativa atenção, de sentimento constante (não pensamento) que não conduz a nada, não conduz a nada, e de repente aquilo que se pensou que era “nada” – era o próprio assustador contato com a tessitura do viver – e esse instante de reconhecimento (igual a uma revelação) precisa ser recebido com a maior inocência, com a inocência de que se é feito. 119 “Ainda continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo que não se pode chamar propriamente de crônica. E, além de ser neófita no assunto, também o sou em matéria de escrever para ganhar dinheiro. [...] Assinando, [...] fico automaticamente mais pessoal. E sinto-me um pouco como se estivesse vendendo minha alma. Falei nisso com um amigo que me respondeu: mas escrever é um pouco vender a alma. É verdade. Mesmo quando não é por dinheiro, a gente se expõe muito” (LISPCTOR, 1999a, p. 29). 194 Algumas artes contam com recursos mais eficientes para atingir esse objetivo. E, nos depoimentos e crônicas da autora, já encontramos uma hierarquização em termos de possibilidades de exprimir esse inominável. A pintura e o desenho ocupam o patamar superior, junto com a música, em função da imagem e do som respectivamente, dois meios que não precisam da mediação da palavra, parecendo atingir diretamente os sentidos e o espírito: A verdade é que simplesmente me faltou o dom para a minha verdadeira vocação: a de desenhar. Porque eu poderia, sem finalidade nenhuma, desenhar e pintar um grupo de formigas andando ou paradas – e sentir-me inteiramente realizada nesse trabalho. Ou desenharia linhas e linhas, uma cruzando a outra, e me sentiria toda concreta nessas linhas que os outros talvez chamassem de abstratas (LISPECTOR, 1999a, p. 197). Não, eu não teria vergonha de dizer tão claramente que quero o máximo – e o máximo deve ser atingido e dito com a matemática perfeição da música ouvida e transposta para o profundo arrebatamento que sentimos. Não transposta, pois é a mesma coisa. Deve, eu sei que deve, haver um modo em mim de chegar a isso (LISPECTOR, 1999a, p. 201). É interessante pensar na relação entre pintura e palavra em Clarice Lispector, já que ela também pintou. Lúcia Helena Vianna realiza um estudo dessa relação em “O figurativo Inominável: Os Quadros de Clarice (ou Restos de Ficção)” (1998), mas a própria escritora também traz a reflexão sobre o assunto quando comenta: “Eu falaria sobre frutos e frutas. Mas como quem pintasse com palavras. Aliás, verdadeiramente, escrever não é quase sempre pintar com palavras?” (LISPECTOR, 1999a, p. 198). Também as noções de abstrato120 e figurativo ganham uma nova significação no universo clariceano, pois, em virtude da prioridade outorgada ao transcendente supraindividual (impessoal), o abstrato passa também a ser figurativo, mas “de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a olho nu” (LISPECTOR, 1999a, p. 316). Nessa nova hierarquia, as artes plásticas abstratas também são consideradas superiores, pois podem prescindir da imagem e da individualização das coisas para mostrar diretamente “a coisa”. 120 No caso da escrita, podemos chamar o abstrato também de hermético, termo que Clarice também questiona em relação a sua arte. Ver LISPECTOR, 1999a, p. 236. 195 Assim, na escrita, Clarice Lispector, ao ter que lidar com a linguagem, sabe que esbarra aí com um impossível. Mas isso, longe de deslegitimar a prática da arte (escrita), passa a constituir um novo fim em si mesmo (o do incessante exercício de busca), porquanto a arte revela-se como o único meio capaz dessa aproximação, mesmo que imperfeita. É por isso que Clarice afirma, também em seus textos escritos para o Jornal: “Nem tudo o que escrevo resulta numa realização, resulta mais numa tentativa. O que também é um prazer. Pois nem em tudo eu quero pegar. Às vezes quero apenas tocar. Depois o que toco às vezes floresce e os outros podem pegar com as duas mãos” (LISPECTOR, 1999a, p. 143). Plínio W. Prado Jr. associa esse fracasso à estética do sublime da seguinte forma: O que finalmente está em jogo com essa escritura, não se situa portanto no nível fatual do que ‘é’, no espaço e no tempo, mas bem ao nível ontológico disso que dá a ser – se eclipsando. Ou se se preferir: ao nível da inominável ‘força criadora’. Ora, se o que ‘é’ é um isto determinado, já determinável na linguagem pelos dêiticos (‘aquelas caravanas rumo ao Tibet’, ‘esta frase aqui no papel’) o que dá a ser é por excelência indeterminável enquanto tal, e portanto não é. Como então uma frase, ou cadeia de frases, poderia tornar presente ‘algo’ que não é (determinável)? Como poderia determinar, dar forma ao indeterminável? Este dilema é a questão de toda a estética do sublime. [...] Não há então aí nenhuma intuição sensível de uma presença integral ou ‘experiência mística’ do vazio (pleno); há antes uma vertigem ou falência da experiência [...]. É justamente essa falência que serve de ‘passagem’ por sobre o abismo que há entre a forma e o sem-forma, a palavra e o afeto, permitindo exprimir – mas apenas negativamente – o inexprimível, permitindo aludir ao inominável; pronunciando-o pela mudez, diria C.L. (PRADO JR.., 1989, pp. 24 a 26, grifos do autor). Como já apontamos anteriormente, o principal instrumento para atingir esse fundo vital é a intuição, que implica a libertação de todo utilitarismo. E essa idéia é a que Clarice exprime em “O artista perfeito”, ensaio incluído em A descoberta do mundo (1999a, p. 228). Artista perfeito será, para Clarice, aquele que, através de imagens (e não de conceitos), procurar exprimir o Ser poético da Natureza, bem na esteira do pensamento de Mikel Dufrenne de que Atenta à significação conceitual ou à significação prática, a percepção não capta o dado como uma imagem que carrega em si o seu sentido. Não se espanta do aparecer, não se retrai diante dele pois não vê nele a manifestação do ser: vai direto a um ser familiar e manipulável, ainda quando esse é desconcertante ou temível, por não ter a fisionomia do fundo. As imagens que revelam o ser poético da Natureza são diversamente significantes. Em primeiro lugar, não são propriamente imagens enquanto 196 exigem, antes ser sentidas do que ser trabalhadas. Em seguida elas são, como já dissemos, prenhes do mundo: seu sentido transborda o dado. Agora podemos compreendê-lo melhor: esse mundo de indecisos contornos é a maneira pela qual a Natureza sugere-se a nós. A intuição da Natureza cristaliza-se em imagens do mundo, e esses mundos são a cifra da Natureza. É assim que nos fala a Natureza (DUFRENNE, 1969, pp. 225-226). Para desprender-se do utilitarismo, o artista deverá empreender uma aprendizagem e é por isso que nossa autora coloca que “arte não é pureza, é purificação, arte não é liberdade, é libertação” ou ainda “arte, imagino, não é inocência, é tornar-se inocente” (LISPECTOR, 1999a, p. 229). O que separa o artista do louco (que teria uma evidente vantagem nesse trabalho) seria o senso consciente da busca. Quanto ao que leva o artista a praticar a sua arte, Clarice Lispector alude, em primeiro lugar, a uma necessidade de expressão, necessidade vital: “O contato com outro ser através da palavra escrita é uma glória. Se me fosse tirada a palavra pela qual tanto luto, eu teria que dançar ou pintar. Alguma forma de comunicação com o mundo eu daria um jeito de ter” (LISPECTOR, 1999a, p. 95). Também alude a um destino ou missão121, ou mesmo a uma “maldição” (LISPECTOR, 1999a, p. 74) que assombra o artista: “O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida” (LISPECTOR, 1999a, p. 208). A autora sente igualmente o peso de uma responsabilidade social que manifesta da seguinte forma: Eu amo quem tem paciência de esperar por mim e pela minha voz que sai através da palavra escrita. Sinto-me de repente tão responsável. Porque se sempre eu souber usar a palavra – embora às vezes gaguejando – então sou uma criminosa se não disser, mesmo de um modo sem jeito, o que quereis ouvir de mim. O que será que querem ouvir de mim? Tenho o instrumento na mão e não sei tocá-lo, eis a questão. Que nunca será resolvida. Por falta de coragem? Devo por contenção ao meu amor, devo fingir que não sinto o que sinto: amor pelos outros? (LISPECTOR, 1999a, pp. 95-96). Paradoxalmente, aquela “maldição” é sentida como “salvação”, pois escrever também é um dom de criação, uma espécie de divinizador: Eu disse certa vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por que exatamente eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito: escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. 121 “Para que o ovo use a galinha é que a galinha existe. Ela era só para cumprir sua missão, mas gostou” (LISPECTOR, 1999a, p. 209). 197 [...] È uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada (LISPECTOR, 1999a, p. 134). Trata-se de uma criação que, à maneira de Deus, molda uma criatura dotada de livre arbítrio. Assim exprime a narradora autodiegética de “Noveleta” essa fatalidade: “Eu ia receber de volta em pleno rosto a bola de mundo que eu mesma lhe jogara e que nem por isso me era conhecida. Ia receber de volta uma realidade que não teria existido se eu não a tivesse temerariamente adivinhado e assim lhe dado vida” (LISPECTOR, 1999a, p. 266). Maldição ou salvação, a criação é para Clarice uma força que se encontra em estado latente e que usa o artista para se manifestar, independente da conivência daquele: “Mas quem? Quem me obriga a escrever? O mistério é esse: ninguém, e no entanto a força me impelindo” (LISPECTOR, 1999a, p. 196). Ora chamemos essa força de natureza naturante (Natureza essa, que, como explica Dufrenne,1969, p. 205, produz o próprio homem com vistas a atingir a sua expressão) ou de Inconsciente122 (um outro nome para o fundo misterioso do Ser), o certo é que, para Clarice Lispector, o artista não escolhe a sua produção. Em textos como “Ao correr da máquina” (LISPECTOR, 1999a, p. 340) ou “Máquina escrevendo” (LISPECTOR, 1999a, p. 347), encontramos proposições como “A máquina continua escrevendo” ou “Agora a máquina vai parar” que traduzem essa idéia. Ou, no mesmo sentido: Às vezes me vêm frases completas, resultado retardado de pensamentos anteriores. São misteriosas essas frases porque, ao virem, não se ligam mais a nenhuma fonte. Por exemplo, a frase seguinte chegou-me e poderia ter sido dita por tantas pessoas infelizes: ‘Eu queria te dar pão para a tua fome mas tu querias ouro. No entanto tua fome é grande como a tua alma que apequenaste à altura do outro.” Por que estas palavras que não vivi eu própria? A única hipótese, por causa da palavra ouro, vem do sonho que uma leitora teve a meu respeito (LISPECTOR, 1999a, p. 106). 122 Sobre este ponto, é interessante ler “Lembrança da feitura de um romance” (LISPECTOR, 1999a, p. 284) e “A explicação que não se explica” (LISPECTOR, 1999a, p. 238), crônica em que a autora relata a gênese de alguns de seus contos. 198 Para possibilitar a manifestação dessa força criativa, o artista deve inclusive desenvolver uma atitude passiva, da mesma índole da que, na vida, devemos desenvolver para poder “descortinar” ou para que as coisas “aconteçam” em nós (expressões que, como veremos mais adiante, Clarice utilizará com insistência em sua obra romanesca): “É absolutamente necessário que eu seja uma ocupada e uma distraída” (LISPECTOR, 1999a, p. 211): Ou sou um agente, ou é a traição mesmo. Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário: parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil, é exigido de mim inclusive que eu durma como um justo. Eles me querem ocupada e distraída, e não lhes importa como. Pois, com minha atenção errada e minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que se está fazendo dentro de mim. É que eu própria, eu propriamente dito, só tenho mesmo servido para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente é a idéia de que meu destino me ultrapassa: pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar, eu era daqueles que fariam mal ao trabalho se ao menos não adivinhasse um pouco; fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas vagamente ficou-me a noção de que meu destino me ultrapassa, e de que sou instrumento do trabalho deles (LISPECTOR, 1999a, p. 213). Em função dessa necessidade imperiosa de expressão, em contradição com o reconhecimento da limitação do meio a ser utilizado para cumpri-la, é que artistas como Clarice Lispector sofrem da angústia que Mendilow descreve: “Somos apanhados no dilema inextrincável de que a letra mata, mas o espírito da vida pode encontrar expressão apenas através da letra” (MENDILOW, 1972, p. 166). Além disso, é possível vislumbrar, na última citação de Clarice Lispector acima, outra concepção central do pensamento indeterminado de Clarice Lispector, que identificamos nos romances: a idéia da individualidade (ou do eu) como um obstáculo para a realização de um destino maior, supra-individual e impessoal, e a subseqüente procura de uma despersonalização. Mas vejamos ainda como a autora alude especificamente àquela passividade a que vínhamos fazendo referência, no seguinte trecho de A descoberta do mundo: Escrevendo, tenho observações por assim dizer passivas, tão interiores que se escrevem ao mesmo tempo em que são sentidas, quase sem o que se chama de processo. É por isso que no escrever eu não escolho, não posso me multiplicar em mil, me sinto fatal a despeito de mim (LISPECTOR, 1999a, p. 319). 199 Essa força, que, na visão clariceana, o artista não consegue controlar, provoca medo, medo de (também como na vida) entregar-se ao desconhecido (imprevisível por sua própria natureza e pela liberdade intrínseca à criação): “O que farei de mim? Quase nada. Não vou escrever mais livros. Porque se escrevesse diria minhas verdades tão duras que seriam difíceis de serem suportadas por mim e pelos outros. Há um limite de ser. Já cheguei a esse limite” (LISPECTOR, 1999a, pp. 81-82); “Às vezes é o horror de tocar numa palavra que desencadearia milhares de outras, não desejadas, estas. No entanto, o impulso de escrever” (LISPECTOR, 1999a, p. 196). Ou, Como em tudo, no escrever também tenho uma espécie de receio de ir longe demais. Que será isso? Por quê? Retenho-me, como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e me levar Deus sabe onde. Eu me guardo. Por que e para quê? Para o que estou me poupando? Eu já tive clara consciência disso quando uma vez escrevi: ‘é preciso não ter medo de criar’. Por que o medo? Medo de conhecer os limites de minha capacidade? Ou medo do aprendiz de feiticeiro que não sabia como parar? (LISPECTOR, 1980a, p. 134). E é em função dessa força que se percebe como misteriosa e incontrolável, que a inspiração se torna, na poética clariceana, a porta de ingresso aos domínios da criação, a chave do “verdadeiro escrever”: “Que pena que só sei escrever quando espontaneamente a ‘coisa’ vem. Fico assim à mercê do tempo. E, entre um verdadeiro escrever e outro, podem-se passar anos. Lembro-me agora com saudade da dor de escrever livros” (LISPECTOR, 1999a, p. 134). É justamente a arbitrariedade da inspiração – que a autora parece lamentar na citação acima – a que exige a atitude passiva por parte do artista que mencionamos anteriormente neste capítulo. A inspiração, contudo, também provoca prazer: “Outro prazer que é normal é quando escrevo o que se chama de inspirada. O pequeno êxtase da palavra fluir junto do pensamento e do sentimento: nessa hora como é bom ser uma pessoa!” (LISPECTOR, 1999a, p. 137). Assim é que a escritura de Clarice Lispector (criação e não imitação) acompanha o tempo (duração) na imprevisiblidade da sua contingência. 200 E, embora a autora123 declare que a sua forma de escrever se divide em duas etapas (uma primeira de inspiração e uma segunda de seleção, apuração e/ou ordenação de fragmentos), a fidelidade àquela inspiração é confirmada pela recusa a emendar qualquer coisa depois da obra terminada: E depois de pronto o livro, de entregue ao editor, posso dizer como Júlio Cortazar: retesa o arco ao máximo enquanto escreve e depois o solta de um só golpe e vai beber vinho com os amigos. A flecha já anda pelo ar, e se cravará ou não no alvo; só os imbecis podem pretender modificar sua trajetória ou correr atrás dela para dar-lhe empurrões suplementares com vistas à eternidade e às edições internacionais (LISPECTOR, 1999a, p. 309). Por outro lado, é interessante notar que, em termos de criação, sempre a arte fica em segundo lugar com respeito à Natureza, é criação de segundo grau: “Plantar é criar na Natureza. Criação insubstituível por outro tipo qualquer de criação. [...] Não foi sem alguma emoção que vi num prato da mesa os tomates que eram mais meus que um livro meu” (LISPECTOR, 1999a, p. 317). 2.1.1 Perto do coração selvagem: germe ou fruto da póetica-visão clariceana? Sejam quais forem os diferentes elementos que, camada a camada, visão a visão, foram conformando, no espírito de Clarice Lispector, essa concepção de mundo ou pensamento (-sentimento) indeterminado, o certo é que, desde cedo, ele começa a apontar aqui ou ali em atitudes, expressões e gestos da escritora. Em entrevista outorgada à TV Cultura de São Paulo em fevereiro de 1977 – isto é, meses antes do seu falecimento –, Clarice lembra a suas primeiras incursões na escrita, contando que desde “antes dos sete anos [...] já fabulava” e que, por essa época, tinha começado a escrever uma história “que não acabava 123 “Quando estou escrevendo alguma coisa eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, não é? Agora, quando estou no ato de concatenar as inspirações, aí sou obrigada a trabalhar diariamente.” (Entrevista à TV Cultura de São Paulo, fevereiro de 1977); “A frase já vem feita, mas não gosto da fase posterior do trabalho que consiste em reunir esses pensamentos e idéias nascidas aos pedaços.” (Apud. BORELLI, 1981, p. 82) 201 nunca”124. Aparece assim, de forma precoce e espontânea, a tendência a subverter as categorias da narrativa: a menina Clarice escreve um conto sem fim. Alguns anos mais tarde, Clarice Lispector, já com 23 anos, publicará Perto do coração selvagem, romance de estréia, sua primeira obra acabada enquanto romancista. Como veremos a seguir, a visão do mundo de Clarice Lispector apresentada acima sustenta toda a narrativa, que conta a história de Joana, do seu casamento com Otávio (advogado), e da sua separação. No entanto, antes de mais nada, é a história de uma mulher que procura incansavelmente, através do contato com o outro (Otávio, pai, tia, Lídia, o homem), encontrar o seu ser autêntico (a mulher da voz125) e que, para achar um caminho que a conduza para perto do seu coração selvagem, paga o preço da solidão, do ensimesmamento126. Daí deriva o que Luís Costa Lima considera a maior causa de fraqueza deste romance: “[...] a impossibilidade de Joana, semelhante à dos demais personagens de Lispector, em ir além de si mesma resulta da diminuição da realidade, pela autora, ao meramente subjetivo. Com o que, então, o fragmento, a ocorrência não se articula com a totalidade” (COSTA LIMA, 1986, p. 529). Isto acarretaria, conforme o mesmo crítico, uma “desarticulação com a realidade”, bem como um falseamento das personagens, submetidas, em suas falas, a um constante “palavreado intelectualizante” (Ib., 1986, p. 529). Tentaremos mostrar, neste capítulo, como 124 Acrescenta, ainda, a escritora em entrevista a Affonso Romano de Sant’Anna et al.: “Era o ideal, uma história que não acabasse nunca” (LISPECTOR, 2005, p. 139). Também na crônica “Escrever” (1999a, p. 286), a autora alude a “uma história interminável” que teria começado a escrever por volta dos 13 anos de idade. 125 Em determinado momento do romance, Joana chega à conclusão de que o que ela faz é usar “os outros para fundo sombrio onde se recortasse sua figura brilhante e alta” (PCS, p. 162). 126 Desde pequena, Joana descobre uma solução para os conflitos com o outro, frutos da incompreensão, no autoisolamento. Assim, sua tia observa: “Mesmo aqui em casa, ela é sempre calada, como se não precisasse de ninguém... E quando olha é bem nos olhos, pisando a gente... [...] É um bicho estranho [...], sem amigos e sem Deus [...]” (PCS, pp. 52-53). A passagem da puberdade também se dá em solidão, numa solidão escolhida: “Agora sou uma víbora sozinha. [...] Sozinha... O tio e a tia estavam à mesa. Mas a quem deles ela diria: tenho cada vez mais força, estou crescendo, serei moça? Nem a eles, nem a ninguém. [...] Sim, a nenhum deles explicaria que tudo mudava lentamente... Que ela guardara o sorriso como quem apaga finalmente a lâmpada e resolve deitar-se. Agora as criaturas não eram admitidas no seu interior, fundindo-se” (PCS, pp. 65-66). Já casada, e após “descobrir” o seu homem (Otávio) dormindo ao seu lado, Joana reconhece: “Ela estava vivendo, vivendo. Espiou-o. Como ele dormia, como existia. Nunca o sentira tanto. Quando se unira a ele, nos primeiros tempos de casada, o deslumbramento lhe viera de seu próprio corpo descoberto. A renovação fora sua, ela não transbordara até o homem e continuara isolada. [...] Silenciou de novo olhando para dentro de si. Lembrou-se: sou a onda leve que não tem outro campo senão o mar, me debato, deslizo, vôo, rindo, dando, dormindo, mas ai de mim, sempre em mim, sempre em mim” (PCS, pp. 145-146). A necessidade de introspecção de Joana é ressaltada no romance. Os outros incomodam-na: “Otávio saíra cedo e ela o abençoava por isso como se ele lhe tivesse concedido intencionalmente tempo para pensar, para observarse” (PCS, p. 148); “[...] eu nunca sei o que fazer das pessoas ou das coisas de que eu gosto, elas chegam a me pesar, desde pequena. Talvez se eu gostasse realmente com o corpo... Talvez me ligasse mais...” (PCS, p. 161). No final do romance, ela se defende diante de Otávio, que a acusa de sempre tê-lo deixado só: “Não... [...] É que tudo o que eu tenho não se pode dar. Nem tomar. [...] A solidão está misturada à minha essência... [...] Não tenho culpa [...], acredite... Está gravado em mim que a solidão vem de que cada corpo tem irremediavelmente seu próprio fim, está gravado em mim que o amor cessa na morte... Minha presença sempre foi essa marca...” (PCS, p. 191). 202 essa avaliação é em boa medida improcedente, por apoiar-se em critérios críticos que não se adéquam ao trabalho específico da nossa autora. Quanto à fortuna da viagem que encerra o romance (uma possível abertura para a realização do ser autêntico), as palavras (premonitórias?) do professor podem nos servir de guia para pensarmos o final da obra em ternos de sucesso (de um empreendimento/investimento existencial) ou de desventura: “– Não sei [...] talvez você seja feliz alguma vez, não compreendo, de uma felicidade que poucas pessoas invejarão. Não sei se se poderia chamar de felicidade. Talvez você não encontre mais ninguém que sinta com você, como...” (PCS, pp. 58-59). Para Costa Lima, a subjetivação da realidade que caracteriza a escritura de Clarice Lispector, impede quaisquer tentativas de realização do ser por parte das personagens: [...] as criaturas pensam e preparam o seu instante liberador, mas a liberdade afinal não se quer cumprir, deseja limitar-se sempre aos momentos em que a verdade jorre organicamente. Por isso é que o pensamento se faz eterno no seu papel de projetar o sonho de uma liberação que, pela própria abstração histórica em que é pensada, só tem de se frustrar (COSTA LIMA, 1986, p. 535). Seguindo a mesma linha de pensamento de Luís Costa Lima, José Fernandes (1986, pp. 145-146) adota uma interpretação profundamente pessimista que reduz o sentido da narrativa. Além disso, ao identificar “o amor” à relação de Joana com seu marido, Otávio, (cujo fracasso é analisado a seguir a partir da suposta incapacidade de Joana em relacionar-se com o outro), realiza uma redução da temática existencial mais profunda contida na obra a uma suposta problemática psicológica da personagem, “distraída e egoísta” (PCS, p. 200), e que reconhece, no final, que “tudo deslizara sobre ela, nada a possuíra” (PCS, p. 200): A liberdade é um ato de ser, e ser relacionado com o outro e com o mundo [...]. Voltar-se para si é, de certa forma, esquecer-se do outro, é cercear-lhe a liberdade. Mas, no mundo em que a técnica sobrepuja todas as potencialidades do humano, não existe lugar para o outro e voltar-se para si é uma forma de ser livre. É o que ocorre com Joana, em Perto do coração selvagem. Ela é livre interiormente; é possuída de uma liberdade que se assemelha à liberdade do deportado, do exilado, do escravizado e humilhado. A liberdade interior tem, para quem está de fora, sabor de ilusão, mas para 203 quem dela se serve, como Joana, é ela perfeita e real, embora realizada na angústia e na solidão incomensuráveis. No momento em que Joana aceita a condição – mesmo imposta – de escrava e solitária, ela está exercendo a sua liberdade. É a consciência plena de seu malogro, por ser incapaz de executar um projeto existencial. Joana fecha-se em seu insucesso, fecha-se em sua solidão, em sua angústia e encerra-se no nada. A liberdade, é verdade, progride e se desenvolve ao enfrentar obstáculos, mas quando o abandono é extremo, é impossível ser-se livre, nem mesmo diante do amor, diante de Otávio. A nossa visão da obra segue mais a orientação que dá Roberto Schwarz para o leitor do romance: “A impossibilidade, em termos de psicologia associacionista, de estabelecer relações entre fenômenos complexos, a quota de arbítrio que por isso mesmo penetra o mundo, esse são fatores decisivos para a interpretação de Joana e do livro” (SCHWARZ, 1981, p. 56). Tendo em vista esse pressupostos, o crítico conclui que, na sua solidão, Joana “desdobrada em inteligência e núcleo, assiste-se e se interpreta. Essa descontinuidade entre lucidez e ser efetivo [...] é o vazio em que se instala o arbítrio e é o tema da obra. [...] Joana é a vertigem de quem, sem dominar-se, faz do acaso a sua riqueza” (Ib., p. 56). Quase no final do romance, surge em Joana por primeira vez a idéia de “não fugir, mas ir” (PCS, p. 188). Logo a seguir, hesita: “Não, não ir: ficar presa ao instante como um olhar absorto prende ao vácuo, quieta, fixa no ar...” (PCS, p. 188). Isso poderia sugerir a idéia de que sua viagem final não passaria de mais uma elucubração de Joana, fruto da coragem que “desenvolvera-se dentro do quarto e à luz fechada mundos luminosos se formavam sem medo e sem pudor” (PCS, p. 183). Mais tarde, porém, Otávio “subitamente compreendeu que Joana iria embora. [...] Ela iria embora, ele sabia...” (PCS, p. 195). É por levar em consideração essas contradições que, propositadamente, deixam o final de Perto do coração selvagem aberto, que não nos proporemos determinar nada com certeza, nem neste e nem nos restantes romances de Clarice Lispector que analisaremos na presente tese. Isso por entendermos que, caso o fizéssemos, estaríamos incorrendo em erro grave: empobrecer o texto ao tentar provar o que nem a própria autora – como ela mesma nos alerta – gostaria e nem poderia provar. Seja como for, a viagem existencial perpétua de Joana é certa: assistimos ao seu desenrolar em todo o romance e sabemos que, em função da própria personalidade de Joana, ela não terminará nunca. 204 Por outro lado, a protagonista de Perto do coração selvagem assemelha-se em muitos traços e vivências a sua autora, Clarice Lispector. “Espécie de biografia de um futuro já traçado”127, conforme expressão de Lícia Manzo (2001, p. 20), Joana teria sido criada “à imagem e semelhança” (Ib., p. 13) de Clarice Lispector128. A crítica numera semelhanças entre a personagem e a autora: além de “coincidências factuais entre a vida de Clarice e a de Joana129” (Ib., p. 14), ela detecta o mesmo pendor (ou mesmo necessidade) subjetivista em Clarice que tanto Costa Lima quanto José Fernandes tinham assinalado como limitação da personagem Joana e do romance: “Seu modo único de ver as coisas, sua extraordinária percepção de realidades e mundos à primeira vista invisíveis, sua liberdade feroz, faziam de Clarice uma mulher tão poderosa quanto solitária, condenada a viver num mundo fundado exclusivamente por ela e para ela” (MANZO, 2001, p. 13)130. Como vimos em nota de rodapé anterior, a necessidade e a procura da solidão é também uma constante na personalidade de Joana: “Aos poucos conseguiu realmente isolarse” (PCS, p. 85). E essa busca tem um objetivo claramente definido pela própria personagem: a possibilidade do encontro consigo mesma fora de todas as convenções e restrições sociais a fim de poder surgir um ser que, mediante a transcendência de tudo isso, possa simplesmente cumprir-se: Justamente sempre acontecia uma pequena coisa que a desviava do torrente principal. Era tão vulnerável. Odiava-se por isso? Não, odiar-se-ia mais se já fosse um tronco imutável até a morte, apenas capaz de dar frutos mas não de crescer dentro de si mesma. Desejava ainda mais: renascer sempre, cortar tudo o que aprendera, o que vira, e inaugurar-se num terreno novo onde todo pequeno ato tivesse um significado, onde o ar fosse respirado como da 127 Talvez apenas a título de curiosidade, é interessante resgatar uma fala na qual Clarice dá a conhecer uma certa qualidade precognitiva da sua escrita: “Sou meio misteriosa, também. Eu escrevo uma coisa e anos depois é que vou vivenciar, realmente, aquela coisa. Aí já está escrito faz muito tempo...” (LISPECTOR, 1972 apud SOUSA, 2004, p. 188). 128 Apesar de não ser um romance autobiográfico, apresentando uma narração heterodiegética, em função de determinados princípios da escritura clariceana que abordaremos mais adiante, Perto do coração selvagem (como a maioria dos romances de Clarice Lispector) localiza-se em uma espécie de zona franca que faz com que possamos aplicar ao romance de estréia a reflexão que Sebástien Hubier realiza em torno do romance autobiográfico: “[…] será possível, sem dúvida, considerar que o ‘romance autobiográfico’ desenvolve quase invariavelmente uma série de identificações ideais que, aos poucos, asseguram a estabilidade da personagemnarrador e garantem, para além dela, a coerência identitária do escritor. Por isso será vão negar, pura e simplesmente, as fortes semelhanças que aproximam narrador e autor” (HUBIER, 2003, pp. 116-117, tradução nossa). 129 Lícia Manzo aponta três, fundamentalmente: “ausência da figura materna durante sua infância [...], a morte do pai na adolescência [...], o noivado e o casamento com Otávio (um jovem advogado)” (MANZO, 2001, p. 14). 130 Olga de Sá também observa que “A vida de Joana vista pela própria Joana, suas contradições entre amor, pensamento e medo focalizadas de seu próprio ângulo, pertencem ao enfoque metalingüístico da obra e à obsessão de Clarice Lispector pelo problema da linguagem” (SÁ, 1993, p. 117). 205 primeira vez. Tinha a sensação de que a vida corria espessa e vagarosa dentro dela, borbulhando como um quente lençol de larvas (PCS, pp. 85-86). Essa solidão é também o preço que a personagem paga por sua liberdade: “Doía ou alegrava? No entanto sentia que essa estranha liberdade que fora sua maldição, que nunca ligara nem a si própria, essa liberdade era o que iluminava sua matéria. E sabia que daí vinha sua vida e seus momentos de glória e daí vinha a criação de cada instante futuro” (PCS, p. 210). Qualquer tipo de acomodação, seja a um ritual como rezar, seja no estabelecer-se no próprio sofrimento (PCS, p. 88), significa uma covarde fuga de si para Joana. Então, ela pergunta: “O que fazer? [...] Por que não tentar amar? Por que não tentar viver?” (PCS, p. 88). Veremos, então, como as respostas que parecem ir delineando-se em Perto do coração selvagem são condizentes com a visão do mundo de Clarice Lispector que introduzimos acima. O romance inicia-se com alguém escrevendo (um romance?). É o pai de Joana. O romance já começa apresentando a concepção clariceana de união entre todas as coisas. Esse sentimento do fundo dá lugar a todo um questionamento em torno do pensamento (que não consegue explicar) e da linguagem (que não consegue contar), reflexão que – notemo-lo desde já – dificilmente uma menina da idade de Joana ao começar o romance (idade indeterminada, mas calculável em torno dos 7 ou 8 anos) poderia desenvolver131: Entre ela e os objetos havia alguma coisa, mas quando agarrava essa coisa na mão, como a uma mosca, e depois espiava – mesmo tomando cuidado para que nada escapasse – só encontrava a própria mão, rósea e desapontada. Sim, eu sei o ar, o ar! Mas não adiantava, não explicava. Esse era um de seus segredos. Nunca se permitiria contar, mesmo a papai, que não conseguia pegar “a coisa”. Tudo o que mais valia exatamente ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas. [...] O melhor era mesmo calar (PCS, p. 14). Ao conformarem, na Verdade, uma unidade indissolúvel, os objetos e a natureza podem agir como espelho para quem estiver conectado com seu ser mais profundo: “Aquilo cinzento e verde estendido dentro de Joana como um corpo preguiçoso, magro e áspero, bem 131 Como veremos mais adiante, em casos como este, em que as condições das personagens não se condizem com o teor de seus pensamentos/sentimentos, consideramos pertinente a crítica de Costa Lima (1986) quanto a uma exacerbada intelectualização injustificada das personagens nas obras de Clarice Lispector. 206 dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como olhos sem sono e enervados, aquilo confirmava-se diante da montanha parada” (PCS, p. 33). Cabe notar também que alguns elementos da natureza ganham, no imaginário clariceano, um valor simbólico determinado que será mantido obra após obra. Por exemplo, o vento como símbolo de liberdade já se faz presente em Perto do coração selvagem “A casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam” (PCS, p. 37). A primeira tentativa de fuga dessa prisão por parte de Joana é acompanhada pelo vento: “Uma onda de vento e de areia entrou pelo hall, levantou as cortinas, trouxe leve ar fresco” (PCS, p. 39). O mar, símbolo de fecundidade, é associado mais especificamente ao princípio masculino: “Joana continuou de pé, mal respirando aquele cheiro morno que após a maresia vinha doce e parado” (PCS, p. 37). É esse mar que “olhava de longe, sem chorar, sem seios. Grande, grande” (PCS, p. 40) que desperta o desejo da pré-púber Joana: “Não era tristeza, uma alegria quase horrível [...] Cada vez que reparava no mar e no brilho quieto do mar, sentia aquele aperto e depois afrouxamento no corpo, na cintura, no peito” (PCS, p. 40). O corpo, para Clarice Lispector, é o nosso elo com o mundo, no mundo vivido, e não apenas o espírito. Por isso, já em seu romance de estréia a autora concebe uma transcendência que estaria alojada na própria matéria: Não sinto loucura no desejo de morder estrelas, mas ainda existe a terra. E porque a primeira verdade está na terra e no corpo. Se o brilho das estrelas dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela tremula dentro de mim. Eis-me de volta ao corpo. Voltar ao meu corpo. Quando me surpreendo ao fundo do espelho assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo nas coisas além de mim mesma. Quando me surpreendo ao espelho não me assusto porque me ache feia ou bonita. É que me descubro de outra qualidade. [...] Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa (PCS, pp. 71-72). É a partir de vivências como essa que Joana descobre a possibilidade de redescobrir (e recuperar) esse mundo de nossa experiência sensível através da visão, de uma volta a uma percepção desarmada dos preconceitos elaborados pelo pensamento (na representação): 207 Havia muita coisa a ver também. Certos instantes que valiam como “flores no túmulo”: o que se via passava a existir. No entanto Joana não esperava a visão num milagre nem anunciada pelo anjo Gabriel. Surpreendia-a mesmo no que já enxergara, mas subitamente vendo pela primeira vez, subitamente, compreendendo que aquilo vivia sempre. Assim, um cão latindo, recortado contra o céu. Isso era isolado, não precisava de mais nada para se explicar... [...] E de repente, sim, ali estava a coisa verdadeira (PCS, p. 46). E na união dos sentidos a percepção é una. É “Mergulhada numa alegria tão fina e intensa quase como o frio do gelo, quase como a percepção da música” (PCS, p. 206), que Joana adivinha sua tão ansiada libertação, no final do romance. Em uma transição anterior de sua vida, no ritual de passagem para a sua puberdade, Joana já sentira a sua unidade com o Todo através do corpo, a indissolúvel união entre corpo e espírito e a fusão dos sentidos na percepção: Qualquer coisa agitava-se em mim e era certamente meu corpo apenas. Mas num doce milagre tudo se torna transparente e isso era certamente minha alma também. Nesse instante eu estava verdadeiramente no meu interior e havia silêncio. Só que meu silêncio, compreendi, era um pedaço do silêncio do campo. E eu não me sentia desamparada. [...] Sentia o cavalo vivo perto de mim, uma continuação do meu corpo. [...] Uma cor maciamente sombria deitara-se sobre as campinas mornas do último sol e a brisa leve voava devagar (PCS, p. 75). Mais tarde, já mulher, no quarto do homem-amante, a partir da visão de uma pintura, Joana confirmaria: “Pelos olhos semicerrados o navio flutuava torto no quadro, as coisas do quarto espichavam-se, luminosas, o fim de uma dando a mão ao começo de outra. Pois se ela sabia ‘que tudo era um’, por que continuar a ver e a viver?” (PCS, pp. 177-178). A que fala remetem essas aspas? Marcarão elas o encontro da personagem com a voz que sopra no seu ouvido as verdades nas quais ela acredita e sente? Que voz seria essa? A da autora Clarice Lispector ou a voz ainda não articulada do inconsciente? O questionamento básico dirigido ao pensamento é justamente o de que ele divide artificialmente (através do conceito-adjetivo) a Verdade (única, substantiva) em pequenas verdades, sempre parciais e autoritárias. Joana lamenta: “Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o, sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo” (PCS, p. 20). Não traduz essa 208 constatação de Joana aquela angústia que Clarice Lispector exprime na primeira epígrafe deste capítulo (LISPECTOR, 1999a, pp. 78-79) como “O desejo de enfim dizer o que nós todos sabemos e no entanto mantemos em segredo como se fosse proibido dizer às crianças que Papai Noel não existe, embora sabendo que elas sabem que não existe”? Como já observáramos em nossa dissertação, revelando-se contra o funcionamento desse mesmo pensamento que produz conceitos que “andam comumente por pares e representam os dois contrários” (Bergson, 1956, p. 46)132, afirma a jornalista Clarice Lispector: “Eu sou sim. Eu sou não. Aguardo com paciência a harmonia dos contrários. Serei um eu, o que significa também vós” (LISPECTOR, 1999a, p. 279). A questão da moral em Clarice Lispector está diretamente relacionada com o questionamento desse pensamento construído na base do conceito, pois um dos pares conceituais que Clarice Lispector desconstrói com maior insistência é o par bem/mal. Talvez seja por isso também que, em seu pensamento, resulte tão difícil determinar o que significa um e o outro. Há um deslizamento dos julgamentos em termos de bem e mal que se condiz com a própria noção de pensamento indeterminado que usamos como base para nossa análise. Cabe aqui apenas apontar essa oscilação como mais uma quebra do binarismo do conceito e, por conseguinte, dos automatismos da linguagem133. Como sintetiza de forma brilhante Olga de Sá, ambas as dimensões (moral e linguagem) estão intimamente ligadas na escrita de Clarice Lispector e servem a uma mesma estratégia de persuasão dirigida ao leitor: Clarice tem percepção aguda dos clichês morais e, pelo desgaste deles, consegue uma desautomatização do leitor, provocada pelo estranhamento de certas imagens e colocações: a bondade faz vomitar, a oração é uma espécie de anestesia, a maldade aproxima-se da plenitude da vida. Também tem percepção dos clichês lingüísticos e submete-os, às vezes, aos efeitos da paródia [...] (SÁ, 1993, p. 132). Em Perto do coração selvagem, geralmente, o mal (e o pecado, às vezes) é um indicador de transgressão: não em relação a uma moral socialmente imposta, mas em relação 132 Bergson completa essa observação da seguinte forma: “Quase não existe realidade concreta da qual não se possa, ao mesmo tempo, tomar as duas vistas opostas e que não se subsuma, por conseguinte, nos dois conceitos antagônicos. Por isso existem uma tese e uma antítese que em vão se procuraria conciliar logicamente, pela simplíssima razão de que nunca, com conceitos ou pontos de vista, far-se-á uma coisa. Mas do objeto, apreendido por intuição, passa-se facilmente, em muitos casos, aos dois conceitos contrários; e como, por isso, vê-se sair da realidade a tese e a antítese, percebe-se ao mesmo tempo como essa tese e essa antítese se opõem e como se conciliam” (Bergson, 1956, pp. 46-47, tradução nossa). 133 Sobre o assunto, ver o trabalho de Yudith Rosenbaum, Metamorfoses do mal. Uma leitura de Clarice Lispector. 209 à linguagem ou ao papel social previsto para o indivíduo que o manifesta. Ele é, assim, freqüentemente associado a uma vivência autêntica, livre dos convencionalismos. “A certeza de que dou para o mal, pensava Joana” (PCS, p. 17), já casada com Otávio, pois “Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões?” (Ib., p. 17). Acrescenta depois o narrador heterodiegético que ela “sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconseqüências, de egoísmo e vitalidade” (Ib., p. 17). Na visão do mundo clariceana que embasa ou alimenta o romance, essa caracterização não necessariamente implica um traço negativo da personagem, pois um dos benefícios dos animais, conforme Lispector, é o de estarem livres do pensamento e, assim, de determinações como bem e mal. Mais tarde, ao reconhecer um impulso que a levaria a querer agradar parentes como a sua tia morta e, ao constatar, logo em seguida, a artificialidade desse sentimento imposto de fora, Joana conclui que “a melhor frase, sempre ainda a mais jovem, era: a bondade me dá ânsias de vomitar” (PCS, p. 18). A associação entre essa afirmação e a transcendência de hábitos e convenções aparecerá de forma mais explícita no romance quando Joana interpela Lídia grávida, perguntando: É claro que você não pode saber o que é maldade. Então vai ter um filho... [...] Por que não trabalha para sustentar o guri? Certamente você estava esperando de mim grandes bondades, apesar do que disse agora sobre minha maldade. Mas a bondade me dá realmente ânsias de vomitar. Por que não trabalha? Assim não precisaria de Otávio (PCS, p. 156). Enfim, tudo dá a supor que haveria uma moral (ou melhor dizer, talvez, uma postura existencial), mais ligada à existência autêntica, que transcenderia aquela primeira moral mais superficial da convenção social: “Ah, eis uma lição, eis uma lição, diria a tia: nunca ir adiante, nunca roubar antes de saber se o que você quer roubar existe em alguma parte honestamente reservado para você. Ou não? Roubar torna tudo mais valioso. O gosto do mal – mastigar vermelho, engolir fogo adocicado” (PCS, p. 19). Imediatamente a seguir, a justificativa que Joana (já em seu nome) traça para essa nova moral: Não acusar-me. Buscar a base do egoísmo: tudo o que não sou não pode me interessar, há impossibilidade de ser além do que se é – no entanto eu me ultrapasso mesmo sem o delírio, sou mais do que eu quase normalmente –; 210 tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação do meu começo; [...] aceito tudo o que vem de mim porque não tenho conhecimento das causas e é possível que esteja pisando no vital sem saber (PCS, p. 19). É baseada nessa moral existencialista que a menina Joana se defende da repreensão de sua tia quando rouba de fato, perante o espanto escandalizado da mulher: “Sim, roubei porque quis. Só roubarei quando quiser. Não faz mal nenhum. [...] Mas se eu estou dizendo que posso tudo, que...” (PCS, p. 52). Logo descobre, porém, que “eram inúteis as explicações” (Ib., p. 52) e, então, “como um pequeno demônio” (Ib., p. 52), promete em nome do pai (lei) que não mais roubará. É essa mesma menina quem, precocemente, define o bem e o mal para seu professor, em um sintético e ilustrativo diálogo: – Não, realmente não sei que conselhos eu lhe daria, dizia o professor. Diga antes de tudo: o que é bom e o que é mau? [...] – Bom é viver..., balbuciou ela. Mau é – É?... – Mau é não viver... – Morrer? – indagou ele. – Não, não... – gemeu ela. – O quê, então? Diga. – Mau é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mau. – Sim, disse ele sem entender. (PCS, pp. 55-56). A atração e a repulsa que Joana suscita nos outros decorre dessa atitude em face da vida. Como sintetiza o narrador heterodiegético, assumindo a perspectiva de Otávio, “O que fascinava e amedrontava em Joana era exatamente a liberdade em que ela vivia, amando repentinamente certas coisas ou, em relação a outras, cega, sem usá-las sequer” (PCS, p. 125). Na visão do mundo de Clarice Lispector, pelo contrário, o assustador é a servidão em que vivem (morrem) pessoas como Otávio, que “para viver cercava-se de permitidos e tabus, das fórmulas e das concessões. Tudo tornava-se mais fácil, como ensinado” (PCS, p. 125). A 211 despeito dessa sensação, a falta de criatividade e criação conduzem o marido de Joana à angústia: A verdade é que se não tivesse dinheiro, se não possuísse os “estabelecidos”, se não amasse a ordem, se não existisse a Revista de Direito, o vago plano do livro de civil, se Lídia não estivesse dividida de Joana, se Joana não fosse mulher e ele homem, se... oh, Deus, se tudo... que faria? Não, não “que faria”, mas a quem se dirigiria, como se moveria? Impossível deslizar por entre os blocos, sem vê-los, sem deles necessitar... (PCS, p. 126). Os outros, que Sartre (1944) identifica com o inferno, são para Otávio não apenas necessários, mas sobretudo reconfortantes: “Agora ia trabalhar. Como se todos assistissem e aprovassem com a cabeça, cerrando os olhos no assentimento: isso, isso mesmo, muito bem. Alguém real incomodava-o e sozinho ficava solto, nervoso. ‘Todos’ pois assistiam-no” (PCS, pp. 128-129). É com resignação que ele aceita seu destino de ser submisso. Ao saber, com dor, que Joana partiria, deixa-na ir, porque “não saberia o que fazer de Joana se ela ficasse. Voltaria para Lídia, grávida e larga. Aos poucos soube que escolhera a renúncia do que era mais precioso em seu ser, daquela pequena porção sofredora que ao lado de Joana conseguia viver” (PCS, p. 196). Com a ajuda de um pequeno texto de Clarice Lispetor intitulado “Paul Klee” (1980a, pp. 20-21), podemos muito bem compreender a atitude desta personagem da mesma escritora: não podendo suportar a visão da liberdade, Otávio resolve segurar ainda com mais força as barras da prisão: apoio e segurança. Em suma, Joana é a víbora porque, da mesma forma que a serpente no paraíso, e como ela mesma reconhece, “eu não trago paz a ninguém, dou aos outros sempre a mesma taça, faço com que digam: eu estive cego, não era paz o que eu tinha, agora é que a desejo” (PCS, p. 161), sem nada oferecer em troca que satisfaça ao sujeito desejante que ela ajudara a nascer. Só o corpo no seu silêncio, através da sensação primordial, sem separações sensoriais, fala-nos diretamente dessa verdade que cabe a cada um, solitariamente, buscar dentro de si e no outro: Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios – na língua principalmente –, na superfície dos braços e também 212 correndo dentro, bem dentro do meu corpo, mas onde, onde mesmo, eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado, e move-se como gelatina, vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo. [...] Mas sobretudo donde vem essa certeza de estar vivendo? Não, não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu... Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência (PCS, p. 21). Clarice Lispector lembra-nos com freqüência em suas obras que a percepção é sempre a base de qualquer conhecimento. A sensação indefinida no corpo é a que dá lugar ao pensamento. É esse pré-sentir e esse pré-saber o que experimenta Joana e que o narrador de Perto do coração selvagem explica: “A liberdade que às vezes sentia não vinha de reflexões nítidas, mas de um estado como feito de percepções por demais orgânicas para serem formuladas em pensamentos. Às vezes no fundo da sensação tremulava uma idéia que lhe dava leve consciência de sua espécie e de sua cor” (PCS, p. 44). Após a sua visita a Lídia, grávida de um filho de Otávio, Joana sente-se desafiada e, em um devaneio de defesa, constrói uma narrativa na qual ela é a mãe. E, então, prevê a partida do filho da seguinte forma: [...] quando eu lhe der leite com estes seios frágeis e bonitos, meu filho crescerá de minha força e me esmagará com sua vida. Ele se distanciará de mim e eu serei a velha mãe inútil. Não me sentirei burlada. Mas vencida apenas e direi: eu nada sei, posso parir um filho e nada sei. Deus receberá minha humildade e dirá: pude parir um mundo e nada sei. Estarei mais perto d’Ele e da mulher da voz. Meu filho se moverá nos meus braços e eu me direi: Joana, Joana isso é bom. Não pronunciarei outra palavra porque a verdade será o que agradar aos meus braços (PCS, p. 167). O corpo é portador de uma memória muito mais fiel do que a consciência. Ao prever a partida de Joana, Otávio já sabe: “A indefinível sensação de perda quando Joana o deixasse... Ela surgiria nele, não na sua cabeça como uma lembrança comum, mas no centro de seu corpo, vaga e lúcida, interrompendo sua vida como o badalar súbito de um sino” (PCS, p. 196). 213 É nesse saber que Joana – à imagem de sua criadora – confia; é a ele que se entrega. Por isso é que não quer saber o nome de seu amante: [...] dissera-lhe: quero te conhecer por outras fontes, seguir para tua alma por outros caminhos; nada desejo de tua vida que passou, nem teu nome, nem teus sonhos, nem a história do teu sofrimento; o mistério explica mais que a claridade; também não indagarás de mim o que quer que seja; sou Joana, tu és um corpo vivendo, eu sou um corpo vivendo, nada mais (PCS, p. 201). Questiona a seguir, sua atitude, temendo ter perdido a possibilidade de amar por causa dela, mas, logo constata: “Não, não, ainda melhor assim: cada um com um corpo, empurrando-o para a frente, querendo sofregamente vivê-lo” (PCS, p. 201). Uma temática que está intimamente vinculada à questão existencial em Clarice Lispector é a problemática das relações de gênero. Grande parte da crítica134 dedica-se a aprofundar nesse filão que nós apenas mencionaremos por considerarmos que ele traduz, no nível justamente de gênero, a problemática existencial maior que consiste na tomada de consciência de nossa separação de nós mesmos e no esforço realizado com vistas a entrar em contato com uma existência autêntica, para além dos papéis sociais (códigos simbólicos estruturados como uma linguagem) que prendem o indivíduo, alienando-o de si mesmo. Esta problemática é introduzida no começo de Perto do coração selvagem, quando a criança Joana comunica ao seu pai que acabara de inventar um poema. Após recitá-lo, o narrador descreve a cena: “Ela olhou-o um segundo. Ele não compreendera” (PCS, p. 12). E não apenas não compreendera como, através de uma réplica condescendente, mente para a menina: “Lindas, pequena, lindas. Como é que se faz uma poesia tão bonita?” (PCS, p. 13). Também neste romance de estréia trata-se a problemática da perda da referência materna em Joana135 (a despeito da qual, a menina herda traços e comportamentos da mãe) e o silenciamento desse vínculo por parte do pai e da sociedade. Esta questão é especificamente 134 Entre esses críticos, destacam-se BARBOSA, 2001; CIXOUS, 1991 e 1995; DOS SANTOS, 1991; HELENA, 1991 e 1997; NEGRON, 1991; SCHMIDT, 1991 e 2003. 135 Perda da qual Joana manifesta a falta quando, no encontro com Lídia, sentipensa: “Eu sei o que quero: uma mulher feia e limpa, com seios grandes, que me diga: que história é essa de inventar coisas? nada de dramas, venha cá imediatamente! – E me dê um banho morno, me vista uma camisola branca de linho, trance meus cabelos e me meta na cama, bem zangada, dizendo: o que então? fica aí solta, comendo fora de hora, capaz de pegar uma doença, deixe de inventar tragédias, pensa que é grande coisa na vida, tome essa xícara de caldo quente. [...] Alguém que me recolha como a um cão humilde, que me abra a porta, me escove, me alimente, me queira severamente como a um cão, só isso eu quero, como a um cão, a um filho” (PCS, p. 158). 214 abordada em ensaio de Rita Schmidt (2003), “Clarice Lispector e Margareth Atwood: Nomeando o Não-dito”. Essa relação conflituosa (por vezes opressiva e, sempre, de uma violência solapada) entre pai e filha é desenvolvida no romance (é com a morte do pai que a menina se torna mulher, ver PCS, p. 41), estendendo-se, mais tarde, à relação entre marido e mulher. Por exemplo, já casada, Joana iria sentir-se livre quando o marido saía de casa (PCS, p. 17), pois “Otávio transformava-a em alguma coisa que não era ela mas ele mesmo” (PCS, p. 32). Essa sensação vai in crescendo durante o casamento, até que Joana, no que acaba sendo um desabafo mental, exclama: A culpa era dele, pensou friamente, à espreita de nova onda de raiva. A culpa era dele, a culpa era dele. Sua presença, e mais que sua presença: saber que ele existia, deixavam-na sem liberdade. Só raras vezes agora, numa rápida fugida, conseguia sentir. Isso: a culpa era dele. [...] Ele roubava-lhe tudo, tudo. E como a frase ainda fosse fraca, pensou com intensidade, os olhos fechados: tudo! [...] Teve saudades da sensação, necessidade de sentir de novo (PCS, pp. 114115). Resolve, então, por primeira vez, que um dia deixará o seu marido. Como Joana – e com exceção de Martim –, todas as principais personagens de Clarice Lispector são mulheres. Por isso, a problemática específica da mulher é predominante nesta denúncia da prisão instaurada e sustentada pelo sistema sexo-gênero136. Em consonância com isso, Joana reflete: “Se existisse pecado, ela pecara. Toda a sua vida fora um erro, ela era fútil. Onde estava a mulher da voz? Onde estavam as mulheres apenas fêmeas? E a continuação do que ela iniciara quando criança?” (PCS, p. 23). 136 Entendemos por sistema de sexo-gênero o que Teresa de Lauretis sintetiza da seguinte forma: “[...] gênero não é sexo, uma condição natural, e sim a representação de cada indivíduo em termos de uma relação social preexistente ao próprio indivíduo e predicada sobre a oposição ‘conceitual’ e rígida (estrutural) dos dois sexos biológicos. Esta estrutura conceitual é o que cientistas sociais feministas denominaram ‘o sistema de sexogênero’. As concepções culturais de masculino e feminino como duas categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas quais todos os seres humanos são classificados formam, dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais. Embora os significados possam variar de uma cultura para outra, qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores políticos e econômicos em cada sociedade. Sob essa ótica, a construção cultural do sexo em gênero e a assimetria que caracteriza todos os sistemas de gênero através das diferentes culturas [...] são entendidas como sendo ‘sistematicamente ligadas à organização da desigualdade social’. O sistema de sexo-gênero, enfim, é tanto uma construção sociocultural quanto um aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado (identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade” (LAURETIS, 1994, pp. 211-212). 215 Dentro desse sistema, porém, Clarice Lispector chegaria a apontar certa compreensão mais profunda ou uma cumplicidade entre as mulheres, mesmo que elas possam ser rivais. É o que constatamos em certas passagens como, por exemplo, quando Joana vai visitar o professor e se sente insegura na presença da mulher dele: A mulher – ou era engano? – a mulher olhou-a bem nos olhos, entendendo, entendendo! E em seguida levantou a cabeça, os olhos claros e calmos na vitória, talvez com um pouco de simpatia: – Quando volta Joana? Precisa discutir mais freqüentemente com o professor... (PCS, p. 62). Também, quando Joana visita Lídia, depois de saber de sua gravidez: “Não se sentiam propriamente juntas, mas sem necessidade de palavras, como se na realidade se tivessem encontrado apenas para se olhar e retirar-se então. [...] Por um instante a figura do homem apareceu-lhes apagada, inoportuna” (PCS, p. 151). O papel social confere um destino: Lídia é, para Joana, “uma jovem mulher cheia do próprio destino” (PCS, p. 184). No entanto, a realização da existência é a noção de destino mais profunda que se desprende dos romances de Clarice Lispector. A liberdade pode apenas servir como instrumento para esse cumprir-se da existência, mas, independente da escolha e da contingência (que não são negadas), a existência cumpre-se fatalmente, pois ninguém pode escolher o que já traz em si como possibilidade. Por isso, no final de Perto do coração selvagem, constata Joana: “Era inútil abrigar-se na dor de cada caso, revoltar-se contra os acontecimentos, porque os fatos eram apenas um rasgão no vestido, de novo a seta muda indicando o fundo das coisas, um rio que seca e deixa ver o leito nu” (PCS, p. 202). Dessa forma, observamos no pensamento indeterminado de Clarice Lispector uma grande diferença em relação ao existencialismo filosófico: se bem que seja verdade que há liberdade na escolha dos modos ou formas que assumirá a existência em seu devir (que se faz com o tempo e, por isso, é imprevisível, como a própria trajetória da escritura clariceana), essa existência sempre se cumprirá com perfeição à maneira de um destino, como se o conteúdo achasse sempre, no final, sua forma perfeita, independente do percurso: “Mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si. [...] sei que 216 tudo é perfeito, porque seguiu de escala a escala o caminho fatal em relação a si mesmo” (PCS, pp. 20-21). As curvas e voltas desse caminho, porém, não chegam a ser indiferentes, pois é através delas e só através delas que cada um, individualmente, pode chegar. É que a travessia é particular, embora o ponto último de chegada seja supra-individual: “Nada escapa à perfeição das coisas, é essa a história de tudo. Mas isso não explica por que eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito, assim. [...] Ah, piedade é o que sinto então. Piedade é minha forma de amor. De ódio e de comunicação” (PCS, p. 21). A passagem (ou a permanência) por uma existência alienada de si e o erro também são parte importante da caminhada, pois é através da dor que se avança. Por isso Joana constata: Não podia acalentar-se dizendo: isto é apenas uma pausa, a vida depois virá como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. Não podia enganar-se porque sabia que também estava vivendo e que aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa que ela devia agradecer (PCS, p. 34). Esta mesma noção de destino pode ser estendida à própria obra de arte. Como já vimos, Clarice recusava-se a alterar ou mesmo a reler os seus livros (LISPECTOR, 1999a, p. 309; 2005, p. 153) depois de terminados. É que eles também tinham achado sua forma definitiva, realizado sua existência. Podemos deduzir, por isso, que, na visão do mundo da autora, haveria uma Ordem (Unidade, Deus, Verdade) secreta que garantiria a realização do Ser? É o que parece constatar o homem, à espera de Joana: “Parecia-lhe que misteriosamente havia lógica em ter experimentado certas torturas, as serenas baixezas, a falta despreocupada de caminho, para agora receber Joana enfim” (PCS, p. 175). Essa noção de destino está intimamente ligada à percepção do tempo nos romances de Clarice Lispector. Quando Joana identifica o homem que se transformará em seu amante, o narrador informa: 217 Levantou os olhos e viu-o. Aquele mesmo homem que a seguia freqüentemente, sem jamais se aproximar. [...] Não se surpreendeu. Alguma coisa teria que vir de algum modo, ela sabia. Afiado como uma faca. Sim, ainda na noite anterior, deitada ao lado de Otávio, ignorante do que sucederia no dia seguinte, ela se lembrara desse homem. Afiado como uma faca... (PCS, p. 170). Por outro lado, o desencontro entre o tempo cronológico e a duração já era notado pela menina Joana: [...] se tinha alguma dor e se enquanto doía ela olhava os ponteiros do relógio, via então que os minutos contados no relógio iam passando e a dor continuava doendo. Ou senão, mesmo quando não lhe doía nada, se ficava defronte do relógio espiando, o que ela não estava sentindo também era maior que os minutos contados no relógio. Agora, quando acontecia uma alegria ou raiva, corria para o relógio e observava os segundos em vão (PCS, p. 14). É a mesma percepção do tempo a que recorre o narrador heterodiegético para descrever a última noite de Otávio e Joana: os dois mergulharam em silêncio solitário e calmo. Passaram-se anos talvez. Tudo era límpido como uma estrela eterna e eles pairavam tão quietos que podiam sentir o tempo futuro rolando lúcido dentro de seus corpos com a espessura do longo passado que instante por instante acabavam de viver (PCS, p. 198). Georges Poulet, em Mesure de l´Instant (1990a, p. 9), observa que o instante (conforme as diferentes representações que ele encontra na literatura universal) pode ser reduzido a sua mera instantaneidade, sendo apenas em sua relação com o passado e com o futuro, isto é, sendo nada em si mesmo; ou, ao contrário, abrir-se sobre tudo e tudo conter, sem limites. Na escritura clariceana, o instante, à maneira de um aleph, contém em si ambos os atributos apontados por Poulet, funcionando como uma fugaz fresta do tempo que abre a apreensão de uma totalidade inexprimível. Por isso é que Joana pode experimentar sensações como estas: “durante longos e profundos segundos soube que aquele trecho de vida era uma mistura do 218 que já vivera com o que ainda viveria, tudo fundido e eterno. Estranho, estranho. [...] Por um minuto pareceu-lhe que já vivera e que estava no fim” (PCS, pp. 84-85); Ou, “Dentro de um vago e leve turbilhão, como uma rápida vertigem, veio-lhe a consciência do mundo, de sua própria vida, do passado aquém de seu nascimento, do futuro além de seu corpo” (PCS, p. 145). Assim como a unidade de todos os seres conforma o Ser, e como a Verdade também é una, é impossível estabelecer separações na duração. É o que constata Joana na seguinte passagem de Perto do coração selvagem: As descobertas vinham confusas. [...] Outras confusões ainda. Assim lembrava-se de Joana-menina diante do mar [...] Tudo é um, tudo é um..., entoara. A confusão estava no entrelaçamento do mar, do gato, do boi com ela mesma. A confusão vinha também de que não sabia se entrara “tudo é um” ainda em pequena, diante do mar, ou depois, relembrando. No entanto a confusão não trazia apenas graça, mas a realidade mesma. Parecia-lhe que se ordenasse e explicasse claramente o que sentira, teria destruído a essência de “tudo é um”. Na confusão, ela era a própria verdade inconscientemente, o que talvez desse mais poder-de-vida do que conhecê-la. A essa verdade que, mesmo revelada, Joana não poderia usar porque não formava o seu caule, mas a raiz, prendendo seu corpo a tudo o que não era mais seu, imponderável, impalpável (PCS, pp. 47-48). Sobre o não-tempo da duração (ou sobre o seu pan-tempo), ainda descobre Joana: “Não tenho saudade, compreende? – E nesse momento declarou alto, devagar, deslumbrada. – Não é saudade, porque eu tenho agora a minha infância mais do que enquanto ela decorria...”. E o narrador, logo em seguida, informa-nos: “E Joana também podia pensar e sentir em vários caminhos diversos, simultâneamente” (PCS, p. 49). No final de Perto do coração selvagem, ao fechar um novo círculo de vida, ocorre uma volta à infância (e ao início do romance), o tempo manifestando sua circularidade maior: O galo não sabia que ia morrer! O galo não sabia que ia morrer! Sim, sim: papai, que é que eu faço? Ah, perdera o compasso de um minueto... Sim... o relógio batera tin-dlen, ela erguera-se na ponta dos pés e o mundo girara muito mais leve naquele momento. Havia flores em alguma parte? E uma grande vontade de se dissolver até misturar seus fios com os começos das coisas (PCS, p. 203). 219 Da mesma forma em que acontece com Joana, todos os narradores e personagens de Clarice Lispector têm intuições, mais ou menos prolongadas, todos experimentam espécies de revelações do Ser (ou epifanias), e os verbos que a autora sistematicamente utiliza, ao longo de toda a sua obra, para descrever esses estados são “adivinhar”, “descortinar” ou “acontecer”. Confessa a protagonista de Perto do coração selvagem: “aceito tudo o que vem de mim porque não tenho conhecimento das causas e é possível que esteja pisando no vital sem saber; é essa a minha maior humildade, pensava ela” (PCS, p. 19). No entanto, Joana conhece a limitação desse saber intuitivo, “demasiado fugaz para se deixar desvendar” (PCS, p. 168), sabe que a Verdade é inapreensível, pois ela não se prende a forma nenhuma, ela sempre “poderia estar no contrário do que pensara” (PCS, p. 118): Nunca terei pois uma diretriz, pensava meses depois de casada. Resvalo de uma verdade a outra, sempre esquecida da primeira, sempre insatisfeita. Sua vida era formada de pequenas vidas completas, de círculos inteiros, fechados, que se isolavam uns dos outros. Só que no fim de cada um deles, em vez de Joana morrer e principiar a vida noutro plano, inorgânico ou orgânico inferior, recomeçava-a mesmo no plano humano. Apenas diversas as notas fundamentais. Ou apenas diversas as suplementares, e as básicas eternamente iguais? [...] Nenhuma felicidade ou infelicidade tinha sido tão forte que tivesse transformado os elementos de sua matéria, dando-lhe um caminho único, como deve ser o verdadeiro caminho. Continuo sempre me inaugurando, abrindo e fechando círculos de vida, jogando-os de lado, murchos, cheios de passado. [...] Momentos tão intensos, vermelhos, condensados neles mesmos que não precisavam de passado nem de futuro para existir. Traziam um conhecimento que não servia como experiência – um conhecimento direto, mais como sensação do que percepção. A verdade então descoberta era tão verdade que não podia subsistir senão no seu recipiente, no próprio fato que a provocara. Tão verdadeira, tão fatal, que vive apenas em função de sua matriz. Uma vez terminado o momento de vida, a verdade correspondente também se esgota (PCS, pp. 107-108). As revelações não trazem conclusões, são apenas relâmpagos de verdade que deixam no espírito sensações confusas e inapreensíveis pela linguagem e pelo saber. É nesse sentido que a epifania em Clarice Lispector pode ser aproximada da de Joyce: Mas o termo joyciano pode também designar a importância que ganha a revelação em um conjunto de romances escritos entre 1915 e 1930. [Muitas personagens], mais do que aprender a significação do seu entorno, 220 descobrem os seus aspectos fascinantes. A personagem se comporta como se houvesse perdido, esquecido, a noção de forma: ela vive em um universo desprovido de apriorismo, de valores estabelecidos, de modelos; ela só reencontra as formas integrando os objetos em sua sensibilidade; mas essas formas são tão precárias quanto intensas; duram o que dura o instante, o olhar, pois o romancista, em lugar de localizar-se além, na linha do tempo, da sua personagem (em lugar de contar um destino realizado), segue doravante as pegadas da sua “criatura” (ZERAFFA, 1971, p. 113, grifo do autor, tradução nossa137). Também, em todos os romances encontramos descrições do que Clarice Lispector chama de estado de graça: O estado para onde deslizava quando murmurava: eternidade. O próprio pensamento adquiria uma qualidade de eternidade. Aprofundava-se magicamente e alargava-se, sem propriamente um conteúdo e uma forma, mas sem dimensões também. A impressão de que se conseguisse manter-se na sensação por mais uns instantes teria uma revelação [...] (PCS, p. 44). Tentar reter o instante, mediante a vontade e obsessivamente, também não possibilita a apreensão da verdade; ela permanece inacessível. O Real138 é o Impossível, o que pode ser apenas pressentido ou intuído em instantes-visão: Analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço. Possuir cada momento, ligar a consciência a eles, como pequenos filamentos quase imperceptíveis mas fortes. É a vida? Mesmo assim ela me escaparia. Outro modo de captá-la seria viver. Mas o sonho é mais completo que a realidade, esta me afoga na inconsciência. O que importa afinal: viver ou saber que se está vivendo? (PCS, pp. 72-73) 137 Mais le terme joycien peut aussi désigner l’importance prise par la révélation dans un ensemble de romans écrits entre 1915 e 1930 [Muitas personagens] apprennent bien moins la signification de ce qui les entoure qu’ils n’en découvrent des aspects fascinants. Le personnage se comporte comme s’il avait perdu, oublié, la notion de forme : il vit dans un univers dépourvu d’a priorisme, de valeurs établies, de modèles ; il ne retrouve des formes qu’en intégrant les objets dans sa sensibilité ; mais elles sont aussi précaires qu’intenses ; elles durent ce que dure l’instant, le regard, car le romancier, au lieu de se placer au-delà, sur la ligne du temps, de son personnage (au lieu de raconter un destin accompli), suit désormais sa ‘créature’ à la trace. 138 Referimo-nos ao Real no sentido lacaniano. O Dicionário de Psicanálise Larousse/Artes Médicas (1995, p. 182) aponta como Real “Aquilo que, para um sujeito, é expulso da realidade pela intervenção do simbólico. [...] Definido como o impossível, o real é aquilo que não pode ser simbolizado totalmente na palavra ou na escrita e, por conseqüência, não cessa de não se escrever”. 221 A hipervalorização do sonho, ou do devaneio, no romance de estréia de Clarice Lispector (e que a autora manterá em suas obras posteriores) é o que leva o crítico Álvaro Lins (1963, p. 188), na que seria a primeira nota crítica sobre Perto do coração selvagem, após tratar das influências – “o livro da Sra. Clarisse (sic) Lispector é a primeira experiência definida que se faz no Brasil do moderno romance lírico, do romance que se acha dentro da tradição de um Joyce ou de uma Virginia Woolf” –, a apontar como características desse “romance lírico” certo “realismo mágico” que consiste na apresentação da realidade num caráter de sonho, de super-realidade” e a fusão, nele, da memória e da imaginação (Ib., p. 188). A hierarquização do sonho, enquanto possibilidade de acesso a um terreno mais próximo da verdade, é perfeitamente expressa por Joana: “Perco a consciência, mas não importa, encontro a maior serenidade na alucinação” (PCS, p. 20); “Sonhos esgarçados, inícios de visões” (PCS, p. 24). E será em um “De profundis” (PCS, pp. 211-212), espécie de devaneio, misto de sonho e imaginação, que Joana encontra as condições para imergir no sem-sentido da verdade e encontrar o verdadeiro Deus (Unidade), o que no trecho citado a seguir se traduz pela coordenação simples e, no final, pela parataxe liberta da vírgula: De profundis. Deus meu eu vos espero, Deus vinde a mim. Deus, brotai no meu peito, eu não sou nada e a desgraça cai sobre minha cabeça e eu só sei usar palavras e as palavras são mentirosas e eu continuo a sofrer, afinal o fio sobre a parede escura. Deus vinde a mim e não tenho alegria e minha vida é escura como a noite sem estrelas e Deus por que não existes dentro de mim? por que me fizeste separada de ti? Deus vinde a mim, eu não sou nada [...] Deus, esse orgulho de viver me amordaça, eu não sou nada, das profundezas chamo por vós, das profundezas chamo por vós das profundezas chamo por vós das profundezas chamo por vós... [...] Das profundezas a entrega final. O fim... (PCS, pp. 212 a 214). Quando o homem pergunta a Joana por que ela sempre lhe dizia coisas tão loucas, Joana responde angustiada: Você sabe que eu não minto, que nunca minto, mesmo quando... mesmo sempre? Sente? Diga, diga. O resto então não importaria, nada importaria... Quando digo essas coisas... essas coisas loucas, quando não quero saber de seu passado, e não quero contar sobre mim, quando eu invento palavras... Quando eu minto você sente que eu não minto? (PCS, p. 180) 222 Ao ele responder afirmativamente, ela sente uma espécie de felicidade, porque descobre que “por enquanto junto dele podia pensar. E por enquanto também é tempo” (PCS, p. 180). Esse “pensar” a que alude Joana não é o pensar racional, simplesmente. A intuição denuncia a limitação do pensamento, que se cristaliza em conceitos, enquanto a duração do ser é ininterrupta. Por isso, Joana constata: “O pior é que ela poderia riscar tudo o que pensara. Seus pensamentos eram, depois de erguidos, estátuas no jardim e ela passava pelo jardim olhando e seguindo seu caminho” (PCS, p. 19). Uma solução seria tentar driblar o pensamento mediante uma ignorância nada inocente, como recomenda a autora, Clarice Lispector. Em consonância com essa concepção clariceana, conclui e escreve Joana, no final do seu encontro-devaneio com a mulher da voz (como veremos depois, seu duplo): “A personalidade que ignora a si mesma realiza-se mais completamente” (PCS, p. 83). Deixar o inconsciente se manifestar, como na inspiração: [...] era preciso se distrair, pensou com dureza e ironia. Com urgência. [...] De novo a inquietação tomou-a, pura, sem raciocínios. [...] Fechou os olhos um instante, permitindo-se o nascimento de um gesto ou de uma frase sem lógica. Fazia sempre isso, confiava em que no fundo, embaixo das larvas, houvesse um desejo já dirigido para um fim. Às vezes, quando por um mecanismo especial, do mesmo modo como se desliza para o sono, fechava as portas da consciência e se deixava agir ou falar, recebia surpreendida [...] uma bofetada de suas próprias mãos em seu próprio rosto. Às vezes ouvia palavras estranhas e loucas de sua própria boca. Mesmo sem entendê-las, elas deixavam-na mais leve, mais liberta. (PCS, pp. 86-87). Essa persistente distinção entre pensamento e intuição faz com que o primeiro termo fique restrito, especificamente, ao pensamento discursivo. Daí a estreita relação que surge imediatamente entre pensamento e linguagem e a correlativa dificuldade que se apresenta para a expressão da experiência intuitiva, que, enquanto imediata, é silenciosa. A linguagem é sempre alvo de suspeita para o indivíduo que conhece seu funcionamento, pois ela constrói uma verdade segunda que afasta o indivíduo da Verdade, alienando-o de si. Para Lacan (1996, p. 91), a estrutura da linguagem é a realidade essencial do Simbólico. O fato de que este registro esteja ligado, mas sem nunca confundir-se, ao Imaginário e ao Real, determina uma separação incontornável entre o discurso e qualquer 223 significação primeira (do âmbito do Real). Por isso é que devaneia Joana, na manhã que precederá sua viagem (renascimento?), no final do romance: E agora... Talvez tivesse aprendido a falar, só isso. Mas as palavras sobrenadavam no seu mar, indissolúvel, duras. Antes era o puro mar. [...] Deus, como ela afundava docemente na incompreensão de si própria. E como podia, muito mais ainda, abandonar-se ao refluxo firme e macio. E voltar. Haveria de reunir-se a si mesma um dia, sem as palavras duras e solitárias... Haveria de se fundir e ser de novo o mar mudo brusco forte largo imóvel cego vivo. A morte a ligaria à infância (PCS, pp. 203-204). Atente-se, nesta passagem, como o desejo de fusão com a unidade primordial é traduzido, não apenas pela circularidade evocada do tempo, mas também pelo rol de adjetivos não separados por vírgulas. A cronista Clarice Lispector (1999a, p. 292) observaria bem mais tarde que “o infinito não tem qualidades”. Como sintetiza Joël Dor (1991, p. 106) em Introdução à leitura de Lacan: “O princípio da articulação da linguagem é o de evocar um real através de um substituto simbólico que opera infalivelmente uma cisão entre o real vivido e aquilo que vem significálo”. O conceito separa o que é uno. No final de Perto do coração selvagem, Joana experimenta um novo começo e esse limiar é descrito como “Impossível [de] explicar. Afastava-se aos poucos daquela zona onde as coisas têm forma fixa e arestas, onde tudo tem um nome sólido e imutável. Cada vez afundava na região líquida, quieta e insondável, onde pairavam névoas vagas e frescas como as da madrugada. [...] Perturbada pensara: tudo, tudo” (PCS, p. 208). O tempo – duração – é também reinaugurado em sua unidade: “Tudo dissolvido. A fazenda também existia naquele mesmo instante e naquele mesmo instante o ponteiro do relógio ia adiante, enquanto a sensação perplexa via-se ultrapassada pelo relógio” (PCS, p. 210). Esse mecanismo de representação separa também o indivíduo de si mesmo, que acaba perdendo-se (alienação) na linguagem (fading do sujeito, na terminologia de Lacan) (Ib., p. 107). É curioso como não sei dizer quem eu sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que 224 tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto mas o que eu digo (PCS, pp. 20-21). Em Perto do coração selvagem, essa questão da refenda do sujeito é especialmente salientada, pois o trecho citado acima é retomado literalmente na p. 101 do mesmo romance. A verdade, “aquilo”, é indizível. É o que já constata a menina Joana em conversa com seu professor: – Olhe, a coisa de que eu mais gosto no mundo... eu sinto aqui dentro, assim se abrindo... Quase, quase posso dizer o que é mas não posso... [...] – É uma vontade de respirar muito, mas também o medo... Não sei... Não sei, quase dói. É tudo... É tudo. [...] Ele parecia satisfeito mas ela não entendia por que, uma vez que nada chegara a dizer a respeito “daquilo” (PCS, pp. 56-57). Por isso também o par conceitual verdade/mentira é destruído pelo discurso clariceano. A mentira ganha uma nova significação, sem implicações negativas e, inclusive, positivas. Isso explica por que, conforme trecho já citado, Joana possa afirmar que quando mente não mente. Na célebre cena do banho, em que se descreve a passagem da criança para a moça, Joana perde o nome e é apenas “uma moça [...] sem nenhum sentimento, só movimento” (PCS, p. 68), renascendo para a vida, descobrindo o emergir da sensualidade, do corpo, que apenas sente a Unidade (Verdade impessoal) do Ser e que não conhece ainda a linguagem. Assim é o parto da nova Joana: Agita-se, procura fugir. Tudo – diz devagar como entregando uma coisa, perscrutando-se sem se entender. Tudo. E essa palavra é paz, grave e incompreensível como um ritual. A água cobre seu corpo. Mas o que houve? Murmura baixinho, diz sílabas mornas, fundidas. [...] Quando emerge da banheira é uma desconhecida que não sabe o que sentir. Nada a rodeia e ela nada conhece. Está leve e triste [...] ela não quer brincar, encolhe o torso ferida, infeliz. Enxuga-se sem amor, humilhada e pobre, 225 envolve-se no roupão como em braços mornos. Fechada dentro de si, não querendo olhar, ah, não querendo olhar, desliza pelo corredor – a longa garganta vermelha e escura e discreta por onde afundará no bojo, no tudo. Tudo, tudo, repete misteriosamente. [...] Na cama silenciosa, flutuante na escuridão, aconchega-se como no ventre perdido e esquece. Tudo é vago, leve e mudo (PCS, pp. 69-70). E é no silêncio que ecoa a presença da Verdade, do fundo, do Real. Em janta com os tios, numa noite em que “Ao redor da mesa escura [...] também o silêncio se sentara” (PCS, p. 67), depois de um diálogo vazio entre tio, tia e sobrinha, “o silêncio voltou sem dissolver o murmúrio longínquo do mar. Eles não tinham coragem, então” (PCS, p. 67). No entanto, a linguagem (sobretudo quando irrefletida) também informa ao ser de si, ao trazer à tona, como no processo de análise, questões relacionadas com o inconsciente. Por exemplo, Joana, em conversa com seu marido Otávio, surpreende-se com suas próprias palavras: “ – Não... O que mais poderiam fazer comigo? Ter tido uma infância não é o máximo? Ninguém conseguiria tirá-la de mim... – e nesse instante já começara a ouvir-se, curiosa” (PCS, p. 49). Uma conseqüência direta da condição existencial humana e da limitação da linguagem para exprimir, comunicar e, com isso, dividir, a experiência individual, é a solidão e a angústia que ela suscita. Essa questão é constantemente abordada por Clarice Lispector em seus romances. No primeiro capítulo de Perto do coração selvagem, esse assunto já é introduzido: Tudo era como o barulho do bonde antes de adormecer, até que se sente um pouco de medo e se dorme. [...] só que ela não ia adormecer. Era o abraço do pai. O pai medita um instante. Mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros, ajuda-se. Anda tão solta a criança [...] Um ovinho, é isso, um ovinho vivo. O que vai ser de Joana? (PCS, p. 16). Mais tarde, já casada, mal sentia que o marido saíra de casa, “se transformava, concentrava-se em si mesma e, como se apenas tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o fio da infância, esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só” (PCS, p. 17). O motivo maior de não-comunicação e incompreensão entre as principais personagens clariceanas e as secundárias é a inadequação das primeiras em relação às convenções sociais, 226 fruto da tomada de consciência de uma vida anterior a essas convenções ou de uma espécie de pressentimento que elas experimentam como angústia em face das mesmas. Em Perto do coração selvagem, Joana sente essa discordância irremediável com respeito aos outros: Coisas que existem, outras que apenas estão... Surpreendeu-se com o pensamento novo, inesperado, que viveria dagora em diante como flores sobre o túmulo. Que viveria, que viveria, outros pensamentos nasceriam e viveriam e ela própria estava mais viva. [...] Como entregar-lhes: é a segunda vertigem num só dia? mesmo que ardesse por confiar o segredo a alguém. Porque ninguém mais na sua vida, ninguém mais talvez haveria de lhe dizer, como o professor: vive-se e morre-se. Todos esqueciam, todos só sabiam brincar (PCS, pp. 65-66). Na angústia, o corpo e o espírito revelam-se também inseparáveis. No capítulo que aborda a chegada de Joana à casa da sua tia, os sentimentos de menina são assim descritos pelo narrador: “Agora pesava-lhe no estômago e dava-lhe uma tristeza de corpo que se juntava àquela outra tristeza – uma coisa imóvel atrás da cortina – com que dormira e acordara” (PCS, p. 36). A alusão a alguma coisa “atrás da cortina” é utilizada novamente para encerrar o capítulo (PCS, p. 43), constituindo-se, assim, em metáfora da angústia, indeterminada por sua própria natureza, como nos ensina Heidegger139. Algumas linhas antes desse encerramento, em duas ocasiões, o narrador fala desse sentimento de Joana: “Oh, que medo, que medo. Mas não era só medo. [...] Oh, o medo, o medo. Porém não era só medo” (Ib., p. 43). Se os animais não estão isentos do medo, eles não conhecem a angústia. Para aludir à vantagem que os animais guardariam em relação aos humanos, Clarice, em seu primeiro romance compõe um novo adjetivo: “Encostando a testa na vidraça brilhante e fria olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas-que-não-sabiam-que-iammorrer” (PCS, p.11). Nesse mundo natural das galinhas – “bem sabia, bem sabia” (Ib., p. 11) 139 “El ‘ante qué’ de la angustia no es ningún ente intramundano. Por eso no cabe esencialmente guardar conformidad alguna con él. La amenaza no tiene el carácter de una nocividad determinada que concierna a lo amenazado en determinado respecto a un especial ‘poder ser’ fáctico. El ‘ante qué’ de la angustia es absolutamente indeterminado. Esta indeterminación no sólo deja fácticamente indeciso qué ente intramundano amenace, sino que quiere decir que en general no son ‘relevantes’ los entes intramundanos. Nada de lo que es ‘a la mano’ y ‘ante los ojos’ dentro del mundo funciona como aquello ante que se angustia la angustia. [...] De aquí que tampoco la angustia ‘vea’ un determinado ‘aquí’ y ‘allí’ desde el cual se acerque a lo amenazador. Lo que caracteriza el ‘ante qué’ de la angustia es que lo amenazador es en ninguna parte” (HEIDEGGER, 1986, p. 206, grifos do autor). 227 Joana – tudo segue uma ordem perfeita: a minhoca é comida pela galinha e a galinha será comida pelo homem. É esse, como também nos ensina Heidegger, o apelo do Mesmo: O Simples guarda o enigma do que permanece e do que é grande. Visita os homens inesperadamente, mas carece de longo tempo para crescer e amadurecer. O dom que dispensa está escondido na inaparência do que é sempre o Mesmo. As coisas que amadurecem e se demoram em torno do caminho, em sua amplitude e em sua plenitude dão o mundo. Como diz o velho mestre Eckhart, junto a quem aprendemos a ler e a viver, é naquilo que sua linguagem não diz que Deus é verdadeiramente Deus (HEIDEGGER, 1969, p. 69). Por outro lado, a inquietação experimentada por Joana no seguinte trecho citado exprime perfeitamente a relação da escrita clariceana com o sublime: Definia eternidade e as explicações nasciam fatais como as pancadas do coração. Delas não mudaria um termo sequer, de tal modo eram sua verdade. Porém mal brotavam, tornavam-se vazias logicamente. Definir a eternidade como uma quantidade maior que o tempo e maior mesmo do que o tempo que a mente humana pode suportar em idéia também não permitiria, ainda assim, alcançar sua duração. Sua qualidade era exatamente não ter quantidade, não ser mensurável e divisível porque tudo o que se pode medir e dividir tinha um princípio e um fim. Eternidade não era a quantidade infinitamente grande que se desgastava, mas eternidade era a sucessão (PCS, p. 45) Como a sua autora – Clarice Lispector –, Joana também não sabe contar fatos. Interessa-lhe o mistério. Numa espécie de autobalanço da sua vida, que imaginariamente dirige à tia morta, Joana, depois de arrolar o que possuíra (“Um marido, seios, um amante, uma casa, livros, cabelos cortados, uma tia, um professor” – PCS, p. 184) pergunta: “Que mais te contar? Tenho os cabelos cortados, castanho, às vezes uso franja. Vou morrer um dia. Nasci também” (PCS, p. 185). O que ela realmente conta são as divagações em torno de suas experiências. Confusas. Apenas endereçadas a si mesma. Como demonstram vários exemplos de Perto do coração selvagem citados até aqui, a procura de um sentido para a existência (do Ser e de si), que justificam a arte e a própria vida, é inesgotável, pois a verdade última é inatingível. Apenas podemos intuí-la, vislumbrá-la em 228 pequenas visões ou epifanias, mas nunca possuí-la. Essa fugaz apreensão suscita uma inquietação semelhante àquela produzida pelo confronto com o sublime. É essa a espécie de estranhamento que todas as personagens de Clarice Lispector experimentam em algum momento e que nada mais é do que a intuição do mistério que sempre nos escapa140. A experiência estética (e, com ela, a missão profunda da arte de possibilitar a expressão/aparição do ser em si e por si mesmo para além/aquém de seu uso) é descrita com precisão em Perto do coração selvagem: Um retrato antigo de alguém que não se conhece e nunca se reconhecerá porque o retrato é antigo ou porque o retratado tornou-se pó – esta semintenção modesta provocava nela um momento quieto e bom. [...] Para se ter uma visão, a coisa não precisava ser triste ou alegre ou se manifestar. Bastava existir, de preferência parada e silenciosa, para nela se sentir a marca. Por Deus, a marca da existência... [...] É que a visão consistia em surpreender o símbolo das coisas nas próprias coisas (PCS, p. 47). O símbolo que é possível extrair das próprias coisas, da sua materialidade exterior, é muito diferente do símbolo conceitual (atrelado à linguagem). Por isso – e como veremos mais adiante –, a supremacia da pintura e da música sobre a escrita (linguagem) como meio de expressão é constantemente referida nos romances de Clarice Lispector. No entanto, como observa Joana, a música também pode tornar-se uma linguagem morta, quando deixa de ser criação e se torna apenas repetição (convenção), contrariamente ao seu pensamento-sentimento: Certos momentos da música. A música era da categoria do pensamento, ambos vibravam no mesmo movimento e espécie. Da mesma qualidade do pensamento tão íntimo que ao ouvi-la, este se revelava. Do pensamento tão íntimo que ouvindo alguém repetir as ligeiras nuances dos sons, Joana se surpreendia como se fora invadida e espalhada. Deixava até de sentir a harmonia quando esta se popularizava – então não era mais sua. Ou mesmo quando a escutava várias vezes, o que destruía a semelhança: porque seu pensamento jamais se repetia, enquanto a música podia se renovar igual a si própria – o pensamento só era igual a música se criando (PCS, p. 46). 140 É interessante notar como esse estranhamento poderia ser associado ao conceito de estranho que utiliza Freud. Para além do trauma da castração apontado por Freud como causa de todo sentimento do estranho, nos romances de Clarice Lispector, o indivíduo simplesmente sente a angústia da sua separação da unidade primordial. 229 A incessante busca (existencial, criativa) como fim em si mesma é afirmada por Joana em extenso monólogo citado: Mergulho e depois emerjo, como de nuvens, das terras ainda não possíveis, ah ainda não possíveis. Daquelas que eu ainda não soube imaginar, mas que brotarão. Ando, deslizo, continuo, continuo... Sempre, sem parar, distraindo minha sede cansada de pousar num fim (PCS, p. 71). E já no primeiro romance de Clarice Lispector somos alertados sobre o relaxamento mental que é de nós exigido se quisermos dar lugar ao acontecimento (existencial ou criativo): Ainda não se libertara do desejo-poder-milagre, desde pequena. A fórmula se realizava tantas vezes: sentir a coisa sem possuí-la. Apenas era preciso que tudo a ajudasse, a deixasse leve e pura, em jejum para receber a imaginação. Difícil como voar e sem apoio para os pés receber nos braços algo extremamente precioso, uma criança por exemplo (PCS, p. 22). E confirma-se o gesto corporal, acompanhando com maior perfeição que o pensamento o sentimento de tédio experimentado: “E sempre no pingo do tempo que vinha nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende? Afastou o pensamento difícil distraindo-se com um movimento de pé descalço no assoalho de madeira poeirento” (PCS, p. 12). E também como Clarice Lispector, em Perto do coração selvagem, Joana concebe um objeto para a criação que transcende o belo e que, por isso, se aparenta com o sublime (desconhecido): “Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto. Por medo talvez da falta de estética. Ou receio de alguma revelação... Não, não – repetia-se ela – é preciso não ter medo de criar” (PCS, pp. 17-18). Como na escrita (e na vida), Clarice Lispector confessava sentir medo de um dia “ir longe demais” (LISPECTOR, 1980 a, p. 134); em Perto do coração selvagem, Joana, durante 230 um longo devaneio gerado pelo conflito de enfrentar sua rival, Lídia, teme “olhar de frente para o rasgão”(PCS, p. 165) do vestido (vida), pois, nesse momento, reconhece: “sempre tive medo de rebentar de sofrimento, como o grito da orquestra. Ninguém sabe até que ponto posso chegar quase em triunfo como se fosse uma criação [...]” (PCS, p. 165). Joana, como quer e ensina Clarice Lispector, deixa a inspiração acontecer nela e entrega-se ao ato criativo: Mas a libertação veio e Joana tremeu ao seu impulso... Porque branda e doce como um amanhecer num bosque, nasceu a inspiração... Então, ela inventou o que deveria dizer. Os olhos fechados, entregue, disse baixinho palavras nascidas naquele instante, nunca antes ouvidas por alguém, ainda tenras da criação – brotos novos e frágeis. Eram menos que palavras, apenas sílabas soltas, sem sentido, mornas, que fluíam e se entrecruzavam, fecundavam-se, renasciam num só ser para desmembrarem-se em seguida, respirando, respirando. Seus olhos se umedeceram de alegria suave e de gratidão. Falara... As palavras vindas de antes da linguagem, da fonte, da própria fonte. (PCS, p. 147). A tentativa de compreender (através do pensamento e da linguagem) a Morte, o Mistério maior (incognoscível) produz uma vertigem na púbere Joana que dá lugar ao poético: “O pai morrera como o mar era fundo! compreendeu de repente. O pai morrera como não se vê o fundo do mar, sentiu” (PCS, p. 41). Depois da descoberta, a aceitação do ciclo vital natural: “Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai acabara. Só isso.” (PCS, p. 41). Nos romances de Clarice Lispector, a morte é vista sempre em sua relação direta com a vida e, inclusive, com freqüência, ela é mostrada como a face boa de uma mesma moeda. No seguinte trecho de Perto do coração selvagem, Joana, prestes a iniciar seu relacionamento com o homem, sente estar inaugurando um novo círculo de vida e é assim que ela descreve esse renascimento: Parara simplesmente. Estavam cortadas as veias que a ligavam às coisas vividas, reunidas num só bloco longínquo, exigindo uma continuação lógica, mas velhas, mortas. Só ela própria sobrevivera, ainda respirando. E à sua frente um novo campo, ainda sem cor a madrugada emergindo. Atravessar 231 suas brumas para enxergá-lo. Não poderia recuar, não sabia por que recuar. Se ainda hesitava diante do estranho cada vez mais perto é que temia a vida que de novo se aproximava implacável (PCS, p. 171). Ao final do romance, em um ritual de passagem, passagem para uma existência que se quer mais plena, Joana já traz em sua exaltação a noção de morte que encontramos, em linhas gerais, em todos os romances de Clarice Lispector: Corria agora à frente de si mesma, já longe de Otávio e do homem desaparecido. Não morrer. Porque... na verdade onde estava a morte dentro dela? – indagou-se devagar, com astúcia. Dilatou os olhos, ainda não acreditando na pergunta tão nova e cheia de deslumbramento que se permitira inventar. Caminhou até o espelho, olhou-se – ainda viva! [...] Não, ouça! ouça! não existia o começo da morte dentro de si! E como atravessasse o próprio corpo violentamente, em busca, sentiu levantar-se de seu interior uma aragem de saúde, todo ele abrindo-se para respirar... Não podia pois morrer, pensou então lentamente. [...] Não morreria porque... porque ela não podia acabar (PCS, pp. 204-205). No final, sabedora da necessidade de morrer afim de poder renascer, a essa morte é que se entrega Joana, no silêncio que precede toda criação: “Ah, então ela morreria. Simples como o pássaro voara. Inclinou a cabeça para um lado, suavemente como uma louca mansa: mas é fácil, tão fácil... nem é inteligente.. é a morte que virá, que virá...” (PCS, p. 206). Na criação, nada se espera, pois é a abertura corajosa para o novo (“a névoa cinzenta”, PCS, p. 211) o que distingue o ser que morre daquele que não morrerá: Sobrevivera como um germe ainda úmido entre as rochas ardentes e secas, pensava Joana. Naquela tarde já velha – um círculo de vida fechado, trabalho findo –[...] escolhera um novo caminho. Não fugir, mais ir. [...] e andar, andar, ser humilde, abalar-se na base, sem esperanças. Sobretudo sem esperanças (PCS, p. 210). Coragem da existência em seu movimento de renovação, de realização: “O que nela se elevava não era a coragem, ela era substância apenas, menos do que humana, como poderia 232 ser herói e desejar vencer as coisas? Não era mulher, ela existia e o que havia dentro dela eram movimentos erguendo-a sempre em transição” (PCS, p. 215). Nestas palavras finais do primeiro romance de Clarice Lispector, reconhecemos as características da menos heróica das personagens clariceanas: Macabéa. 2.1.2 Entre o ser e o não-ser: a busca pela realização do ser no Ser nos romances de Clarice Lispector O romance pessoal, enfim, conta, sob o invólucro da ficção, a história do seu autor, ou de uma crise que explica o seu destino. Essas confissões indiretas e veladas, que correspondem à vontade de livrar-se de certos traumatismos mediante o imaginário, estão carregadas de uma função catártica (HUBIER, 2003, p. 40, tradução nossa141). [...] não se peça à Clarice coerência progressiva em seu eterno diálogo entre imanência/transcendência, ser/escrever, linguagem/silêncio. Ela vai e vem, parte e retorna (SÁ, 1999, p. 150). É assim que o narrador de Perto do coração selvagem descreve o reencontro de Joana com o seu amante: Quando a porta se abriu para Joana ele deixou de existir. Escorregara muito fundo dentro de si, pairava na penumbra de sua própria floresta insuspeita. Movia-se agora de leve e seus gestos eram fáceis e novos. As pupilas escurecidas e alargadas, de súbito um animal fino, assustado como uma corça. No entanto a atmosfera tornara-se tão lúcida que ele perceberia qualquer movimento de coisa viva ao seu redor. E seu corpo era apenas memória fresca, onde se moldariam como pela primeira vez as sensações (PCS, p. 176). Este estado de plenitude, espécie de ascese profana, descreve perfeitamente o que parece ser proposto, nos romances de Clarice Lispector, como o ideal (esperança) de realização do ser no Ser: um total despojamento do eu que permita o encontro com o fundo suprapessoal, penumbrosa floresta insuspeita, que lembra o útero materno, mas que, indo mais 141 Le roman personnel, enfin, raconte, sous le couvert de la fiction, l’histoire de son auteur, ou d’une crise explicant la destinée de celui-ci. Ces confessions indirectes et voilées correspondant à la volonté de se délivrer de certains traumatismes par l’imaginaire sont chargées d’une fonction cathartique. 233 além, encontra a sua origem mais remota nas raízes do próprio Ser. Por isso, a busca empreendida pela maioria das personagens clariceanas – inclusive Joana142 –, ao invés de implicar uma redução da realidade ao meramente subjetivo – de acordo com a crítica de Costa Lima citada na seção anterior –, assume o esforço de ultrapassar a realidade pessoal e a exterior em direção ao cerne do Ser, onde reside, conforme a crença da autora e das suas personagens, a unidade invisível e inefável do existente. Em lugar da articulação do subjetivo e do objetivo, temos então a Totalidade indiferenciada, sem partes a serem articuladas. Os romances O lustre, A cidade sitiada, A maçã no escuro, A paixão segundo G.H. e Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres apresentam uma mesma visão do mundo, a da sua autora, descrita na primeira seção deste capítulo, com algumas variações ou ênfases diferentes de obra para obra que apontaremos nesta seção. Não voltaremos a mencionar os eixos fundamentais da concepção do mundo de Clarice Lispector que notamos em Perto do coração selvagem e que aparecem também no restante da obra que será analisada nesta tese por considerarmos que isso resultaria redundante e enfadonho para o leitor do nosso trabalho. Antecipamos apenas que as narrativas de Clarice Lispector contarão, tomadas em conjunto, a história da procura pelo supra-individual, que exige, irremissivelmente, o autoconhecimento profundo, a travessia dolorosa pelo eu até atingir o âmago. Em O lustre (1946), segundo romance de nossa autora, deparamo-nos, logo de início, com uma experiência inaugural da vida das duas principais personagens (os irmãos Virgínia e Daniel) que nos remete imediatamente ao domínio do Real, do que não pode143 ser dito, por desconhecido. Metáfora do símbolo, o chapéu que Virgínia e Daniel vêem boiando no rio e que pautará, à maneira de um sinal do destino, toda a vida das personagens, transforma-se, a partir do olhar das duas crianças, no que pretende nomear, mas apenas consegue sugerir o indizível – e que, de fato, não chega nunca a ser pronunciado no romance: a morte, o mistério maior. Em consonância com isso, e ciente da limitação do signo poético, afirma a autora logo após concluir o romance: “O meu livro se chamará O lustre. Está terminado, só que falta nele o que eu não posso dizer” (apud GOTLIB, 1995, p. 190). “Personagem predileto” de A hora da estrela (HE, p. 103), a morte é, na obra clariceana – como já vimos –, um assunto privilegiado. No outro extremo do percurso romanesco da escritora (o início), a pequena Joana, brincando com a sua boneca, já inventava 142 Como já antecipamos e aprofundaremos mais adiante, o que Joana almeja encontrar é a mulher da voz que mora nela mesma, a mulher só fêmea, a mulher em todas as mulheres. 143 Por usarmos a terminologia lacaniana é que, nos romances, o Impossível será por nós tomado como sinônimo de Real. 234 que “Um carro azul atravessava o corpo de Arlete, matava-a” (PCS, p. 13). Dessa mesma forma, Clarice Lispector resolverá matar duas das suas protagonistas romanescas, Virgínia e Macabéa. A solidão ocupará um lugar central em O lustre. A própria Clarice considerava esse romance especialmente triste (LISPECTOR, 2005, p. 147). Virginia é a personagem mais solitária do mundo clariceano. A relação mais profunda que estabelecerá durante a sua vida será na infância, com o irmão, uma relação pautada pelo autoritarismo e pelo sadismo de Daniel (e a correlativa submissão de Virgínia). Ainda moça, Virgínia parte com ele para a cidade, mas ele retornará, após casar, ao lar paterno. Virgínia tem um amante, Vicente. Longe de trazer a ela alguma espécie de felicidade, o vínculo com o amante apenas aumentará a sensação de solidão em Virgínia: Mas que Vicente e a cidade eram temporários como a chuva que não pode durar. Gostaria de dizê-lo a Vicente, seria bom que ele notasse que não a fizera feliz – ou fizera? – e então dissesse: mas, Virgínia, meu bem, eu não quero isso... Ela lhe responderia: mas eu me sinto feliz em sofrer por você... é o máximo que eu posso fazer por alguém... Ela sofrera por Daniel, só isso (L, p. 112). Compartilhando com Joana uma aguçadíssima sensibilidade, Virgínia não possui a capacidade de racionalização (consciência) da protagonista de Perto do coração selvagem e, por isso, a sua trajetória assemelha-se mais a um destino cego. Ela, que “vivia à beira das coisas” (L, p. 14), também se procura a si mesma, mas a sua busca é inconsciente e errática: [...] ao fechar os olhos, vendo em si mesma uma pequena sensação cerrada, alegríssima, firme, misteriosa e indefinida, Virgínia jamais saberia que se indagava se uma qualidade numa pessoa excluía a possibilidade de outras, se o que havia dentro do corpo era bastante vivo e estranho a ponto de ser também o seu contrário. Quanto a si própria ela não sabia sequer adivinhar o que podia e o que não podia, o que conseguiria apenas com um bater de pálpebras e o que jamais obteria, mesmo cedendo à vida. Mas a si própria concedia o privilégio de não exigir gestos e palavras para se manifestar. Sentia que embora sem um pensamento, um desejo ou uma lembrança, ela era imponderavelmente aquilo que ela era e que consistia Deus sabe em quê (L, pp. 20-21). 235 Mas no mundo de Clarice Lispector, essa incapacidade de pensar é o que dignifica a personagem: “Alguma coisa nela fulgurava docemente em glória de ignorância como num deus de coração exposto, havia na sua existência o além do martírio mas ela não fora martirizada, ela fora muitas vezes criada” (L, p. 60). Como nós sabemos, na visão do mundo de Clarice Lispector, essa ignorância espontânea, além de uma glória, é uma de espécie bênção profana. Virgínia é pura existência: Aos poucos, olhando, desmaiando, pegando, respirando, esperando, ela ia se ligando mais profundamente com o que existia e tendo prazer. Aos poucos sem palavras subcompreendia as coisas. Sem saber por quê, entendia; e a sensação íntima era o contato, de existência olhando e sendo olhada. Desse tempo é que restaria algo de uma clareza indecifrável. E donde vinha que talvez tudo merecesse a perfeição de si mesmo? E donde vinha uma inclinação quase semelhante a ligar-se ao dia seguinte por meio de um desejo. Donde surgira? mas quase não tinha desejos... Quase não tinha desejos, quase não possuía força, vivia no final de si e no começo do que já não era, equilibrando-se no indistinto. No seu estado de fraca resistência recebia em si o que seria excessivamente frágil para lutar e vencer em qualquer força de corpo ou de alma. Ela era tola demais para ter dificuldades, repetia Daniel (L, p. 62). É interessante notar como o impulso para a transcendência não encontra vazão em Virgínia. Tudo nela vira imanência: Num despertar tênue ela sentia que existiam naquele mesmo instante muitas coisas além das que via. Então punha-se firme e sutil querendo aspirar todas essas coisas para o seu centro após uma pequena pausa. Nada vinha, ela espiava as coisas levemente douradas de luz – sem pensamento ia ficando saciada, saciada, saciada como o ruído cada vez mais agudo e apressado da água enchendo um pote (L, p. 55). Sem capacidade para desenvolver pensamentos ou epifanias, tudo o que lhe resta é concordar, um concordar muito cobiçado pelas personagens clariceanas como Joana que, à semelhança de sua autora, não conseguem se livrar da sua natural tendência para a racionalização, a análise e a intelectualização: 236 Ela não podia compreender, poderia concordar, só isso, e apenas com a cabeça, assentindo assustada. Concordava com a tarde, concordava com aquela frágil força que a sustentava de encontro ao ar, concordava com o seu medo alegre [...] concordava com o morro vivo dizendo alto, alto dentro de si: ah sim, sim! ardentemente una e quieta. Não porém no plano da realidade inegável, só numa certa verdade onde podia dizer tudo sem jamais errar, lá onde não havia erro sequer e onde tudo vivia inefavelmente por força da mesma permissão, lá onde ela mesma vivia esplendorosamente apagada, vaga e coisa, puramente coisa como o piscar úmido de uma cadela deitada contra o ar e arfando, concordando profundamente sem saber como uma cadela (L, pp. 88-89). Como já dissemos, a personagem abandona o lar paterno (campo) para tentar sorte na cidade, mas os seus dias, “de uma tristeza perfeita” (L, p. 59), se passam sem grandes acontecimentos e sempre na solidão. Assim, ela descobre que “era finalmente o natural viver sozinha” (L, p. 135)144. Após um breve retorno à fazenda decadente da sua família patriarcal (decadência essa representada justamente pelo lustre que dá título ao romance), encontra a morte na cidade, ao ser atropelada por um carro. Como sintetiza Berta Waldman, A leveza, a intocabilidade, os pequenos anseios, a cólera, a distração, as pequenas iluminações, a distância com relação à realidade mais ampla, fazem dela um ser sem chão, sem raízes. Opondo-se à terra de origem, a qualquer terra de desejos sensuais, ela é uma estranha também na cidade. Enquanto Joana [...] tem a seu favor as vozes, a linguagem, a Virgínia está vedada a possibilidade de questionar o ser com a linguagem145 (WALDMAN, 1993, pp. 51-52). Por último, é interessante constatar em O lustre como Virgínia já traz traços de outras personagens do universo clariceano. Encontramos nela, personagem incapacitada para a ação, o desejo de realizar a viagem final de Joana146 em Perto do coração selvagem: “Ela entregaria 144 A personagem sente isso desde criança. Na Granja Quieta, ela já constatava: “– Eu estou só. Como se tivesse dito mais do que podia vergava um instante a cabeça, assustada, alegre, indagando-se. Erguia o rosto molhado e precisava dizer alguma coisa mais do que ela, mais do que tudo. – Estou só, estou só, repetia como um pequeno galo cantando” (L, pp. 59-60). 145 Isto fica perfeitamente ilustrado neste trecho de O lustre: “E quando ligaram o rádio e soara uma canção ele murmurara: – Tipo insuportável e música... [...] – Não, não gosto... tão... tão intrometida... – seu rosto desfez-se em seguida, a expressão de baixo emergiu engurgitada, surpresa e infantil porque ele abria os olhos castanhos atrás dos óculos, tentava compreendê-la, o espanto dele dizia envergonhado, benevolente: mas Virgínia..., o que é isso, Virgínia? Sim, avançara demais; pois na verdade como podia a música ser intrometida? talvez quisesse dizer: a música não tinha dignidade na alegria, como ouvira dizer uma vez, sim, era isso! mas agora tornara-se impossível explicar (L, pp. 132-133). 146 Em um impulso que não consegue explicar, Virgínia também rouba (L, p. 150), como a criança Joana. 237 o próprio coração para ser mordido, ela queria sair dos limites de sua própria vida como suprema crueldade” (L, p. 76) e também de cumprir a trajetória que empreenderá G.H.: Ela faria alguma coisa tão fora de seus limites que jamais a compreenderia – mas não tinha forças, ah não podia sair do que podia. Era preciso fechar um instante os olhos e rezar para si mesma brutalmente com desprezo até que num suspiro profundo, despindo-se da última dor, enfim esquecendo, caminhasse para o sacrifício do destino (L, p. 76). Também Macabéa já se encontra presente neste segundo romance de Clarice Lispector. Vejamos esta caracterização grotesca de Virgínia: O que excitava nela era a vulgaridade como uma prostituta o vício excita, de algum modo ela parecia feita de sua semelhança com os outros. [...] As roupas faziam-na ridícula, lembravam nela uma árvore coberta de panos, uma fruta picada por um broche. Ela não parecia mulher mas imigar as mulheres com cuidado e inquietação. E ela irritava (L, p. 117). É impossível não lembrar os diálogos entre Macabéa e Olímpico (HE, pp. 64-65) ao lermos sobre a incapacidade de Virgínia para se comunicar com Vicente: Se ela fosse mais inteligente poderia apagar o passado com palavras novas ou mesmo participando um pouco mais do que ele dizia. Tinha porém poucos pensamentos em relação às coisas e temia repeti-los sempre; nunca usava a expressão certa, sempre errando mesmo quando era sincera. Às vezes simplesmente não sabia o que lhe retrucar e caía dentro de si própria à procura (L, p. 132). Esse diálogo intenso entre as obras no nível das personagens – que não voltaremos a mencionar, mas que é possível detectar em todos os romances – também permite lê-las como uma unidade, etapas de uma mesma busca, de um mesmo projeto. Em A cidade sitiada há uma procura de despersonalização (desindividualização) através dos objetos, em um apelo à exterioridade, à aparência, que se esgota em si mesma e, em função da sua superficialidade suficiente, é inexplicável (porquanto nada há por trás ou 238 para além dela). Nesse sentido, na linha de pensamento de Olga de Sá (1999, p. 51), consideramos este romance um duplo (oposto, a outra face) da obra de Clarice Lispector. O romance, que a sua autora considera “horrível” (apud BORELLI, 1981, p. 119) e “tão cacete, sinceramente” (Ib., p. 135), mas que, a despeito disso, não pode se furtar a escrever, conta a história de Lucrécia, personagem de “inteligência curta” (CS, p. 23) e que “nunca precisara, aliás, da inteligência” (CS, p. 21)147, cuja vida se desenrola paralelamente ao desenvolvimento do povoado (subúrbio) onde nascera: São Geraldo. A correspondência entre mulher e cidade é estabelecida desde o começo da obra: “Estava no seu [de Lucrécia] pequeno destino insubstituível passar pela grandeza de espírito como por um perigo, e depois decair na riqueza de uma idade de ouro e de escuridão, e depois perder-se de vista – foi o que sucedeu com S. Geraldo” (CS, p. 19). Esse paralelismo é viabilizado pelo fato de que “tudo o que Lucrécia Neves podia conhecer de si mesma estava fora dela: ela via” (CS, p. 60). A personagem, mulher-cavalo148 “sem nenhuma individualidade” (CS, p. 20), após namorar Felipe e Perseu, casa com o próspero comerciante Mateus Correia, que a leva para a grande cidade e, já casada, reencontra o dr. Lucas, amigo da mocidade, que, mais uma vez, não corresponde a sua paixão. Paixão que Lucrécia também sentia por bibelôs (CS, p. 69). Enquanto Laura, em conto célebre de Clarice Lispector149, não conseguira evitar imitar as rosas (o que conduziu a personagem à loucura), Lucrécia tenta espelhar-se nos objetos a fim de fugir à sensação de não-sentido da existência. O pensamento é substituído pelo olhar, único meio proposto pelo romance – e ao qual Lucrécia irá aderir – de conferir sentido às coisas: tudo o que ela via era alguma coisa. Nela e num cavalo a impressão era a expressão. Na verdade, função bem tosca – ela indicava o nome íntimo das coisas, ela, os cavalos e alguns outros; e mais tarde as coisas seriam olhadas por esse nome. A realidade precisava da mocinha para ter uma forma. “O que se vê” – era a sua única vida interior; e o que se via tornou-se a sua vaga história. [...] 147 Nisto ela assemelha-se a Virgínia. Lucrécia é recorrentemente descrita no romance com patas e cabeça de cavalo. Além disso, ela via as coisas como um cavalo (CS, p. 22). Na obra de Clarice Lispector, o cavalo é símbolo de força (de criação), de ímpeto, de impulso instintivo, enfim, de pulsão inconsciente. Notemos, a partir do depoimento da autora na próxima página, como, em Lucrécia, a imitação do cavalo se dá em um sentido mais literal, caricatural, objetificado, devido às limitações do olhar (enviesado) da personagem. No entanto, se partirmos da hipótese do jogo figurativo entre cidade e texto proposta e desenvolvida por Carlos Mendes Sousa em “A revelação do nome” (2004, pp. 159-160), os cavalos de São Geraldo, ligados diretamente à origem da cidade (alicerces), reassumem o seu simbolismo na obra clariceana, ao remeterem diretamente, também em A cidade sitiada, ao inconsciente que sustenta toda a criação, segundo a autora. 149 “A imitação da rosa” In Laços de família. 148 239 Nesse momento propício em que as pessoas viviam, cada vez que se visse – novas extensões emergiriam, e mais um sentido se criaria: era esta a pouco usável vida íntima de Lucrécia Neves. E isso era S. Geraldo, cuja História futura, como na lembrança de uma cidade sepultada, seria apenas a história do que se tivesse visto (CS, pp. 18-19, grifos da autora). Vejamos como é caracterizada a personagem e como é descrita a sua tendência para a exteriorização. No que mais tarde ela catalogará como uma “brincadeira” (CS, p. 67), em justificativa imaginária para alguém que porventura pudesse tê-la visto no exercício de exteriorização que ela improvisara, Lucrécia transforma-se em uma espécie de estátua; tentando “exprimir sua modesta função que era: olhar” (CS, p. 66), os seus gestos transformam-se em cacoetes e, no ápice da sua experiência, chega a perder a fala e o pensamento: Exprimindo pelo gesto da mão, sobre o único pé, entortados com graça em oferenda, o único rosto sacudindo-se em pantomima, eis, eis, toda ela, terrivelmente física, um dos objetos. Respondendo enfim à espera dos bichos. [...] perdera enfim o dom da fala. [...] Tão humilde e irada que não saberia pensar; e assim dava o pensamento através de sua única forma precisa – não era isso o que sucedia às coisas? – inventando por impotência um sinal misterioso e inocente que exprimisse sua posição na cidade, escolhendo a própria imagem e através desta a dos objetos. Nesse primeiro gesto de pedra, o oculto estava exteriorizado em tal evidência. Conservando, para a sua perfeição, o mesmo caráter incompreensível: o botão inexplicável da rosa se abrira trêmulo e mecânico em flor inexplicável150. E assim ficou como se a tivessem depositado. Distraída, sem nenhuma individualidade. [...] Na posição em que estava, Lucrécia Neves poderia mesmo ser transportada à praça pública. [...] Porque era assim que uma estátua pertencia a uma cidade (CS, pp. 67-68). 150 Comparemos esta descrição com a reação de Laura ao descobrir ou “descortinar” as flores na sala da sua casa que ela mesma tinha comprado de manhã na feira: “Eram algumas rosas perfeitas, várias no mesmo talo. Em algum momento tinham trepado com ligeira avidez umas sobre as outras mas depois, o jogo feito, haviam se imobilizado tranqüilas. Eram algumas rosas perfeitas na sua miudez, não de todo desabrochadas, e o tom rosa era quase branco. Parecem até artificiais! disse em surpresa. Poderiam dar a impressão de brancas se estivessem totalmente abertas mas, com as pétalas centrais enrodilhadas em botão, a cor se concentrava e, como num lóbulo de orelha, sentia-se o rubor circular dentro delas. Como são lindas, pensou Laura surpreendida. Mas, sem saber por quê, estava um pouco constrangida, um pouco perturbada. Oh, nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema incomodava. [...] E também porque aquela beleza extrema incomodava. Incomodava? Era um risco. Oh, não, por que risco? apenas incomodava, eram uma advertência, oh não, por que advertência? Maria daria as rosas a Carlota” (LISPECTOR, 1998c, pp. 43-44). Este tipo de reflexão-sensação é a mais comum nas personagens de Clarice Lispector. O primeiro impulso destas é, em geral, para a transcendência, isto é, para enxergar nas coisas o que está além delas ou, então, aquilo que, misteriosamente, ressoa na alma das personagens. 240 Por ser um olhar de superfície (e que se esgota na superfície), o olhar de Lucrécia é de canto, de lado, míope, vesgo, um espiar insistentemente caracterizado no romance com aqueles adjetivos151. Por isso, “nela a verdade era muito protegida. O que não lhe despertava muita curiosidade. Assim como nunca precisara da inteligência, nunca precisara da verdade; e qualquer retrato seu era mais claro do que ela” (CS, pp. 70-71). O olhar de Lucrécia nunca se transforma em visão: nem em visão de imanência, nem em visão de transcendência. Nunca é um olhar epifânico: “Havia um momento na imobilidade dos objetos que assombrava numa visão. Na sonolência, Lucrécia Neves se eriçou diante das coisas físicas” (CS, p. 73); “Seria este um novo modo de ver as coisas? de uma beleza extrínseca! ela batia palmas sonolentas [...] e o máximo era a serenidade de um objeto parado” (CS, p. 77). A busca de Lucrécia não é interior, é sempre exterior; o seu movimento (mudança) é apenas físico. Assim como a personagem central assume uma atitude diametralmente oposta à das outras personagens clariceanas – em sua grande maioria, focadas na interioridade e na subjetividade –, em princípio, o romance apresenta uma orientação a contrapelo daquela proposta pela visão do mundo clariceana e pelo seu projeto estético, sobre o qual nos deteremos na próxima seção. Parecendo responder a críticas como as de Costa Lima, que acusam a sua escrita de um desmesurado subjetivismo, Clarice constrói uma obra calcada nos moldes realistas: nesta narrativa que se postula continuamente exterior e objetiva, o tempo cronológico pauta a história (narrativa com começo, meio e fim), há determinações de tempo e espaço (por ex.,“O subúrbio de S. Geraldo, no ano de 1920..”, L, p. 13), há peripécias (namoros, casamento, separações, traições) e as personagens são devidamente caracterizadas ou, melhor, caricaturizadas. Por isso, e como também mostra Olga de Sá (1999, pp. 31 a 65), tudo indica que aqui seria o signo clariceano o que, mais do que a cidade em questão, é sitiado. E, como apontam ainda a mesma crítica e Benedito Nunes (1995, p. 34), o tom paródico e caricatural próprio deste romance deixa em evidência o seu caráter de duplo, de negativo do romance clariceano. Atingir a “reversão da experiência interna, objetificada para o próprio sujeito, como reflexo de uma realidade que lhe é estranha e com a qual ele se identifica” (NUNES, 1995, p. 151 É o mesmo olhar oblíquo do texto do romance enquanto paródia do romance realista. 241 36), objetivo que foi alcançado, conforme o já visto, correspondeu a uma intenção152 assumida pela própria Clarice Lispector em defesa à obra publicada no Jornal do Brasil: O que me espanta – e isto certamente vem contra mim – é que a um crítico escapem os motivos maiores de meu livro. [...] No entanto nenhuma, mas nenhuma mesma, das palavras do livro foi – jogo. Cada uma delas quis essencialmente dizer alguma coisa. Continuo a considerar minhas palavras como sendo nuas. Quanto à “intenção” do livro, eu não acreditava que ela se perdesse, aos olhos de um crítico, através do desenvolvimento da narrativa. Continuo sentindo essa “intenção” atravessando todas as páginas, num fio talvez frágil como eu quis, mas permanente e até o fim. Creio que todos os problemas de Lucrécia Neves estão condicionados a esse fio. O que é que eu quis dizer através de Lucrécia – personagem sem as armas da inteligência, que aspira, no entanto, a essa espécie de integridade espiritual de um cavalo, que não “reparte” o que vê, que não tem uma “visão vocabular” ou mental das coisas, que não sente a necessidade de completar a impressão com a expressão – cavalo em que há o milagre de a impressão ser total – tal real – que nele a impressão já é expressão. Pensei tanto ter sugerido que a história verdadeira de Lucrécia Neves era independente de sua história particular. A luta de alcançar a realidade – eis o principal nessa criatura que tenta, de todos os modos, aderir ao que existe por meio de uma visão total das coisas. Pretendi deixar dito também de como a visão – de como o modo de ver, o ponto de vista – altera a realidade, construindo-a. [...] Uma das mais intensas aspirações do espírito é a de dominar pelo espírito a realidade exterior. Lucrécia não o consegue – então “adere” a essa realidade, toma como vida sua a vida mais ampla do mundo (LISPECTOR, 1999a, pp. 272-273, grifo da autora). Diretamente ligada à ênfase na exterioridade que vimos apontando, e como assinala Nádia B. Gotlib (1995, pp. 263-264), o tratamento do espaço (priorizado) confere mais um traço de especificidade a este romance. Como mostra a crítica, na obra, é estabelecida uma simetria entre os espaços da cidade e os espaços vitais dos seus habitantes, inclusive Lucrécia Neves. Ao lermos A cidade sitiada, é preciso lembrar, porém, que o duplo implica a sua matriz. A imitação dos objetos e a hegemonia do olhar do outro como fonte da (auto)representação153, leva-nos a ler a obra sob uma chave alegórica e metapoética. Os 152 Essa intenção não é tão clara no momento de elaboração do romance, sendo, portanto, em boa parte, inconsciente. Em entrevista a Affonso Romano de Sant’Anna et al., a autora fala de como escrevera A cidade sitiada: “É um livro denso, fechado. Eu estava perseguindo uma coisa e não tinha quem dissesse o que era” (LISPECTOR, 2005, p. 149). 153 A subjetividade de Lucrécia é constituída exclusivamente pelo olhar do outro. Por isso, para ela, ser vista é imprescindível, e ela age sempre em função desse objetivo. Por exemplo: “Não era sem um esforço constante que mantinha a elegância naquele momento porque se vestira na escuridão potente de um quarto, talvez para ser vista de noite” (CS, p. 35); “Em breve ela desvairava um pouco, sonhava em andar sozinha com um cão e ser 242 movimentos das personagens – e notadamente, de Lucrécia Neves – são cênicos154, e tudo no romance aponta para uma “representação dupla”, no dizer de Nádia B. Gotlib (1995, p. 267). Todo o romance pode ser lido como um retrato-espelho, da mesma forma em que o espelho e, posteriormente, o retrato de Lucrécia contornam-na no decorrer da sua vida de personagem155. Isso é possível porque, no romance, As pessoas transformam-se em objetos os quais, na sua solidão e inteireza despem-se de toda profundidade e exibem sua forma pura, envolta em si mesma. O destino do retrato enquanto objeto suplanta o modelo e se impõe na sua condição de cópia, resíduo que apaga qualquer relação causal com a origem. A imagem, enquanto clichê, se reduplica, ao fugir do controle de seu proprietário e possuir vida própria (SOUZA, 1995, pp. 3-4). Na satisfação com que Lucrécia olha para o seu retrato e no cuidado que dispensa a ele, constatamos que ela, como as outras personagens clariceanas, também realiza uma busca. No entanto, ao contrário daquelas, a sua busca é exterior. O retrato simboliza a sua transformação em objeto, o sucesso da sua busca: sem vida interior, Lucrécia encontra-se fora dela mesma. vista sobre o morro: como o postal de uma cidade. Lucrécia Neves precisava de inúmeras coisas: de uma saia quadriculada e de um pequeno chapéu da mesma fazenda; há tanto tempo precisa se sentir como os outros a veriam de saia e chapéu quadriculados [...]” (CS, p. 37). Por isso, a personagem carece de individualidade. 154 Observemos como é descrita esta cena entre Lucrécia e Perseu: “O que não impedia que nesse momento os dois estivessem igualados pelo mesmo instante de juventude no morro do pasto – caminhando e conversando de volta, as mãos se movendo em gestos explicativos. Não importava o que tão animados se diziam: eles mesmos eram para serem vistos, como a cidade” (CS, p. 39). Uma janta de Lucrécia com a sua mãe, Ana, é apresentada nos seguintes termos: “As duas mulheres se tornaram sonsas e sagazes, correndo cheias de cuidado como ratos pela sala em penumbra – e assumindo o caráter desconhecido de dois personagens que elas jamais saberiam descrever mas que podiam imitar, apenas imitandose. [...] – Foi mesmo?, disse a mãe esforçando-se para que Lucrecia percebesse seu interesse através do tom cerimonioso que adotava quando iniciavam uma ‘cena” (CS, p. 57). 155 A primeira descrição física de Lucrécia é-nos dada a partir de seu reflexo no espelho (CS, pp. 30-31). Mais tarde, “A lembrança do baile a enlevava no quarto onde agora, ataviada como uma gravura de santo, estava pronta para sair. Com o rosto imobilizado pelo disfarce a moça se examinou ao espelho. Estava grosseira e dourada na sombra. Fora assim que se criara. [...] No espelho sua elegância tinha a qualidade falível das coisas belas demais sem raiz... (CS, p. 34). Tudo em S. Geraldo “era real mas como visto através de um espelho” (CS, p. 37). Mas foi durante o seu casamento com Mateus Correia que “tirou o retrato que mais tarde tanto intrigaria seus filhos. Nessa época estava realmente no apogeu. [...] Um retrato como se tira numa grande cidade, que S. Geraldo ainda não era. Fora um prenúncio. Pendurou-o no corredor, ao lado de um desenho em cartão-postal do futuro viaduto. Espanava-o diariamente. [...] Ambos se olhavam. Ela o fitando com estupor e orgulho: que obra realizada. Ficara mesmo mais livre depois que se fotografara; parecia agora poder ser o que quisesse. Mas cada vez a fotografia ia se destacando do modelo, e a mulher a procurava como a um ideal. O rosto na parede, tão inchado e digno, tinha no sonho sufocante um destino, enquanto ela mesma... Talvez tivesse caído no maquinismo das coisas, e o retrato fosse a superfície inatingível, já a ordem superior da solidão – a sua própria história que, despercebida por Lucrécia Neves, o fotógrafo captara para a posteridade” (CS, pp. 126-127). 243 Por tudo o exposto, A cidade sitiada seria o romance das coisas, e não da coisa. No entanto, o que resta no final é a pura imanência da coisa. É isto o que julgamos simbolizar o retrato de S. Geraldo nu, vazio: Fora levantado o sítio de S. Geraldo. Daí em diante ele teria uma história que não interessaria mais a ninguém, largado às suas sérias subdivisões, às penas de multa, às suas pedras e bancos de jardim, avarento de quem em punição ninguém mais cobiçasse os tesouros. Seu sistema de defesa, agora inútil, mantinha-se de pé ao sol, em monumento histórico. Os habitantes o haviam desertado ou dele desertado seus espíritos. Embora também ficassem entregues à liberdade e à solidão. [...] ninguém mais se lembrava de atingir a antiga fortaleza, o morro. De onde os últimos cavalos já haviam emigrado, entregando a metrópole à glória de seu mecanismo. [...] A viúva mal tinha tempo de arrumar a trouxa e escapar (CS, p. 169). Dessa forma, ao encontrar o “é da coisa” (LISPECTOR, 1973, p. 8), o romance encontra o seu lugar dentro da obra de Clarice Lispector. Como sintetiza ainda Eneida Maria de Souza: O grande fascínio que a obra de Clarice desperta nos seus leitores é a arte de anotar no cotidiano as formas tanto prosaicas quanto humanas, retirando dos objetos sua essência, “sem buscar a causa das coisas, mas a coisa apenas”. Esse modo de ver, “limpo e indubitável”, lê a realidade pela aparência, reduzindo o objeto à condição de ser o que é, na sua materialidade, solidão e inteireza (SOUZA, 1995, p. 4, grifos da autora). Assim como o conto-ensaio “O ovo e a galinha” pode ser lido como uma alegoria (ou mesmo manifesto) da poética clariceana, A maçã no escuro (1961) é o romance que conta a história da autora com (e contra) a linguagem, fundamento da sua escritura, declaração de insurreição, de inconformismo, de revolta, de insubmissão. Como explica Ângela Maria Bedran, em sua análise do referido romance: O ser humano, que é primeiramente um bloco de sensações de prazer ou desprazer, misturado com o corpo materno, vai daí se separando através da 244 linguagem, que divide o “era um”, que distancia as coisas, fazendo com que elas existam como algo à parte no momento em que lhes confere nomes. A partir daí, uma cadeia de símbolos, palavras, significações, significantes vai se desenvolvendo infinitamente, podendo, porém, sempre tropeçar nessas marcas escritas, inscritas, no ponto em que endureceram, resistindo a qualquer tipo de simbolização. Clarice realça esse ponto cego, quando escreve: “Você fala demais em coisas que brilham; – há no entanto um cerne que não brilha”. À medida que as palavras vêm da mãe, já que se é falado pelo outro e que esse outro não vai ser capaz de atender a toda demanda de significação, restará sempre algo de inacabado, um ponto de deslize, de desencaixe entre o que diz a língua da mãe e o que pede o bebê, o que faz com que a língua esteja fadada ao equívoco, destinada a ser fatalmente defeituosa (BEDRAN, 2000, p. 80). Martim, a personagem central de A maçã no escuro, foge de um crime que não é identificado até o final do romance e que nesse mesmo final se revela inexistente, fracassado, falho: ele acredita ter assassinado a sua esposa, mas na realidade isso não aconteceu. Resolve então alojar-se no silêncio para, a partir dali, reconstituir-se como indivíduo. Ainda no hotel onde pára para descansar durante a sua fuga, “Martim percebeu o silêncio e dentro do silêncio a sua própria presença. Agora, através de uma incompreensão muito familiar, o homem começou enfim a ser indistintamente ele mesmo. Então as coisas passaram a se reorganizar a partir dele próprio” (ME, p. 16). Observemos como Martim deixa, então, de ser Martim para ser apenas “o homem”156. Em consonância com essa transformação, Martim abandona logo um pensamento que tivera em relação ao empregado do hotel e mergulha “de novo na mesma ausência anterior de razões e na mesma obtusa imparcialidade, como se nada tivesse a ver consigo mesmo, e a espécie se encarregasse dele” (ME, p. 18). Ele parte na noite – tempo simbólico da escuridão, do caos –, “tendo dentro de si o grande espaço vazio de um cego” (ME, p. 19). Lícia Manzo (2001, pp. 56-57) também anotará que a verdadeira narrativa do romance é a história da tentativa de construção de uma identidade legítima e genuína, através da busca 156 Afirma o narrador de A maçã no escuro que “o que o sustentava era a impessoalidade extraordinária que ele alcançara, como um rato cuja única individualidade é aquilo que ele herdou de outros ratos” (ME, p. 54). No entanto, a seguir, ele chama essa mesma impessoalidade de “extrema individualidade” (ME, p. 54), alertando para o encontro dos contrários. Isso encontra eco nas palavras de Clarice Lispector citadas na primeira epígrafe deste capítulo no sentido de que “a intimidade humana vai tão longe que seus últimos passos já se confundem com os primeiros passos do que chamamos de Deus” (LISPECTOR, 1999a, p.79). 245 de Martim por uma linguagem157. É por isso que A maçã no escuro é um romance de formação pela forma, pelo significante, ao gosto de Jacques Lacan. Após o breve relato de uma fuga, o romance inicia-se exatamente no lugar simbólico daquele cerne que não brilha mencionado por Bedran: o coração do Brasil158 e no dia em que a criação é iniciada: domingo: Hoje deve ser domingo’ – chegou mesmo a pensar com certa glória, e domingo seria o grande coroamento de sua isenção. Hoje deve ser domingo! pensou com súbita altivez como se o tivessem ofendido na honra. [...] domingo era o primeiro dia de um homem. [...] Domingo era o descampado de um homem (ME, pp. 26-27). Simplesmente existir é, para Martim, o seu primeiro ato de liberdade159: “[...] no seu primeiro domingo, ele era” (ME, p. 32). Como gesto inaugural da sua incipiente trajetória existencial, Martim cala-se e, com repulsa, abandona ao mesmo tempo linguagem e pensamento: Todo um passado estava apenas a um passo da extrema cautela com que aquele homem procurava se manter apenas vivo, e nada mais [...]. Então, sem tocá-la, ele se dispôs a esperar impassível que a coisa passasse. Antes que passasse, ele involuntariamente a reconheceu. Aquilo – aquilo era um homem pensando... [...] Homem pensando era aquilo que, ao ver algo amarelo, dizia com esforço deslumbrado: essa coisa que não é azul. [...] Então, sobressaltado, como se em alarme tivesse reconhecido a volta insidiosa de um vício, teve tal repugnância pelo fato de ter quase pensado que apertou os dentes em dolorosa careta de fome e desamparo [...]. Com enorme coragem, aquele homem deixara enfim de ser inteligente (ME, p. 33). 157 Em seu trabalho de cotejar vida e obra de Clarice Lispector, Lícia Manzo sublinha a importância deste romance. Em consonância com a nossa observação quanto a que aí estaria desenvolvido o projeto poético da autora, afirma Manzo que “Esgarçando cada vez mais os limites entre autor e personagem, ficção e não-ficção, Clarice fazia seu o caminho percorrido por Martim em busca de uma linguagem, à medida que, em seu encalço, também ela se construía” (MANZO, 2001, p. 58). 158 Este lugar simboliza no romance o Centro, ponto de origem de toda cosmogonia. Além disso, mais tarde, Martim chega ao alto de uma montanha. “O cume da Montanha Cósmica não é apenas o ponto mais alto da Terra; ele é o umbigo da Terra, o ponto onde começou a criação” (ELIADE, 2002, p. 39). Em sintonia com a afirmação de Mircea Eliade, a chegada de Martim a esse lugar é assim descrita pelo narrador de A maçã no escuro: “E à beira de sua mudez, estava o mundo. Essa coisa iminente e inalcançável. Seu coração faminto dominou desajeitado o vazio” (ME, p. 52). Mais adiante, o narrador explicitará ainda: “Essa necessidade que uma pessoa tem de subir uma montanha – e olhar. Esse era o primeiro símbolo que ele tocara desde que saíra de casa: ‘subir uma montanha’. E neste obscuro ato ele se fecundava. Aquele lugar era um velho pensamento jamais formulado” (ME, p. 127). Como veremos, em A maçã no escuro, o tempo também se revela mítico. 159 “A coisa mais desapaixonadamente individual acontecia quando uma pessoa tinha a liberdade” (ME, p. 27). 246 Alerta para não cair nas armadilhas do conceito, Martim (re)descobre, então, o mundo vegetal diante de uma árvore seca (ME, p. 28) e estaca diante do primeiro passarinho (mundo animal, ME, p. 28). E à inteligência racional substitui com deslumbramento uma inteligência prática, “que era grosseira e esperta como a de um rato. Nada além disso. Mas pela primeira vez utensílio. Pela primeira vez sua inteligência tinha conseqüências imediatas” (ME, p. 36). Comete, porém, um pequeno deslize no seu propósito: seguindo a ordem de um ritual que obedece a um código preestabelecido (cultural e religioso), profere um sermão, um sermão ‘para as pedras pois estas pareciam homens sentados” (ME, p. 37). Demonstra, assim, sentir a necessidade de prestar contas pela sua transgressão160 antes de continuar pelo caminho que escolhera161. Munido destas novas armas chega ao declive da montanha e, entre algumas árvores, enxerga uma casa. A dona da fazenda, Vitória, é uma mulher dura e hostil que, a pedido de Martim, contrata-o como peão. Na fazenda moram também Ermelinda – prima de Vitória –, uma criada (recorrentemente chamada de “a mulata”), a filha desta e Francisco, um empregado. Martim passa a morar no depósito da lenha. Na primeira etapa da sua trajetória-aprendizagem, intitulada no romance “Como se faz um homem”, Martim experimenta todas as sugestões que a visão do mundo de Clarice Lispector propõe: na busca de um conhecimento que, atrelado a uma percepção que se quer pura, se liberte dos preconceitos do pensamento e da linguagem, ele vivencia o caminho dos sentidos162. Seu primeiro movimento é, portanto, de esvaziamento, de procura daquela ignorância conquistada que mencionamos ao apresentarmos o pensamento indeterminado de Clarice Lispector e da qual, como vimos, Virgínia era uma detentora espontânea. É da perda de toda individualidade e humanidade que parte Martim, do não-ser. “Mas em duas semanas aprendera como é que um ser não pensa e não se mexe e no entanto está todo ali” (ME, p. 22). 160 De fato, Martim procura seduzir o seu auditório imaginário aludindo a várias problemáticas de ordem social (ditadura militar, inclusive, ME, p. 44) e se posicionando em relação a elas. A sua preocupação é assim descrita pelo narrador: “Por honestidade ele quis lhes esclarecer que sabia que era o sol que inchava suas palavras, e as tornava tão esturricadas e grandes; [...] Mas também sabia que se mencionasse o próprio cansaço, as pedras imediatamente deixariam de ouvir, porque afinal só as pessoas em pleno gozo de suas faculdades é que tinham direito, o que é muito justo” (ME, p. 45). 161 Essa ruptura no comportamento da personagem repercute na obra. Como observa Gilda de Mello e Souza, “às belas páginas, como as de Martim no terreno baldio, de Martim no estábulo, entre as vacas, opõem-se outras menos felizes (como as do discurso às pedras), que desmentem a realidade de ‘homem em greve’ da personagem” (SOUZA, 1980, p. 88). 162 Atente-se, na seguinte passagem, a oposição entre “saber” e “sabedoria”: “E lá era bom. Lá nenhuma planta sabia quem ele era; e ele não sabia quem ele era; e ele não sabia o que as plantas eram; e as plantas não sabiam o que elas eram. E todos no entanto estavam tão vivos quanto se pode estar vivo [...]. Sentado na pedra, ela também se sentia satisfeito pelo fato de agora saber trabalhar tão bem no campo. Seu conhecimento era pouco, mas suas mãos tinham ganho uma sabedoria” (ME, pp. 90-91) 247 Um não-ser, que, como mais tarde descobrirá também G.H., encontra-se muito mais próximo da raiz do ser, ao ser o próprio nada onde o ser se realiza em sua plenitude silenciosa. O grande desafio de Martim nesta primeira parte do romance – e por ele assumido – será o de livrar-se da linguagem comum. É com orgulho que ele confessa no início de sua trajetória: “Perdi a linguagem dos outros” (ME, p. 31). Isso, como já vimos, faz parte do projeto vital e estético de Clarice Lispector. Romper com a linguagem comum implica, é claro, romper com o mundo sustentado por ela, o mundo da vida prática, o mundo das relações, o mundo cotidiano: Em A Maçã no Escuro, o “a gente” caracteriza-se como ato de imitar, de enquadrar-se, o que faz com que a verdade cotidiana seja pensada como adequação. No universo com o qual Martim rompe, os valores estão estabelecidos em dicotomias como bem/mal, verdadeiro/falso etc; logo, existe um esforço de adequar-se a uma imagem ideal (SILVA, 2000, p. 83). “[...] recusar o “a gente” implica também recusar a linguagem do “a gente” (SILVA, 2000, p. 109). A vida social e a linguagem separam o indivíduo de si mesmo, ao reificá-lo em definições e atribuições. Por outro lado, e como também aponta Flávia T. X. da Silva: Em A maçã no escuro, a oscilação entre o ser cotidiano e a abertura para se tornar aquilo que se é – um poder ser fundado num movimento incessante – acontece não somente no discurso do protagonista. Como veremos, essa oscilação constitui as personagens e suas ações, pois a experiência de Martim torna-se possibilidade do outro também experimentar-se, ou seja, ameaça iminente de abertura para ser o outro que não se é na cotidianidade. [...] Martim e Ermelinda são uma ameaça de desestabilização, são possibilidade de abertura para o ser a si próprio eclodir (SILVA, 2000, p. 95)163. 163 Vale a pena resgatar aqui a comparação que realiza Flávia Trocoli Xavier da Silva entre a função que desempenha Martim em A maçã no escuro e o que se verifica com Pedro, em A luz no subsolo: “Martim é o estranho. [...] no que se refere às relações humanas, Pedro legitima o confronto que visa aniquilar as possibilidades do outro ser aquilo que poderia vir a ser, oferece a possibilidade exclusiva do sofrimento e da amputação. [...] Pedro é redutor, enquanto Martim é amplificador” (SILVA, 2000, p. 96). O outro estranho do universo romanesco cardosiano, Rafael, opera destruição similar na pequena cidade de interior onde se desenrola a ação de O viajante. 248 Para cumprir com o seu objetivo, Martim ensaia uma outra forma de dizer, pré-lógica e gestual. Como observa Flávia Trocoli Xavier da Silva (2000, p. 123), “Com Martim renasce uma outra linguagem, a que não sabe dizer, a que diz numa profusão de analogias, do ser que se abre ao desconhecido, ao estranho e mesmo à linguagem dos clichês, legítimos representantes do ser encoberto pelo ‘a gente’”. Em A travessia do oposto, Olga de Sá lembra que O primeiro modo de exprimir-se não foi lógico, isto é, por meio de idéias e palavras ou sinais exprimindo idéias, mas fantástico, por imagens. Foram verdades dos sentidos. [...] Todo o falar humano primeiramente foi figurado, alegórico. As chamadas figuras retóricas não foram as últimas a se formarem, não são embelezamentos formais, mas as expressões primeiras e naturais da linguagem (SÁ, 1999, p. 79). Sob essa ótica, o que Martim redescobre e reaviva, após o silêncio, é o primeiro estágio de comunicação humana. Martim recupera a sensibilidade bruta. É com o corpo – e o instinto – que tenta substituir o pensamento: E porque aquele homem parecia não querer nunca mais usar o pensamento nem para combater outro pensamento – foi fisicamente que de súbito se rebelou em cólera, agora que enfim aprendera o caminho da cólera. Seus músculos se comprimiram selvagemente contra a imunda consciência que se abrira ao redor da unha. Ilógico, lutava primitivamente com o corpo [...] Quem sabe se “querer” seria de agora em diante a sua única forma de pensar (ME, pp. 47-48 e 50). Não é sem um grande esforço que o homem cumpre essa tarefa. A sua chegada ao depósito da fazenda se dá da forma descrita a seguir: Aquilo que o homem aprendera e não esquecera de todo, ainda o incomodava: era difícil esquecer. As coisas simbólicas sempre o haviam incomodado muito. [...] Os olhos de Martim, tornados ignorantes pela longa noite, olharam então com estranheza o terreno baldio que a meia claridade de sonho revelou pela janela atrás do depósito. [...] O homem não antecipou nada: viu o que viu. Como se olhos não fossem feitos para concluir mas apenas para olhar. [...] É verdade que seus olhos custaram a entender aquela coisa que nada mais do que: acontecia. Que mal acontecia. Apenas acontecia. O homem estava “descortinando” (ME, pp. 80-81). 249 Ao mesmo tempo em que a linguagem é destruída, a sociedade também é desconstruída e alvo de uma corrosiva crítica no romance. Em seu convívio com as plantas, Martim desvencilha-se de ideais: Por exemplo, Martim não estava triste. O que era estar enfim livre de todo um ideal de ternura. Aquele homem tinha vindo de uma cidade onde o ar estava cheio dos sacrifícios de pessoas que, sendo infelizes, se aproximavam de um ideal. [...] Olhou para o árido céu. O céu ali estava, alto. E ele embaixo. Perfeição maior não se pode imaginar. Quando dormia, dormia. Quando trabalhava, trabalhava (ME, p. 93). É nessa mesma esteira, por exemplo, que, em A maçã no escuro, o ideal do amor romântico é parodiado na relação de Martim com Ermelinda (ME, p. 85 a 89; 102 a 104; 125 a 127)164. Em uma etapa posterior, Martim passa a conviver com as vacas do curral, ingressando, assim, ao mundo animal. É em um exercício de intuição, “numa inteligência forçada” (ME, p. 96) que ele conhece as vacas e “quase tomou a forma de um dos bichos” (ME, p. 96). “Revitalizado pela grande ignorância” (ME, p. 107), é ainda no mundo dos animais que ele possui a criada mulata da fazenda (fêmea)165, em uma união puramente sexual. Ao desejo sexual descoberto sucede-lhe imediatamente o desejo de nomear o mundo, em uma cena em que Martim sobe um morro com Vitória e de lá vê o mundo. E é com “o nascimento dessa estranha ânsia” (ME, p. 114) que Martim começa a recuperar a sua humanidade: “Numa sensação agonizante, ele se sentiu uma pessoa” (ME, p. 114). Com a humanidade, reinstaura-se a falta: “[...] a largueza do mundo alargara penosamente o seu peito. E se assim foi é porque, tendo-se feito, de muito ele passou a precisar, e de muito mais do que ele era” (ME, p. 118). “E a verdade é que na encosta a grande carência lhe renascera” (ME, p. 124). Por isso, “[...] a visão de um mundo enorme que parece fazer uma pergunta. E que parecia clamar por um novo deus que, entendendo, concluísse desse modo a obra do outro Deus” (ME, p. 114) remete-nos àquela função que Dufrenne (1969, p. 205) aponta como a atribuída especificamente ao homem pela Natureza naturante: a da sua expressão. E na 164 Sobre este assunto, ver Olga de Sá, 1999, pp. 85 a 88 A relação de homem e mulher será a que Martim (já reintegrado à sua humanidade) manterá com Ermelinda. Nesta relação, entrarão em jogo mecanismos de sedução muito mais elaborados que dizem respeito já às relações de gênero abordadas no romance. Ver capítulo 6 da Segunda parte de A maçã no escuro. 165 250 segunda parte do romance, chamada “O nascimento do herói”, é essa mesma necessidade, impulso tão premente quanto o sexual (que ainda o aproximava dos bichos), a que Martim experimenta: “E pela primeira vez desde que fugira tinha necessidade de se comunicar. [...] Não sabia por onde começar a pensar” (ME, p. 121). É então que ele, após um sumário julgamento, reafirma o seu plano, agora como homem: reconstruir-se e reconstruir, com isso, “o mundo dentro de si” e a “Cidade” (ME, p. 136). “Sua obscura tarefa seria facilitada se ele se concedesse o uso das palavras já criadas. Mas sua reconstrução tinha que começar pelas próprias palavras, pois palavras eram a voz de um homem” (ME, p. 131). “Martim parecia querer começar pelo exato começo” (ME, p. 139), informa-nos o narrador, e assim, “avançando aos recuos” (ME, p. 137), refazer, sob novas bases (individuais) o percurso de um homem, tornando-se, com isso, um verdadeiro herói. Como observa Gilda de Mello e Souza (1980, p. 88), em A maçã no escuro, Clarice Lispector prossegue “no seu habitual empenho em descrever as coisas pelo avesso, concebendo o crime como um gesto livre e se aplicando em nos dar um homem pela sua própria negação, isto é, pela ausência de linguagem e pensamento”. “Crime”, em A maçã no escuro passa a significar “possibilidade de criação” que alguém (Martim, o homem) se outorga a si mesmo pela desobediência. Desobediência em relação ao código social e lingüístico, ao já feito, ao autoritário: “Pela primeira vez Martim se achava incapacitado de imitar166” (ME, p. 36). Só “a grande cólera” (ME, p. 37) poderia propulsar a ação em um homem: “[...] aparentemente aquele homem terminara por esquecer que uma pessoa pode agir. E ter descoberto que na verdade já tinha involuntariamente agido, dera-lhe de repente um mundo tão livre que ele se estonteara na vitória” (ME, p. 37). Na terceira parte do percurso, porém, Martim depara-se com um obstáculo que não consegue driblar: a palavra escrita, o ponto onde a liberdade cessa e onde a percepção pura não tem mais lugar. Primeiro, ele sente o impulso estético: O caminho era duro e bonito; a tentação era a beleza. E com isso se quer dizer que nesse ínterim alguma coisa acontecera. Uma coisa insidiosa começara a roer a viga mestra. E era algo com o qual Martim não contara. É que ele começava a amar o que via. Livre, pela primeira vez livre, que fez Martim? Fez o que pessoas presas fazem: amava o vento áspero, amava o seu trabalho. [...] Era assim que ele amava e se perdia. E o pior é que amava sem ter uma razão concreta. Apenas porque uma pessoa que nascia, amava? e sem saber para quê (ME, pp. 144-145). 166 A escritora Clarice Lispector também se confessa incapacitada de imitar na escrita no pequeno ensaio intitulado “Ainda impossível” (LISPECTOR, 1999a, p. 406). 251 Após o seu encontro amoroso com Ermelinda, Martim passa a amar a humanidade e propõe-se “reconstruir para os outros” (ME, p. 167). É aí então que começa a querer atribuir um sentido humano às coisas e é nesse momento de emoção que sente a falta da palavra: “Ah! disse ele em amor e angústia e ferocidade e piedade e admiração e tristeza, e tudo isso era a sua alegria. Mas por que não lhe bastou então? Por que não lhe bastaria apenas exclamar? Porque acontece que ele queria a palavra” (ME, p. 166). Então, assumindo que “ele era um homem que precisava de palavras” (ME, p. 146), e perante o fato “incontestável [de] que ele não sabia escrever” (ME, p. 171), desiste. Em face do Interdito, do Impossível, ele abandona a sua pretensão de (com)ple(ni)tude, de integração absoluta com o mundo: Que esperava com a mão pronta? pois tinha uma experiência, tinha um lápis e um papel, tinha intenção e o desejo – ninguém nunca teve mais que isto. No entanto era o ato mais desamparado que jamais fizera. E de tal modo ele não podia, que o não poder tomara a grandeza de uma Proibição. E só em pensar em quebrar a Proibição, ele recuava [...] de novo cauteloso como se houvesse uma palavra que se um homem dissesse... Essa palavra ausente que no entanto o sustentava. Que no entanto era ele. [...] E que não somente ele não sabia sequer balbuciar, como parecia profundamente não querer... Em prudência vital, ele a defendia em si (ME, p. 172). E, assim como Virgínia sem esforço concordava, Martim, à custa de uma grande dor, consegue crer: “Eu creio”, disse Martim apavorado consigo mesmo, “eu creio! eu creio! não sei qual é a verdade mas sei que poderia reconhecê-la!”, reivindicou ele, “me dai uma oportunidade de saber no que creio!” Mas não lhe foi dada. E então, como ele não sabia qual era a verdade, ele se disse no bosque: eu creio na verdade, creio assim como vejo esta escuridão, creio assim como não entendo, creio assim como assassinamos, creio assim como nunca dei para quem tem fome, creio que somos o que somos, creio no espírito, creio na vida, creio na fome, creio na morte! – disse ele usando palavras que não eram suas (ME, p. 226). No final do romance, os agentes de polícia e o pai (superego, visto que não presente fisicamente) de Martim representam a Lei (o Pai) rindo da tentativa frustrada do filho rebelde. 252 Martim volta irremediavelmente ao seio da sociedade e da linguagem. O diálogo com o pai também denuncia o fracasso do projeto narrativo, a volta da linguagem comum, falada, ao, não apenas reinstaurar o reinado do lugar-comum, mas também debochar dos achados lingüísticos que a obra propõe através do itinerário de Martim: – Mas você sabe que a pessoa pode encalhar numa palavra e perder anos de vida? E que esperança pode se tornar palavra, dogma e encalhe e semvergonhice? Você está pronto para saber que olhadas de perto as coisas não têm forma, e que olhadas de longe as coisas não são vistas? e que para cada coisa só há um instante? e que não é fácil viver apenas de lembrança de um instante? – Esse instante... – Cale a boca. Você sabe qual é o músculo da vida? [...] – Não sei, respondeu sem convicção, mas porque sabia que esta é a resposta que se deve dar. – Você tem “descortinado” muito ultimamente, meu filho? – Tenho, pai, disse contrafeito com a intrusão de intimidade, toda vez que o pai quisera “compreendê-lo”, deixara-o constrangido. – Como vão suas relações sexuais, meu filho? (ME, pp. 331-332). Por outro lado, Clarice Lispector, mais uma vez, fala de como a obra, ao ser escrita, pode fugir ao seu controle. Comentando este final, a autora lamenta: “Foi a parte mais... Eu senti tanto, porque com aquela ironia, o pai destruía tudo” (LISPECTOR, 2005, p. 152). No entanto, o pai não destrói aqueles “elos” que escapam a Martim durante toda a sua trajetória, e que ele descobre, no final, serem o Real indizível que o sustenta. Apesar do fracasso do seu projeto existencial, resta a Martim “o modo instável de pegar no escuro uma maçã – sem que ela caia” (ME, p. 334). Martim descobre no final que precisa dos outros: A lenta aprendizagem da humanidade ensinou-lhe que não podemos renunciar ao próximo [...]. A trajetória que fez, da rebeldia à sujeição, mostrou-lhe que a liberdade é impossível; gesto nenhum a poderá comprar, pois a vida do homem é um constante agregar-se, e volta-se sempre, ansiado, para o círculo estreito das dependências (SOUZA, 1980, pp. 90-91). É este o mesmo beco sem saída que espera ao escritor, cada escritura virando, irremediavelmente, uma nova convenção: tanto o narrador de A maçã no escuro ou o próprio Martim terminarão criando uma nova linguagem, um novo código167, que será objeto de 167 Por exemplo, “[...] depois de duas semanas de silêncio, eis que ele muito naturalmente passara a chamar seu crime de “ato” (ME, p. 36). 253 escárnio no final do romance. Nisso consiste a Utopia da escritura. Como explica Roland Barthes (1974, p. 139): Quer se trate da experiência inumana do poeta, assumindo a mais grave das rupturas, a da linguagem social; quer da mentira credível do romancista – a sinceridade precisa aqui de signos falsos, e evidentemente falsos, para durar e ser consumida. O produto e, finalmente, a fonte de tal ambigüidade, é a escritura. Essa linguagem especial [...], a princípio livre, é finalmente o elo que acorrenta o escritor a uma História que já está acorrentada: a sociedade o marca com os signos bem claros da arte a fim de arrastá-lo mais facilmente na sua própria alienação. Mais adiante, completa o crítico a sua idéia: Existe, portanto, em toda escritura presente, uma dupla postulação: [...] como Necessidade, ela atesta o dilaceramento das linguagens, inseparável do dilaceramento das classes: como Liberdade, ela é a consciência desse dilaceramento e o próprio esforço para ultrapassá-lo. Sentindo-se constantemente culpada de sua própria solidão, ela não deixa de ser uma imaginação ávida de uma felicidade das palavras; precipita-se para uma linguagem sonhada cujo frescor, por uma espécie de antecipação ideal, representaria a perfeição de um novo mundo adâmico, em que a linguagem não mais seria alienada. A multiplicação das escrituras institui uma Literatura nova, na medida em que esta só inventa sua linguagem para ser um projeto: a Literatura torna-se a Utopia da linguagem (BARTHES, 1974, p. 167). Daí a abdicação final de Martim (e de Clarice) que encerra a obra: “Em nome de Deus, espero que vocês saibam o que estão fazendo. Porque eu, meu filho, eu só tenho fome. E esse modo instável de pegar no escuro uma maçã – sem que ela caia” (ME, p. 334). É fora do âmbito do símbolo, na indeterminação do inconsciente, que é possível pegar nas coisas, habitá-las, sempre de uma forma provisória, incerta, instável. Apesar de aspirar ao silêncio como lugar da plenitude, Clarice Lispector – assim como Martim quando pretende escrever –, enquanto escritora, precisa fatalmente da palavra para se realizar. A sua existência se cumpre por meio da palavra. Assim, tanto Perto do coração selvagem quanto A maçã no escuro, romances do “modelo individual” (TADIÉ, 1992, p. 87), podem ser contados entre os “numerosos [...] romances do século XX que contam ainda a formação de um indivíduo, o seu itinerário, a sua 254 grande crise” (TADIÉ, 1992, p. 87). A crise existencial que une Joana e Martim, entretanto, encontrará o seu paroxismo, dentro da obra clariceana, em A paixão segundo G.H. Este novo romance, publicado em 1964, abre com seis travessões e com a repetição do sintagma “estou procurando”, que anunciam logo ao leitor a sensação de angústia provocada por uma busca que está em andamento. A paixão segundo G.H. apresenta a história da viacrúcis percorrida pela narradora autodiegética do seu eu objetificado (“era o que os outros sempre me haviam visto ser”, PSGH, p. 23) rumo ao nada impessoal (ou transpessoal) onde ela encontra o neutro do (seu) ser, a matéria-prima da vida, a identidade pura. Esse nada que ela apenas tinha flagrado vez por outra em fotografias suas (PSGH, p. 35) e que chamara de “O Mistério” (PSGH, p. 24). Para chegar a esse lugar, ela precisa se despir de toda individualidade (apenas um par de iniciais escritas em uma valise e que a alienam de si mesma: “Eu acabei sendo o meu nome”, PSGH, p. 25), da superficial personalidade, mediante um complicado exercício de esvaziamento que comporta muita dor e sacrifício, da “dor de que toda sensação é feita – e que a ação analgésica do hábito encobre, que a proverbialidade da memória adia, que os artifícios racionalizadores escamoteiam” (PESSANHA, 1996, p. 316). Como sintetiza Olga de Sá, “A paixão de G.H. é o sofrimento para alcançar a despersonalização da mudez; a paixão segundo G.H., o sofrimento de narrar essa experiência vital” (SÁ, 1993, p. 257, grifos da autora). Assim, a busca de G.H. é também a busca desesperada de expressar o que lhe acontecera, uma experiência que beira o inenarrável: “Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi” (PSGH, p. 11). Na sua via-crúcis, da mesma forma que Martim, G.H. – uma artista plástica de classe social alta – vai atravessando diferentes estágios. Primeiro, ela defronta-se com o mundo da empregada que abandonara o trabalho, ao ir para o quarto que ela nunca tinha visitado antes, “retrato de um estômago vazio” (PSGH, p. 42) que, com espanto, descobrirá também ser posse sua (PSGH, p. 45); nesta etapa do percurso, o choque por ela experimentado é social. A seguir, descobre as figuras rústicas desenhadas por Janair na parede do quarto vago; então, o estranhamento que G.H. sente está ligado ao encontro de um sinal dos primórdios da humanidade, que G.H. identifica quando reconhece nos rabiscos múmias de seres primitivos. Mas, logo em seguida, esse estranhamento transforma-se em angústia, pois, como observa Olga de Sá, “G.H. compreendeu-as [as figuras] como índices irônicos de sua caricatura de vida, orientada para o vazio” (SÁ, 1999, p. 134). Seres vazios que olhavam para o vazio. 255 Seres que não se olhavam, assim como “Janair era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar [G.H.] tomava consciência” (PSGH, p. 40). G.H. sente a iminência de uma desorganização, no acordar de seus nervos cuidadosamente arrumados até aquele momento (PSGH, p. 44) e então acontece o terceiro impacto – e o maior: o embate com a barata, ser, não apenas de outra espécie, mas considerado maldito e sujo pela tradição judaico-cristã. Era, de fato, “uma barata tão velha que era imemorial” (PSGH, p. 47). Depois de atravessar o “corredor escuro [...] que finaliza o apartamento” (PSGH, p. 37) e que a levará, então, para o outro lado da sua casa, para o desconhecido do seu apartamento de “penumbras e luzes úmidas”, “réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma”, mera “criação artística” (PSGH, p. 30) – leia-se “estética” –, G.H. chega à bruta e real luminosidade do quarto dos fundos (inconsciente). Vai, então, passo a passo, perdendo toda a sua organização humana, até este último e definitivo encontro após o qual tudo o que acontece será inapreensível do ponto de vista racional. Para mergulhar nas profundezas do afeto, “em veios arqueológicos, em camadas afetivas culturalmente soterradas da sensibilidade humana” (NUNES, 1989, p. 269), a primeira coisa de que G.H. precisa se desvencilhar, se quiser atingir algum tipo de compreensão, é o pensamento, alicerce da cultura e do sistema de vida no qual a personagem se encontra inserida: Rejeitando o maldito self que a obrigava a uma identidade forjada, já que era impossível caber inteira nas estreitezas de um pensamento lógico e racionalizante, Clarice abraçava com sua obra o direito de cada homem de ser profundamente o que se é, para além do civilizado, para além do fazer sentido, para além, até mesmo, de sua existência individual (MANZO, 2001, p. 77, grifos da autora). É porque “A verdade não faz sentido” (PSGH, p. 19) para Clarice Lispector que, mais uma vez, deparamo-nos, em uma obra sua, com uma tentativa de driblar os limites impostos pelo pensamento e a linguagem a fim de chegar ao âmago do Ser, onde o tempo e o espaço, coordenadas fundamentais da ordem simbólica, são abolidos168: [...] buscando emudecer as racionalizações tradicionais, cristalizadas, e os hábitos de vida, o que faz [Clarice Lispector] de fato é a époche da memória – “entendimento” automatizado e rotineiro – pondo “entre parênteses” a temporalidade, esta ocasião de se ir sobrevivendo distante da vida das raízes. 168 “O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e no entanto atuais” (PSGH, p. 48). 256 Distante do ser-que-é e do ser-que-se-é, como se isso fosse possível (embora sempre aconteça) (PESSANHA 1996, p. 315). Só que, de acordo com a visão do mundo de Clarice Lispector, em A paixão segundo G.H., o sentido e o não-sentido também se conciliam: “Eu estava vendo o que só teria sentido mais tarde – quero dizer, só mais tarde teria uma profunda falta de sentido. Só depois é que eu ia entender: o que parece falta de sentido – é o sentido” (PSGH, p. 35). Assumindo o risco da “falta de garantias” (PSGH, p. 35) do não-sentido, G.H., “que já havia vivido com os primeiros bichos da Terra” (PSGH, p. 48), vai procurar recuperar a sensibilidade, mas sabe que para isso precisa banir o sentimento, tão humano quanto um pensamento qualquer. No infernal nada, “o mundo não me tinha mais sentido humano, e o homem não me tinha mais sentido humano. E sem essa humanização e sem a sentimentação do mundo – eu me apavoro” (PSGH, pp. 70-71), declara a narradora autodiegética ao imaginário tu que inventa como tábua de salvação no caos da incompreensão. A ocasião de transcender a esfera do individual e de empreender uma jornada sofrida rumo à raiz do ser se apresenta, para G.H., no confronto com a barata que emergira do fundo (PSGH, p. 51) de si. Como observa Berta Waldman: É a partir dele que G.H. se desnuda do núcleo de sua individualidade para estabelecer com o inseto um laço de união. Para confirmar esse nexo, ela ingere a massa branca da barata esmagada, numa espécie de ritual de comunhão sagrada, em que o horror e a atração se equivalem. Á pobreza efetiva de Janair contrapõe-se, no romance, essa “pobreza” voluntária, mística, feita, em G.H., de despojamento. À pobreza sem redenção da primeira contrapõe-se a “pobreza” que tem por prêmio a ascese (WALDMAN, 1993, p. 77). Comunhão profana169, diríamos nós, na esteira de Benedito Nunes (1989170 e 1995) e Lícia Manzo: “Comunhão que, em Clarice, nada mais é que a aceitação de todo um mundo renegado por nossa cultura, mas do qual é feita também e irremediavelmente a nossa vida: o feio, o sujo, o mortal, o irracional, o não compreensível” (MANZO, 2001, p. 78). Mediante esse ato, G.H., como observa Olga de Sá (1999, p. 141) supera a sua primeira propensão para 169 No Levítico, capítulo 11 aparece a proibição de comer o que for imundo aos olhos de Deus. Como assinala Olga de Sá (1999, p. 136), “A barata doméstica não está relacionada na Bíblia entre os animais impuros, mas entende-se que esteja incluída entre os insetos alados repugnantes”. 170 “De qualquer maneira, G.H. passa pelos estados contraditórios – o sofrimento gozoso, [...] o abrasamento consolador, a repulsa e a atração da união mística. Mas a sua experiência, menos cristã e mais pagã, espelha o caráter orgiástico de um misticismo primitivo” (NUNES, 1989, p. 277). 257 a transcendência e, deixando de lidar com símbolos, entra em contato direto com a realidade, ao, literalmente, comer a matéria do vivo elementar. Abandonando as aspas do não-ser (PSGH, p. 31), ela passa a sentir e a sofrer na carne o viver cru e nu. A beleza e a moral caem por terra ao se sentir o gosto insosso do nada. O nada é imundo, asqueroso, é da mesma matéria de que é feita a massa branca da barata, é o “calmo horror vivo” (PSGH, p. 60). Por isso, necessariamente, em sua narrativa, G.H. desconstrói todas as noções atreladas ao ético e ao estético. Dirigindo-se ao interlocutor-leitor que inventa pela necessidade de se dirigir a alguém que o discurso impõe, ela esperançosamente anuncia: Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha e com horror. O horror será a minha responsabilidade até que se complete a metamorfose e que o horror se transforme em claridade. Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo sem saber eu me propunha; mas a claridade natural do que existe, e é essa claridade natural o que me aterroriza. Embora eu saiba que o horror – o horror sou eu diante das coisas (PSGH, pp. 18-19). E é “por ser feita da dor de sentir sem trégua, sem defesa e sem consolação [que A Paixão segundo G.H.] é antes ontopatia; paixão desveladora do ser” (PESSANHA, 1996, p. 315). A paixão que acomete G.H. é aquela mesma que os antigos gregos denominavam pathos e que consiste naquilo “que acontece a ‘um homem, aquilo de que ele é vítima passiva’. [...] passividade do sujeito, experiência infligida, sofrida, dominadora, irracional – por oposição a logos ou a phronesis, que significam pensamento lúcido e conduta esclarecida” (NUNES, 1989, p. 270). No entanto, e como também aponta Benedito Nunes, a necessidade que G.H. sente de expressar a sua experiência para tentar compreendê-la de alguma forma171 corresponde a outro aspecto da paixão, mais ligado a uma hybris (“sofreguidão do desejo, espécie [...] de insaciabilidade, que expõe ao risco do excesso e da desmesura”, NUNES, 1989, p. 274) que G.H., a partir do confronto com a barata, passa a compartilhar com outras personagens clariceanas, como Joana ou Martim. Como explica Benedito Nunes (e incluímos a Martim na afirmação do crítico): 171 Esses são a mesma necessidade e o mesmo motivo que levam Clarice Lispector a escrever: “[...] escrevo pela incapacidade de entender, sem ser através do processo de escrever” (LISPECTOR, 1999a, p. 236). 258 Essas personalidades femininas são personalidades fraturadas, divididas [...] que se surpreendem por estarem existindo e que não contam com o abrigo acolhedor da certeza de uma identidade. Buscam a si mesmas no que quer que busquem. Ou se desconhecem e se estranham, o Ego invertido em Alter, o circuito da consciência reflexiva interrompido por um momento de êxtase que lhes desorganiza a individualidade (NUNES, 1989, p. 275). De fato, a experiência que aliena G.H. “na contemplação extática da barata, como se possuída por um agente exterior, demoníaco [e que] conduz ao desapossamento sacrifical da identidade da personagem narradora – à perda do Eu” (NUNES, 1989, p. 276) acaba tendo como resultado a profunda tomada de consciência da superficialidade do seu ser social (a terceira perna a que G.H. alude ao iniciar seu relato). A paixão da escrita só pode ser uma paixão reflexiva (na medida em que é mediada pela palavra) fadada ao fracasso e à circularidade. Sempre ficará fora dela (“foracluído”) o que G.H. captara na mudez do seu choque, na náusea do corpo: o Real. Por isso é que a sua narrativa termina com os mesmos seis travessões que abriram o romance escrito por Clarice Lispector. E só pode ser paixão porquanto, apesar de a personagem saber (e dizer) desde o início da sua tentativa de relato, que a compreensão mais profunda se parece muito com uma “aguda incompreensão” (PSGH, p. 16), que “qualquer entender [seu] nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura a que [pode] chegar” (PSGH, p. 16), e que a única forma de atingir aquela compreensão é mediante “uma entrega à nova ignorância [...] que é o esquecimento” (PSGH, p. 16), ela lutará até o limite da linguagem para tentar expressar o que de antemão sabe impossível. Esta cisão, este dilema atinge também Joana e Martim, isto é, as personagens que sofrem do impulso expressivo. Como sintetiza Roberto Schwarz em seu ensaio sobre Perto do coração selvagem, “[...] Joana permanece lúcida. Uma Joana, a que se conhece e interpreta, habita as antecâmaras da poesia, da objetivação do espírito. A outra, deseja-se qual pedra rolando, qual montanha, quer-se desfeita em processos elementares que a introduzam no mundo primário da causalidade simples, pré-humana” (SCHWARZ, 1981, p. 57). De acordo com a visão de Clarice Lispector, G.H. concebe apenas uma função para a arte: em lugar da imitação aristotélica, a lealdade ao que é vivo, a criação. E, como observa Costa Lima, “Cabe à palavra a tarefa decisiva nesta pesquisa. Só ela poderá desmistificar e revelar em que seja falsa a idéia até então mantida sobre as coisas” (COSTA LIMA, 1996, p. 331). Por isso, G.H, precisa 259 perder na vida o seu medo do feio. Não se trata de uma expressão de masoquismo ou da vontade de se mostrar exótico. Aquilo que para o criador de hoje é necessidade artística, para G.H. é necessidade humana. Uma à outra esclarece. Mostra-se o quanto as soluções e dilemas do imaginário são dilemas e soluções existenciais (Ib., p. 331, grifos do autor). A perda da personalidade social, da máscara, gera angústia: “[...] eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir” (PSGH, p. 13). Implica “correr o sagrado risco do acaso. E [substituir] o destino pela probabilidade” (PSGH, p. 13). Mas no final do romance, a apologia de uma máxima cristã que no mundo de Clarice Lispector assume um outro viés – o perder para ganhar –, traz a recompensa da pessoa perdida na indeterminação do nada: E é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal. Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A via-crucis não é um descaminho, é a passagem única, não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir e, apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só esta é a glória própria de minha condição. A desistência é uma revelação (PSGH, p. 176). Neste final, a síntese do romance. Na escolha do adjetivo “despessoal” (em lugar de “impessoal”) é salientado o processo de desnudamento da pessoa; na afirmação de que a “voz diz pouco”, a advertência em relação à limitação da linguagem; no postulado da insistência, a afirmação de uma consciência que se transforma em vontade pura de alcançar o objetivo visado; a alusão ao poder de construir remete a uma capacidade que só o sujeito tem (não seres como Virgínia e Lucrécia, por exemplo), pois “para chegar à despersonalização da mudez é preciso construir antes uma voz. A palavra precede o silêncio, mas o silêncio é a plenitude da palavra. [...] O malogro da voz humana permite ouvir a voz das coisas, como possível linguagem” (SÁ, 1999, pp. 144-145). Ou, nas palavras de G.H.: 260 Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas – volto com o indizível. O indizível só poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu (PSGH, p. 176). Na desistência da pessoalidade, a única glória possível: o reconhecimento da nossa completude no seio do impessoal, do nada, do maná, do Deus, do Tudo. É na matéria de Deus (imanência), e não na transcendência, que o homem encontra, então, a sua redenção. É ao ingressar no caos da matéria que ele, perdido, encontra a plenitude. Antes de começar a contar sua experiência, G.H. reconhece a limitação da sua condição: Ficarei perdida entre a mudez dos sinais? Ficarei, pois sei como sou: nunca soube ver sem logo precisar mais do que ver. Sei que me horrorizarei como uma pessoa que fosse cega e enfim abrisse os olhos e enxergasse – mas enxergasse o quê? um triângulo mudo e incompreensível. [...] Enxerguei mas estou tão cega quanto antes porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte e repetição (PSGH, pp. 21-22). Após seu pequeno mas contundente manifesto final, Tal como ocorre com Martim, em A maçã no escuro, G.H. volta de novo para o sistema que tinha transgredido. Mas volta com a revelação de sua própria natureza, com a revelação de que a condição humana é a paixão de Cristo. Ela traz consigo, quando volta, a dimensão de seus limites, a experiência feita de sofrimentos, necessária para atingir aquilo que no romance chama de “neutro” (WALDMAN, 1993, p. 78). A despeito desse retorno para o mundo da pessoa, o mundo social, tanto Martim quanto G.H., bem como outras personagens de Clarice Lispector, como adverte Silviano Santiago, experimentam um tipo de satisfação não reconhecida pelo sistema social, mas que 261 na visão do mundo da autora é da maior relevância: a do progresso individual. Explica o crítico: O rechaço do conceito de tempo como evolução linear, em infinita ascensão, leva Clarice a rejeitar [...] uma concepção de progresso técnica, quantitativa, e a favorecer a concepção humanitária, qualitativa de progresso [...] Na perspectiva do tempo vivido linearmente, informa Marcuse, só a experiência do trabalho, tal como definido pela economia, é humana. [...] Como conseqüência, “o tempo cheio, a durée da satisfação, a durée do progresso individual, o tempo como repouso, só são concebidos de uma forma sobrehumana ou subhumana”. Clarice concebe a estes como humanos, inauguralmente (SANTIAGO, 2004, p. 234). E completa o crítico na conclusão do seu ensaio: Clarice propõe um processo de deshierarquização e, em seguida, de rehierarquização da noção de trabalho. A conceituação quantitativa e técnica do progresso [...] é relegada a segundo plano, ao ser questionada pelo conceito de labor. O labor é manifestação não da força humana alienada em trabalho socialmente útil e aferido pela produtividade, mas do cuidado, manifestação do “trabalho” que contribui para o progresso qualitativo do indivíduo e, por conseqüência, do homem. [...] O labor [...] é manifestação de proximidade e distância do objeto de cuidado, de um misto de vigilância e afeto, de diligência e abandono, de inquietação e paz. É dom (SANTIAGO, 2004, pp. 239-240). Cabe apenas e exclusivamente a cada um fazer o julgamento do que foi perdido ou ganho. Como sintentiza G.H.: “Desde já calculo que aquilo de que mais duro minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma: terei toda a aparência de quem falhou, e só eu saberei se foi a falha necessária” (PSGH, p. 32). Por isso, não concordamos com conclusões como a de Costa Lima (1996, p. 338) ou Pessanha (1996, p. 326) que atribuem a G.H. o mérito de ter dado um passo a mais que Martim, em um sucesso que, na verdade, só G.H. poderá avaliar. 262 Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, como anuncia o seu título, é também um romance de aprendizagem. A personagem principal, Lóri172, aprende, primeiro, na solidão, a se despir das máscaras que a impedem de ser ela mesma, simplesmente – a “persona”173 – e, nesse aspecto, a sua busca não se diferencia da dos seus antecedentes romanescos Joana, Martim ou G.H. Para isso, contará com a ajuda de Ulisses, um professor de filosofia. Ele lhe ensinará também a se relacionar com o outro, em uma pacienciosa espera que se estende até o final do romance, que conclui com a união dos dois em uma relação sexual de entrega amorosa do ego que dribla, nem que seja apenas por um momento, o “inalcançável” (ALP, p. 48), o “impossível de um outro ser humano” (ALP, p. 49): “Descobrir o outro para descobrirse, esta é a travessia proposta por Ulisses, o sábio portador da alegria de transmitir e comunicar” (PAIXÃO, 1993, p. 8). E é “sem pintura nenhuma no rosto, com o resto dos cabelos curtos caindo sobre a testa e a nuca” (ALP, p. 167) que Lóri irá ao encontro do outro. Como desenvolve Ana Maria Lisboa de Mello (2003), o romance é a narrativa da trajetória de individuação transitada por Lóri, que, após o reconhecimento da sua individualidade174 e do posterior confronto com o outro (Ulisses, masculino), atinge a plenitude do seu ser pessoal, pois “o encontro do feminino com o masculino simboliza também a conjunção dos contrários, condição sine qua non para a experiência da totalidade, da inteireza, do equilíbrio entre os pólos, sendo, no limite, o fundamento para o ato de conhecimento” (MELLO, 2003, p. 115). É por isso que, como sintetiza Berta Walman, Enquanto em A paixão segundo G.H., G.H. se submete [...] a uma desaprendizagem das coisas humanas175, O livro dos prazeres é uma recuperação corajosa do sentido da existência individual176. Então, de certo modo, Lóri contesta G.H. A sabedoria de que é feita dimensiona-a para a vida humana. A lucidez que vai adquirindo é tranqüila, fora de qualquer espécie de transe. Através de Ulisses, ela conhece o que significa estar viva no prazer e, com isso, é levada a reconhecer-se também nas aspirações de liberdade e de justiça da vida comum (WALDMAN, 1993, p. 67, grifo da autora). 172 Lícia Manzo (2001, p. 110) aponta as semelhanças entre as experiências de Lóri e as de Clarice Lispector: basicamente, as suas passagens por Berna e Paris e aversão das duas a comparecer a eventos sociais. 173 Ver ALP, pp. 98 a 101. Reconhecimento esse que não se dá sem esforço e concentrada atenção. É renunciando corajosamente à proteção do outro (espécie de terceira perna, na expressão de G.H.), o que lhe dava a impressão de ter sido cortada de si própria (ALP, p. 26), que Lóri descobre, ao olhar-se no espelho, que ela existe (ALP, p. 27). 175 É rapidamente, apenas “por um instante [que Lóri] desprezava o próprio humano e experimentava a silenciosa alma da vida animal” (ALP, p. 52). 176 Esta frase é quase literalmente extraída de NUNES, 1995, p. 81. 174 263 Na direção contrária à empreendida por Martim ou G.H., Lóri inicia a sua jornada apoiada na descoberta de que “a mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano” (ALP, p. 39). Há outro traço que distingue notavelmente esta obra dos romances anteriores de Clarice Lispector: contra a solidão intrínseca a todas as personagens anteriores, aqui o amor entre um homem e uma mulher assume protagonismo inédito177. Em mais uma reversão paródica urdida pela autora, é a mulher com nome de sereia (Loreley), a que rememora antigos mitos e lendas (Eva, Penélope, Vênus178 ou a Lua179) quem é seduzida e conduzida pelo guia portador da razão iluminadora180. Lóri, que “tem sido a maior dificuldade no seu [próprio] caminho (ALP, p. 63), “Mas [que] às vezes por uma palavra tua [de Ulisses] ou por uma palavra lida, de repente tudo se esclarece” (ALP, p. 64), representa, enfim, como aponta Olga de Sá, “a Mulher, que reconhece o seu homem, no interminável jogo de a ele submeterse e sobre ele dominar” (SÁ, 1999, p. 163). As idas e vindas desse jogo de sedução permeiam todo o romance: “[...] com Ulisses ela se comportava como uma virgem que não era mais, embora tivesse certeza de que também isso ele adivinhava, aquele sábio estranho que no entanto não parecia adivinhar que ela queria amor” (ALP, pp. 24-25); “E só quando ser não fosse mais uma dor é que Ulisses a consideraria pronta para dormir com ele? Não, não vou ao encontro, pensou então para desligar-se dele. [...] Dessa vez ela lhe diria que não ia, o que era uma ofensa mais positiva” (ALP, p. 28); [...] num sábado de manhã [...] tocou o telefone. Ela deu um salto para fora da cama, mas femininamente deixou como sempre o telefone tocar algumas vezes mais para não demonstrar sua avidez, caso fosse Ulisses. 177 Como observa Benedito Nunes (1995, p. 107), “Não há para elas [as personagens clariceanas] convívio sem hostilidade. O amor, que sempre lhes traz o risco da violência, é [...] uma farsa sadomasoquista das consciências, tentando vencer a solidão pelo domínio de uma sobre a outra”. 178 Ver Olga de Sá, 1999, pp. 162-163. 179 ALP, p. 41. 180 Ulisses ensina a Lóri, por exemplo, o domínio sobre os seus instintos. Ela “revoltara-se sobretudo porque aquela não era para ela época de ‘meditação’ que de súbito parecia ridícula: estava vibrando em puro desejo como lhe acontecia antes e depois da menstruação” (ALP, p. 22). Resolve, entretanto, aceitar a proposta de Ulisses e espera o tempo de maturação (de Lóri) que ele exige como requisito para eles se relacionarem amorosamente. Embora reconheça que “pronto em todos os sentidos eu nunca estarei, [...] eu não me engano” (ALP, p. 62), Ulisses – diz ele – quer Lóri “inteira, com a alma também” (ALP, p. 33) e espera pelo momento em que ela “também tenha corpo-alma para amar” (ALP, p. 57). 264 Era Ulisses e ele perguntava se ela não queria almoçar na Floresta da Tijuca [...] Ela nem precisava pensar no que ia vestir, tanto já sabia [...] (ALP, p. 119). O que é mostrado no romance, como também assinala Ana Mello (2003), é o processo de renascimento pelo qual passa Lóri. Nele, o inconsciente desempenhará um papel fundamental. É o que acontece no exercício de “faz de conta” que Lóri ensaia no início de Uma aprendizagem (ALP, pp. 20-21) e que ela não pode expressar em palavras escritas ou faladas, ou no episódio-devaneio que é registrado pelo narrador no pequeno capítulo da p. 37 do romance. No final do caminho, com a descoberta do prazer, Lóri há de transformar-se também na “Mulher, cujas raízes se reencontram na Mãe-terra, na água do Mar, na matéria da vida” (SÁ, 1999, p. 163). Nesse sentido, a trilha existencial de Lóri orienta-se, em um primeiro movimento, não para o nada neutro, mas para a essência do feminino, onde ela encontrará uma realização cega. Perfumar-se, por exemplo, era de uma sabedoria instintiva, vinda de milênios de mulheres aparentemente passivas aprendendo, e, como toda arte, exigia que ela tivesse um mínimo de conhecimento de si própria: usava um perfume levemente sufocante, gostoso como húmus [...] cujo nome não dizia a nenhuma de suas colegas-professoras: porque ele era seu, era ela, já que para Lóri perfumar-se era um ato secreto e quase religioso (ALP, p. 24). É que Lóri, como G.H., é uma mulher muito antiga (ALP, p. 116). Mas para além da anima181, em consonância com as outras obras estudadas e também com a visão do mundo de Clarice Lispector, ela acaba encontrando no fundo do seu ser a integração dos opostos, do yin e do yang. “Ulisses e Lóri, possuindo em si o princípio masculino e o princípio feminino, oscilam como numa gangorra entre ser Penélope ou ser Ulisses, porque, na verdade, são o mesmo” (PAIXÃO, 1993, p. 11). Já na metade da sua trajetória, Lóri sabe “de uma coisa: quando estivesse mais pronta, passaria de si para os outros, o seu caminho era os outros. [...] Mas antes precisava tocar em si própria, antes precisava tocar no mundo” (ALP, p. 67) e descobrir que “o humano é só” (ALP, p. 87). 181 Cf. Jung, Carl G. e outros, 1977, p. 177. 265 A fusão com o outro – masculino/feminino – na Unidade e como condição para a realização plena – plenificação do indivíduo – está simbolizada no romance na cena da entrada de Lóri ao mar, que, não por acaso, Clarice Lispector em sua coluna para O Jornal do Brasil intitulou “Ritual”. Como aponta Mircea Eliade (1977, p. 232), A imersão na água simboliza o regresso ao pré-formal, a regeneração total, um novo nascimento, porque uma imersão equivale a uma dissolução das formas, a uma reintegração no modo indiferenciado da pré-existência; e a emersão das águas repete o gesto cosmogónico da manifestação formal. É por isso que, quando Lóri sai do mar, “sabe que fez um perigo. Um perigo tão antigo quanto o ser humano (ALP, p. 94). Talvez seja Eliade, então, quem dê uma resposta a Lóri na sua indagação: “Como explicar que o mar era o seu berço materno mas que o cheiro era todo masculino? Talvez se tratasse da fusão perfeita” (ALP, p. 129). O prazer que Lóri descobre é o prazer de simplesmente ser e existir, “o prazer não era de se brincar com ele. O prazer era nós” (ALP, p. 142). Mas, ao contrário do que acontecera com as outras personagens clariceanas, essa descoberta não a isola dos outros e do mundo na incomunicação. Com o auxílio de Ulisses, Lóri consegue construir uma ponte com o outro: A alegria verdadeira não tinha explicação possível, não tinha sequer a possibilidade de ser compreendida – e se parecia com o início de uma predição irrecuperável. Aquele fundir-se com Ulisses que fora e era o seu desejo, tornara-se insuportavelmente bom. [...] Era como se a morte fosse o nosso bem maior e final, só que não era a morte, era a vida incomensurável que chegava a ter a grandeza da morte. Lóri pensou: não posso ter uma vida mesquinha porque ela não combina com o absoluto da morte (ALP, p. 141). A despeito da aparente dissimetria deste romance em relação aos anteriores já analisados, as idéias centrais do autor implícito clariceano são confirmadas. Assim, por exemplo, como observa Olga de Sá, “Firma-se nas meditações de Lóri a idéia longamente perseguida pela pesquisa metafísica dessa ficção, que Deus é o mundo com sua soberba impersonalidade versus a extrema individualidade da pessoa humana; mas tudo é um” (SÁ, 266 1993, p. 121)182. É por isso que Lóri, por exemplo, anseia pela morte, “encostar-se toda até ser absorvida pelo próprio Deus [...] porque ansiava por essa integração sem palavras. Mas a palavra de Deus era de tal mudez completa que aquele silêncio era Ele próprio” (ALP, p. 75). Certamente, contribui, e muito, para a observação desta sintonia entre sentimentopensamento de autora e personagem, o fato de que muitos dos textos aparecidos originalmente na coluna que Clarice Lispector redigia para O Jornal do Brasil vieram compor, mais tarde, o romance183. Por outro lado, Ulisses, em boa medida, pode ser tomado como a materialização da parte retórica e didática do texto clariceano, como mais uma reversão paródica mediante a qual, outra vez, a autora ri da sua obra184. Por exemplo, “Ulisses [...] dissera uma vez que queria que ela, ao lhe perguntarem seu nome, não respondesse ‘Lóri’ mas que pudesse responder ‘meu nome é eu’, pois teu nome, dissera ele, é um eu” (ALP, pp. 19-20). Impaciente e pedante, ele, por sua vez, escolhe para apresentar-se a Lóri, uma lista de atributos contraditórios (ALP, pp. 69-70). E na seguinte passagem paradigmática deste tipo de discurso didático parodiado podemos detectar marcas do estilo de Clarice Lispector – como o desvio sintático – que abordaremos mais adiante neste trabalho. Atente-se também para o tom prescritivo que o verbo “dever” confere ao discurso: – Lóri, disse Ulisses, e de repente pareceu grave embora falasse tranqüilo, Lóri: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você enquanto você esperava um táxi (ALP, p. 33). 182 “Um dia será o mundo com sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa mas seremos um só”, diz Lóri a Ulisses (ALP, p. 85 e p. 178). 183 Em Clarice Lispector: nas entrelinhas da escritura, Edgar Cézar Nolasco analisa as modificações e adaptações que estes fragmentos sofrem ao serem incorporados a um novo contexto dentro da produção de Clarice Lispector. A despeito dessas alterações – que não subestimamos –, as idéias centrais dos textos são mantidas, reproduzindo sempre o pensamento indeterminado da autora. Identificamos crônicas, ensaios, poemas em prosa nas pp. 42, 43, 50, 52, 53, 66, 82, 83, 91 a 94, 108, 115, 122, 130, 131, 133, 135, 141, 143, 147, 148, 151, 154 a 158, 164, 165 e 173 de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. 184 Além disso, observemos como Lóri ressalta uma característica no discurso de Ulisses que se confunde com um traço da escrita clariceana: “O que valia, pensou ela, é que ele dizia coisas perturbadoras mas imediatamente quebrava a gravidade, que a emocionaria, com um sorriso ou uma palavra irônica” (ALP, p. 116). Esse trecho e outros do romance confirmam a intenção de autocrítica poética contida em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. É também Ulisses quem explica o porquê de a autora chamar Deus de “o Deus”: “Porque Deus é um substantivo. [...] Ele é substantivo como substância. Não existe um único adjetivo para o Deus” (ALP, p. 153). 267 No extremo oposto, e como assinala Olga de Sá, “A linguagem de Lóri constitui-se numa ‘representação’ do discurso romântico, do pieguismo sentimental, da atitude crítica da autora em relação a uma linguagem tão utilizada, em certa época, pelas pessoas enamoradas” (SÁ, 1999, p. 165). Em consonância com essa postura, ela assume uma atitude submissa em relação aos ensinamentos de Ulisses. Por exemplo: Pareceu-lhe [...] que não havia homem ou mulher que por acaso não se tivesse olhado ao espelho e não se surpreendesse consigo próprio. Por uma fração de segundo a pessoa se via como um objeto a ser olhado, o que poderiam chamar de narcisismo mas, já influenciada por Ulisses, ela chamaria de: gosto de ser [...] cada vez que lhe ocorria um pensamento mais agudo ou mais sensato [...], ela supusesse que Ulisses era quem o teria (ALP, pp. 27-28). Depois de ouvir o sermão do “apesar de”, é obediente que Lóri, “apesar de, [...] tivera alegria. Ele esperaria por ela, agora o sabia. Até que ela aprendesse” (ALP, p. 34). No fim, ela aprende. Aprende a mesma lição que G.H. aprendera: que para ganhar, é preciso perder. Só que à diferença de G.H., essa perda não é a da pessoa e sim a do ensimesmamento. Quando o eu sai de si para alcançar o inalcançável do outro, para se espalhar para além de si, é que encontra a plenitude da alegria humana185. Em lugar de desistir, a felicidade de acolher: E ela pôde fazer o seu melhor gesto: nas mãos que estavam a um tempo frementes e firmes, pegar aquela cabeça cansada que era fruto dela e dele. Aquela cabeça de homem pertencia àquela mulher. Nunca um ser humano tinha estado mais perto de outro ser humano. E o prazer de Lóri era o de enfim abrir as mãos e deixar escorrer sem avareza o vazio-pleno que estava antes encarniçadamente prendendo-a. E de súbito o sobressalto de alegria: notava que estava abrindo as mãos e o coração mas que se podia fazer isso sem perigo! Estou enfim me dando e o que me acontece quando eu estou me dando é que recebo, recebo. Cuidado, há o perigo de o coração estar livre? [...] percebeu que nesse seu espraiar-se é que estava o prazer ainda perigoso de ser. No entanto vinha uma segurança estranha também: vinha da certeza súbita de que sempre teria o que gastar e dar. Não havia mais pois avareza com seu vazio-pleno que era a sua alma, e gastá-lo em nome de um homem e de uma mulher (ALP, pp. 168-169). 185 “Depois que Ulisses fora dela, ser humana parecia-lhe agora a mais acertada forma de ser um animal vivo” (ALP, p. 174). 268 Lóri e Ulisses chegam assim ao amor e, no encontro amoroso, ganham com espanto a “santidade de corpo” (ALP, p. 173). O renascimento é dos dois: de Lóri, por ter ganhado “a grande liberdade de não ter modos nem formas” (ALP, p. 174); do “sábio Ulisses, que perdera a sua tranqüilidade ao encontrar pela primeira vez na vida o amor [... que] perdera o tom de professor, sua voz era agora a de um homem apenas [...] agora que nenhuma fórmula servia: ele estava perdido num mar de alegria e de ameaça de dor” (ALP, p. 176). A despeito disso, é Ulisses186 quem resume o significado da nova vida para a qual os dois resolvem entrar: uma solução para a angústia de existir; “para esse absurdo que se chama ‘eu existo, a solução é amar um outro ser que, este, nós compreendemos que exista” (ALP, p. 177). E, por último, a pergunta: “Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão? Pois é a coisa mais última que se pode dar de si, disse Ulisses” (ALP, p. 181). Esse é o presente que as outras personagens de Clarice Lispector não conseguem (se) dar, todas elas marcadas por uma profunda solidão. Desde Joana a Ângela (de Um sopro de vida), o outro serve apenas de contraponto para o encontro de si. À diferença do que acontece com Lóri e Ulisses, nos outros romances, a única esperança de fusão fica concentrada no nãoeu, seja através de uma renúncia ao self (e à voz pessoal), seja pela morte, como nos casos de Virgínia e Macabéa, pois “[...] na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, é o instante de glória de cada um e é quando como no canto coral se ouvem agudos sibilantes” (HE, p. 44); “A morte é um encontro consigo” (HE, p. 105). É impossível não associar essa solidão inerente às personagens à própria solidão de Clarice Lispector, que, como bem aponta Lícia Manzo, “incapaz de sair de si mesma, [...] freqüentemente criava em sua ficção uma relação dependente, onde seus personagens apareciam radicalmente amalgamados a ela” (MANZO, 2001, p. 115). Ainda que Clarice Lispector crie personagens em conflito com o meio, que exerce certa opressão sobre elas, as mesmas conseguem chegar (mesmo que, na maioria das vezes, à custa de um forçado isolamento) a uma espécie de libertação que implica, no máximo, uma despersonalização (como no caso de G.H.), mas que, em qualquer caso, não supõe (necessariamente) o aniquilamento físico da personagem, trazendo inclusive um considerável grau de esperança (espécie de pré-realização), como atestam as palavras finais de Perto do coração selvagem: 186 Cabe apontar, embora o assunto fuja a nosso objeto, que no final de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres é apresentada e, com isso, questionada a problemática de gênero. 269 E um dia virá, sim, um dia virá em mim a capacidade tão vermelha e afirmativa quanto clara e suave, um dia o que eu fizer será cegamente seguramente inconscientemente, pisando em mim, na minha verdade, tão integralmente lançada no que fizer que será incapaz de falar, sobretudo um dia virá em que todo meu movimento será criação, nascimento, eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim, provarei a mim mesma que nada há a temer, que tudo o que eu for será sempre onde haja uma mulher com meu princípio, erguerei dentro de mim o que sou um dia, a um gesto meu minhas vagas se levantarão poderosas, água pura submergindo a dúvida, a consciência, eu serei forte como a alma de um animal e quando eu falar serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não o passado corroendo o futuro! o que eu disser soará fatal e inteiro! não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, os homens, as dimensões, não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante, não instante por instante: sempre fundido, porque então viverei maior do que na infância, serei brutal e malfeita como uma pedra, serei leve e vaga como o que se sente e não se entende, me ultrapassarei em ondas, ah, Deus, e que tudo venha e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma em certos momentos brancos porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho até a morte-sem-medo, de qualquer luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo (PCS, pp. 215-216). A superação dos conflitos é, então, efetivada geralmente pela via transcendente (mística ou mítica) e, por isso, os romances de Clarice Lispector (com exceção de O lustre e A cidade sitiada) são romances de tensão transfigurada (BOSI, 2000, p. 392). É preciso notar ainda a este respeito que a aparente oscilação entre transcendência e imanência para a qual nos alerta Olga de Sá na epígrafe que escolhemos para esta seção fica anulada quando reparamos – de forma profundamente coerente com a visão do mundo da autora – que os dois termos acabam se igualando na mesma busca pela essência do ser. Como anota José Américo Pessanha (1996, p. 325), “Como o estado puro e pleno de estesia já nada tem a ver com os sentidos – torna-se o ver-a-essência, visão noética, espiritual. [...] Assim, recusar a ascese racionalizadora e descer ao fundo – é subir”. É também Pessanha quem considera que no “rio que vive a correr para as nascentes” (PESSANHA, 1996, p. 314) que é a obra de Clarice Lispector, “só tem existido realmente um problema [...]: o do começo. O do verdadeiro começo do homem: arché soterrada pelo tempo e que retém o sentido da vida. E é também princípio de objetividade. Princípio-base, princípio-alicerce: raiz” (Ib., p. 314). Esperamos que o nosso trabalho até aqui tenha 270 conseguido mostrar isso. No entanto, discordando de Pessanha187, do nosso ponto de vista, o sopro que anima a escritura de Clarice é profundamente místico. É verdade que a concepção de mundo que emana dos seus romances, em sintonia com o pensamento indeterminado da própria autora e em contraste com o que vimos nos romances e no Diário de Lúcio Cardoso, não é religiosa. No entanto, enquanto procura incansável de uma origem do Ser onde a individualidade é reintegrada à unidade do Todo (o Deus), essa visão seria mística. Clarice alude freqüentemente a um nada, mas esse nada não é o dos existencialistas. Esse nada é o lugar de plenitude do ser em sua essência, no mais profundo de si, onde ele se confunde com os outros, sejam seres animados (alma) ou coisas (substrato)188. Por isso é que, por exemplo, Lóri “amava o Nada” (ALP, p. 35) com maiúscula: A consciência de sua permanente queda humana a levava ao amor do Nada. E aquelas quedas – como as de Cristo que várias vezes caiu ao peso da cruz – e aquelas quedas é que começavam a fazer a sua vida. Talvez fossem os seus “apesar de” que [...] a estivessem levando a construir pouco a pouco uma vida. Com pedras de material ruim ela levantava talvez o horror, e aceitava o mistério de com horror amar ao Deus desconhecido. Não sabia o que fazer de si própria, já nascida, senão isto: Tu, ó Deus, que eu amo como quem cai no nada (ALP, p. 35). A figura de Cristo aqui aparece apenas como um exemplo, mas não – como no caso de Lúcio Cardoso – como o marco inaugural de que o destino humano será eterna figura. Um pouco mais adiante no romance, Lóri medita sobre o silêncio do Nada, duvida da sua identificação com o Deus (ALP, p. 45) e conclui, mais uma vez, com o reconhecimento da limitação (condição) humana. Só que, desta vez, o Salvador é excluído, pois a salvação (aceitação189) é possível apenas dentro de cada um: Mais do que isso um homem não pode. Viver na orla da morte e das estrelas é vibração mais tensa do que as veias podem suportar. Não há sequer um filho de astro e de mulher como intermediário piedoso. O coração tem que se apresentar diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós não 187 “Porque é bom que se diga: o que dá a Martim e aos outros personagens de Clarice Lispector uma aparência de existencialistas é isto: a negação da raiz transcendente. O que se consegue negando-se, pelo mito da origem humana apenas humana, os mitos de transcendência” (PESSANHA, 1996, p. 324). 188 Como lembra Benedito Nunes (1989, p. 278), podemos associar também esse nada ao indiferenciado Inconsciente. Em Água Viva, a autora chamará a esse cerne neutro impessoal da vida de it, significante significativamente próximo do id freudiano. 189 Propomos esta equivalência pelo que a mesma personagem entende por perdição: “Paris, de súbito, aquela terra estranha, dera-lhe a dor mais insólita – a de sua perdição real. Estar perdida não era a verdade corriqueira mas era a irrealidade que lhe vinha dar a noção de sua condição verdadeira. E a de todos” (ALP, p. 55). 271 fomos feitos senão para o pequeno silêncio, não para o silêncio astral (ALP, p. 46). Pensara então: “Cristo foi Cristo para os outros, mas quem? Quem fora um Cristo para o Cristo? Ele tivera que ir diretamente ao Deus. E ela, sentada então no banco da igreja, quisera também poder ir direto à Onipotência, sem ser através da condição humana de Cristo que era também a sua e a dos outros (ALP, p. 78). Em “A paixão de Clarice Lispector”, Benedito Nunes (1989, p. 276) chamará o misticismo da autora de “misticismo stricto sensu”. “Diferente da piedade religiosa, que se desenvolveu em todas as culturas segundo padrões distintos e, às vezes, à margem da religião institucionalizada”, o crítico o define como “o caminho individual de acesso, por meio de uma experiência prática de desprendimento da individualidade, ao todo, ao cerne do real ou à divindade. Acesso que é tanto conhecimento extra-intelectual, contemplativo, quanto união e liberação” (Ib., p. 276). Na interpretação de Luís Costa Lima (1996, pp. 337 e 339), G.H. fará de Deus companhia e com Ele ingressará no seio do que é neutro nas coisas. Desloca o Criador do etéreo e O conduz para a vida de que antes ela quisera se afastar [...]. A diferença com a experiência mística reconhecida seria a de que ela aqui leva não à comunhão da alma com Deus, mas ao Seu encontro nas coisas que compõem o presente humano. A relação de Virgínia (ou de Macabéa, idêntica) com Deus traduz fielmente a concepção de fé advinda da visão clariceana: “Embora ela jamais se ocupasse verdadeiramente de Deus e raramente rezasse. Diante da idéia d’Ele permanecia surpreendentemente calma e inocente, sem um pensamento sequer” (L, p. 63). Virgínia estava assim, de alguma forma, rezando. E isso porque rezar, para Clarice Lispector e as suas personagens equivale a meditar sobre o nada (BORELLI, 1981, p. 17), “a pedir a si mesma, pedir o máximo a si mesma” (ALP, p. 64), em uma prece neutra que, em relação ao humano, talvez seja uma monstruosidade, mas que em relação ao que, para a autora, é Deus, seria: ser, como constata G.H. (PSGH, p. 134). Quando Martim se encontra no depósito, descobrindo o “não entender”, descobrindo que o (não-) sentido daquele mundo vegetal (“mundo sem Deus”, ME, p. 83) era o “o sentido mais primeiro daquele homem” (ME, p. 83), “seu grande silêncio não era apatia. Era uma profunda sonolência em guarda, e uma meditação quase metafísica sobre o próprio corpo, no que ele parecia estar atentamente imitando as plantas de 272 seu terreno” (ME, p. 83). Ou melhor do que rezar seria ainda, talvez, como propõe Lóri, apenas “encostar o peito nele [Deus], e não dizer uma palavra” (ALP, p. 74). Também em A cidade sitiada aparece a concepção não-religiosa do Deus: “[...] Pelo menos Lucrécia via e batia a pata. Experimentando alegria tão exterior que já era a alegria dos outros que ela sentia, deus impessoal, para quem as nuvens fossem um modo dele não estar na terra e as serras o modo dele estar mais longe” (CS, p. 91). E, em sintonia com o sentimento de Lucrecia, em Uma aprendizagem, Lóri constata que seu Deus não lhe servia: fora feito à sua própria imagem, parecia-se demais com ela [...]. O verdadeiro Deus, não feito à sua imagem e semelhança, era por isso totalmente incompreendido por ela, e ela não sabia se Ele poderia compreendê-la. O seu Deus até agora fora terrestre, e não era mais. De agora em diante, se quisesse rezar, seria como rezar às cegas ao cosmo e ao Nada. E sobretudo não podia mais pedir ao Deus. Descobriu que até agora rezara para um eu-mesmo, só que poderoso, engrandecido e onipotente, chamandoo de o Deus e assim como uma criança via o pai como a figura de um rei (ALP, pp. 76-77). Assim sendo, o narrador de Uma aprendizagem resume a trajetória mística de Lóri dizendo que ela “passara da religião de sua infância para uma não-religião e agora passara para algo mais amplo: chegara a ponto de acreditar num Deus tão vasto que ele era o mundo com suas galáxias” (ALP, p. 95). E como observa Hélio Pellegrino, a personalidade de Clarice – e daí, o pensamento indeterminado que atravessa os seus romances – só poderá ser considerada religiosa “no sentido literal da palavra. Sabia do parentesco de tudo com todas as coisas. O exílio humano, para ela, era a véspera do conhecimento de Deus, caminho áspero pelo qual se chega à intuição do cimento originário que liga – e religa – os elementos que compõem a tapeçaria cósmica” (PELLEGRINO, 1989, p. 196). O narrador de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, colado à perspectiva da personagem principal, descreve assim o momento em que Lóri aceita a sua humana condição: E pelo mesmo fato de se haver visto ao espelho, sentiu como sua condição era pequena porque um corpo é menor que o pensamento – a ponto de que seria inútil ter mais liberdade: sua condição pequena não a deixaria fazer uso da liberdade. Enquanto a condição do Universo era tão grande que não se chamava de condição. [...] seu descompasso com o mundo chegava a ser cômico de tão grande: não conseguira acertar o passo com as coisas ao seu redor. [...] (O paradoxo é que deveria aceitar de bom grado essa condição de manca, porque também isto fazia parte de sua condição) (ALP, 27). 273 Esse fenômeno de misticismo não-religioso foi pormenorizadamente analisado por Benedito Nunes em seu clássico ensaio sobre a obra de Clarice Lispector, O drama da linguagem. A profusa intertextualidade com a Bíblia que se estabelece a partir de A maçã no escuro190, por exemplo, como mostra também Olga de Sá (1999), está a serviço daquela concepção profana da divindade que anima toda a obra de Clarice. A crítica aponta “A inversão de expressões bíblicas [como um ...] recurso retórico, tom maior de uma ficção que toca o pólo místico pelo caminho do profano. Há elementos bíblicos presentes em situações invertidas ou deslocadas” (SÁ, 1999, p. 161). E no capítulo que dedica exclusivamente a A paixão segundo G.H., Sá (1999, pp. 123 a 155) mostra pormenorizadamente os aspectos paródicos da narrativa clariceana em relação ao seu hipertexto191 bíblico que ela identifica no título do romance, na inversão das expressões bíblicas, na personagem G.H. e no lugar. “Tudo somado, para ressaltar o essencial: uma visão mística do mundo, que prescinde da religião, sem prescindir, porém, das mais fundas experiências religiosas do Judaísmo e do Cristianismo, da cosmovisão bíblica”, conclui a crítica (1999, p. 129). Um dos exemplos mais ilustrativos dessa afirmação é o que encontramos na inversão do mito de Lúcifer, quando G.H. confessa: Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, à procura da grandeza do Deus, levara-me à grandeza do Inferno. Eu não conseguia entender a Sua organização senão através do espasmo de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego – e eu encontrava o Deus indiferente que é todo bom porque não é ruim nem bom, eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica. Uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficara enganchada pelo prazer que tornava apenas infernal (PSGH, p. 127). Por tudo o exposto é que, antes do que a uma religião única, o pensamento indeterminado de Clarice Lispector poderia ser mais aproximado de algumas filosofias orientais. É o que mostram Benedito Nunes e Igor Rossoni nos seus respectivos trabalhos. Ao analisar A maçã no escuro e A paixão segundo G.H., Nunes vai identificando nesses romances 190 Cabe assinalar que em O lustre já encontramos uma clara intertextualidade com o texto bíblico na brincadeira favorita de Virgínia: criar bonecos de barro: “Eram bonecos magrinhos e altos como ela mesma. Minuciosos, ligeiramente desproporcionados, alegres, um pouco surpreendidos [...] Virgínia podia fitá-las uma manhã inteira e seu amor e sua surpresa não diminuiriam. [...] Observava: mesmo bem acabados eles eram toscos como se pudessem ainda ser trabalhados. Mas vagamente pensava que nem ela nem ninguém poderia tentar aperfeiçoálos sem destruir a sua linha de nascimento. Era como se eles só pudessem se aperfeiçoar por eles mesmos, se isso fosse possível” (L, p. 54). 191 Cf. Genette, Gérard. Palimpsestes.(1982). 274 elementos oriundos dos misticismos critão e budista, como o ciclo de disciplina ascética no que entra Martim: “em vez de fala, a mudez; em vez de pensamento abstrato, a percepção; em vez da identidade pessoal e das relações intersubjetivas, a impessoalidade da consciência, agregada à natureza e solidária das coisas” (NUNES, 1995, p. 42). Além disso, acrescenta o crítico, “a inteligência é mortificada pelo não-entendimento, a vontade, pelo não-querer. Liberada a sensibilidade, a visão direta sobrepõe-se à idéia, o ver ao dizer, a coisa à palavra que a nomeia” (Ib., p. 42). No mesmo ciclo ingressaria G.H. em sua experiência desagregadora da ordem cotidiana. Na forma de uma verdadeira ascese, diz Benedito Nunes, “a personagem desprende-se do mundo e experimenta, após gradual redução dos sentimentos, das representações e da vontade, a perda do eu” (NUNES, 1995, p. 63, grifo do autor)192. Já Igor Rossoni aproxima a obra clariceana dos postulados do zen-budismo, que ele define, não como uma religião, mas como uma experiência, “vivência prática que visa colocar o homem em sintonia plena com a dinâmica da própria vida” (ROSSONI, 2002, p. 25), que, superando as dualidades, rompe com a linearidade que congrega o raciocínio dualístico e relativo, buscando abri-lo para a verdadeira e absoluta comunhão com a própria vida, integral e plena” (Ib., 2002, p. 22). Como explica Rossoni, retomando Kant e Octávio Paz, o pensamento ocidental e racional é lógico e conduz sempre “a uma explicação ou mesmo reflexão do conhecimento humano de modo excludente” (ROSSONI, 2002, p. 26). Como vimos no início deste capítulo, o pensamento racional opera por meio de análise e “se caracteriza como o escrutínio do somatório de investigações parcializadas que propiciam o entendimento de uma idéia ou conjunto delas, sempre circunscrito a um paradigma de afirmações e negações” (ROSSONI, 2002, p. 26). Nesse sistemático fracionamento da realidade, o racionalismo ocidental perde o todo: “a coisa-em-si ou noumenon é inacessível ao conhecimento, uma vez que só nos é dado conhecer os ‘fenômenos’ que se manifestam a partir dela” (Ib., 2002, p. 27). Esse todo, como também ensina Rossoni, é resgatado pelo “método de apreender oriental [...]. Para ele não importam as particularidades, razões e objeções. Importa, sim, a captação intuitiva do conjunto observado. Apreender pela intuição implica ascender a uma forma de conhecimento imediato, sem intermediários. Uma assistência presente ao espírito” (ROSSONI, 2002, p. 27). Clarice propõe esse método nas crônicas e depoimentos e o narrador de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, adotando a perspectiva de Lóri e 192 Benedito Nunes, apoiando-se principalmente no pensamento de Meister Eckhart, analisa pormenorizadamente as semelhanças entre esses sistemas de crenças e a visão clariceana nas pp. 63 a 70 do seu O drama da linguagem. 275 retomando em parte, com alterações, um texto já publicado por Clarice Lispector (1999a, p. 172) em O Jornal do Brasil, sintetiza-o assim: “Não entender” era tão vasto que ultrapassava qualquer entender – entender era sempre limitado. Mas não-entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. [...] Compreender era sempre um erro – preferia a largueza tão ampla e livre e sem erros que era não-entender. Era ruim, mas pelo menos sabia que se estava em plena condição humana (ALP, p. 53). Por isso, o que permite associar diretamente o que Clarice propõe como postura vital em suas obras com o zen “é a consciência e a consonância de atitudes geradoras para desencadearem, em todas as direções, forças que visam a um e único vivenciamento: a relevância do encontro pela experiência pessoal como razão invariável para atingir a realidade natural do ser” (ROSSONI, 2002, p. 54). E é na origem etimológica do termo “Zen” que encontramos uma especial afinidade entre esta “experiência impressiva” (ROSSONI, 2002, p. 26) e a vivência mística que Clarice Lispector e as suas personagens compartilham: “Zen” vem do “chinês ch’na que deriva da palavra sânscrita dhyana e pode ser traduzida [...] por ‘meditação’” (Ib., 2002, p. 28). Em consonância com tudo o exposto nesta seção, talvez o pedido mais profundo que encontramos na única prece que Clarice redigiu e publicou (em O Jornal do Brasil e em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres) seja: “faze com que eu receba o mundo sem receio, pois para esse mundo incompreensível eu fui criada e eu mesma também incompreensível, então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós enquanto quisermos entendê-la” (ALP, p. 66). 276 2.2 A tateante e incessante busca da forma e do conteúdo pela expressão – do ser pelo aparecer, do Real pelo apontar – na escritura de Clarice Lispector Desde o primeiro livro [...] falam-se nas minhas “frases”. Não tenha o senhor dúvida, no entanto, de que desejei – e consegui, por Deus – qualquer coisa através delas, e não a elas mesmas. Chamar de “verbalismo” uma vontade dolorosa de aproximar o mais possível as palavras do sentimento – eis o que me espanta (LISPECTOR, 1999a, p. 274). [...] a originalidade exterior da obra de Clarice Lispector é apenas ilusão sibilina a seu subsolo “terciário”, a seu “mal secreto”. [...] O estilo de Clarice é admirável, sem dúvida, único e sem comparação em nossa literatura. Mas não é fim em si mesmo. Oracular, aponta para além dele próprio (PESSANHA, 1996, p. 316). E outra coisa: nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor (LISPECTOR, 1999a, p. 113). A solidão de Clarice Lispector também no cenário das letras brasileiras – e não apenas da sua época – talvez se explique em boa medida pela observação de Carlos Mendes Sousa de que “A apurada autoconsciência do ofício, para quem a incumbência não significa facilidade, vem assinalar a insistência na idéia de que o caminho escolhido não é o da habilidade, mas o de uma deliberada travessia da paixão: o grau de dificuldade é uma ordem imposta que pede surpresa” (SOUSA, 2004, p. 142). Isso, junto com a intensidade com que se entrega ao ato criativo (criador), conduziria a autora, ainda conforme o crítico, a um “ensimesmamento insuportável desse mesmo lugar gerador” (Ib., p. 142), o mesmo isolamento que caracteriza – como vimos – tanto a autora na sua vida social quanto as suas personagens. Na visão do mundo de Clarice Lispector, forma e conteúdo, também na arte, são indissolúveis. O conteúdo exige uma forma precisa e apenas e exclusivamente essa para se manifestar. Por isso, a forma já é conteúdo: Fala-se da dificuldade entre a forma e o conteúdo, em matéria de escrever; até se diz: o conteúdo é bom, mas a forma não, etc. Mas, por Deus, o problema é que não há de um lado um conteúdo, e de outro a forma. Assim seria fácil: seria como relatar através de uma forma o que já existisse livre, o conteúdo. Mas a luta entre a forma e o conteúdo está no próprio pensamento: o conteúdo luta por se formar. Para falar a verdade, não se pode pensar num conteúdo sem sua forma. Só a intuição toca na verdade 277 sem precisar nem de conteúdo nem de forma. A intuição é a funda reflexão inconsciente que prescinde de forma enquanto ela própria, antes de subir à tona, se trabalha. Parece-me que a forma já aparece quando o ser todo está com um conteúdo maduro, já que se quer dividir o pensar ou escrever em duas fases. A dificuldade de forma está no próprio constituir-se do conteúdo, no próprio pensar ou sentir, que não saberiam existir sem sua forma adequada e às vezes única (LISPECTOR, 1999a, pp. 254-255). E a palavra já é significação; sobretudo quando ela é usada com o rigor que Clarice considera fundamental pela função que ela atribui à escrita e pela responsabilidade de que, em seu juízo, o verdadeiro artista (agente da criação) se vê imbuído em face dessa mesma função. É nesse sentido que a autora afirma: “nunca escolhi linguagem. O que fiz, apenas, foi ir me obedecendo” (LISPECTOR, 1999a, p. 306). Assim, ela exprime a obediência, a fidelidade à forma exigida pela nova significação que luta por sua expressão. Jean Rousset abona essa idéia quando assinala que “Em toda obra viva, o pensamento não se dissocia da linguagem que ele inventa para pensar-se, a experiência se institui e se desenvolve através das formas”193 (1969, p. VI, tradução nossa). E quando, em ensaio publicado em A descoberta do mundo (LISPECTOR, 1999a, p. 237), a autora afirma que seu problema não é de expressão, mas de concepção, está nos alertando, mais uma vez, para a profunda dependência que existe entre forma e conteúdo: sem alguma forma, não conseguimos conceber; sem palavras, não conseguimos pensar, apenas sentir, intuir. Por isso, não há conteúdo sem forma e forma sem conteúdo. O conteúdo é moldado também pela forma, onde encontra a sua realização plena. É por isso que “Lacan não fala de significado, mas sim de sentido, o qual não existe a priori, sendo produzido pelos significantes” (BEDRAN, 2000, p. 77). Em Perto do coração selvagem, Joana sente a angústia causada pela criação em sua premência de aflorar em concepção-expressão: – 193 Palavras muito puras, gotas de cristal. Sinto a forma brilhante e úmida debatendo-se dentro de mim. Mas onde está o que quero dizer, onde está o que devo dizer? Inspirai-me, eu tenho quase tudo; eu tenho o contorno à espera da essência; é isso? [...] Nada posso dizer ainda dentro da forma. Tudo o que possuo está muito fundo dentro de mim. Um dia, depois de falar enfim, ainda terei do que viver? Ou tudo o que eu falasse estaria aquém e além da vida? – Tudo o que é forma de vida procura afastar. Tento isolar-me para encontrar a vida em si mesma. No entanto, Dans toute oeuvre vivante, la pensée ne se dissocie pas du langage qu’elle invente pour se penser, l’expérience s’institue et se développe à travers les formes (Rousset. 1969, p. VI). 278 apoiei-me demais no jogo que distrai e consola e quando dele me afasto, encontro-me bruscamente sem amparo. [...] Em vez de me obter com a fuga, vejo-me desamparada, solitária, jogada num cubículo sem dimensões, onde a luz e a sombra são fantasmas quietos. No meu interior encontro o silêncio procurado. Mas dele fico tão perdida de qualquer lembrança de algum ser humano e de mim mesma, que transformo essa impressão em certeza de solidão física (PCS, pp. 73-74). É que o indivíduo constitui-se e constitui todo o seu sistema de vida também na linguagem enquanto forma. O fundo é impessoal. Acrescenta a seguir Joana: Presa, presa. Onde está a imaginação? Ando sobre trilhos invisíveis. Prisão, liberdade. São essas as palavras que me ocorrem. No entanto não são as verdadeiras, únicas e insubstituíveis, sinto-o. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome (PCS, p. 74). Na presente seção, mostraremos como as posições da autora citadas acima – bem como a observação de Jean Rousset – se refletem no fazer artístico de Clarice Lispector, derivado das suas próprias concepções filosóficas e estéticas. Da mesma forma, mostraremos como esse fazer, não podendo achar satisfação nas fórmulas oferecidas pelo romance tradicional, encontra na tendência estética libertária que o romance moderno traduz, uma passagem para uma experiência-limite da escritura que se propõe romper com as categorias da narrativa e com as distinções rígidas de gênero. Também, como essa escritura, por sua vez, vai moldando e ampliando o próprio pensamento, contribuindo para tornar mais complexa e elaborada a concepção do mundo da autora. Como bem assinala Lícia Manzo (2001, p. 83), “através de sua obra, Clarice escreve e cria a si mesma”. Álvaro Lins (1963, p. 190-191) já notava em Perto do coração selvagem as principais características do romance moderno: a descontinuidade do espaço e do tempo e o jogo com a linguagem, que ele chamará de “audácia na concepção, nas imagens, nas metáforas, nas comparações, no jogo das palavras”. Acrescenta também Lins, a propósito desse romance em que “os fatos do livro pouco importam”: Imagino que a sua concepção do mundo ficaria desfigurada dentro do romance tradicional. Procurou, por isso, uma forma moderna do romance, aquela que permite a visão do mundo numa atmosfera de sonho, a confusão 279 entre memória e imaginação, a deformação alucinada dos fenômenos sob o efeito da subjetividade de uma natureza original (LINS, 1963, p. 189). Mas será realmente alucinada a visão do mundo que Clarice nos transmite em suas obras? O que deseja afinal Clarice? Consciente dos preconceitos implícitos no campo conceitual e na linguagem, e tendo em vista a função da arte como procura de um Absoluto194, a autora adota uma técnica de escrever que ela chamará de “humildade”: “Humildade como técnica é o seguinte: só se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente” (LISPECTOR, 1999a, p. 237). Como já dissemos em seção anterior, essa inferioridade da escrita em relação a outras artes, não invalida, para nossa autora, o lavor do escritor, pois na aproximação descobre também uma forma de chegar: a entrelinha, a sugestão do que não pode ser dito, o entre-lugar que faz presente no texto aquele fundo da Natureza de que nos fala Mikel Dufrenne. É desta forma que Clarice descreve esse recurso legitimador no Jornal do Brasil: Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra – a entrelinha – morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente (LISPECTOR, 1999a, p. 485). É que, como escreve Lóri, “Às vezes no próprio coração da palavra se reconhece o Silêncio” (ALP, p. 47). Nos romances, Clarice vai nomear a aproximação do absoluto: há de chamá-la de alusão (ME, p. 173). Mendilow fala em “sugestão”: E assim o autor [...] manipula o seu meio de modo a evocar o sentimento que temos dela [a vida]. Do tênue filamento da frase emana uma aura luminosa e intensa de sugestão. O estilo tem abundância de símbolos, imagens, novas invenções; pela catacrese, palavras são arrancadas do seu uso ordinário; usase qualquer artifício que tire a atenção dos valores léxicos das palavras e a 194 Como vimos na primeira seção deste capítulo, a arte tem para a escritora Clarice Lispector justamente a função de suprir essa falta essencial. E é de acordo com essa pespectiva, por exemplo, que o narrador de A maçã no escuro interpreta a angústia que experimenta Martim ao se perguntar se “a sua vida toda não teria sido apenas alusão”: “Um homem afinal se media pela sua carência. E tocar na grande falta era talvez a aspiração de uma pessoa. Tocar na falta seria a arte? Aquele homem gozava sua impotência assim como um homem se reconhece. Estava espantadamente fruindo o que ele era” (ME, pp. 173-174). 280 leve ao longo dos caminhos das associações que irradiam do simples núcleo do significado (MENDILOW, 1972, p. 251). A via que Clarice Lispector propõe para chegar a essa sugestão é a intuição ou a inspiração (que muitas vezes se confundem). À diferença de Bérgson (1979, pp. 144-145), que concebe intuição e inteligência como modos de uma mesma inteligência, orientados para propósitos diversos (com a diferença de que a intuição também dá testemunho da existência de um inconsciente psicológico)195, nossa autora insiste freqüentemente na ligação entre intuição e inconsciente. De qualquer forma, se pensarmos em termos lacanianos, estabelece-se a mesma relação, pois autores como Clarice Lispector, ao aperceber-se dessa prisão do sujeito instaurada na e pela linguagem, procuram, por meio da entrelinha, recuperar em seu texto o impossível de ser nomeado, aquilo que, sempre do avesso (ou lado a lado) da “escrita formal do lógico” (CHEMAMA, 1995, p. 184) – isto é, o Simbólico – “não cessa de não se escrever, por ter sido instalado no lugar pelo próprio Simbólico: um real subjacente a toda simbolização” (Ib., p. 184) e que o narrador de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres define como “a super-realidade do que é verdadeiramente real” (ALP, p. 37). De outro lado, o inconsciente prende-se ao mistério da criação, uma verdadeira obsessão de Clarice Lispector. É no lugar não-localizável entre som (materialidade) e silêncio (fundo imaterial) que se aloja a entrelinha196. O silêncio é o lugar por excelência do que não pára de não se escrever, do Real. A Natureza (ou o Deus) manifesta-se em silêncio. E, para Clarice Lispector, todos guardamos dentro de nós o silêncio daquele fundo, potência de vida que nos produziu para dar-lhe voz. É o que constata a autora quando afirma: “Há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso que tudo: o próprio silêncio” (LISPECTOR, 1999a, p. 76). A linguagem é uma trapaça que o artista tem de enfrentar continuamente, pois ela – como já vimos na primeira seção deste capítulo – afasta o indivíduo da Verdade. Como sintetiza Mendilow, “Há um meio opaco interposto entre a realidade e a nossa consciência dela, e entre a nossa consciência e a nossa expressão. A linguagem não reflete a realidade, mas a transmuta em algo muito diferente” (MENDILOW, 1972, p. 165). Já em A descoberta 195 Também C. G. Jung considera a sensação, o pensamento, a intuição e o sentimento os instrumentos de orientação da consciência (Jung, 1975, p. 166). 196 As duas versões de “Mas já que se há de escrever...” apontam, se lidas em conjunto, para esse entre-lugar: “Mas já que se há de escrever, que ao menos não esmaguem as palavras nas entrelinhas” (LISPECTOR, 1999a, p. 200); “Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas” (LISPECTOR, 1980a, p. 25). 281 do mundo (“Travessuras de uma menina”) encontramos um alerta da narradora autodiegética nesse sentido: “Não, talvez não seja isso. As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado será tarde demais: as coisas serão ditas sem eu as ter dito” (LISPECTOR, 1999a, p. 260). Ao pretender atingir com a palavra áreas de significação que se aproximam mais do Real, e que, portanto, o Simbólico não consegue exprimir ou abranger e nem o Imaginário representar para o próprio indivíduo, a escrita de Clarice Lispector deve, necessariamente, transformar-se em escritura no sentido que tanto Roland Barthes (1974 e 2007) quanto Lacan outorgam a esse termo: o primeiro, o de trabalho sobre a língua (autoritária) com vistas a extrair dela o que ela não permite dizer; o segundo, o de “nó borromeano, a escritura que suporta o Real” (BEDRAN, 2000, p. 75)197. Ora, em função da indissolubilidade entre forma e conteúdo que Clarice Lispector concebe, podemos muito bem afirmar que essa escritura trará à luz novas significações, ou significações não previstas no repertório da linguagem (simbólica), porque aludem ao domínio do Real (impronunciável). E é justamente esse o lugar vago (falta) que a linguagem literária deve ocupar para Clarice Lispector: “A linguagem está descobrindo o nosso pensamento, o nosso pensamento está formando uma língua que se chama de literária e que eu chamo de linguagem da vida” (Apud. Borelli, 1980, p. 69). Da mesma forma, e em consonância com essa dificuldade de expressão dos achados da intuição, a insistência da autora em apontar como função da escrita a expressão do inexprimível remete-nos imediatamente à fórmula bartheana que atribui à literatura o trabalho exatamente contrário, isto é, o de “inexprimir o exprimível”. Na escritura, a tarefa será a de inexprimir o exprimível para sugerir o inexprimível. Enquanto Barthes, em Prefácio a Ensaios críticos (1982, pp. 21-22) concebe um mundo onde tudo já foi nomeado, cabendo à literatura a função de variar (especificando), mediante diferentes combinações, a forma de mensagens gerais e simples, Clarice Lispector (neste ponto, também em sintonia com a filosofia de Merleau-Ponty), salientando o alcance limitado da linguagem corrente, prega a existência de um vasto campo semântico ainda não abrangido pela mesma (e, portanto, alojado no silêncio), pleno de sentidos nunca antes objetivados, ou seja, inéditos. Embora o escritor só conte, para a expressão desses novos conteúdos, com uma linguagem imperfeita, novas combinações dos velhos elementos disponíveis poderão trazer à tona, em seu bojo, as novas significações, ampliando, com isso, o repertório da língua falada (no sentido merleau-pontiano da 197 Mediante o símbolo do nó borromeano, Lacan representa a interdependência dos três círculos da sua tópica. Como naquele tipo de nó, se um dos círculos (elos) é desfeito, os outros dois também se desfazem. 282 expressão198). Na sua passagem de escrita para escritura, a linguagem literária instituir-se-á, então, em linguagem falante, expressão que Merleau-Ponty utiliza em oposição a linguagem falada: A linguagem falada é aquela que o leitor trazia consigo, é a massa das relações de signos estabelecidos com significações disponíveis, sem a qual, com efeito, ele não teria podido começar a ler, que constitui a língua e o conjunto dos escritos dessa língua, e é também a obra de Stendhal, uma vez que seja compreendida e se acrescente à herança da cultura. Mas a linguagem falante é a interpelação que o livro dirige ao leitor desprevenido, é aquela operação pela qual um certo arranjo dos signos e das significações já disponíveis passa a alterar e depois transfigurar cada um deles, até finalmente secretar uma significação nova, estabelecendo no espírito do leitor, como um instrumento doravante disponível, a linguagem de Stendhal. [...] É o artifício pelo qual o escritor ou orador, tocando em nós essas significações, faz que emitam sons estranhos, que parecem a princípio falsos ou dissonantes, e depois nos alia tão bem a seu sistema de harmonia que doravante o consideramos como nosso (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 35). É a esse mesmo sentido e também à questão da necessidade da forma como moldadora do pensamento que aponta Jean Rousset em Introdução a Forme et signification: Franqueamento de um umbral, entrada em poesia, desencadeamento de uma atividade específica, a contemplação da obra implica um questionamento de nosso modo de existência e um deslocamento de todas nossas perspectivas: passagem de uma desordem para uma ordem [...] passagem do insignificante para a coerência das significações, do informe para a forma, do vazio para o pleno, da ausência para a presença. Presença de uma linguagem organizada, presença de um espírito numa forma (ROUSSET, 1995, p. III, tradução nossa)199. E é exatamente essa concepção da escrita como instauradora de significação que dá base e fundamento ao chamado romance de pesquisa, conforme designação proposta por Sarraute, 1987, p. 11, para identificar o romance moderno, enfatizando seu duplo caráter de perquirição: lingüístico-poética e anímica (ou interior). 198 Cf. Merleau-Ponty, 2002. Franchissement d’un seuil, entrée en poésie, déclenchement d’une activité spécifique, la contemplation de l’oeuvre implique une mise en question de notre mode d’existence et un déplacement de toutes nos perspectives : passage d’un désordre à un ordre [...] passage de l’insignifiant à la cohérence des significations, de l’informe à la forme, du vide au plein, de l’absence à la présence. Présence d’un langage organisé, présence d’un esprit dans une forme. 199 283 Vista dessa forma, a literatura torna-se o único instrumento capaz de permitir atingir determinado (auto)conhecimento que Clarice Lispector considera essencial: “A literatura deve ter objetivos profundos e universalistas: deve fazer refletir e questionar sobre um sentido da vida e, principalmente, deve interrogar sobre o destino do homem na vida” (LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p. 73). E, com isso, “des-mentir” o mistério, na feliz expressão de Hélène Cixous (1995, p. 159). Por outro lado, toda essa concepção de simbiose entre forma e conteúdo fundamenta algumas posições de Clarice Lispector (se bem que nem sempre levadas a cabo) em relação à escrita, como, por exemplo, a recusa a ater-se a um determinado gênero literário ou a modificar um texto após a sua finalização, por solicitação de leitores ou conveniências de comercialização. Este ponto é de especial interesse para nosso trabalho, pois orienta claramente as notórias transformações na forma do romance operadas por Clarice no decorrer de sua trajetória como escritora. Questionar o gênero torna-se fundamental para o escritor (no sentido barthesiano), se pensarmos na seguinte colocação de Antoine Compagnon: O gênero, como taxinomia, permite ao profissional classificar as obras, mas sua pertinência teórica não é essa: é a de funcionar como um esquema de recepção, uma competência do leitor, confirmada e/ou contestada por todo texto novo num processo dinâmico. A constatação dessa afinidade entre gênero e recepção leva a corrigir a visão convencional que se tem do gênero como estrutura cuja realização é o texto enquanto língua subjacente ao texto considerado como fala. Na realidade, para as teorias que adotam o ponto de vista do leitor, é o próprio texto que é percebido como uma língua (uma partitura, um programa), em oposição à sua concretização na leitura, considerada como uma fala (COMPAGNON, 2003, p. 157). Para poder cumprir essa nova função, a escrita deverá perder os automatismos que não são mais do que repetição daquele discurso de poder imbricado na própria língua (que estabelece o que pode ou não ser dito e como pode ser dito). Dentre esses automatismos, está o próprio estilo do escritor. Barthes explica: O estilo está quase além [da literatura]: imagens, um fluxo verbal, um léxico nascem do corpo e do passado do escritor e tornam-se pouco a pouco os próprios automatismos de sua arte. Assim, sob o nome de estilo, formase uma linguagem autárquica que só mergulha na mitologia pessoal e secreta do autor, nessa hipofísica da fala, onde se forma o primeiro par das palavras e das coisas, onde se instalam de uma vez por todas os grandes temas verbais de sua existência. Seja qual for seu refinamento, o estilo tem 284 sempre algo de bruto: é uma forma sem destinação, o produto de um impulso, não de uma intenção, é como que uma dimensão vertical e solitária do pensamento (BARTHES, 1974, p. 122). E Clarice ratifica: Como uma forma de depuração, eu sempre quis um dia escrever sem nem mesmo meu estilo natural. Estilo, até próprio, é um obstáculo a ser ultrapassado. Eu não queria meu modo de dizer. Queria apenas dizer. Deus meu, eu mal queria dizer (LISPECTOR, 1999a, p. 142). Assim, o estilo estaria vinculado a certo escrever fácil que a autora rejeita categoricamente: “Estou escrevendo com muita facilidade, e com muita fluência. É preciso desconfiar disso” (LISPECTOR, 1999a, p. 375). É que a luta contra o automatismo e contra o poder da palavra – Clarice sabe – não é fácil. Daí, a humilde busca em si mesma justificar-se como uma meta legítima: Essa incapacidade de atingir, de entender, é que faz com que eu, por instinto de ... de quê? procure um modo de falar que me leve mais depressa ao entendimento. Esse modo, esse estilo (!), já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente e apenas é: uma procura humilde. Nunca tive um só problema de expressão, meu problema é muito mais grave: é o de concepção. Quando falo em humildade, não me refiro à humildade no sentido cristão (como ideal a ser alcançado ou não); refiro-me à humildade que vem da plena consciência de ser realmente incapaz. E refiro-me à humildade como técnica. [...] Humildade como técnica é o seguinte: só se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente (LISPECTOR, 1999a, p. 237). A delicada conjunção, no trabalho de Clarice Lispector, entre o cuidado constante e paciente e aquela atitude de distração que o artista tem também que procurar (conforme a sua visão do mundo) se dá de uma forma que Olga de Sá resume ao afirmar que “A escritura clariceana é instintiva, intuitiva e sensorial. Contudo, não esqueçamos que a ficcionista é também, paradoxalmente, uma inteligência vigilante, que submete o ser e a linguagem a uma pesquisa vital e contínua” (DE SÁ, 1993, p. 329). 285 De fato, é fácil distinguir na escritura de Clarice Lispector traços de estilo (que mais adiante exporemos pormenorizadamente), mas também é patente a preocupação pela incessante pesquisa estética de romance para romance. Como veremos também, na passagem de uma obra para outra sempre encontramos inovações formais (ou ao menos tentativas) que atestam a experimentação constante a que a autora submetia a sua escrita. Tudo isso não quer dizer que o romance moderno – forma à qual se filiam as obras extensas de Clarice Lispector – abandone as convenções, e nem que o texto literário se torne mais transparente. Quando o romance assume uma declarada função de pesquisa, novas convenções são criadas – muitas vezes a despeito dos próprios criadores – a fim de dar conta do novo material que o romance pretende abordar. No entanto, passa-se a valorizar a singularidade, a experimentação (no sentido de pesquisa) e não o acomodamento a convenções preestabelecidas pela tradição canônica. As novas convenções se multiplicam e diversificam na medida do potencial criativo do escritor. Como apontam Bradbury e McFarlane: Nesse sentido, o modernismo não é tanto um estilo, mas uma busca de estilo num sentido altamente individualista [...]. A condição para o estilo da obra é uma suposta falta de estilo para a época, e cada obra é uma criação cabal, que subsiste menos pelo seu referencial do que por seus constituintes autotélicos, a ordem e o ritmo feitos para ela e por ela tragados (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 20). Esta nova literariedade torna mais opaco o texto, produzindo o que Lefebve (1975) chama de materialização do discurso e que, anteriormente, caracterizava o domínio próprio da poesia. A ilusão de realidade visada pelo romance tradicional é desmontada, passando a ser enfatizada, pelo contrário, a realidade da representação. Como sintetiza Bakhtin (1990, p. 203), “a categoria da literaturidade da primeira linha [romance sofista], com suas pretensões dogmáticas a um papel vital, é substituída pela provação e pela autocrítica do discurso literário nos romances da segunda linha estilística200”. 200 No capítulo V de Questões de literatura e estética: a teoria do romance, Mikhail Bakhtin apresenta um panorama histórico do romance europeu, apontando duas linhas fundamentais: o romance sofista, que se caracteriza, conforme o crítico “por uma estilização rígida e sistemática de todo o material, isto é, por um comedimento monológico (abstrato-idealizador) do estilo” (BAKHTIN, 1990, p. 168), e a segunda linha do romance, que “introduz o plurilingüismo social na composição do romance, orquestrando com ela o seu sentido e, com freqüência, renunciando totalmente ao discurso puro e direto do autor” (BAKHTIN, 1990, p. 171). Em função dessa abertura para um diálogo de linguagens é que associamos esta segunda linha às tendências do romance moderno que viriam se desenvolver mais tarde (Bakhtin estuda os casos de Cervantes e Rabelais). 286 De fato, no romance moderno, junto com as convenções – e, antes mesmo de chegar a elas – é questionado profundamente o alcance e a capacidade da própria linguagem de dar conta de realidades tão sutis e de difícil apreensão quanto os sentimentos, sensações, lembranças que agem na consciência do indivíduo sem cessar. Como assinalam Bradbury e McFarlane, a preocupação em objetivar o subjetivo, tornar audíveis ou perceptíveis as inaudíveis conversas mentais, deter o fluxo, irracionalizar o racional, desfamiliarizar e desumanizar o esperado, convencionalizar o extraordinário e o excêntrico, definir a psicopatologia da vida cotidiana, intelectualizar o emocional, secularizar o espiritual, ver o espaço como uma função do tempo, a massa como uma forma de energia e a incerteza como a única coisa certa, que definem uma “qualidade comum a muitos dos mais característicos acontecimentos, descobertas e produtos dessa época moderna”, constituem uma fusão explosiva [...] que desmontou as categorias ordenadoras do pensamento, destruiu os sistemas lingüísticos, dissolveu a gramática formal e os elos tradicionais entre as palavras e as palavras, as palavras e as coisas, inaugurando o poder da elipse e da parataxe, criando com isso a tarefa [...] de fazer novas justaposições, novas totalidades (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 37, grifo dos autores). Assim, a palavra no romance modernista, ao constatar o fracasso da linguagem para exprimir os novos significados vislumbrados pelos autores, torna-se poética, apropriando-se da narrativa poética como técnica a ser aproveitada pelo romance: a sugestão própria da poesia é predominante, mas nem toda a comunicação é perdida. De fato, os romances produzidos por James Joyce, Virginia Woolf ou Clarice Lispector são compreensíveis201. Em suma, quando a significação nasce da própria tessitura do texto, a palavra adquire uma importância muito maior. Daí o cuidado e todas as digressões e reflexões que o escritor parece sentir-se obrigado a incorporar na sua obra (espécie de prestação de contas, satisfação 201 A chamada “narrativa poética” considerada como gênero (cf. Tadié, 1994), da qual podemos tomar como exemplo a obra Nadja, de André Breton, assume um teor mais radicalmente simbólico. Já o romance moderno, como aponta Mendilow (1972, p. 93), “necessita não ter a simetria artificial do enredo-padrão, mas deve ter significado. De outra maneira o romance perderia, esteticamente, o objetivo, não teria nenhum significado como obra de arte”. 287 devida ao leitor a fim de provar que ele não está sendo enganado e que aquilo que está lendo é uma obra de ficção), com os questionamentos e preocupações metalingüísticas e metapoéticas que considerar suficientes e oportunos, virando, isso, quase uma obsessão202. Também em função desse alvo de conhecimento profundo da Verdade que a literatura deve assumir para Clarice Lispector, a distinção rígida entre ficção e realidade perde o seu sentido (assim como a mentira na vida): O que é ficção? é, em suma, suponho, a criação de seres e acontecimentos que não existiram realmente mas de tal modo poderiam existir que se tornam vivos. Mas que o livro obedeça a uma determinada forma de romance – sem nenhuma irritação, je m’en fiche. Sei que o romance se faria muito mais romance de concepção clássica se eu o tornasse mais atraente, com a descrição de algumas coisas que emolduram uma vida, um romance, um personagem, etc. Mas exatamente o que não quero é a moldura. [...] Por que não ficção, apenas por não contar uma série de fatos constituindo um enredo? Por que não ficção? não é autobiográfico nem é biográfico, e todos os pensamentos e emoções estão ligados a personagens que no livro em questão pensam e se comovem. E se uso esse ou aquele material como elemento de ficção, isto é um problema exclusivamente meu (LISPECTOR, 1999a, p. 271). No escopo que a escritura de Clarice Lispector persegue, a questão da ficção e da realidade, ou da mentira e da verdade, se tornam inconsistentes. A Verdade transcende essas distinções. É isso o que, em A maçã no escuro, descortina Martim no final do seu percurso e já diante dos homens que vieram prendê-lo: A minha própria história, pensou já refeito na fatuidade de que precisava para ter um mínimo de dignidade pessoal, a dignidade que o prefeito derrubara. Pois muito me resta a fazer! Porque afinal, diabo! – lembrou-se ele de repente – usei tudo o que pude, menos – menos a imaginação! simplesmente me esqueci! E imaginar era um meio legítimo de se atingir. Como não havia modo de escapar à verdade, podia-se usar a mentira sem escrúpulos. Martim se lembrou de si próprio quando tentara, no depósito, escrever; e de como, por mesquinheza, não usara a mentira; e de como fora mediocremente honesto com uma coisa que é grande demais para que 202 Em Os Moedeiros Falsos, de Gide, encontramos um exemplo paradigmático dessa tendência. Com efeito, e a partir do recurso à técnica do mise en abîme, Gide dedica todo o capítulo III da 2ª parte do referido romance à explanação por parte de Eduardo (personagem escritor que está escrevendo um romance com o mesmo nome do romance do qual é personagem) da sua teoria estética e das suas posições em face da escrita. 288 possamos ser honestos com ela, nós que temos da honestidade a idéia que dela fazem os desonestos (ME, p. 317). Seria dessa forma, descoberta com espanto por Martim, que a própria autora se escreve em uma grande autoficção composta pela sua obra vista como uma totalidade?203 Seja como for, o Simbólico e o Imaginário204 deverão ser igualmente driblados para atingir qualquer tipo de aproximação com respeito ao Real. Ângela Bedran sintetiza de forma brilhante esse movimento possível e também o seu resultado terrificante: Ao nascer, em estado de dependência absoluta, o ser humano experimenta o perigo do vazio a cada corte na simbiose com a mãe. À medida que se descola do corpo materno, em plena ameaça de abandono, a criança começa a trançar, com suas fantasias, a corda do imaginário, de consistência ilusória e até alucinatória. Entrelaçando essa rede fantasmática, vai construindo um laço com uma articulação significante, que vai nomeá-la num tempo, numa cultura, numa família. É o laço do sistema simbólico, da linguagem e da lei, ligando as pulsões soltas a representações, construindo uma realidade e sustentando um eu. Por mais que se sinta seguro, o eu tem o vazio a espreitálo, o furo do sem sentido e do pulsional sem controle, aberto pela angústia e a morte. Quando o vazio essencial do mundo se dá a ser visto, através de frestas do imaginário e do simbólico, experimentamos “o horrível, o duvidoso, o inquietante (...) este magistral unheimlich”, conforme ecoa Lacan (BEDRAN, 2000, p. 53). Talvez a imaginação (que não é o Imaginário lacaniano) mantenha inclusive uma vantagem sobre a informação porque não se espera dela realismo, veracidade, no sentido mais superficial desses termos; e nem sequer verossimilhança. Por isso quiçá a nossa autora afirme: Minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras. É neste sentido, pois, que escrever me é uma necessidade. De um lado, porque escrever é um modo de não mentir o sentimento (a 203 Autoficção sobretudo no aspecto apontado por Sébastien Hubier de ser uma “ficção de acontecimentos reais, no sentido em que ela narra uma história que não ocorreu verdadeiramente e cuja única realidade é o discurso onde ela se desenrola. É uma escritura do fantasma e, a esse título, encena o desejo, mais ou menos fantaseado, do seu autor, que procura dizer, ao mesmo tempo, todos os si mesmos que o constituem” (HUBIER, 2003, p. 128, tradução nossa). 204 O Imaginário é, para Lacan, “o campo das ilusões, da alienação e da fusão com o corpo da mãe, e deve ser entendido a partir da imagem que sempre é algum grau de distorção do semelhante que o refletiu, superpondo e confundindo a figura e o fundo. Por isso, o imaginário é considerado o registro do engodo” (ZIMERMAN, 2001, p. 209). É “o lugar do eu por excelência, com seus fenômenos de ilusão, captação e engodo” (ROUDINESCO, 1998, p. 371). 289 transfiguração involuntária da imaginação é apenas um modo de chegar) (LISPECTOR, 1999a, p. 236). E já em Perto do coração selvagem a afirmação dessa intuição: “Na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada: sob ela a verdade impassível. Mente-se e cai-se na verdade” (PCS, p. 20). Se Clarice Lispector, na outra ponta da sua obra (Um Sopro de Vida) irá propor que “O Sonho Acordado é que é a Realidade” é porque, enquanto a realidade do sonho noturno é uma realidade paralela (em função da suspensão do trabalho da consciência) ao que se passa ao nosso redor, na vida diária, na realidade “objetiva”, e à qual temos acesso enquanto dormimos, no caso daquela realidade essencial que é o Real e que é inacessível, tudo se passa como se estivéssemos continuamente vivendo na dimensão de um sonho acordado, de um sonho diurno, de um devaneio. “O que é ser um homem? É arriscar-se e acreditar com dor na veracidade do sonho, e correr o risco torturante de só ver para dentro” (LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p. 81). Daí também que, em face desse Real (ou fundo) que a autora procura incansavelmente, os fatos da realidade sejam destituídos de qualquer protagonismo na sua escritura. É nesse sentido que ela confessa: “Bem sei o que é chamado verdadeiro romance. No entanto, ao lêlo, com suas tramas de fatos e descrições, sinto-me apenas aborrecida. E quando escrevo não é o clássico romance. No entanto é romance mesmo” (LISPECTOR, 1999a, p. 306). Junto com os fatos, quaisquer dados de realidade, que no campo da literatura correspondem aos elementos da diegese (mundo de não-realidade, mimese de uma realidade primeira), são sistematicamente neglicenciados nestes “romances diferentes”. Lúcia Helena utiliza para designar essa característica do fazer literário clariceano uma expressão que consideramos muito oportuna: “realismo às avessas”. Resume a crítica: De um lado, Lispector age como uma escritora que sente a necessidade de discutir a tradição de caracterizar com detalhes ambientes, circunstâncias e personagens para dar-lhes dimensão e consistência. Ou seja, como uma escritora que acredita que partir do detalhe realista, ou da obsessão naturalista pelo descritivismo não é a alternativa mais profícua para captar a totalidade de forças que regem a alma dos inquietos seres que criou. E é dessa insuficiência, ou desse “realismo” às avessas, mas vincado nas impressões do real, que Lispector insiste em partir, trabalhando as contradições inerentes ao fato de ser e não ser uma escritora “realista”, uma vez que não registra fatos, mas “narra impressões” (HELENA, 1991, pp. 27-28). 290 Em contrapartida, o instante ganha, na sua poética, um realce raro, pois, como vimos anteriormente, ele contém em si a plenitude do Real. Por isso, o fato banal, enquanto catalisador de algum instante-visão pode assumir na poética clariceana uma importância fundamental, desencadeando todo um movimento introspectivo de escrita. É assim, por exemplo, que a própria autora fala sobre a história de seu conto “Os obedientes”: Trata-se de uma situação simples. De um fato a contar e a esquecer. Mas cometi a imprudência de parar nele um instante mais do que deveria e afundei dentro ficando comprometida. Desde esse instante em que também me arrisco – pois aderi ao casal de que vou falar – desde esse instante já não se trata apenas de um fato a contar e por isso começam a faltar palavras. A essa altura, já afundada demais, o fato deixou de ser um simples fato, e o que se tornou mais importante foi a sua própria e difusa repercussão (LISPECTOR, 1999a, p. 436). Neste aspecto, Clarice Lispector também está sintonizada com a linha do romance moderno. Como observa Mendilow (1972, p. 245), Os romancistas psicológicos modernos são constantes em suas tentativas de romper as abstrações intelectualizadas que nossas mentes interpuseram entre nós e a realidade, apreendendo as nossas impressões da vida em sua irrupção, antes que nossos conceitos possam trabalhá-las. Como “o presente é o locus da realidade”, [...] o único tempo que tem significado para um tal romancista é o presente. A despeito do trabalho de desconstrução dos preconceitos abstracionistas próprios da linguagem – e do pensamento –, é possível detectar na prosa clariceana um alto grau de abstracionismo decorrente da vocação filosófica e/ou mística do seu texto. Como já vimos em parte, as situações nos romances de Clarice Lispector são abstratas, “imprecisas quanto ao tempo e ao local, e desprovidas de contorno social e histórico” (NUNES, 1995, p. 113). Isto, que em parte mostramos na seção anterior deste capítulo, constitui, no juízo de Costa Lima (1986), o principal defeito de que a obra de Clarice Lispector se ressente. Em função de todas essas características, o texto clariceano adota uma feição mais próxima da poesia. Por exemplo, a fragmentação do discurso, sem nexos lógicos estáveis ou 291 demasiado definidos, que encontramos vários trechos romanescos escritos por Clarice Lispector, constitui traço fundamental do discurso lírico. Além disso, como aponta Käte Hamburger (1986, p. 179), enquanto no enunciado de realidade o objeto-de-enunciação é alvo, no discurso lírico, ele vira motivo. O objeto-de-enunciação último – ou verdadeiro – do discurso clariceano é o indizível, o impossível Real. Como a comunicação da intuição do Real nunca pode ser completa, só pode ser aproximativa, cria-se no texto da autora uma ambigüidade e uma obscuridade (esta comumente chamada de hermetismo) que também remetem ao domínio da poesia. O hibridismo genológico reserva uma nova função ao leitor, que deverá mais “adivinhar” (ALP, p. 53), ou “descortinar” (ME, p. 81), do que “conhecer” o que o autor quis lhe dizer, exatamente da mesma forma que as personagens e narradores de Clarice Lispector procuram adivinhar o sentido das suas próprias peripécias existenciais. Assim, a experiência de autoconhecimento e descoberta é transmitida ao leitor. Como aponta Merleau-Ponty (2002, p. 118), nisso consiste fazer da obra de arte um “órgão do espírito” semelhante ao pensamento filosófico ou político (quando este é produtivo): é que ela contém, melhor do que idéias, matrizes de idéias; ela nos fornece emblemas cujo sentido jamais acabaremos de desenvolver, e, justamente porque se instala e nos instala num mundo do qual não temos a chave, ela nos ensina a ver e nos faz pensar como nenhuma obra analítica pode fazê-lo, porque nenhuma análise pode descobrir num objeto outra coisa senão o que nele pusemos. O que há de arriscado na comunicação literária, o que há de ambíguo e irredutível à tese em todas as grandes obras de arte, não é um defeito provisório da literatura do qual se pudesse esperar livrá-la, é o preço que se deve pagar para ter uma linguagem conquistadora, que não se limite a enunciar o que já sabíamos, mas nos introduza a experiências estranhas, a perspectivas que nunca serão as nossas, e nos desfaça enfim de nossos preconceitos (MERLEAU-PONTY, 2002, pp. 118-119). Daí também a profunda vocação introspectiva do romance clariceano. Ao lidar com o incognoscível, como bem assinala Benedito Nunes: A via introspectiva, num grau paroxístico que leva ao paradoxo da linguagem, inverte-se, pois, na alienação da consciência de si. Pelo naufrágio da introspecção, a personagem desce às potências obscuras, perigosas e arriscadas do inconsciente, que não têm nome. Depois desse mergulho no 292 subsolo escatológico da ficção, nas águas dormidas do imaginário, comuns ao sonho, aos mitos e às lendas, a voz reconstruída de quem narra só poderá ser uma voz dubitativa, entregue à linguagem – aos poderes e à impotência da linguagem, distante e próxima do real, extralingüístico, indizível (NUNES, 1995, p. 168). Por conta dessa dificuldade de compreensão do que ela gostaria de comunicar (e não consegue totalmente), é que a escritora declara, em reiteradas ocasiões, a superioridade do silêncio (pleno, perfeito): “Sei que a mudez, se não diz nada, pelo menos não mente, enquanto as palavras dizem o que não quero dizer” (LISPECTOR, 1999a, p. 79); “E meu estômago se encheu de uma água de náusea. Não sei contar” (LISPECTOR, 1999a, p. 267). As personagens clariceanas (com exceção de Lucrécia) experimentam também essa sensação de impotência. O narrador de Perto do coração selvagem diz sobre Joana que “Tudo o que mais valia exatamente ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas. [...] O melhor era mesmo calar” (PCS, p. 14). Sobre o que seria isso que ela gostaria de comunicar, ou seja, sobre qual seria o assunto da sua obra, Clarice Lispector sintetiza: “De estar viva – senti – terei que fazer o meu motivo e tema” (LISPECTOR, 1999a, p. 205). Tema e motivo que são, por sua própria natureza, abertos. É ciente disso que a escritora sintetiza a sua relação com a escrita poética: “A minha insônia sou eu, é vivida, é o meu espanto. Eu não penso em escrever beleza, seria fácil. Eu escrevi espanto e o deixei inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério” (LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p. 81). Assim, ela permanece fiel ao seu escopo, por saber também que “é somente na plenitude da unidade das coisas, com a superação das ordens opositivas [como beleza e feiúra], que a original razão delas próprias explode – pelo encontro – em sublime realização” (ROSSONI, 2002, p. 55, grifo nosso). Justamente por não ter a pretensão de fechar o sentido, e pela dolorosa consciência do seu fracasso, é que a escritura de Clarice Lispector, nó borromeano, trará no seu bojo a proposta de certa ilogicidade, mas esta, como a que caracteriza o romance de espessura205 em geral, advém do funcionamento e da atuação do inconsciente sobre a vida humana, bem como das suas motivações ocultas e também incompreensíveis. 205 Em Histoire du roman moderne, R.M. Albérès afirma que no romance de espessura (em comparação com o romance policial, por exemplo, o enigma “mantém uma profundidade inacessível, que o comentário, a análise, as explicações dadas pelo autor não esgotarão jamais; uma rede de mistério destinada a permanecer inalterada, apenas ampliada talvez pela meditação na consciência do leitor” (ALBÉRÈS, 1962, p. 208). 293 Em suma, de acordo com tudo o exposto, o trabalho de Clarice Lispector sobre a escrita insere-se no movimento maior da escritura moderna: A tendência destas técnicas revolucionárias e mudanças de convenções [...] parecem [...] cair em dois estágios principais: primeiro, explorar até o fim todas as possibilidades oferecidas pelo medium e buscar, através da representação, a denotação quantitativa mais próxima do processo de viver; a seguir, experimentar efeitos extramediais derivados de outras artes por uma espécie de sinestesia em larga escala, e através do impressionismo, do simbolismo, da recombinação e recoordenação de palavras e grupos de palavras por meio de algo semelhante a uma liquefação da linguagem e, através de instrumentos técnicos e estruturais, variados, trabalhar para uma evocação qualitativa daquele processo (MENDILOW, 1972, p. 43) Ao lançar mão de todos esses recursos apontados por Mendilow, nos romances de Clarice Lispector, a forma – refletindo, aliás, as concepções da autora em um círculo perfeito – constitui-se na própria significação que a autora persegue sem descanso. Já em nossa dissertação de mestrado, a partir dos textos que Clarice escreveu para o jornal, pudemos achar algumas das marcas que caracterizam a sua escrita, como, por exemplo, o uso de alguns recursos poéticos típicos, como aliterações e onomatopéias; um uso particular da sintaxe e da pontuação; o uso reiterado da repetição; a utilização sistemática de contrastes, paradoxos, antíteses e oxímoros. Agora confirmaremos e ampliaremos a identificação dessas primeiras marcas e de outras a partir da leitura e da riqueza de possibilidades que oferecem os seus romances, apontando também para a necessidade e a profunda motivação de cada uma delas. O primeiro traço profundamente motivado da escritura clariceana é a flexibilidade formal do seu romance, que acolhe quase todos os gêneros e subgêneros conhecidos. No ensaio de Carlos Mendes Sousa a que já fizemos referência, o crítico português sugere uma íntima relação entre a estrangeiridade de Clarice Lispector – inclusive dentro da língua portuguesa, em função do iídiche materno e das muitas línguas pelas quais transitou na sua vida de tradutora e esposa de diplomata – e o fato de ela não respeitar fronteiras rígidas de gênero: Nesse estar não estando, o seu mergulho cego é na língua. Não mental, mas anímico. As fronteiras, que servem os territórios, impõem categorizações, distinções genológicas ou conceptuais. No universo lispectoriano, a heterogeneidade, a descontinuidade e a instabilidade conduzem-nos a um espaço do “entre”. Genologicamente, a obra impõe-se por se situar entre a ficção, o ensaio e o poema. Digamos, que, paradoxalmente, se pode falar de uma imobilidade em trânsito (SOUSA, 2004, p. 146). 294 Em Zen e a poética auto-reflexiva de Clarice Lispector, Igor Rossoni mostra como se dá o entrecruzamento, no texto da autora, entre vida e arte. A autora aciona um agente “transgressor de limites” (ROSSONI, 2002, p. 41), em virtude do qual “a realidade exterior pode ser remetida ao interior da ficção, refletindo especularmente nas ações e reações dos personagens, antes de retornarem ao âmbito da exterioridade pelo experimento da própria escritora” (Ib., p. 41). Isso fica especialmente manifesto na prática à que já fizemos referência de reaproveitamento e inserção de textos em diferentes contextos narrativos por parte da autora, mas também se faz patente em muitas passagens onde é possível identificar, no mundo de não-realidade dos romances, atitudes, hábitos, experiências ou dados biográficos de Clarice Lispector (alguns deles também apontados anteriormente neste trabalho). Conclui Rossoni que “Toda essa movimentação de forças acaba por sugerir a ruptura de um esquema canônico – dúplice e estático – que posiciona em extremos opostos realidade vivencial e ficção, para revolucioná-lo numa relação isenta de quantificação opositiva, superadora de limites dualísticos, caracterizada então apenas por sua dinamicidade” (ROSSONI, 2002, p. 41). No que se refere ao domínio do poema, em sua crítica a Perto do coração selvagem, Álvaro Lins apontava como um defeito do romance o que ele via como um apelo de Clarice Lispector para os recursos da poesia quando lhe faltam os recursos da estruturação ficcionista. O romance lírico, porém, não se faz com o lirismo da poesia, e, sim, com o lirismo da ficção.[...] A primeira parte de Perto do coração selvagem [...] está construída em termos de ficção, mas na segunda as situações se tornam às vezes indistintas ou mesmo vagas. [...] o espírito do romance começa a desgastar-se de modo irremediável (LINS, 1963, p. 190). É evidente que Álvaro Lins está associando aqui ficção e romance à função narrativa, em uma ótica tradicional do romance, apesar de ter classificado a obra de Clarice Lispector como moderna. Isso implica uma contradição na crítica de Lins, porquanto, justamente, o romance moderno tende a romper com as separações rígidas dos gêneros, levando ao paroxismo a vocação característica do romance para a flexibilização formal. 295 Cabe aqui fazer uma pequena referência a A cidade sitiada. Pela pequena poética que encontramos no romance206, ele poderia ser associado aos objetivos visados pelo novo romance francês, no sentido de que nele “o mundo real permanece [...] feito da comum massa humana, mas é visto segundo as leis de uma geometria insólita. Às vezes, pode ser parente da arte dita ‘fantástica’; às vezes também, da arte ‘barroca’ – profusão de ornamentos, desordem das perspectivas, jogo perpétuo do real e da ilusão” (ALBÉRÈS, 1962, p. 422, grifos do autor, tradução nossa207). No entanto, em A cidade sitiada, ao contrário do que acontece no novo romance (ALBÉRÈS, 1962, pp. 338, 416-417), a narrativa superficial segue uma lógica e a narração está longe de ser a expressão do “mana [...] de uma tribo ou grupo” (ALBÉRÈS, 1962, p. 419, tradução nossa), ou a voz de uma comunidade. Por isso, como já antecipamos, continuamos a considerar o romance, mais como um duplo do romance clariceano ou como uma paródia do romance tradicional. Hélène Cixous (1995) entende o que Clarice faz como filosofia poética ou poesia filosófica e Benedito Nunes (1995, p. 142), como “prosa [...] medularmente poética”. Em nosso trabalho, consideramos a prosa poética como técnica emprestada a um gênero diferente: [...] da mesma forma que a prosa da narrativa poética recebe tanto limites como regras formais, ela não pode significar o que quer que seja. Ela parece recusar a História e seu conteúdo social consciente é frágil: não se vence o Poder com uma rosa. Em contrapartida, o acordo com a Natureza e o intemporal implica que a narrativa poética se aproxime dos mitos. Um sentido obscuro, polivalente e submetido, como todos os níveis de expressão deste gênero literário, ao princípio da ambigüidade, revela-se e oculta-se ao mesmo tempo em seu desdobramento. Não há mesmo muito mais, ao longo de todo o desenrolar da narração, que a história de uma experiência e de uma revelação (TADIÈ, 1994, p. 11, tradução nossa 208). 206 À maneira indireta e oblíqua própria deste romance, Clarice Lispector introduz em A cidade sitiada o que pode ser lido como o projeto da obra: “Depois que guardou os pratos enxutos é que se iniciou a verdadeira história desta tarde. História que poderia ser vista de modos tão diversos que a melhor maneira de não errar seria a de apenas enumerar os passos da moça e vê-la agindo assim como apenas se diria: cidade. [...] Era um novo modo de ver; límpido, indubitável. Lucrécia Neves espiou uma laranja no prato. [...] O olhar não era descritivo, eram descritivas as posições das coisas. Não, o que estava no quintal não era ornamento. Alguma coisa desconhecida tomara por um instante a forma desta posição. Tudo isso constituía o sistema de defesa da cidade. As coisas pareciam só desejar: aparecer – e nada mais. ‘Eu vejo’ – era apenas o que se podia dizer” (CS, pp. 8687, grifo da autora). 207 Le monde réel reste [...] fait de la commune pâte humaine, mais il est vu selos les lois d’une géometrie insolite. Elle peut être parente parfois de l’art dit “fantastique”, parfois aussi, de l’art “baroque” – profusion d’ornements, dérangement des perspectives, jeu perpétuel du réel et de l’illusion [...]. 208 [...] de même que la prose du récit poétique reçoit des limites et comme des règles formelles, de même elle ne peut signifier n’importe quoi. Elle semble refuser l’Histoire et son contenu social conscient est faible : on ne bat pas le Pouvoir avec une rose. En revanche, l’accord avec la Nature et l’intemporel entraîne que le récit poétique se rapproche des mythes. Un sens obscur, polyvalent et soumis, comme tous les nivaux d’expression de ce genre littéraire, au principe d’ambiguïté, se livre et se dérobe à la fois dans son dénouement. Il n’est même guère autre chose, tout au long du déroulement de la narration, que l’histoire d’une expérience et d’une révélation. 296 A narrativa poética enquanto técnica aparece já em Perto do coração selvagem. Quando o homem ajuda Joana a pensar o que ela fazia no domingo na praça, ela se perde em uma narrativa poética (onde a repetição ao serviço da musicalidade e da sugestão e a falta de nexos lógicos são ostensivos); o homem reclama por ela ter contado uma história diferente da anterior (que já contara) e, então, ela explica: “É que estou apenas contando o que vi e não o que vejo. Não sei repetir, só sei uma vez as coisas” (PCS, p. 181). Assim, ela fundamenta o uso da linguagem poética como uma linguagem de criação e, portanto, como a linguagem do tempo. O homem estimula seu exercício de criação e pede a ela que invente palavras. Nessa prática, que também será a de Ângela Pralini em Um sopro de vida, Joana se realiza. Por outro lado, o caráter profundamente filosófico e místico da escrita clariceana determina que encontremos passagens, em todos os romances, de nítido teor ensaístico, alguns já citados no nosso trabalho. Esses pequenos ensaios encaixados nos romances podem estar a cargo de narradores ou personagens (veremos a seguir como a determinação da voz pode ser dificultosa) independente, no caso dos últimos, de idade, condição social e cultural, grau de inteligência ou sensibilidade. Comecemos com o professor de Joana, cuja fala ensaística, endereçada à aluna púbere, remete-nos basicamente ao discurso psicanalítico: – Afinal nessa busca de prazer está resumida a vida animal. A vida humana é mais complexa: resume-se na busca do prazer, no seu temor, e sobretudo na insatisfação dos intervalos. É um pouco simplista o que estou falando, mas não importa por enquanto. Compreende? Toda ânsia é busca de prazer. Todo remorso, piedade, bondade, é o seu temor. Todo o desespero e as buscas de outros caminhos são a insatisfação. [...] – Quem se recusa o prazer, quem se faz de monge, em qualquer sentido, é porque tem uma capacidade enorme para o prazer, uma capacidade perigosa – daí um temor maior ainda. Só quem guarda as armas a chave é quem receia atirar sobre todos (PCS, p. 55). Otávio escreve um ensaio em torno de uma idéia que define a sua posição no mundo: “Começou. ‘A tragédia moderna é a procura vã de adaptação do homem ao estado de coisas que ele criou” (PCS, p. 129). As reflexões da personagem em torno da filosofia de Spinoza (PCS, pp. 130-131) podem muito bem representar um exercício mental da própria autora Clarice Lispector, devido à sintonia que é possível detectar, em linhas muito gerais, entre as 297 idéias do filósofo holandês e o conceito de Unidade de Clarice Lispector, conceito de um Deus liberto das religiões. Mais interessante do que constatar essa coincidência entre Otávio e Clarice é observar a justificativa que a personagem dá para o que Costa Lima chamaria seu “palavreado intelectualizante” (COSTA LIMA, 1986, p. 529): Parou, releu. Não sair desse mundo, pensou com certo ardor. Não ter que enfrentar o resto. Só pensar, só pensar e ir escrevendo. Que exigissem dele artigos sobre Spinoza, mas que não fosse obrigado a advogar, a olhar e a lidar com aquelas pessoas afrontosamente humanas, desfilando, expondo-se sem vergonha (PCS, p. 130). A despeito disso, muitas vezes, nos romances da autora, sentimos certo grau de inverossimilhança em fragmentos onde são vazadas considerações e reflexões desmesuradamente elaboradas em relação à voz que as profere. Na seguinte passagem de Perto do coração selvagem, por exemplo, Joana é ainda uma menina: O que acontecesse contaria a si própria. Mesmo ninguém entenderia: ela pensava uma coisa e depois não sabia contar igual. Sobretudo nisso de pensar tudo era impossível. Por exemplo, às vezes tinha uma idéia e surpreendida refletia: por que não pensei nisto antes? [...] Uma coisa que se pensava não existia antes de se pensar. Por exemplo, assim: a marca dos dedos de Gustavo. Isso não vivia antes de se dizer: a marca dos dedos de Gustavo... O que se pensava passava a ser pensado. Mais ainda: nem todas as coisas que se pensam passam a existir daí em diante... Porque se eu digo: titia almoça com titio, eu não faço nada viver. [...] “Tudo, tudo.” Foi então que começou a mentir. – Ela era uma pessoa que já começara, pois. Tudo isso era impossível de explicar, como aquela palavra “nunca”, nem masculina nem feminina. Mas mesmo assim ela não sabia quando dizer “sim”? Sabia. Oh, ela sabia cada vez mais. Por exemplo, o mar. O mar era muito (PCS, pp. 41-42). No entanto, como é possível ver neste fragmento, o narrador toma muitas vezes a palavra ao final do ensaio para dizer que tudo isso era apenas pressentido pela personagem (mediante aquele saber anterior ao pensamento racional), não podendo, ela, chegar a formulálo sequer em pensamento. Dessa forma, a questão da inverossimilhança fica parcialmente resolvida, mas a ambigüidade é mantida por Clarice Lispector de romance para romance, em que esse recurso se repete sistematicamente. 298 Em um momento posterior no tempo narrativo da mesma obra, e imediatamente após concluir a tentativa de ensaio a que já fizemos referência, Otávio encontra uma frase de Joana, mais poética, que o amedronta: “A beleza das palavras: natureza abstrata de Deus. É como ouvir Bach” (PCS, p. 132). O poder de síntese da poesia em contraste evidente com todo o seu raciocínio lógico desenvolvido envergonha Otávio. Depara-se de chofre com a criação e a liberdade (liberdade da criação), tão afastadas da reprodução e da ordem das que ele tanto precisa, o que produz uma espécie de choque. Apesar dessa sobrevalorização da linguagem poética sobre o raciocínio lógico (condizente com a visão do mundo de Clarice Lispector), não concordamos com a colocação de Olga de Sá quanto a que Os problemas gerais da linguagem, da arte, da existência e da morte provocam “digressões” na escritura de Clarice Lispector, retardam a narrativa e são responsáveis por aquele caráter ensaístico, que alguns críticos lhe censuram. Como se pode censurar o mesmo à própria vida, quando o homem se distrai, refletindo. Nunca porém, tanto quanto podemos lembrar, essas digressões se caricaturam em dissertações ou assumem uma forma discursiva. Clarice jamais prega alguma coisa, jamais tenta ganhar o leitor para uma causa. Apenas enuncia. Sua enunciação, pontuada de comparações, de “como se”, alonga-se numa tentativa sempre recomeçada de atingir uma expressão à altura de sua percepção do mundo, ou melhor, à altura de sua cosmovisão singular e diferenciada (SÁ, 1993, pp. 94-95, grifo da autora). Em função de tudo o exposto no presente estudo, podemos abonar o caráter parcialmente inconsciente de muitos achados da escrita clariceana, mas certamente não há como sustentar a hipótese da inocência da sua escritura. Como nos ensina Wayne Booth (1980), intercalar em uma obra literária qualquer tipo de discurso ensaístico – filosófico, místico ou da classe que for – constitui um recurso retórico que pode ser mais ou menos direto, mas sempre dirigido ao leitor no sentido de persuadi-lo e guiar a sua leitura para a obtenção de um determinado efeito visado pela obra. Uma forma com a que dialoga O lustre – e também A hora da estrela, como veremos depois – é o folhetim, narrativa melodramática por excelência. Isso se faz notar sobretudo no tom de presságio e azar que acompanha toda a trajetória de Virgínia, heroína aparentemente esmagada pelas peripécias de um destino marcado já na infância. Por isso, a autora lamenta: “Nada ali presta realmente. Minha dificuldade é que eu só tenho defeitos, de modo que tirando os defeitos quase que resta Jornal das Moças” (LISPECTOR apud GOTLIB, 1995, p. 203). 299 Resulta ilustrativo citar aqui duas colocações a respeito de A paixão segundo G.H. que sintetizam e delimitam a problemática que supõe, para a crítica literária, o entrecruzamento de gêneros proposto pelo texto clariceano. Diz Lícia Manzo que De fato, em A Paixão Segundo G.H., Clarice constrói uma obra que, em sua essência, não é outra coisa senão uma inesgotável batalha travada contra o pensamento “racional”, contra as amarras do discurso lógico e obrigatoriamente dotado de “sentido”. Com seu livro Clarice estava abrindo caminho para uma liberdade criativa que desobrigasse toda e qualquer obra não só de poder ser lida como “ficção” ou “não-ficção”, mas até mesmo de poder ser catalogada como “literatura” (MANZO, 2001, p. 75). Porém, como alerta Benedito Nunes (1989, p. 277), “muito menos aceitável seria incluir esse romance no rol dos escritos propriamente místicos, isto é, entre as obras espirituais de finalidade edificante ou anagógica, com as quais, entretanto, apresenta estreito parentesco quanto a imagens, metáforas e figuras utilizadas para descrever e interpretar o transe”. Estas considerações podem ser perfeitamente estendidas a todos os romances de Clarice Lispector que analisamos até aqui. O caráter aforístico da prosa clariceana – um claro recurso retórico – também contribui para que a sua obra seja lida no sentido apontado por Nunes. Os aforismos aparecem constantemente, mais ou menos dissimulados no tecido narrativo: “Confusamente, porque a morte lhe parecia um ato de vida, a morte na velhice era um fresco fruto extemporâneo e um súbito revivescimento” (L, p. 220); “A vida, meu amor, é uma grande sedução onde tudo o que existe se seduz” (PSGH, p. 61). Transcrevendo os principais pontos do artigo de Fernando G. Reis sobre Clarice Lispector (1968), Olga de Sá resgata: O estilo de Clarice Lispector é um fenômeno orgânico: alimenta-se da natureza mesma da obra que está criando. Para ela, não só a realidade seria intraduzível de outra forma, como a própria percepção é intrínseca à realidade percebida. “Esse modo instável de pegar uma maçã no escuro sem que ela caia” não é só a verdade a que chega Martim, mas a própria realidade do esforço artístico da escritora (SÁ, 1993, p. 63). 300 Focaremos agora alguns recursos típicos da escritura clariceana a fim de mostrar como se consuma esse esforço artístico. Apesar de nossa autora (LISPECTOR, 1999a, p. 352) – também coerentemente com sua recusa a circunscrever o seu fazer literário ou a sua vida a quaisquer categorizações – negar a construção no seu texto de uma sintaxe particular (atente-se também para a primeira epígrafe desta seção), é fácil detectar alguns traços que caracterizam um uso diferenciado da sintaxe. Em carta endereçada à então menina Andréa de Azulay, Clarice aconselhava: Não descuide da pontuação. Pontuação é a respiração da frase. Uma vírgula pode cortar o fôlego. É melhor não abusar de vírgulas. O ponto de interrogação e o de exclamação use-os quando precisar: são válidos. Cuidado com reticências: só as empregue em caso raro. Como depois de um suspiro. Quanto ao ponto e vírgula, ele é um osso atravessado na garganta da frase. [...] O travessão é muito bom para a gente se apoiar nele (LISPECTOR, 2002, pp. 292-293). Não é difícil constatar, no texto clariceano, como a autora seguia os seus próprios conselhos. Em O drama da linguagem, Benedito Nunes chama a atenção, no estilo de Clarice Lispector, para a “entonação patética que os freqüentes registros interjetivos da frase – como apóstrofes, exclamações e interrogações acentuam” (NUNES, 1995, pp. 135-136). A autora realmente não hesitava em se servir de pontos de interrogação ou exclamação quando o considerava necessário. Os exemplos são inúmeros em sua prosa. Eis aqui apenas uns poucos: “Na manhã seguinte uma folha despregou-se de uma árvore alta e durante enormes minutos planou no ar até repousar na terra. Virgínia não compreendia donde vinha a doçura: o chão era negro e coberto de folhas secas, donde vinha então a doçura?” (L, p. 39); “Olhava-se ao espelho [...] Ela se agradava [...] Como sou linda, disse. Quem me compra? quem me compra? – fazia um ligeiro muxoxo ao espelho – quem me compra: ágil, engraçada [...]” (L, p. 74); “Como perturbava a leveza. Ela era tão feliz. Viver uma vez era sempre, sempre. Só que não se orgulhava e isso valia como estar solitária, sem compartilhar-se com o mundo – era preciso orgulhar-se, estabelecer a vitória e a piedade. Como era incompleto viver! Gritouse agudamente [...]” (L, p. 299). Resulta bastante evidente que a interrogação – e também a exclamação, em boa medida – é a forma da hesitação intrínseca à busca da escritura da autora ou, então, à angústia que a busca existencial da personagem suscita nela. Dúvida diferente da cartesiana que 301 poderíamos formular mais o menos nos seguintes termos: “Vivo, logo duvido das falácias do cogito”. Por exemplo, pergunta o narrador de A maçã no escuro: “Entre o homem e a sua própria nudez haveria algum passo possível a ser dado? Mas se fosse possível – havia ainda a estranha resistência que ele opunha. Pois nele acabara de se acordar esse susto interior de que uma pessoa é feita” (ME, p. 172). Do uso do travessão como apoio da frase também abundam os exemplos, mas o travessão também é usado para assinalar o limite do discurso. O exemplo mais evidente é o seu uso em A paixão segundo G.H., não apenas para abrir e encerrar a narrativa (não fechando-a), mas em momentos culminantes do romance, que a protagonista não consegue narrar, como quando, em um impulso, mata a barata: Sem nenhum pudor, comovida com minha entrega ao que é o mal, sem nenhum pudor, comovida, grata, pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era – só que desconhecer-me não me impediria mais, a verdade já me ultrapassara: levantei a mão como para um juramento, e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata – – – – – – – – – – – – – – – (PSGH, p. 53). Ou, então, para dar vazão a uma emoção, como na seguinte passagem colhida de O lustre: Eles queriam entender-se bem com a velha, procuravam pontos de contato, falavam apenas de coisas das quais todos três gostariam e a mulher com um prazer excitado balançava muitas vezes a cabeça, ouvindo, assentindo enquanto eles falavam, ela ria deixando ver os dentes quebrados – mas por Deus, depressa, depressa, de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, de alguém que nascera e que ia morrer (L, p. 291). Cabe ressaltar também o uso recorrente de construções paratáticas mais ou menos prolongadas que, nem sempre, unem frases com o mesmo valor sintático. Ou, então, cujo significado é oposto ou contraditório. Esse é mais um recurso para marcar a arbitrariedade da separação conceitual, enfatizando, em seu lugar, a unidade do Ser. Por exemplo: “Estava alegre nesse dia, bonita também. Um pouco de febre também” (PCS, p. 19). E não há dúvidas: Clarice não abusa de vírgulas. No seu lugar, prefere a conjunção “e”, como nos casos a seguir: 302 O homem estacou boquiaberto. [...] Da primeira vez a frase soara como uma frase entre outras – enquanto bondes se arrastavam e o rádio ininterrupto tocava e a mulher sem cessar ouvia o rádio com desfastio e esperança, e ele um dia quebrara o rádio enquanto os bondes se arrastavam, e no entanto o rádio e a mulher nada tinham a ver com a minuciosa raiva de um homem que provavelmente já tinha em si o fato de que um dia teria que começar pelo exato começo, ele que agora começava pelo domingo (ME, p. 30). Como veremos mais adiante, este recurso relaciona-se com a lógica inclusiva proposta pelo discurso clariceano e também pode associar-se a outros recursos estéticos. Por exemplo, com a aliteração: “Lembrei-me de ti, quando beijara teu rosto de homem [...] o que mais me havia ligado em susto de amor, fora, no fundo do fundo do sal, tua substância insossa e inocente e infantil [...]” (PSGH, p. 89). As parataxes e hipotaxes (também freqüentes) são sistematicamente truncadas, o que opera um retardamento da leitura, levando para o nível textual o mesmo efeito de titubeação própria de quem está elaborando um pensamento difícil na busca da expressão de uma verdade oculta: “Será que todos sabem o que eu sei? refletia Virginia. Porque ela acabara de pensar quase com certeza, sem sobressalto, no morrer” (L, p. 35); “Ela fazia perguntas com atenção e nunca ouvia as respostas. Mas preferia cansar-se a deixar acontecerem as distrações” (L, p. 131); “Movia-se devagar hesitando como se seus pensamentos fossem sempre interrompidos por novas idéias e ela restasse muda e confusa – mas seu rosto era de surpresa e bondade” (L, p. 143); Em A cidade sitiada, “Lucrécia Neves meteu a cabeça na frescura da carvoaria; [...] Que realidade, via a moça. Cada coisa. [...] Cada coisa. Mas de repente, no silêncio do sol, uma parelha de cavalos desembocou de uma esquina. Por um momento imobilizou-se de patas erguidas. Fulgurando nas bocas” (CS, pp. 14-15). Enfim, os desvios sintáticos se multiplicam no texto clariceano, sendo impossível – e tal vez enfadonho e inútil – mencionar todos aqui. Será novamente Benedito Nunes quem explicará um dos mais notórios: o “regime reflexivo forçado” dos verbos “ser”, “existir” ou “olhar”, cujo uso é freqüente em A paixão segundo G.H.: A diferença entre sujeito e objeto reaparece interiormente como desdobramento do eu num ele, que exerce a ação de existir. Nem G.H. nem a a barata existem simplesmente ou apenas coexistem; uma é para si mesma aquilo que se espelha no olhar da outra. O eu não se relaciona com um tu, mas com um ele que também é. Ação e paixão do sujeito, que se torna 303 agente e paciente, a sua existência é a existência do outro que ele já é em si mesmo (NUNES, 1995, p. 73, grifos do autor). Esse recurso reaparecerá no final de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres: “Nunca me sei como agora, sentia Lóri. Era um saber sem piedade nem alegria nem acusação, era uma constatação intraduzível em sentimentos separados unos dos outros e por isso sem nomes. [...] Eu me sei assim como a larva se transmuta em crisálida: esta é minha vida entre vegetal e animal” (ALP, pp. 171-172). A sintaxe e a pontuação estão, no texto clariceano, a serviço do deslizamento do significante (e do sentido) que caracteriza e mesmo define o seu texto como tal, em contraposição à proeminência da função referencial (e fixa) do significante da palavra cotidiana ou do discurso científico. Por isso, por exemplo, Flávia Trocoli Xavier da Silva pode conceber “A maçã no escuro como o lugar da realização do movimento oscilatório entre encobrimento e des-cobrimento. [...] Movimento tal que se dissemina na alternância entre o banal do cotidiano e o êxtase epifânico, o poético e o clichê, na coerência das personagens, nas suas ações e meditações e no próprio narrar” (SILVA, 2000, p. 118). Vejamos dois exemplos desse fenômeno no romance citado por Silva. No primeiro, o contraste entre a banalidade da situação descrita e a transcendência do gesto do homem: [...] além de tentar se limpar por mera questão de decência, o homem não pareceu ter a menor intenção de fazer alguma coisa com o fato de existir. Estava era sentado na pedra. Também não pretendia ter o menor pensamento sobre o sol. Era nisso pois que dava a liberdade. Seu corpo grunhiu com prazer, o terno de lã lhe dava pruridos no calor. A ilimitada liberdade o deixara vazio, cada gesto seu repercutia como palmas na distância: quando ele se coçou, esse gesto rolou diretamente para o Deus (ME, p. 27) No segundo, o gradual desvendamento de uma outra face que incomoda e desestabiliza Martim (e o leitor?) na personagem Vitória: Sob pequenos pretextos Martim rondou a casa, procurou inutilmente Vitória: esta era o único elemento de que ele dispunha para calcular. Até que, quando cabisbaixo desistira de encontrá-la, viu-a de novo. Mas como a uma estranha. Ela vinha do fundo do corredor, contra a luz. Ele não 304 viu propriamente seu corpo mas apenas seu andar, como se visse apenas o espírito do corpo. [...] Pela primeira vez ele a viu com vestido de mulher e ela era uma estranha. Não havia dureza que se sustentasse com as mechas úmidas nos ombros. Olhando-a pela primeira vez sob o ponto de vista do corpo, ela ganhou aos seus olhos um corpo. Que já não era enérgico como ele sempre vira, e cuja força dera ao homem um motivo de obscuramente lutar contra essa força. Era um corpo tão mais dócil que a cara. Escandalizado, sentido, Martim a olhou: era indecente como as roupas femininas a desnudavam como se uma velha revelasse ânsias de menina. Com pudor, ele desviou os olhos. Assim como Ermelinda se negara, Vitória – que lhe servira antes de firme contorno – recusava-se agora a lhe dar uma forma, e deixava-o livre (ME, pp. 200-201). Os recursos que o texto clariceano pede de empréstimo à poesia ou à narrativa poética são numerosos e o seu uso também não é gratuito. Detenhamo-nos em alguns deles. A proposta de volta à percepção primordial em um movimento voluntário de transcendência e superação dos hábitos de percepção impostos pelo pensamento (no qual a representação sempre opera como mediadora) e o abandono dos automatismos, reflete-se no nível da escritura também pelo uso e combinação incomuns de termos. Por exemplo, em Perto do coração selvagem, a menina Joana, antes de dormir, no final de um dia em que “comera galinha assada” (PCS, p. 27), anima-se pensando: “amanhã, amanhã bem cedo ver as galinhas vivas” (PCS, p. 29). Isso porque ela ainda não adquiriu o hábito automático de associar galinhas vivas (e, assim, omitir o adjetivo) ao pensar em “galinheiro”. Ela vê, a cada dia, como se fosse pela primeira vez. O espanto perante a vida é o motivo que mais se repete talvez nos romances de Clarice Lispector. Virgínia, observando Daniel, também constata que “ele estava vivo. Ele estava vivo” (L, p. 106). E G.H. reconhece “essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que [...] havia domesticado para torná-lo familiar” (PSGH, p. 18). Por outro lado, a escritura clariceana, pautada pela repetição, desenvolve-se básicamente em torno a dois eixos: analogia (metáforas e comparações) e contraste (oxímoros e antíteses). A metáfora desempenha, na escrita de Clarice Lispector, uma função diferente à da metáfora cardosiana. As mais das vezes, essa figura está a serviço da aproximação – em virtude da impossibilidade da expressão – daquela realidade mais sutil e inapreensível – a coisa, “o fundo” (L, p. 136). Gilda de Mello e Souza salienta o uso da metáfora como tentativa da autora de captar o que continuamente foge no instante fugidio que norteia a narrativa de A maçã no escuro: “A cada obstáculo [Clarice Lispector] opõe um novo exemplo, 305 uma nova metáfora, uma diversa astúcia verbal, dissimulando em cada canto de sua prosa uma armadilha, onde essa caçadora de colibris tenta aprisionar o que há de mais arisco e impreciso” (SOUZA, 1980, p. 82). “Feliz e assustada” (ME, p. 234) ao experimentar uma espécie de desejo mórbido por Martim, Vitória só conseguiria entender o que se passava com ela se chamasse de pesadelo. Pois tinha que ser um pesadelo estar sozinha com aquele sentimento quente de viver que ninguém pode utilizar. Deus, que por pura bondade, considerara este sentimento pecado. Para que ninguém ousasse e ninguém sofresse a verdade. Sozinha com o quente sentimento de viver. Como uma rosa cuja graça não se pode aproveitar. Como um rio que é apenas para se ouvir o seu murmúrio. Sentimento quente que a mulher não poderia traduzir por nenhum movimento ou pensamento. Inútil mas vivo. Imponderável mas vivo como uma mancha de sangue na cama. Ali estava ela como uma mancha de sangue no escuro (ME, pp. 234-235). Como assinala José Américo Pessanha, “Se há tamanha força nas imagens de Clarice Lispector é porque exatamente elas nada têm de construção, de artefato, de artifício. E, de tal modo, que nelas o que contunde é o prosaísmo, a não-grandiloqüência, a força não exibida. Elas apenas mostram o que está aí para quem tiver olhos de ver” (PESSANHA, 1996, p. 316), Assim, por exemplo, escreve a autora que “A barata é um tamanho escuro andando” (PSGH, p. 113) ou que “[...] a subida mais escarpada, e mais à mercê dos ventos, era sorrir de alegria” (ALP, p. 137). Acrescenta o crítico que se o jogo das imagens surpreende pelo inesperado é porque nada tem com as associações habituais, feitas de entorpecida razão comum, de debilitada proporcionalidade entre os termos, de superficial e gasta analogia. [...] A lógica das imagens remonta à agudeza do processo gnosiológico em que elas foram produzidas [...] (PESSANHA, 1996, pp. 316-317). Assim é quando G.H. afirma: “Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez” (PSGH, p. 20). 306 A comparação funciona muitas vezes, no texto clariceano, como uma espécie de metáfora in praesentia: “A tia sempre fazia biscoitos grandes. Mas sem sal. Como uma pessoa de preto olhando pelo bonde” (PCS, pp. 42-43). Também é comum que o termo “como” seja utilizado para introduzir reflexões dúbias, que não encontram firmeza, revelando a hesitação que caracteriza o pensamento e a escrita clariceanas: “A recuperação da arbitrariedade dos signos, a instabilidade sintática acentuada como uma profusão de “como se” e “como que”, o tempo como devir, todos esses elementos garantem ao texto clariceano um movimento oscilatório permanente e fluido” (SILVA, 2000, p. 100). Em uma de suas tantas meditações (espécies de estados de graça), sentada, Virgínia, “numa apreensão de doçura, vibrava aridamente na imobilidade caprichosa e histérica. Até que se rompia a corda mais tensa, como que uma presença abandonava seu corpo e ela restava aquém de seu próprio existir comum” (L, p. 50). Adormecida e um pouco inebriada após uma festa, “em breve ela desmanchava os lençóis da cama, abria os lábios dizendo um nome cheio de macieza e escuridão: vicente. As flores estremeciam vívidas nas trevas. Como se ela se dissolvesse e mergulhasse na própria matéria dissolvida [...]” (L, p. 125). Quem sintetiza o significado profundo do uso da metáfora por Clarice Lispector é Haroldo de Campos, em prefácio ao primeiro estudo de Olga de Sá sobre a autora: A literatura praticada por Clarice Lispector não é, propriamente, da índole do que caberia designar, prima facie, como uma literatura “do significante” [...]. É antes uma “literatura do significado”, mas levada á sua fronteira extrema, à tensão conflitual com um referente volátil, a figuras de indizibilidade, e mobilizando para tanto todo um sistema de equações metafóricas (terceiridade, hipo-ícones terceiros), instaurado a contrapelo do discurso lógico, mediante o qual são aproximadas ou contrastadas as regiões mais surpreedentes e imponderáveis do plano do conteúdo. Com seus traços simbolóides, a metáfora, peirceanamente falando, está próxima do vértice semiótico da arbitrariedade, da livre convenção, vale dizer, do símbolo: pode aproximar tudo de tudo; com seus resíduos miméticos, de primeiridade (cujo operador gramatical mínimo é a partícula comparativa como), ela pode impor ao arbitrário a aparência de necessidade, de similaridade, de solidariedade icônica. Clarice, congenialmente, no seu “escrever com o corpo”, na sua resistência o dizer e ao dito (aos ditames do Logos instituído), tira partido dessa natureza ambígua do metafórico, através de um uso particular e aliciante de símiles de impacto imediato, unidades semânticas devolvidas ao estado abrupto, “ressensibilizadas”, apanhadas em conjunção estranhante, “desautomatizadora” (CAMPOS, In SÁ, 1993, pp. 15-16) 307 Estas considerações de Haroldo de Campos nos remetem imediatamente às reflexões de Mikel Dufrenne em torno da universalidade do ser poético que solicita o poeta e o faz ouvir, “sob a tagarelice das coisas que falam de suas propriedades ou virtudes, essa voz da Natureza que não diz nada além dela mesma” (DUFRENNE, 1969, p. 229). Acrescenta o filósofo: Cada definição nominal está sobre o fundo da definição real. E é a poesia que primeiramente nos dá a certeza disto. Aliás, fá-lo de maneira paradoxal, pois cauciona a definição lexical ao recusar-se aparentemente a observar o uso ao qual essa definição se refere. Assim, chama um promontório de pastor, uma mulher de rosa ou céu. Faz isto precisamente para manter-se fiel ao real, mais do que ao uso, para fazer aparecer esse real ao qual a linguagem adere sob pena de anular-se, pois o real empresta-se a ela (Ib., 1969, pp. 238-239). É também por captar desde o início a profunda vocação do romance de Clarice Lispector que Antônio Cândido propôs a designação de “romances de aproximação” (CÂNDIDO, 1970, pp. 128-129) para obras que, sem recorrer mais ao antigo método da análise, à maneira de Perto do coração selvagem, fossem “uma tentativa de esclarecimento [da alma, das paixões] através da identificação do escritor com o problema, mais do que uma relação bilateral de sujeito-objeto” (Ib., p. 129). Desta forma, como mostra Olga de Sá (1999, p. 74), retomando artigo de Haroldo de Campos sobre a autora, a escrita de Clarice transforma-se em uma espécie de linguagem inaugural, icônica, baseada, não mais na pretensão de identidade do significante e do significado (x é x), mas apoiada (e reivindicando) no valor do símile (x é como y) como categoria gnosiológica. Com o mesmo propósito desconstrutor das categorias lógicas é que serão utilizados os paradoxos, oximoros e contrastes na obra da autora de A paixão segundo G.H. Como lembra James McFarlane em “O espírito do modernismo”, “a noção da reconciliação entre os opostos é, em si, pelo menos tão antiga quanto Heráclito” (McFARLANE, 1989, p. 68). A despeito disso, o crítico vai mostrando as diferentes contribuições que as épocas foram acrescentando àquela noção básica. No que concerne ao modernismo, ele salienta os conceitos trazidos (ou resgatados) por Freud e Jung de ambivalência e de enantiodromia respectivamente (Ib., p. 66). Por último, ele menciona uma 308 tendência modernista aparentemente contraditória que resulta especialmente interessante para nosso trabalho. Junto com o reconhecimento da validade de uma síntese hegeliana, mecanicista, largamente racional, uma unidade superior que preserva a essência dos dois elementos conflitantes, ao mesmo tempo destruindo-os enquanto entidades separadas [...], o espírito modernista também parece querer aceitar, em relação a essa síntese, a rejeição “intuitiva” de Kierkegaard [...] e mostra-se disposto a concordar com o conceito kierkegaardiano de “ou/ou”, em vez do hegeliano “e/e”. “Ou/ou, dizia Kierkegaard, não devem ser entendidos como conjunções disjuntivas; pelo contrário, estão tão inseparavelmente unidos que, na verdade, deviam compor uma única palavra. Sua função exclusiva é a de estabelecer a mais íntima relação entre os contrários da vida, ao mesmo tempo preservando a validade da contradição entre eles (Ib., pp. 68-69). Clarice será notoriamente mais partidária desta última postura, pois ela será mais útil ao seu propósito de sugerir a coisa (indizível). Do choque dos contrários há de surgir a faísca do não-dito, do que não pára de não se escrever, do Real. Ao contribuir para desconstruir o binarismo do conceito, este recurso remete ao domínio não-lógico do signo e do texto poético, que remete mais diretamente ao Real lacaniano ou ao real como unidade ou fundo do qual fala Mikel Dufrenne em citação acima. Assim: “O que acontecia? Tudo recuava... [...] A sala onde já estivera durante tantas tardes refulgia no crescendo de uma orquestra, mudamente, numa vingança pela sua distração” (PCS, p. 63); “Era a segunda vertigem num só dia! [...] Estou cada vez mais viva, soube vagamente... Começou a correr. Estava subitamente mais livre, com mais raiva de tudo, sentiu triunfante. No entanto não era raiva, mas amor. Amor tão forte que só esgotava sua paixão na força do ódio” (PCS, pp. 64-65); “Maria Clara fora possuída por muitas coisas, daí seu ar maduro e saciado; provara de tudo levemente, muito cheia, o modo descansado e cansado” (L, p. 109). Clarice Lispector permanentemente traduzirá em sua escritura aquela percepção já citada de que o “aguilhão da vida” (LISPECTOR, 1999 a, p. 201) é constituído pelo encontro e confusão dos contrários, sintetizados por dois sentimentos básicos: a dor e a alegria. É por isso que esse seja talvez o oxímoro mais característico do estilo da autora, a saber: “Joana desviava a vista, vitoriosa, abaixava a cabeça numa alegria profunda que inexplicavelmente vinha misturada a um aperto doloroso na garganta, a uma impossibilidade de soluçar” (PCS, p. 67); “Quanto a ela – cada dia que chegava trazia-lhe nas suas águas mais lembranças de 309 que se alimentar. E aos poucos uma certeza de felicidade, de fim alcançado, subia-lhe vagarosa pelo corpo, deixando-a satisfeita, quase saciada, quase angustiada” (PCS, p. 136); “Eu estava então sozinha? E essa alegria de dor, o aço franzindo minha pele, esse frio que é ciúme [...]” (PCS, p. 156). No encontro sexual entre Joana e o homem, a sensação dos dois é descrita recorrendo ao mesmo paradoxo: “Ele ergueu a cabeça e Joana surpreendeu-se. [...] Seus olhos resplandeciam, mas não se poderia saber se de dor ou de misteriosa alegria. [...] Fitaram-se um segundo. E ela não teve medo, mas sentiu uma alegria compacta, mais intensa que o terror, possuí-la e encher-lhe todo o corpo” (PCS, p. 173). Como mostra Olga de Sá, o paradoxo, contribui, em A paixão segundo G.H., para a obtenção do sentido paródico que assumem ali os textos bíblicos (SÁ, 1999, p. 130). Vejamos, por exemplo, a seguinte passagem do romance: Parece que vou ter que desistir de tudo o que deixo atrás dos portões. E sei, eu sabia, que se atravessasse os portões que estão sempre abertos, entraria no seio da natureza. Eu sabia que entrar não é pecado. Mas é arriscado como morrer. Assim como se morre sem se saber para onde, e esta é a maior coragem de um corpo. Entrar só era pecado porque era a danação de minha vida, para a qual eu depois não pudesse talvez mais regredir. Eu talvez já soubesse que, a partir dos portões, não haveria diferença entre mim e a barata. Nem aos meus próprios olhos nem aos olhos do que é Deus. Foi assim que fui dando os primeiros passos no nada. Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida, e abandonando a minha própria vida. O pé pisou no ar, e entrei no paraíso ou no inferno: no núcleo (PSGH, p. 81). Olga de Sá (1993, p. 151) acredita que a repetição (monotonia) no texto clariceano está a serviço do desgaste da palavra. Isso porque “No nível do discurso, o que para ela se aproxima mais [do ...] silêncio é a repetição, como corrosão do próprio significante. Assim, por uma espécie de paradoxo, o que é normalmente redundante, acaba no contexto de sua obra, por abrir-se em sentido inovador” (SÁ, 1993, p. 152). É nesse mesmo sentido que a Martim, em A maçã no escuro, “Repetir lhe parecia essencial. Cada vez que se repetia, algo se acrescentava” (ME, p. 129). A repetição é o traço mais característico do texto clariceano e possivelmente o mais importante. Ela faz-se presente desde o início de Perto do coração selvagem. A primeira vez, assumindo uma função de expressão da confirmação e da previsibilidade que o mundo natural desperta em Joana: “onde bem sabia, bem sabia uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer” (PCS, p. 11). 310 A repetição também serve à expressão daquele mundo primordial que, em seu pensamento indeterminado, Clarice tanto preza, na descrição que o narrador de Perto do coração selvagem realiza do descanso de Joana junto ao seu homem: Ele escondeu o rosto naquele ombro macio e ela ficou sentindo sua respiração percorrê-la de ida e de volta, de ida e de volta. Eles dois eram duas criaturas. Que mais importa? – pensava ela. Ele moveu-se, ajeitou a cabeça na sua carne como... como uma ameba, um protozoário procurando cegamente o núcleo, o centro vivo. Ou como uma criança. Lá fora o mundo se escoava, e o dia, o dia, depois a noite, depois o dia (PCS, p. 182). Na segunda vez que a repetição aparece no romance de estréia, ela serve para mostrar a ansiedade da menina Joana em face do tédio existencial que já experimenta: “ ‘Oi, oi, oi...’, gemeu baixinho cansada e depois pensou: o que vai acontecer agora agora agora?” (PCS, p. 12). Também é utilizada para representar a confusão mental da mesma personagem: “Mas dessa vez não recomeçarei, juro, nada reconstruirei, ficarei atrás como uma pedra lá longe, no começo do caminho. Há qualquer coisa que roda comigo, roda, roda, me atordoa, me atordoa, e me deposita tranqüilamente no mesmo lugar” (PCS, p. 156). Ou, então, hesitação: “O fato de eu não ter tido tardes de costura não me põe abaixo dela, suponho. Ou põe? Põe, não põe, põe, não põe” (PCS, p. 157). Da mesma forma, o recurso serve para enfatizar e lembrar as idéias centrais da narrativa. Em Perto do coração selvagem, logo no início, já temos um exemplo desse uso: “[...] o que vai acontecer agora agora agora? E sempre no pingo do tempo que vinha nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende?” (PCS, p. 12). Na página seguinte: “E agora agora agora? E sempre nada vinha se ela...” (PCS, p. 13). E, muito mais adiante, novamente “Nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer...” (PCS, p. 54). A repetição é o princípio organizador da PSGH: a narradora autodiegética vai avançando na pesquisa de si, tateando, hesitando, apoiando-se sempre na repetição da frase que finaliza cada trecho (fase) de sua autodescoberta para iniciar uma nova etapa209. Olga de 209 “Neste livro, Clarice Lispector usa um recurso técnico original: começa um capítulo com a última frase do capítulo anterior. Dá assim à sua introspecção um aspecto de ininterrupta continuidade e à voz de sua narrativa, uma tonalidade de canção, como as velhas cantigas medievais. Este processo ao nível do enunciado, que desenha uma linha curva e contínua ao longo da narrativa, confere ao discurso um traçado, 311 Sá (1999, p. 130) associa esta repetição ao estilo bíblico, visto ser a Bíblia o hipertexto por excelência do romance. A mesma coisa acontece no nível microtextual, dentro de cada parágrafo e dentro de cada oração. Assim, Clarice retrata o árduo trabalho que supõe a procura de si. Quando a repetição se dá dentro um parágrafo, geralmente há algumas palavras núcleo ao redor das quais o jogo do sentido é acionado, geralmente também associado à paronomásia. Por exemplo: E porque eu mesma estava tão certa de que terminaria morrendo de inanição sob a pedra desabada que me prendia pelos membros – então vi como quem nunca vai contar. Vi, como quem nunca vai contar. Vi, com a falta de compromisso de quem não vai contar nem a si mesmo. Via, como quem jamais precisará entender o que viu. Assim como a natureza de uma lagartixa vê: sem ter depois sequer que lembrar. A lagartixa vê – como um olho solto vê (PSGH, p. 106, grifos nossos). Ainda, como observa Olga de Sá, a repetição pode produzir estranhamento, uma sensação fundamental para que G.H. (ou Clarice?) possa transmitir ao leitor a qualidade da experiência por ela vivenciada: No sentido mais lato, a vivência do estranhamento, proporcionada pelo discurso, consiste [...] em qualquer acréscimo de conhecimentos e de vivências afetivas. Neste caso, naturalmente, os limites entre o esperável e o inesperável são pouco nítidos. A maior parte das vezes não se espera a completa invariabilidade e, por isso mesmo, ela pode tornar-se “estranha” (SÁ, 1999, p. 132). Um efeito que causa essa constante repetição (e também o constante uso de aliterações e paronomásias dentro dos parágrafos) é a musicalidade do texto, que enleva a leitura, atuando como uma espécie de encantamento que leva o leitor a prosseguir na leitura que, em função da sua matéria, poderia resultar enfadonha ou pesada. Assim, a repetição presta-se como instrumento do princípio de tensão narrativa deixado vago pela intriga, ostensivamente secundária. Isso determina a função central da repetição no romance supracitado: que graficamente significa uma trajetória. E a trajetória é, segundo G.H., o que um homem não pode deixar de viver” (SÁ, 1993, pp. 259-260). 312 Em A paixão segundo G.H., a repetição subverte a lógica do discurso, entendido este como sendo um conjunto de representações ordenadas. Ou melhor: o discurso se desenvolve aumentando e mostrando a irrepresentabilidade das coisas. Se assim é, a repetição, que interfere com a lógica do discurso, não só aumenta a área de silêncio das palavras. Também constitui uma preparação ao silêncio em que finalmente o dizer expressivo mergulha (NUNES, 1995, p. 140). Por tudo isso, consideramos que o principal recurso retórico da escrita de Clarice Lispector também é a repetição: de palavras, frases, parágrafos, episódios, dentro da mesma obra ou em obras diferentes, na boca da mesma personagem/narrador ou em boca de personagens/narradores diferentes. Como lembra Benedito Nunes (1995, p. 136), o “emprego reiterado dos mesmos termos e das mesmas frases [era um] recurso que os antigos retóricos consideravam um meio hábil para exprimir a paixão com mais força e mais energia”210. E como aponta Olga de Sá, A repetição de um pensamento idêntico com palavras idênticas, a distância, [...] cria uma figura de acumulação intensa e sistemática que, além dos efeitos sonoros, desenha um esquema de argumentação. Há na argumentação lógica, um pensamento nuclear que está na base da acumulação e que é exprimível numa frase, como “suma”, donde se originam as seqüências (SÁ, 1999, p. 132). Por outro lado, a repetição intra e intertextual contribui para apontar para a unidade primordial, desta vez no nível da obra como um todo. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, como já dissemos, é construído em boa medida a partir de textos publicados inicialmente por Clarice Lispector em sua coluna de O Jornal do Brasil211, ou seja, em qualidade de cronista e, muito deles, em um tom confessional ou biográfico. Também é o romance onde encontramos mais repetição intratextual de trechos e onde reconhecemos vestígios de todas as obras anteriores de Clarice Lispector. Por exemplo, quando Lóri bebe a 210 Além disso, observa o crítico que “a repetição, realçando um mesmo significado, que mais fugidio se torna quanto mais se tenta explicitá-lo, aproxima a prosa de Clarice Lispector da melhor eloqüência barroca” (NUNES, 1995, p. 138). 211 Em Clarice Lispector: nas entrelinhas da escritura, Edgar Cézar Nolasco realiza um pormenorizado cotejo desses fragmentos em seus diferentes contextos. 313 água do mar (p. 93) repete o gesto de Joana em Perto do coração selvagem (p. 39), no mesmo ritual ancestral que une ambas as personagens. Mais curioso resulta constatar, no sentido inverso, como em O lustre já aparecem anunciadas várias obras que a autora certamente nem pensava em escrever em 1946. As correspondências mais numerosas são as que o romance mantém com A hora da estrela. A mais evidente é configurada pelas circunstâncias da morte das duas protagonistas das obras, mas vejamos também algumas outras passagens que remetem a Macabéa ou a sua condição existencial: Fizeram rodar o disco num canto penumbroso da sala e ela sentiu a música desenrolar-se acima dos ruídos, ela que jamais pensava em música. De súbito os sons se elevavam harmônicos, altos, castos, sem tristeza. [...] – fechou os olhos atingida, suportando algo doce, agudo e cheio de alegria: não, não era como amor, não se revolvendo sem socorro na náusea do desejo, não amando vilmente a própria agonia. A dor, mas uma dor que não era a que se evolava daqueles caminhos interrompidos e impossíveis [...] oh Deus, Deus, socorrei-me. Essa era a sensação: oh Deus, socorrei-me. Seu desespero ultrapassava misteriosamente as amarguras da vida e sua alegria mais secreta escapava ao prazer do mundo. Aquela íntima impressão de estranheza. Como era novo, como ela se livrava deles todos, do próprio amor à vida, calma e sem ardor (L, p. 123). Se ela fosse mais inteligente poderia apagar o passado com palavras novas ou mesmo participando um pouco mais do que ele dizia. Tinha porém poucos pensamentos em relação às coisas e temia repeti-los sempre; nunca usava a expressão certa, sempre errando mesmo quando era sincera. Às vezes simplesmente não sabia o que lhe retrucar e caía dentro de si própria à procura (L, p. 132). Virgínia ou Macabéa? Virgínia e Macabéa. As semelhanças se multiplicam à medida que vamos avançando na leitura e não cabe aqui citá-las todas. Todos estes recursos fazem do texto clariceano um texto epifânico, ao deflagar uma verdadeira revelação/visão para o leitor. É nesse sentido que a epifania é, mais do que um tema, um procedimento da escritura clariceana. Em vez de estar ao serviço da representação (ou imitação), ela é um instrumento de criação (Sá, 1993, p. 181). A musicalidade é também construída de outras formas na escritura clariceana. Na página de abertura de Perto do coração selvagem já temos um exemplo de como a autora utiliza a música como um meio expressivo para sugerir o que a palavra por si só não consegue 314 transmitir com fidelidade. O despertar do dia e de suas atividades é descrito da seguinte forma, como se se tratasse de um trem que começa a sua marcha: Mas de repente num estremecimento deram corda no dia e tudo começou a funcionar, a máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira ferver. Só faltava o tin-dlen do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e ao som da música inexistente e ritmada ergueu-se na ponta dos pés. Deu três passos de dança bem leves, alados (PCS, pp. 11-12). Outro recurso poético que contribui para acentuar a musicalidade do texto clariceano é o recorrente uso de onomatopéias, que, por outro lado, também convocam outro nível de entendimento (ligado aos sentidos) que não aquele diretamente relacionado com o pensamento racional. O primeiro romance de Clarice Lispector começa com um conjunto de onomatopéias que nos dizem muito sobre a concepção de mundo clariceana: A máquina do papai batia tac-tac... tac-tac-tac-... O relógio acordou em tindlen sem poeira. O silêncio arrastrou-se zzzzzz. O guarda roupa dizia o quê? roupa-roupa-roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes (PCS, p. 11). Como é possível observar, desde o romance de estréia, Clarice “nos faz ouvir o apelo das coisas [...] Clarice olha: E o mundo vem à sua presença. Faz renascer as coisas nascidas. E recolhe” (CIXOUS, 1991, p. 11). De forma aparentemente paradoxal, os sons são reproduzidos na escrita para mostrar o grande silêncio da Unidade que a tudo subjaz. De quem seria aquela orelha senão do Deus, fundo inominável da Natureza? A rima também é utilizada por Clarice Lispector. Por exemplo: “Guria, guria, muria, leria, seria..., cantava o homem voltado para Joana” (PCS, p. 26). Quanto às aliterações e paronomásias, Carlos Mendes Sousa sublinha o fato de que “o trabalho sobre a letra (muitas vezes escondida) é profundamente actuante na escrita de Lispector” (SOUSA, 2004, p. 178), enquanto Benedito Nunes (1995, p. 141) atenta para a função que as paronomásias compartilham com os oxímoros e as antíteses nessa escritura, a de apontar para o silêncio em face da impossibilidade da expressão. Ouçamos, por exemplo, o 315 jogo poético que sugere a força libertária que o vento representa no mundo ficcional de Clarice Lispector: “Se ao menos houvesse o vento. Vento é ira, ira é a vida” (ALP, p. 44). As freqüentes aliterações também contribuem para a musicalidade (e a sensualidade) do texto clariceano. Vejamos alguns exemplos de todos os romances: “O sal e o sol eram pequenas setas brilhantes que nasciam aqui e ali [...] Devagar veio vindo o pensamento” (PCS, p. 40); Num despertar tênue ela sentia que existiam naquele mesmo instante muitas coisas além das que via. Então punha-se firme e sutil querendo aspirar todas essas coisas para o seu centro após uma pequena pausa. Nada vinha, ela espiava as coisas levemente douradas de luz – sem pensamento ia ficando saciada, saciada, saciada como o ruído cada vez mais agudo e apressado da água enchendo um pote (L, p. 55). Por último, a música é utilizada como recurso metafórico para sugerir ou acompanhar climas ou estados espirituais, atmosferas ou tensão dramática. Essas metáforas permeiam todos os romances de Clarice Lispector. No fugaz instante de uma visão que não chega a encontrar forma, Joana sente o choque da presença do fundo silencioso e, logo após, a calmaria (a vida do cotidiano) volta a instalar-se nas notas melodiosas do piano: A luz alaranjada das 9 horas, aquela impressão de intervalo, um piano longínquo insistindo nas notas agudas, seu coração batendo apressado de encontro ao calor da manhã e, atrás de tudo, feroz, ameaçador, o silêncio latejando grosso e impalpável. Tudo desvaneceu-se. O piano interrompeu a insistência nas últimas notas e após um instante de repouso retomou docemente alguns sons do meio, em melodia nítida e fácil (PCS, p. 84). E também serve para caracterizar personagens. Por exemplo, no capítulo “Otávio”, de Perto do coração selvagem, a antiquada e recatada personalidade da prima (ou tia) Isabel é claramente sugerida através das valsas “fracas, saltitantes e falhadas” (PCS, p. 91), com cuja execução pretende conquistar o amor de Otávio. Por outro lado, Olga de Sá chama a atenção sobre a plasticidade do texto clariceano: “Há também no estilo de Clarice uma espécie de talento visual e plástico, quanto ao modo de criar a paisagem e o ambiente das personagens” (SÁ, 1993, p. 145). Além disso, as descrições servem para criar ambientes, como nas passagens seguintes extraídas de O lustre: 316 Ela abria grandes olhos. Lá estava a pedra escorrendo em orvalho. E depois do jardim a terra sumindo bruscamente. Toda a casa flutuava, flutuava em nuvens, desligada de Brejo Alto. Mesmo o mato descuidado distanciava-se pálido e quieto e em vão Virgínia buscava na sua imobilidade a linha familiar; os gravetos soltos sob a janela, perto do arco decadente da entrada, jaziam nítidos e sem vida. Daí a instantes porém o sol surgia esbranquiçado como uma lua. Daí a instantes as névoas sumiam com uma rapidez de sonho disperso e todo o jardim, o casarão, a planície, a mataria rebrilhavam emitindo pequenos sons finos, quebradiços, ainda cansados. Um frio inteligente, lúcido e seco percorria o jardim, insuflava-se na carne do corpo (L, pp. 15-16). Na solidão do seu apartamento imerso na cidade, Virgínia observa que Na penumbra as coisas brilhavam calmas, limpas e cheirosas. Ela suspirou. O trabalho nas construções havia parado há muito, um cheiro de jasmim vinha da rua estreita onde já passeavam alguns namorados. A lua apareceu no céu escuro, um vento morno de verão passava pela cidade, os talheres dos vizinhos haviam deixado de tilintar (L, p. 161). Em A cidade sitiada, como observa Nádia Battella Gotlib (1995, p. 264), a plasticidade obedece à construção do romance, geometrizando-se. Podemos constatar essa afirmação nas seguintes passagens do romance: O subúrbio erguia-se até onde podia. A luz não parecia decair mas alçar-se, com irrespirável esforço, à luz. A esse esforço S. Geraldo tornara-se extraordinariamente exterior, as pedras leves. As coisas se mantinham à própria superfície na veemência de um ovo. Imunizadas. De longe os sobrados eram ocos e altos. A torre cilíndrica da usina (CS, p. 48). E agora estavam tranqüilos olhando as serras. Tudo o que seria impossível tomara a forma final de montanhas ao longe, e uma delicadeza de curvas (CS, p. 146). Em capítulo de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (pp. 144 a 146) a autora executa fielmente uma intenção declarada expressamente: “Eu falaria sobre frutos e frutas. Mas como quem pintasse com palavras. Aliás, verdadeiramente, escrever não é quase sempre pintar com palavras?” (LISPECTOR, 1999a, p. 198). Ao descrever o passeio de Lóri por uma feira, o texto traz-nos claramente todas as impressões dos sentidos. Primeiro a audição e a visão: “Foi à feira de frutas e legumes e peixes e flores: havia de tudo naquele amontoado de 317 barracas, cheias de gritos, de pessoas se empurrando, apalpando o material a comprar para ver se estava bom” (ALP, p. 144); “Esgueirou-se entre as centenas de pessoas na feira e isso era um crescimento dentro dela. Parou um instante junto da barraca de ovos. Eram brancos” (ALP, p. 145); em seguida, o olfato: “Na barraca dos peixes entrefechou os olhos aspirando de novo o cheiro de maresia dos peixes, e o cheiro era a alma deles depois de mortos” (ALP, p. 145); ao olfato, sucede o gosto: “As peras estavam tão repletas delas mesmas que, nessa maturidade elas quase estavam em seu sumo. Lóri comprou uma e ali mesmo na feira deu a primeira dentada na carne da pêra que cedeu totalmente. Lóri sabia que só quem tinha comido uma pêra suculenta a entenderia” (ALP, p. 145); por último, o tato: [...] passou a se interessar por objetos e formas, como se o que existisse fizesse parte de uma exposição de pintura e escultura. O objeto então que fosse de bronze – na barraca de bugigangas para presentes, viu a pequena estátua mal feita de bronze – o objeto que fosse de bronze, ele quase lhe ardia nas mãos de tanto gosto que lhe dava lidar com ele (ALP, p. 146). E para transmitir ao leitor a unidade original da percepção, o apelo recorrente à sinestesia em todas as obras: “Ela ficava mais sozinha, olhando a chuva. [...] Só a janela brilhava quieta, só o ruído molhado incessante” (L, p. 58); “Aquele cheiro repugnante de cansaço fazia-lhe bem, ela cerrava os dentes de mulher” (L, pp. 189-190); “Se a mulher fechava os olhos para não ver o calor, pois era um calor visível, só então vinha a alucinação lenta simbolizando-o [...]” (ALP, p. 29). No texto clariceano, podemos encontrar também outras marcas isoladas, mas não por isso menos motivadas. Por exemplo, a freqüente adjetivação totalizante da pessoa deriva diretamente da visão do mundo clariceana, que concebe tudo como uma unidade: “E como atravessasse o próprio corpo violentamente, em busca, sentiu levantar-se de seu interior uma aragem de saúde, todo ele abrindo-se para respirar...” (PCS, p. 204); “Fechava os olhos atentando a todos os pontos indevassáveis de seu estreito corpo, pensando-se toda sem palavras, recopiando o próprio existir” (L, pp. 47-48); “– É que só tenho medo, disse Ermelinda com certa voluptuosidade, quando uma flor é bonita demais: sem espinho, toda delicada demais, e toda bonita demais” (ME, p. 75); “Mas eu só havia encontrado, além do invólucro, o próprio enigma. E tremia toda por medo do Deus” (PSGH, p. 138); “Então corajosamente não combinou a ida à reunião com nenhum professor ou professora – arriscarse-ia toda só” (ALP, p. 97). 318 Por último, não podemos deixar de mencionar aqui a ironia, a grande figura que atravessa toda a escrita clariceana. Ele determina o humorismo (não necessariamente alegre) da prosa da autora. No entanto, em um sentido bem mais profundo, a ironia constitui-se em pilar mestre da escritura de Clarice Lispector. Nesse sentido, será na última seção deste capítulo que abordaremos este tropo, pois só ali estaremos em condições de mostrar a verdadeira dimensão do seu valor estruturante. Quando o romance moderno passa a priorizar a vida psíquica da personagem, o tempo que passará a comandar a narrativa será o tempo psicológico, caracterizado pela ausência de linearidade e de uniformidade e pela mudança contínua de velocidade. De fato, o tempo transforma-se em duração, duração dos processos mentais, duração das sensações, duração dos episódios lembrados na constante miscelânea de fragmentos e retalhos gerada pela livre associação de idéias e pela memória involuntária. São esses dois mecanismos da nossa consciência os que passam a comandar o processo de escrita, introduzindo na própria instância criadora a contingência própria do tempo e, em conseqüência, a incerteza quanto ao que virá em cada linha sucessiva do texto212. As narrativas clariceanas constroem-se, em boa medida, em torno desses daqueles eixos involuntários da psique. Um pouco tonta pela bebida, em O lustre, Virgínia experimenta no licor de anis o mesmo “anis que ela ganhara com confeitos na infância. Ainda o mesmo gosto prendendo-se à língua, à garganta como uma mancha, aquele gosto triste de incenso, alguém engolindo um pouco de enterro e de oração. Oh a calma tristeza da memória” (L, p. 119). Nas sessões de estudo da Bíblia que Virgínia marcava com o seu circunspecto amigo, ela não conseguia meditar como ele exigia, pois deixava-se levar pela livre-associação: na verdade ela não refletia e não tirava conclusões – pensava na história em si mesma, repetindo-a entre olhares, sombras, permissões e quedas. Vagamente imaginava assim: mas eu também... Agora dava sentido a uma lembrança da infância que sem os serões ignoraria talvez para sempre: quando era pequena sabia fechar os olhos e deixar coar-se a luz lentamente de dentro para fora – mas se se lembrava de abri-lo subitamente, tudo perdia a claridade, ela restava cansada, sim, sem força (L, pp. 158-159). 212 “Para eles [Gide, Proust et Virginia Woolf] o romance continuou a ser uma arte, e de uma forma tão mais imperativa que o seu único objeto autêntico era, precisamente, a incerteza” (ZERAFFA, 1971, p. 104, tradução nossa). 319 Também, o capítulo que abre Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, no que a pontuação é escassa e segue os caprichos da livre associação e do fluxo verbal, lembra, também pelo nome Ulisses que aparece já no primeiro fragmento, o monólogo autônomo de Molly Bloom; só que em Uma aprendizagem há um narrador heterodiegético e, portanto, o capítulo assume a forma de um grande monólogo narrativizado. Em um sentido mais profundo, como apontam Bradbury e McFarlane, no modernismo, a tarefa da arte é redimir, essencial ou existencialmente, o universo amorfo da contingência. A realidade não é um material dado e tampouco uma seqüência histórica positivista. A arte da ficção torna-se, pois, o ato crucial de imaginar; e, assim, o modernismo geralmente mostra algum tipo de cruzamento entre um tempo moderno e apocalíptico e um símbolo atemporal e transcendente ou, ainda, um núcleo de pura energia lingüística (BRADBURY e MCFARLANE, 1989, p. 38). Daí que, do instante presente e contingente, tão valorizado no romance clariceano, o tempo resvale freqüentemente para o não-tempo do mito, como no episódio em que G.H. entra no quarto da empregada e constata: [...] agora sim, eu estava realmente no quarto. Tão dentro dele como um desenho há trezentos mil anos numa caverna. E eis que eu cabia dentro de mim, eis que eu estava em mim mesma gravada na parede. E terminara, também eu toda imunda, por desembocar através dela para o meu passado que era o meu contínuo presente e o meu futuro contínuo – e que hoje e sempre está na parede, e minhas quinze milhões de filhas, desde então até eu, também lá estavam (PSGH, p. 65) Por isso, como sintetiza R.-M. Albérès, na passagem do século XIX para o XX assistimos à consolidação de um novo romance, ao gosto de Roquentin, não mais contado, mas vivido conforme da duração no e do tempo: Ao romance tradicional, artificialmente “encenado” por um romancista onisciente, conveniente, pronto a exibir-se perante seu leitor, a essa narrativa magistral, vai opor-se, sem predominar, contudo, um outro romance, com uma ótica diferente: o romance que não é uma lição completa, mas um enigma; aquele que não se esperava, que não mais constitui a seqüência normal do livro bem feito, rico de 320 observação aguda e de segurança. (ALBÉRÈS, 1962, pp. 130-131, grifos do autor, tradução nossa213). Como resultado dessa mudança, o autor perde o domínio completo sobre a sua própria criação e a onisciência torna-se obsoleta ao tempo em que é desvendada sua artificialidade: Vê-se qual é a intenção das novas criações romanescas: prender o fato humano fora do artifício da narrativa. Não sendo mais interpretado de antemão, o fato humano guarda então todo o seu mistério, como o faz na forma popular do novo romance, o romance policial. Por essa fluidez psicológica, que se inspira na ambigüidade dos sentimentos realmente vividos e se opõe às precisões da tradicional “análise psicológica” de personagens “bem construídas”, o romance foge à convenção trágica e romanesca. Não mais apresenta o ser humano como um sujeito de estudo, do qual será preciso, afinal de contas, encontrar uma explicação convincente, mas como uma rede de indeterminações (ALBÉRÈS, 1962, pp. 131-132, grifos do autor, tradução nossa214). Como veremos mais adiante, em A maçã no escuro, por exemplo, o narrador demonstra não saber exatamente que rumo tomarão as personagens do romance e, ostensivamente, interpreta muitas vezes os seus atos e gestos sem nenhuma certeza: “Ermelinda fingiu estar tão surpreendida que a olhou de boca entreaberta. Ou estava realmente surpreendida, não se poderia nunca saber” (ME, p. 76). A indignação que sente Vitória, “ela que não podia se dar ao luxo de não ser poderosa” (ME, p. 100) em relação a Martim, pode muito bem traduzir o espanto que um autor/narrador tradicional poderia experimentar em face de um romance e de um protagonista como o de A maçã no escuro: 213 Au roman traditionnel, artificiellement “mis en scène” par un romancier omnicient, bienséant, prêt à parader devant son lecteur, à ce récit magistral, va s’opposer, sans prédominer pourtant, un autre roman, dont l’optique est différente : le roman qui n’est pas une leçon complète, mas une énigme; celui que l’on n’attendait pas, qui ne constitue plus la suite normale du bon livre fait, riche d’observation aiguë et d’assurance. 214 On voit quelle est l’intention des nouvelles créations romanesques : saisir le fait humain hors de l’artifice du récit. N’etant plus interprété d’avance, le fait humain garde alors tout son mystère, comme il le fait dans la forme populaire du roman nouveau, le roman policier. Par cette fluidité psychologique, qui s’inspire de l’ambigüité des sentiments réellement vécus et s’oppose aux précisions de la traditionnelle “analyse psychologique” de personnages “bien construits”, le roman échappe à la convention tragique et romanesque. Il ne présente plus l’être humain comme un sujet d’étude, dont il faudra en fin de compte trouver une explication convaincante, mais comme un réseau d’indeterminations. 321 Esquecida de que estava prestes a mandá-lo embora, olhou-o afrontada. Pareceu-lhe uma injúria aquele homem jogando com o tempo e trazendo dúvida ao correr mecânico dos dias, trazendo a estes uma liberdade assustadora como se a cada dia se pudesse de súbito dizer sim, ou não. Trazendo indecisão a ela que, se perguntada quanto tempo ficaria ali, responderia “não sei” significando tempo ilimitado fora do seu controle – e não, como para ele, tempo curto (ME, pp. 101-102). Neste tipo de romance (romance moderno), a contingência é inerente ao processo, tal como nossa vida, que se desenrola no tempo e é matéria de tempo. Como apontam Fletcher e Bradbury (1989, p. 325): A forma não é um simples meio de manipular o conteúdo; em certo sentido, ela própria é o conteúdo: a experiência gera a forma, mas a forma gera a experiência, e é nos delicados cruzamentos entre as pretensões de totalidade formal e de contingência humana que encontramos algumas das principais táticas e estéticas da ficção modernista. É no discurso que tenta tecer que G.H. irá se apropriar da sua experiência vital, ao menos parcialmente. Em suma – e como mostra Rousset (1972, p. 131) – a ordem cronológica e causal dos acontecimentos contados no romance tradicional é substituída, no romance moderno, pela ordem contingente da descoberta desses acontecimentos pela personagem (e, ao mesmo tempo, pelo narrador, pelo autor e pelo leitor). Por isso, como aponta Michel Zeraffa, o romance do monólogo interior deixa de ser psicológico: [...] a ótica romanesca primordial é a da vida – da existência orgânica – da consciência, que o romancista não assimila nunca nem ao caráter da personagem nem à sua personalidade. [...] Bloom e Dedalus representam, com efeito, a consciência humana em si, que o romancista se abstém de vazar na forma de um discurso psicológico, moral, social. Teoricamente indeterminada e ilimitada, essa consciência deve desenrolar-se no e pelo imediato: no momento do encontro com os fatos, os objetos ou as lembranças – que são contingentes. A ótica romanesca fundamental, ou, antes, original, decorre daquilo que nós chamamos o decomposto: o olhar do romancista segue o movimento de funções psicológicas, e não de uma psicologia. O escritor é então levado a conceber as suas personagens principais (a ou as consciências dominantes do romance) como pesquisadores que, a partir de indícios pontuais, estranhos e 322 estrangeiros, tentam reconstruir a sua pessoa, seu ser (ZERAFFA, 1971, p. 167, grifo do autor, tradução nossa215). A causalidade será substituída, também no romance clariceano, pela livre associação ou por outros recursos que darão coesão à obra. Como observa Flávia Trocoli Xavier da Silva (2000, p. 110), “Clarice não persegue nexos causais, os abole, não averigua, pulsa”. Em decorrência disso, por outro lado, o andamento no romance moderno costuma ser mais lento. Como assinala Nathalie Sarraute (1987, p. 68, tradução nossa), o leitor moderno “viu o tempo parar de ser essa corrente rápida que propulsava a intriga para tornar-se uma água adormecida no fundo da qual se elaboram decomposições lentas e sutis216”. O lustre, A maçã no escuro ou A paixão segundo G.H. ilustram perfeitamente essa afirmação da crítica francesa. José Fernandes (1986, p. 213) define os romances de consciência como romances que apresentam a estrutura temporal em forma fluida, imagem do ser em pulverização. O curso temporal dessas obras é feito de rupturas, desequilíbrios. O tempo sócio-histórico é ignorado pelas personagens. O tempo mostrado ao leitor é falso artificial, ilógico, com a finalidade de tornar patente a instabilidade da existência. A duração romanesca é, no caso, determinada pelas necessidades existenciais das personagens. No caso de Perto do coração selvagem, pelas necessidades de Joana. Neste romance, o tempo é entrecortado217. Os episódios da infância (“O Pai”, “...Um dia...”, “...A tia...”), da puberdade (“...O banho...”) e da idade adulta (“O dia de Joana”, “O passeio de Joana”, “Alegrias de Joana”, “A mulher da voz e Joana”, “Otávio”, “O casamento”, “O abrigo do 215 [...] l’optique romanesque primordiale est celle de la vie – de l’existence organique – de la conscience, que le romancier n’assimile jamais ni au caractère du personnage ni à sa personnalité. [...] Bloom et Dedalus représentent en effet la conscience humaine en soi, que le romancier s’abstient de couler dans la moule d’un discours psychologique, moral, social. Théoriquement indéterminée et illimitée, cette conscience doit se déployer dans et par l’immédiat : lors de rencontres avec des faits, des objets ou de souvenirs – qui sont contingents. L’optique romanesque fondamentale, ou plutôt originalle, relève de ce que nous avons appelé le décomposé : le regard du romancier suit le mouvement de fonctions psychologiques, et non d’une psychologie. L’écrivain est donc amené à concevoir ses personnages principaux (la ou les consciences dominantes du roman) comme des enquêteurs qui, à partir d’indices pontueles, étranges et étrangers essaient de reconstituer leur personne, leur être. 216 Il a vu le temps cesser d’être ce courant rapide qui poussait en avant l’intrigue pour devenir une eau dormante au fond de laquelle s’élaborent de lentes et subtiles décompositions. 217 Em “A revelação do nome” (2004, pp. 146 a 156), Carlos Mendes de Sousa realiza uma síntese da fortuna crítica que acolheu o romance de estréia de Clarice Lispector, resgatando as características e os aspectos da obra que, quase unanimemente, a crítica apontava como inovadores no cenário da literatura brasileira da época. 323 professor”, “A pequena família”, “Lídia”, “O Homem”, “O abrigo no homem”, “A víbora”, “A partida dos homens”, “A viagem”) da protagonista se alternam sem nexos nem sumários explicativos que preencham os vazios deixados pela narrativa218. Por exemplo, o ingresso de Joana ao internato não é contado (ver PCS, p. 68). Prioriza-se assim a duração, como tempo da experiência vivida. O lustre também é composto por episódios esparsos da vida da protagonista, Virgínia, e embora seja possível estabelecer o respeito a uma ordem cronológica, há elipses temporais que não são preenchidas. De qualquer forma, O lustre tem uma estrutura mais tradicional. A primeira frase do romance é uma prolepse (“Ela seria fluida durante toda a vida”, L, p. 7), o que já indica que o narrador desempenha uma função dentro da obra que o aproxima do narrador tradicional. E, de fato, podemos considerar O lustre um romance do destino. Também no início do romance, após ter visto junto com o irmão um chapéu que eles atribuem a um afogado, Virgínia sentia que já tinha morrido (L, p. 9) e os indícios de morte acompanharão a protagonista durante toda a narrativa. Assim, por exemplo, ainda criança, Virginia se pergunta “Será que todos sabem o que eu sei? [...] Porque ela acabara de pensar quase com certeza, sem sobressalto, no morrer” (L, p. 35); A “velha e pequena Cecília [...] lhes dissera de olhos arregalados [a Virginia e Daniel], enquanto eles tapavam a boca para não rir: morte violenta, meninos, tomem cuidado, os dois terão morte violenta, olhando as palmas sujas e vazias de suas mãos” (L, p. 56); e, bem mais tarde, já morando sozinha na cidade, a protagonista de O lustre, sem os passeios, sem espaço para uma vida larga, vivia cansada. As mãos brincando. As mãos brincando distraídas sobre a mesa, imaginava até que não demoraria muito a morrer porque uma força atraía-a constante para a terra e era inútil o sono, nele não repousava. Tinha a impressão de que já vivera tudo apesar de não poder dizer em que momentos (L, p. 180). A despeito disso, o destino no romance clariceano difere do destino do romance cardosiano (que alude a uma realidade figural). Como mostramos na primeira seção deste capítulo, para Clarice Lispector, o destino é o cumprir-se da existência. E é em consonância 218 É possível encontrar breves sumários, mas não explicativos, pois, mesmo neles, os dados biográficos da protagonistas são vagos, não descrevendo-se fatos, mas impressões. Por exemplo: “Nesse instante mais desperta, se quisesse, com um pouco mais de abandono, Joana poderia reviver toda a infância... O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o internato... o casamento com Otávio... Mas tudo isso era muito mais curto, um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos” (PCS, p. 23). 324 com essa concepção que o narrador de O lustre interpretará a vida de Virgínia e os seus comportamentos: Mas como assistir a uma vida mais fraca do que a sua? ela evitava as crianças com cuidado e diante delas um desejo a possuía rapidamente, o de fugir, o de buscar pessoas a quem nada pudesse dar. Sobretudo ela não era das que têm filhos. E se os fizesse nascer algum dia, ainda seria daquelas que não têm filhos. E se toda a vida que vivesse divergisse da que deveria ter vivido, ela seria como deveria ter sido – o que poderia ter sido era ela profundamente, inefavelmente, não por coragem, não por alegria e não por consciência mas pela fatalidade da força do existir. Nada lhe roubava a unidade de sua origem e a qualidade de sua primeira respiração, mesmo que estas se sepultassem sob o próprio contrário. Na verdade pouco sabia sobre o que se ocultava debaixo de sua vida inegável. Mas não dissolver-se, não se dar, negar os próprios erros e mesmo jamais errar, conservar-se intimamente gloriosa – tudo isso era frágil inspiração inicial e imortal de sua vida (L, p. 188). Isso desmancha quaisquer aproximações que possamos fazer de O lustre ou das últimas obras de Clarice com a visão do mundo de Lúcio Cardoso. Observemos, por exemplo, os seguintes trechos finais de A hora da estrela: Até para atravessar a rua ela já era outra pessoa. Uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. [...] Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida: nasci. [...] Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. [...] Então – ali deitada – teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço com a morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto. [...] As coisas são sempre vésperas e se ela não morre agora está como nós na véspera de morrer, perdoai-me lembrar-vos porque quanto a mim não me perdôo a clarividência. [...] A morte é um encontro consigo. [...] (HE, pp. 98, 99, 103, 105). Embora a trajetória de Macabéa seja individual, o narrador coloca a ênfase aqui no destino que espera a toda existência (cumprir-se e, com isso, finalizar ou transmutar-se) e, conforme a concepção de Pouillon, a idéia de destino é individual pois “ele não passa de uma manifestação da psicologia particular de um indivíduo determinado, da maneira como este vive em uma duração que, seja como for, permanece contingente” (Pouillon, 1974, pp. 151152). Assim, o desfecho geral de toda a vida não acarretaria, em A hora da estrela, a 325 atribuição de um certo destino (isto é, sentido) individual para a personagem Macabéa. Neste aspecto, Clarice parece permanecer fiel ao espírito modernista, no sentido da importância outorgada à contingência em sua obra (Virgínia poderia ou não ter tido filhos), contingência essa que atinge o próprio processo criativo. Longe de dominar o sentido da sua história desde o começo e de tudo conhecer, o próprio criador submete-se (ou é submetido) à contingência219. A noção de destino em Clarice Lispector está intimamente atrelada à noção de tempo como duração que emana do seu pensamento indeterminado. Passado, presente e futuro estão concomitantemente presentes na unidade do ser em sua existência. Daí a fatalidade de que fala Silviano Santiago em seu ensaio “A aula inaugural de Clarice Lispector”: “[...] o momento, os raros momentos essenciais do texto ficcional devem ser também e principalmente compreendidos e interpretados na fatalidade do seu devir, quando deslinearmente se articulam para se sobrecarregarem de força utópica” (SANTIAGO, 2004, p. 234). Esta afirmação que o crítico extrai de sua análise de Água viva pode muito bem ser estendida aos romances clariceanos. Vejamos alguns exemplos colhidos dos romances até aqui abordados: “– Eu queria ter uma vida esquisita e triste, sabe, dizia Virgínia. Havia um deslizar impossível na sua verdade, ela era como o seu próprio erro. Sentia-se estranha e preciosa, tão voluptuosamente hesitante e estranha como se hoje fosse o dia de amanhã. E não sabia corrigir-se [...]” (L, pp. 44-45). Quanto a G.H., ela constata que [...] havia desencavado talvez o futuro – ou chegara a antigas profundidades tão longinquamente vindouras que minhas mãos que as haviam desencavado não poderiam suspeitar. Ali estava eu em pé, como uma criança vestida de frade, criança sonolenta. Mas criança inquisidora. Do alto deste edifício, o presente contempla o presente. O mesmo que no segundo milênio antes de Cristo (PSGH, p. 106). Conforme a visão de Clarice Lispector, então, a única liberdade que resta ao indivíduo é a de escolher os passos que o conduzirão até o seu desfecho existencial. As curvas e voltas desse caminho, porém, não parecem ser indiferentes, pois é através delas e só através delas que cada um, individualmente, pode chegar, como constatava G.H. no final da sua tentativa de dar forma ao que vivera: “Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir. A 219 Como veremos mais adiante, isto não se verifica em O lustre. 326 trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes” (PSGH, p. 176). Esses passos, por sua vez, assumem na narrativa clariceana a forma de instantes. E nisso, a obra da autora não é tão solitária. Como observa Michel Zeraffa, Negado enquanto fragmento cronológico, valorizado enquanto meio de aceder ao Ser, o momento assume no romanesco uma importância psicológica, filosófica e estética fundamental. O “tempo fictício” da narrativa, observa P. Mendilow, é, antes de mais nada, constituído de condensações do tempo social, histórico, biográfico (ZERAFFA, 1971, p. 175, tradução nossa220). Ao analisar A maçã no escuro, Gilda de Mello e Souza localiza o eixo temporal na obra de Clarice Lispector na sucessão do que a crítica chama de “instante exemplar” (SOUZA, 1980, p. 80). Clarice Lispector, afirma Souza, “concebe um tempo fracionado, feito de pequenos segmentos de duração que, recompondo-se incessantemente, só podem ser divisados de muito perto e num lampejo. Para ela o fluxo temporal é apenas essa soma de instantes [...]” (Ib., p. 80). Observa também a crítica que, opondo-se à atitude de outros artistas preocupados com a mesma mínima partícula de tempo, Lispector recusa-se a dilatar o instante, tentando captá-lo em sua fugacidade inapreensível. Por isso, Gilda de Mello e Souza acaba definindo a nossa autora como uma “romancista do instante” que, “com o tempo escasso que medeia entre o ser e o nada, tece toda a sua narrativa”, procurando “surpreender num lúcido lampejo todo o sentido da vida” (Ib., p. 81). Virginia criança pára para observar a paisagem ao seu redor e eis o que ela acaba descobrindo: Um rápido movimento do calidoscópio e formava-se uma imagem parada, insolúvel e sem além: ervas diretas ao sol, sol quente e calmo, fileiras mornas de formigas, talos grossos de palmas, a terra picando os joelhos, os cabelos caindo nos olhos, o vento penetrando pelo rasgão do vestido e clareando frescamente seu braço, fumaça velada dissolvendo-se no ar e tudo isso ligado pelo mesmo misterioso intervalo – um instante depois de ela erguer a cabeça e enxergar a fumaça ao longe, um instante antes de abaixar a cabeça e sentir novas coisas. E também sabia vagamente, quase como se inventasse, que dentro daquele intervalo havia ainda outro instante, pequeno, pálido e plácido, sem ter no seu interior nenhuma das coisas que ela estava vendo, assim, assim. E como ela e Daniel eram pobres e soltos (L, p. 28). 220 Nié en tant que fragment chronologique, valorisé en tant que moyen d’accéder à l’Etre, le moment prend dans le romanesque une importance psychologique, philosophique et esthétique fondamentale. Le ‘temps fictif’ du récit, observe P. Mendilow, est avant tout constitué de condensations du temps social, historique, biographique. 327 O principal eixo de todas as narrativas serão então, esses instantes-visão e esses instantes são, por sua vez, janelas para o não-tempo do essência, do cerne. Como observa Roberto Schwarz, ao analisar Perto do coração selvagem: [...] sendo herói principal o substrato, fica afastada a possibilidade de uma fabulação variada; é da natureza das essências serem iguais a elas mesmas – descritíveis, portanto, mas inenarráveis, já que não se modificam nem têm gênese. Enredo e decurso (e portanto o tempo) ficam reduzidos à função de criar uma inútil coerência entre momentos, entre os raros momentos essenciais em que o substrato transpareceria no mundo empírico (SCHWARZ, 1981, pp. 53-54, grifos do autor). É nesse sentido que “Martim provocara a liberdade para ir ao encontro do fatal; não para inventar um destino, mas para copiar alguma coisa importante, ir ao encontro do que existia” (SÁ, 1999, p. 112). No início da sua fuga-viagem-trajetória-aprendizagem, a personagem constata: Embora estivesse cego pela luz: ali nenhum de seus sentidos lhe valia, e aquela claridade o desnorteava mais do que a escuridão da noite. Qualquer direção era a mesma rota vazia e iluminada, e ele não sabia que caminho significaria avançar ou retroceder. Na verdade, em qualquer lugar onde o homem experimentou se pôr de pé, ele próprio se tornou o centro do grande círculo, e o começo apenas arbitrário de um caminho. Mas desde que, há duas semanas, aquele homem experimentara o poder de um ato, parecia também ter passado a admitir a estúpida liberdade em que se achava. Sem um pensamento de resposta, pois, suportou imóvel o fato de ele ser o único ponto de partida. [...] Era para o lado do mar que aquele homem pretendera ir [...]. Mas – sem mapa, conhecimento ou bússola – embrenhara-se terra adentro. Ora como se qualquer caminho terminasse fatalmente em costa aberta, o que era uma verdade, mas difícil de ser atingida por pés; ora como se na realidade ele não tivesse a menor pretensão de ir a algum lugar determinado (ME, pp. 23-24). 328 Pela recusa de Clarice Lispector a dilatar o instante de que falava Gilda de Mello e Souza, o tempo na escrita da autora espacializa-se221: “O esforço da narrativa ficcional de Clarice é o de surpreender com minúcia de detalhes o acontecimento desconstruído. Ele é um quase nada que escapa e ganha corpo, é esculpido matreiramente pelos dedos da linguagem” (SANTIAGO, 2004, p. 237). Vejamos, por exemplo, a extensão que adota a descrição de um instante-visão de Martim. Note-se que o trecho é mais extenso ainda, procuramos aqui apenas transcrever os achados fundamentais da personagem na sua epifania: Neste momento estava particularmente bom existir, pois havia também o ar muito límpido da tarde. E nesse momento a mulher montada de repente riu de enervamento porque o cavalo recuara e a assustara. Com certa surpresa o homem ouviu o riso naquela mulher que jamais ria. É que tudo estava provavelmente se manifestando para Martim, assim como as flores se abrem em determinado momento e nunca estamos perto para ver. Mas ele estava. Pela primeira vez estava presente no momento em que acontece o que acontece. E ele! ele era esse homem que pela primeira vez se dava conta, não apenas por ouvir dizer, mas inquietamente de primeira mão. Ele era exatamente esse homem. Estranhou-se então com o modo arrebatado de se reconhecer. Acabara de decidir ser, não um outro, mas esse homem. E mais que isso: ele próprio se tornara de repente o sentido das terras e da mulher, ele próprio era o aguilhão daquilo que ele via. Foi isso o que sentiu, embora recebesse de seu pensamento apenas o latejar. E contido, alvoroçado, lembrou-se de que este é o lugar-comum onde um homem pode enfim pisar: querer dar um destino ao enorme vazio que aparentemente só um destino enche. Então, num impulso da mesma natureza do impulso de querer dar nome, procurou se lembrar que gesto se usava para exprimir aquele instante de vento e de alusão ao desconhecido. [...] Mas, que se lembrasse, não havia como exprimir. Nessa primeira impotência, por um instante Martim se sentiu angustiadamente preso. [...] São momentos que não se narram, acontecem entre trens que passam [...], e então por um instante somos a quarta dimensão do que existe, são momentos que não contam. [...] se em um instante se nasce, e se morre em um instante, um instante é bastante para a vida inteira (ME, pp. 115-116). 221 Este fenômeno também se insere no quadro geral do romance moderno. Como explica Michel Zeraffa, “[...]do acabamento proustiano aos esforços ridículos das personagens de Dos Passos, a problemática da pessoa mantém a mesma natureza e o mesmo sentido: o Ser é procurado fora dos movimentos, dos impedimentos e dos signos sociais que no entanto suscitam essa busca e a tornam necessária para quem, antes que desejar a felicidade, almeja o bem-estar. Ao situar as personagens em um universo onde os intervalos entre os atos são de uma fineza dramática, Dos Passos exprime a necessidade dos homens de opor o movimento livre de suas consciências ao movimento mecânico do Fora. [...] O stream é uma resistência consciente a um movimento externo que fixa a pessoa em uma sucessão de aspectos não-conscientes” (ZERAFFA, 1971, p. 182, grifo do autor, tradução nossa). 329 E em A cidade sitiada o tempo se exterioriza, de acordo com o projeto da obra. O tempo da narrativa não apenas se rege pelo tempo cronológico, como pelos acontecimentos externos da história “tão exterior e explícita”, como dirá Rodrigo S.M. em A hora da estrela (HE, p. 26). Já em A paixão segundo G.H., ao mesmo tempo em que adota a narração totalmente homodiegética, Clarice Lispector assume o presente da narração. “Avança a passo de página”, como observa Hélène Cixous (1995, p. 159, tradução nossa). A palavra é lida ao mesmo tempo em que é escrita. A personagem não conta uma história já conhecida por ela, mas vai tentando, através da palavra, encontrar o sentido da sua experiência, em um percurso que a leva, como vimos acima, da sua individualidade à transpersonalização. Com isso, ela se transforma na sua própria leitora (como veremos depois, o narratário é, em A paixão segundo G.H., um desdobramento da própria narradora homodiegética). Contrariamente ao que acontece nas narrativas em primeira pessoa que assumem a feição de romances do destino quando são retrospectivas, pois o narrador confere um sentido a sua história de que ela carecia no momento em que era vivida, em A paixão segundo G.H. a personagem e narradora vai descobrindo o significado do vivido à medida que vai escrevendo. Em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, apesar de Clarice voltar à narrativa linear, como assinala Ana Maria Lisboa de Mello (2003, p. 127), “o tempo da narrativa não é contínuo, mas feito de uma sucessão de instantes, com grandes lacunas, os quais assinalam as experiências da protagonista”. Além de confirmar-se, então, a estruturação temporal a partir do instante nuclear, neste romance é reafirmada a visão de destino do autor implícito clariceano. Eis o que sente Lóri após a consumação do encontro amoroso com Ulisses: Nunca imaginara que uma vez o mundo e ela chegassem a esse ponto de trigo maduro. [...] E ela, Lóri, não estava agradecendo nada. Não tivesse ela, logo depois de nascer tomado por acaso e forçosamente o caminho que tomara – qual? – e teria sido sempre o que realmente ela estava sendo: uma camponesa que está num campo onde chove. Nem sequer agradecendo ao Deus ou à Natureza. A chuva também não agradecia nada. Sem gratidão ou ingratidão. Lóri era uma mulher, era uma pessoa, era uma atenção, era um corpo habitado olhando a chuva grossa cair. Assim como a chuva não era grata por não ser dura como uma pedra: ela era a chuva. Talvez fosse isso, porém exatamente isso: viva. E apesar de apenas viva era de uma alegria mansa, de cavalo que come na mão da gente. Lóri estava mansamente feliz (ALP, pp. 166-167). 330 Um dia; um ano: Em A paixão segundo G.H. e em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres o tempo transforma-se em padrão de coesão da narrativa. 3.2.1 O convite a um novo pacto narrativo nos romances de Clarice Lispector Como mostra James McFarlane, no modernismo, no seu espírito individualista e de negação, de profunda contestação de uma verdade proclamada como absoluta, que levou a outorgar uma marcada ênfase à “fragmentação, o rompimento e a progressiva desintegração daqueles ‘sistemas’, ‘tipos’ e ‘absolutos’ meticulosamente elaborados desde os primeiros anos do século [XIX]” (MCFARLANE, 1989, p. 62), a personagem plana parece não ter lugar. Acrescenta a respeito disso Michel Zeraffa: É ao assumir, conscientemente ou não, uma série de mal-entendidos entre a sua existência subjetiva e a realidade inelutável do mundo que esta personagem aprende e nos ensina que somente é verdadeiro, autêntico, mesmo real, o campo da consciência humana. Também, esta personagem tem uma existência fragmentada, indo de fragmentação em fragmentação. Nunca toma contato a não ser com uma realidade fracionada e fracionadora. Eis aí um ponto capital. Para o Narrador como para Miriam o Leopold Bloom, só é real aquilo que é tocado, aqui e agora – ou, antes, aquilo que vem, no instante, capturar a consciência. Apenas o contingente é real (ZERAFFA, 1971, p. 130, tradução nossa222). Essa virada na concepção da personagem estaria anunciada no prefácio a Srta. Júlia, de Strindberg (1888). Com efeito, ali, diz McFarlane, o autor referido Rejeitava categoricamente as noções oitocentistas sobre as personagens teatrais “fixas”, com identidades derivadas de alguma definição abstrata de, digamos, calhordice, inveja ou avareza, com ações explicáveis por alguma relação simples e direta entre causa e efeito, com traços determináveis, previsíveis e tipificados (MCFARLANE, 1989, p. 63). 222 C’est en assumant, consciemment ou non, une série de malentendus entre son existence subjective et la realité inéluctable du monde que ce personnage apprend et nous apprend que seul est vrai, authentique, réel même, le champ de la conscience humaine. Aussi, ce personnage a-t-il une existence fragmentée, va-t-il de fragmentation en fragmentation. Il n’est jamais au contact que d’une realité morcelée et morcelante. C’est là un point capital. Pour le Narrateur comme pour Miriam ou Leopold Bloom, n’est réel que ce qu’on touche, ici et maintenant – ou plutôt ce qui vient, dans l’instant, assaillir la conscience. Seul est réel le contingent. 331 Que seria isso senão a personagem plana de Forster, definível por uma frase e cujo comportamento serve exclusivamente aos interesses de um enredo regido pelo princípio de causalidade? Como explica Belinda Cannone (2001, pp. 78-79) em Narrations de la vie interiéiure, as mudanças na concepção da personagem decorrem de mudanças na concepção do indivíduo, visto que a personagem representa no romance a pessoa. Assim, no moderno romance de introspecção, em função da nova perspectiva oferecida pela noção de duração, o escritor outorgará primazia à representação da qualidade eminentemente cambiante da personagem, passando a narrar, não mais a sua história, mas o devir da sua existência. Também a vocação introspectiva do romance clariceano está intimamente relacionada ao propósito de mostrar a luta do indivíduo pelo encontro do seu substrato mais profundo (seja individual ou supraindividual) na sociedade reificadora que o nomeia e determina de antemão. Apenas as personagens secundárias têm chances ainda de constituírem tipos, mas, ainda nesse caso, como também observa Cannone (2001, p. 79), de uma forma diferente à que encontramos no romance tradicional. No romance introspectivo por excelência, elas passam a fazer parte das personagens centrais, imbricadas como aparecem (pois, freqüentemente, são apresentados através do olhar das últimas) à sua substância. Dessa forma, verifica-se um esvaecimento dos contornos das personagens na representação da multiplicidade de vozes e visões que conformam o mundo interior de cada indivíduo. Em consonância com esse princípio e também com o fato de serem narrativas monocêntricas (Cf. NUNES, 1995, pp. 28-29)223, as personagens secundárias, em todos os romances de Clarice Lispector que estudamos até aqui, servem quase exclusivamente para espelhar e caracterizar a personagem principal e, muitas vezes, chegam a contagiar-se da sua fala, como acontece em algumas passagens de Perto do coração selvagem com Otávio em relação a Joana. Como aponta Benedito Nunes, eles são “simples mediadores, constituem pólos de atração e repulsão da consciência em crise das personagens” (NUNES, 1995, p. 28). O adjetivo “fluido”, utilizado por Cannone (2001, p. 77 e ss.) para designar a convenção da personagem em geral, pareceria ajustar-se perfeitamente a esta nova modalidade de personagem, caracterizada pela pluralidade e pela mudança. 223 Em uma das primeiras críticas a O lustre, Álvaro Lins já notava que “Virgínia concentra todo o sentido neste novo romance como acontecera com Joana no livro anterior” (LINS, 1963, p. 191). 332 O que diferencia fundamentalmente o tipo do personagem da ficção moderna é que o primeiro evolui “no sentido espacial e não temporal: trata-se de evoluções cênicas” (POUILLON, 1974, p. 163), enquanto o alvo do romance moderno, romance da duração (Cf. POUILLON, 1974, pp. 124 a 150) “se propõe apenas a descrever a evolução de um personagem [no tempo], talvez sem pretender insistir sobre a sua contingência mas, em todo caso, sem nela querer ver a todo custo a marca de uma fatalidade (Ib., p. 124)224. É interessante constatar, com respeito a esta observação, como as personagens de A cidade sitiada (inclusive Lucrécia) constituem tipos. Quanto aos protagonistas dos demais romances, apesar de se encaminharem para a consumação de um destino visto como o cumprir-se da existência, eles são sempre flagrados em situações limite, na contingência do seu devir, que não cessa de se transformar até a morte (da personagem ou da narrativa). Cada nova etapa da des-aprendizagem de Martim, por exemplo, é anunciada por um umbral. É assim que o narrador de A maçã no escuro narra a entrada da personagem no mundo animal: Seu contato com as vacas foi um esforço penoso. A luz do curral era diferente da luz de fora a ponto de estabelecer-se na porta um vago limiar. Onde o homem parou. Habituado a números, ele recuava à desordem. É que dentro era uma atmosfera de entranhas e um sonho difícil cheio de moscas. E só Deus não tem nojo. No limiar, pois, ele parou sem vontade (ME, pp. 94-95). Toda A paixão segundo G.H. é a história de uma passagem: passagem do mundo racional e pessoal para o caótico fundo supra-pessoal; preparação da expressão, que não atinge a concretização completa, pois esbarra com o impossível, o inominável. E em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres a protagonista Loreley renasce, ao deixar atrás o ensimesmamento que caracteriza as personagens anteriores de Clarice Lispector e descobrir a possível comunhão com o outro sem, por isso, abdicar de si mesma. Michel Zeraffa (1971, pp. 150-151, grifo do autor, tradução nossa225) aponta a coexistência, no caso de romances que “priorizam a vida de consciências como campo romanesco fundamental”, de personagens tipos e personagens atípicas no seguintes termos: 224 Acrescenta o crítico francês que “se a compreensão ‘com’ é a que melhor convém aqui, a forma do ‘monólogo interior’ deverá poder ser encontrada neste tipo de romances, visto pretender o monólogo interior constituir a expressão mais lucidamente adequada do evolver do tempo” (POUILLON, 1974, p. 132). 225 [...] une zone comprenant des personnages-types se distingue de manière frappante de la zone du ou des personnages atypiques, qui sont des consciences à la fois fermées sur elles-mêmes et ouvertes (et vulnérables) au monde. Les premiers représentent ce monde. Les seconds le commentent, le critiquent, le voient. Les uns sont libres parce que reliés à un ordre apparent dont ils sont les éléments. Les autres se sentent prisonniers de cet ordre inauthentique, aliénant – qui n’est pas à la ressemblance de leur vie mentale. 333 [...] uma zona que compreende personagens tipos se distingue de maneira marcante da zona da ou das personagens atípicas, que são consciências ao mesmo tempo fechadas sobre elas mesmas e abertas (e vulneráveis) ao mundo. As primeiras representam esse mundo. As segundas comentam-no, criticam-no, vêem-no. Uns são livres porque estão vinculados a uma ordem aparente da qual são os elementos. Os outros sentem-se prisioneiros dessa ordem inautêntica, alienante – que não é à semelhança das suas vidas mentais. Independente das diferentes graduações no tratamento das personagens que podemos achar, tanto no romance tradicional quanto no romance moderno, o certo é que a evolução do gênero mostra uma clara tendência para o apagamento da personagem no que concerne aos dados que a distinguiriam dentro da diegese, ficando à mostra quase exclusivamente o fluxo ininterrupto de seus pensamentos. Assim, esses dados nos são fornecidos (ou não) pelo diálogo da personagem com outras personagens ou pelo que as outras personagens contam ou pensam da primeira. Em Perto do coração selvagem, por exemplo, temos uma perspectiva externa de Joana através do olhar de Lídia sobre ela: Como Joana parecia inexperiente. Falava do amor com tanta simplicidade e clareza porque certamente nada ainda lhe tinha sido revelado através dele. Ela não caíra nas suas sombras, ainda não sentira suas transformações profundas e secretas. [...] Inexperiente, íntegra, intocada, podia confundir-se com uma virgem. [...] Certamente o amor não a ligava nem mesmo ao amor. Enquanto ela própria, Lídia, quase um instante após o primeiro beijo, transformara-se em mulher (PCS, p. 160). No entanto, no romance introspectivo, onde as impressões subjetivas são as enfatizadas, não poderemos nunca confiar plenamente na visão das personagens sobre si mesmas ou sobre os outros. Além disso, nos romances de Clarice Lispector, e como aponta Lícia Manzo a respeito de Perto do coração selvagem, [...] os personagens nos chegam filtrados pelo olhar de quem nos conta, suas vozes estão misturadas à voz de quem nos fala deles, e, nesse sentido, são mais impressões dessa pessoa que narra que seres reais, dotados de vida própria e autônoma. Como numa tela não-realista [...] As vozes aparecem deliberadamente distorcidas, figuras distintas parecem, muitas vezes, ter o mesmo rosto, e em determinados momentos Clarice se esforça em provocar 334 no leitor uma espécie de confusão, em que ele próprio se torne incapaz de separar um personagem do outro (MANZO, 2001, p. 18). Assim, na evolução do gênero romanesco, a personagem vai se tornando, mais que redonda, fluida e escorregadia. Esse fenômeno também é descrito por Michel Zeraffa: A mudança faz a pessoa, mas essa mudança inelutável e necessária impede precisamente a personagem de prender seu Si Mesmo como um todo, pois nem a consciência, nem, sobretudo, o tempo “externo” detêm jamais o seu curso. Para se reconhecer total, para se recompor, é preciso se sentir situado fora do Tempo graças ao “subterfúgio” de uma coincidência entre lembrança “imaginária” e percepção atual (ZERAFFA, 1971, p. 174, tradução nossa226). Ou, como observa Nathalie Sarraute (1987, p. 74), a personagem torna-se “a sombra dela mesma”, pois É a contragosto que o romancista lhe atribui tudo o que pode torná-la mais facilmente determinável: aspecto físico, gestos, ações, sensações, sentimentos correntes, há muito tempo estudados e conhecidos, que contribuem a conferir-lhe de tão bom grau a aparência da vida, oferecendo uma tomada de conhecimento tão confortável ao leitor. Mesmo o nome, do qual lhe é totalmente necessário travesti-la, é para o romancista um estorvo (SARRAUTE, 1987, p. 74-75, tradução nossa 227). Quando lemos estas assertivas da escritora francesa, não podemos furtar-nos a lembrar a narradora autodiegética – personagem central – de A paixão segundo G.H., que não só (não) é identificada apenas por suas iniciais (ou sigla?), como carece de outras personagens, dentro da obra supracitada, que possam dar testemunho a seu respeito, fornecendo, assim, dados acerca de sua identidade ficcional. Em relação ao nome das personagens clariceanas, em “A revelação do nome”, Carlos Mendes Sousa desenvolve uma hipótese conforme a qual por 226 Le changement fait la personne, mais ce changement inéluctable et necessaire empêche précisément le personnage de saisir son Moi comme un tout, car ni la conscience ni surtout le temps “externe” n’arrêtent jamais leurs cours. Pour se reconnaitre total, pour se recomposer, il faut se sentir placé hors du Temps grâce au “subterfuge” d’une coïncidence entre souvenir “imaginaire” et perception actuelle. 227 Voilá porquoi le personnage n’est plus aujourd’hui que l’ombre de lui-même. C’est à contrecoeur que le romancier lui accorde tout ce qui peut le rendre trop facilement repérable : aspect physique, gestes, actions, sensations, sentiments courants, depuis longtemps étudiés et connus, qui contribuent à lui donner à si bon compte l’apparence de la vie et offrent une prise si commode au lecteur. Même le nom dont il lui faut, de toute nécessité, l’affubler, est pour le romancier une gêne. 335 detrás do mesmo estaria oculto o nome da própria escritora, Clarice Lispector. A partir daí, conclui o crítico português que “Clarice Lispector pretendeu inscrever o nome na escrita – dissolvendo-o para o afirmar, impregnando a escrita, enfim, com a sua marca” (SOUSA, 2004, p. 166). Das aproximações que o crítico português faz entre alguns nomes e o nome autoral (SOUSA, 2004, p. 177) resulta de particular interesse anotar aqui as considerações tecidas por ele em torno da personagem G.H. Em primeiro lugar, ele lembra como a autora costumava assinar cartas ou crônicas apenas com as iniciais, iniciais semelhantes às de G.H. (SOUSA, 2004, p. 167). E, depois, ele resgata uma hipótese levantada por Ettore Finazzi Agrò, quem, a partir de um trabalho comparativo entre a autora e o romance do italiano Guido Morselli, Dissipatio H.G., teria chegado à hipótese “de G.H. como Gênero Humano – o que se sustentaria pelo marcado ‘desejo de abstração do particular manifestado pela personagem G.H. logo no início do romance” (SOUSA, 2004, p. 186). Isso, somado ao trabalho de aproximação das iniciais de personagem e autora, leva Agrò a concluir e Sousa a abonar que “se na personagem G.H. se pode encontrar um produto de C.L. (Clarice Lispector), também não se poderá negar que esta é um produto do ‘Gênero Humano’. Dir-se-á que, se G.H. é Clarice, Clarice é G.H.” (Ib., p. 186). Além disso, como aponta oportunamente Auerbach em relação ao romance moderno, “a situação em que se encontram as personagens” também “não é apresentada” em qualquer tipo de “contexto sistemático” ou “espécie de exposição ou introdução” (2004, p. 476). A indeterminação e abstratificação das situações e contextos nos quais se desenvolvem as narrativas clariceanas é evidente de acordo com tudo o que vimos até aqui. Como sintetiza Benedito Nunes (1969, p. 114), “no universo da romancista, o ambiente é Espaço e o Espaço meio de inserção da existência”. Em suma, nesse percurso do romance para o desvendamento da intimidade do indivíduo, os dados típicos da diegese vão se esvaecendo. Ao visar captar a continuidade ininterrupta do fluxo de consciência, dados como o aspecto físico, a profissão, a posição social etc. ficam diluídos por trás da massa de sensações, sentimentos e lembranças228, devendo ser deduzidos aqui e acolá pelo leitor atento que irá, aos poucos, recolhendo os fragmentos que, por sua vez, irão esboçando o contorno das personagens, sem necessariamente – e esta é uma diferença radical em relação ao romance tradicional – atingir 228 Isso passa a constituir uma exigência de verossimilhança, pois ninguém, na sua interioridade, arrola explícita e ordenadamente os fatos e dados da sua vida e da sua identidade civil. 336 uma totalidade. O que sabemos da personagem é ambíguo e parcial e pode permanecer assim até o final da obra. Por outro lado, como observa Gilda de Mello e Souza, a (não- caracterização das personagens nos romances de Clarice Lispector (a crítica se deteve mais em A maçã no escuro) está relacionada também com o eixo temporal. Além de surpreender sempre as suas personagens em momentos de crise (limiares, no dizer de Mikhail Bakhtin, 1981, p. 52), o instante em si é salientado na poética clariceana e, por isso, não se empenhando, por exemplo, em surpreender a cor dos olhos de sua personagem, mas o fato deles serem “positivos”, “sabidos” ou “aflitos”, não tentando precisar os traços da fisionomia, pois eles são “tanto mais indecisos quanto se podia imaginar que eles poderiam se desmanchar para formar outro conjunto, tão prudente em não se definir quanto o primeiro” (SOUZA, 1980, p. 83). Da mesma forma, o aspecto físico da personagem moderna dissipa-se para dar lugar ao desvendamento de uma interioridade sempre priorizada e em constante mutação. Em uma arte cada vez menos retórica e mais temática, em obras que progridem por intervalos, rupturas, simultaneidades e cujo desenho formal parece emanar da própria expressão sonora, o escritor pode ver um modelo técnico que corresponde à expressão de uma pessoa – de uma personagem – não-histórica, de contornos incertos e cujo ser profundo parece se evaporar tão logo se manifesta. Visto que a pessoa não existe mais que por momentos, e se o romancista sabe traduzir esses instantes precários, que carregam em germe uma totalidade sempre fugidia do ser, o leitor terá essa intuição da presença de uma forma que suscita o ritmo na arte musical moderna (ZERAFFA, 1971, p. 87, tradução nossa229). 229 Dans un art de moins en moins rhétorique et de plus en plus thématique, dans des oeuvres progressant par intervalles, ruptures, simultanéités, et dont le dessin formel semble émaner de l’expression sonore elle-même, l’écrivain peut voir un modéle technique qui correspond à l’expression d’une personne – d’un personnage – non historique, aux contours incertains et dont l’être profond semble s’évanouir sitôt qu’il se manifeste. Car la personne n’existe que par moments, et si le romancier sait traduire ces instants précaires, qui portent en germe une totalité toujours fuyante de l’être, le lecteur aura cette intuition de la présence d’une forme que suscite le rythme dans l’art musical moderne. Como aprofundaremos mais adiante, essa nova disposição da personagem incide sobre o trabalho do narrador. Como assinala José Fernandes, “No dinâmico processo de ‘errata pensante’, as sensações são analisadas e julgadas ao sabor do tempo, de modo tal que, no aspecto que transcende o próprio tempo manifesta o narrador o que realmente pensa dos fatos. Visão possível após o ser reduzir-se a nada para a existência no tempo e que revela a inconstância do ser, a sua nulidade para se construir definitivamente e solidamente. [...] existir é transformar-se no espaço-tempo, transformação que pode ser a construção do ser, ou sua desagregação, por isso, não existe um tempo universal, como o cronológico, mas somente o tempo vivido, o instante” (FERNANDES, 1986, p. 210-211). 337 Em função de tudo o exposto, dentro da distinção que propõe Michel Zeraffa (1971, p. 466) entre tipo, caráter e consciência no que concerne ao herói do romance, localizamos as personagens clariceanas dentro do último termo. “Ela seria fluida durante toda a vida” (L, p. 7). De fato, esta breve sentença proléptica, que abre O lustre parece definir com justeza as personagens de Clarice Lispector e não apenas Virgínia, protagonista do referido romance. Mesmo para esse narrador onisciente que se denuncia através da antecipação narrativa, a essência da personagem parece escorrer entre os dedos. À diferença do romance tradicional, o romance clariceano, como o romance moderno, “não mais apresenta o ser humano como um sujeito de estudo, do qual deverá, afinal de contas, achar uma explicação convincente, mas como uma rede de indeterminações (ALBÉRÈS, 1962, p. 132, tradução nossa230). Embora, em função de tudo o visto até aqui, não possamos afirmar que nos romances de Clarice Lispector que analisamos até aqui tenha sido cortado “o cordão umbilical que une a personagem ao seu criador” (BAKHTIN, 1981, p. 43), as personagens da autora não são objetificadas como o eram as personagens de Lúcio Cardoso, pois elas – com exceção de Lucrécia Neves – são inacabadas. Tentamos mostrar até aqui a difícil delimitação da direção da influência de autora/personagens, pois, se bem que as últimas apresentem concepções e visões muito semelhantes às da sua criadora, também é verdade que a autora ia aprofundando sua visão do mundo à medida que ia escrevendo, muitas vezes, de forma parcialmente inconsciente. Por isso consideramos que se dá entre eles “uma relação ideológica de equivalência” (TEZZA, 2003, p. 238)231 e não apenas uma simples refração positiva das idéias do autor no texto através das personagens. Mesmo no caso de O lustre, romance no qual podemos identificar um excedente de visão do narrador sobre a personagem, na sentença que abre o romance e que já citamos, o narrador aponta para a impossibilidade de apreensão total de Virgínia, pois “ela seria fluida durante toda a vida”. Além disso, como já vimos, da mesma forma que Dostoievski, que Bakhtin toma como exemplo para marcar o abandono da modalidade monológica do romance, Clarice “já não focaliza a realidade da personagem mas a sua autoconsciência enquanto realidade de segunda ordem” (BAKHTIN, 1981, p. 41). Como aponta também o crítico russo, quando a personagem não se fecha, encontramos no romance apenas “momentos” de autodefinição da 230 Il ne présente plus l’être humain comme um sujet d’étude, dont il faudra en fin de compte trouver une explication convaincante, mais comme um réseau d’indéterminations [...]. 231 Nesse sentido e de acordo com a terminologia de Mikhail Bakhtin (1981, p. 50), as personagens clariceanas são, sem dúvida, heróis-ideólogos. 338 personagem (Ib., p. 41). Com exceção de A cidade sitiada e O lustre, cujas protagonistas apresentam um nível de autoconsciência limitada, é isso o que verificamos nos romances de Clarice Lispector. Neles, o Eu dos indivíduos não tem nada de substancial. [...] Desfeita num momento e refeita noutro, desagregando-se sempre, e sempre ameaçada, a identidade pessoal parece mais um ideal a atingir, um produto da imaginação, uma meta a alcançar, do que um dado real. Ela não é uma realidade possuída, e sim um projeto, uma possibilidade a cumprir-se (NUNES, 1969, p. 119). Por outro lado, e como também observa Benedito Nunes (1995), as personagens principais dos romances têm alguns traços em comum: a inquietação existencial e a ânsia pela expressão. Além disso, eles increvem-se no processo de abstratificação que implica a escrita clariceana. Por isso é que [...] o homem, na novelística de Clarice Lispector, qualquer que seja a inserção que se lhe dê numa determinada ambiência, doméstica ou social, está primeiramente situado como ser-no-mundo. La está, por sob todas as situações particulares, a situação originária do homem que existe perante si mesmo e perante outras existências. Disso resulta a impressão de que todas as figuras humanas criadas pela romancista são sempre iguais. Os seus personagens resumem-se num só personagem (NUNES, 1969, p. 116). Disso resulta também a fácil aproximação que podemos fazer entre elas e figuras míticas. Por exemplo, como assinala Lícia Manzo, “talvez Ulisses e Lóri devam ser compreendidos como personagens numa perspectiva mítica. Sob um prisma realista, suas falas soariam artificiais, dogmáticas e mesmo incompatíveis com a realidade cotidiana dos homens” (MANZO, 2001, p. 114). Seja pelo seu inacabamento essencial, seja por sua dimensão mítica ou primária, o certo é que a tipificação neles da própria existência ultrapassa a medida psicológica do caráter, distanciando-se da sondagem dos sentimentos e paixões, da análise de múltiplas e complexas motivações de atitudes, que fizeram do romance moderno, como arte por excelência do processo de vida individual, no espaço e no tempo, um instrumento 339 habilitado a explorar o fluxo dos estados de consciências (NUNES, 1969, p. 117). A estrutura do romance pode refletir o inacabamento da personagem que é também o inacabamento da hitória. No caso de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, por exemplo, A vírgula significa a continuidade de um processo que já se iniciou e cujo percurso subseqüente será assinalado pelos ‘dois pontos’ finais, que encerram o romance, mas também apontam para a impossibilidade de fechálo, já que seus personagens não são seres ‘planos’, mas em permanente processo de transformação. A realização plena daquilo por que optarem ser, nas profundezas e na superfície, exige uma constante perquirição interna, impedindo-os de se desviarem dessa trajetória. Desse modo, o romance faz um recorte da vida, não a enclausurando em um quadro estanque e acabado (MELLO, 2003, p. 117). Já as personagens de A cidade sitiada são as personagens planas (ou tipos) que Forster definia como “construídas ao redor de uma única idéia ou qualidade [...]. nunca fogem, nem se espera que se desenvolvam, e têm sua própria atmosfera” (FORSTER, 1998, pp. 66-67). No entanto, como vimos, essas personagens também estão ao serviço de uma paródia (duplo do romance clariceano), e, nesse sentido, a sua função é mais complexa do que a dos fantoches do folhetim. Por outro lado, o apagamento dos traços específicos de individuação faz com que os limites entre autor, narrador, personagem e leitor fiquem cada vez mais difusos, instaurandose um novo pacto narrativo. Como mostra Zeraffa (1971, p. 469, tradução nossa), o problema do narrador torna-se mais agudo, “pela secreta mediação da qual o romancista objetivará os aspectos mais subjetivos de sua pessoa”. E mais, na nebulosa das sensações, lembranças e sentimentos, todos nos achamos no reconhecimento da mesma humanidade. Por último, cabe apontar que, em função dessa passagem para os conteúdos mais subjetivos da alma e também como resultado da pesquisa do ser que se encontra implícita na mesma, nos romances modernistas, o autor não detém um conhecimento (e, em decorrência, controle) completo sobre a realidade que pretende representar e a sua relação com as personagens passa a ser diversa da que mantinha o autor onisciente: constata-se, de fato, uma retroalimentação de autor e personagens. Elas, criadas pelo primeiro, ajudam-no, por sua vez, a guiar-se e continuar adentrando no território desconhecido e sempre parcialmente 340 enigmático da subjetividade. Como aponta o romancista Eduardo, personagem de Os moedeiros falsos: Será difícil, em Os Moedeiros Falsos, conseguir que o leitor admita que aquele que representa a minha personagem pudesse, a-pesar-de viver em boas relações com a irmã, não conhecer os filhos dela. Sempre me custou disfarçar a verdade. Até mesmo mudar a cor dos cabelos me parece uma trapaça que torna para mim a verdade menos verossímil. Tudo se mantém e eu sinto, entre todos os fatos que a vida me oferece, anexações tão sutis, que me parece sempre que não se poderia mudar um único sem modificar todo o conjunto (GIDE, 1939, pp. 89-90). E quando perguntado pela identidade dos moedeiros falsos de que trataria o seu romance, Eduardo responde nada saber (GIDE, 1939, p. 187). Como observa Auerbach (2004, p. 479), em sua análise de Rumo ao farol (exemplo paradigmático de romance moderno) “ninguém sabe nada com certeza, aqui; tudo não passa de conjectura, olhares que alguém dirige a outro, cujos enigmas não é capaz de solucionar”. Essa falta de certeza contribui também para que as personagens se tornem mais fluidas, pois o autor não está em condições de objetivá-las de forma arbitrária como o fazia o autor onisciente do romance tradicional. É o narrador de Os moedeiros falsos quem sintetiza esta nova situação do narrador, com uma boa dose de humor: “Gostaria de saber o que Antoine contou para a amiga, a cozinheira; mas não se pode ouvir tudo ao mesmo tempo. [...] É hora de Bernard ir procurar Olivier. Não sei bem onde ele jantou hoje, nem mesmo se jantou” (GIDE, 1939, p. 28). Ou, ainda, quando hesita em relação aos sentimentos de uma personagem, duas afirmações contraditórias sucedem-se no texto a poucas linhas de distância, na mesma página: “Lady Griffith talvez amasse Vincent;” [...] “ Decididamente Lady Griffith amava Vincent” (GIDE, 1939, p. 61). “Clarice consegue isentar-se do confessional e do memorialismo. Mas é evidente que sua criação é ela mesma”, abona Olga de Sá (1993, p. 63), ao transcrever as idéias de Fernando G. Reis (1968) com respeito à obra da autora. Só que mais tarde, a mesma crítica afirmará, já em seu próprio nome: É o momento de discordar daqueles que identificam Joana ou G.H. com Clarice. Joana chega ao limite de si mesma. G.H. chega ao limite da linguagem, ao limite do humano. Mas, pondo-se a escrever sua estranha experiência, transforma-se em narrador. É Clarice quem se salva. Ela narra, e 341 narrando salva a linguagem enquanto se salva a si mesma (SÁ, 1993, p. 204). Como conciliar estas duas afirmações aparentemente discordantes? Em primeiro lugar – e como já vimos –, cabe lembrar que, para além do nome (que pode ser uma máscara da autora), muitas personagens clariceanas defendem posições e crenças similares às da autora. Lóri, por exemplo, tem a mesma noção de destino, embora não chegue a formulá-la exatamente em termos discursivos: Mais uma vez, nas suas hesitações confusas, o que a tranqüilizou foi o que tantas vezes lhe servia de sereno apoio: é que tudo o que existia, existia com uma precisão absoluta e no fundo o que ela terminasse por fazer ou não fazer não escaparia dessa precisão; [...] tudo o que existia era de uma grande perfeição. Só que a maioria do que existia com tal perfeição era, tecnicamente, invisível: a verdade, clara e exata em si própria, já vinha vaga e quase insensível à mulher. Bem, suspirou ela, se não vinha clara, pelo menos sabia que havia um sentido secreto das coisas da vida. De tal modo sabia que às vezes, embora confusa, terminava pressentindo a perfeição – de novo esses pensamentos [...] (de que, por causa da perfeição que existia, ela terminaria acertando) (ALP, p. 25). Lóri se irrita com a impressão de que “cada vez que lhe ocorria um pensamento mais agudo ou mais sensato [...], ela supusesse que Ulisses era quem o teria” (ALP, p. 28). Não seria esta também uma revolta da personagem em relação à autora, Clarice Lispector? Por isso é que as personagens clariceanas se encontram, se confundem, muitas vezes, inclusive ao olhar dos outros: por exemplo, em Perto do coração selvagem o homem amante de Joana a vê da seguinte forma: “Joana, nome nu, santa Joana, tão virgem. Como era inocente e pura. [...] Ela não era bonita” (PCS, p. 174). No outro extremo da produção clariceana, Rodrigo S.M. pergunta-se acerca de Macabéa: “Ela era santa? Ao que parece” (HE, p. 54); e na hora da morte da personagem, a prece, a aproximação: “Macabéa, Ave Maria, cheia de graça, terra serena de promissão, terra do perdão, tem que chegar o tempo, ora pro nóbis [...]” (HE, p. 101). Também, em Littératures intimes, Sébastien Hubier (2003, p. 84, tradução nossa) aponta a possibilidade de ocorrência, no romance, “de uma personagem que aparece como um ‘eu seletivo’ do autor”, “um ‘ser imaginário composto com elementos vivos tomados de empréstimo à natureza e à experiência do autor” (V. RAOUL apud Hubier, 2003, p. 84). Em 342 boa medida, Joana, Martim, G.H. podem ser considerados, então, eus seletivos de Clarice Lispector. Quanto a Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, afirma Lícia Manzo: “[...] mesmo que pertencendo ao campo do mítico, Ulisses e Lóri são, antes de tudo, projeções do universo interior de Clarice e verdadeiros porta-vozes de seu modo de ver e sentir o mundo” (MANZO, 2001, p. 115). Por isso é também que a autora trata as personagens como pares, e não como objetos: Continuo a trabalhar mas como num pesadelo. [...] Às vezes continuar a escrever tem para mim o ar de uma teimosia, digamos ao menos de uma teimosia mais ou menos vital, mas não muda. Cada vez mais parece que me afasto do bom-senso, e entro por caminhos que assustariam outros personagens, mas não os meus, tão loucos eles são (apud GOTLIB, 1995, p. 242). Nesse aspecto, o romance de Clarice Lispector também não constitui um fenômeno isolado. Ele insere-se em um movimento ocidental da arte romanesca, ao que faz referência Michel Zeraffa quando afirma que “Fundamentalmente, a concepção gideana do romanesco é próxima da de V. Woolf ou de Proust: romance e romancista “devêm” um pelo outro: escritor e personagem perfazem juntos a experiência da instabilidade, da imprevisibilidade da consciência” (ZERAFFA, 1971, pp. 98-99, tradução nossa232). Cabe aqui fazer uma anotação em relação a O lustre, que, sem ser uma narrativa exterior ou adequada aos moldes realistas, como a proposta em A cidade sitiada, têm algumas características que a diferenciam dos outros romances estudados. Em carta a Lúcio Cardoso, contava Clarice: “Eu queria fazer uma história cheia de todos os instantes, mas isso sufocava o próprio personagem. Acho mesmo que meu mal é querer ter todos os instantes” (apud GOTLIB, 1995, p. 199). Isso, que, como vimos, constitui um fator estruturante da ficção clariceana, acarreta dois efeitos conflitantes em O lustre: De um lado, a descrição minuciosa de todos os sentimentos e sensações da protagonista, Virgínia, torna o romance denso e pesado; de outro, esse procedimento narrativo é, em boa medida, o responsável por criar a atmosfera de tristeza e solidão que caracteriza a obra. Observa Silviano Santiago que “Ao se metamorfosear em acontecimento, a experiência imediata ainda permanece como um investimento do sujeito. Um passo outro seria o de, pelo microrrelato, transformá-la em objeto de literatura, passível de descrição 232 Fondamentalement, la conception gidienne du romanesque est proche de celle de V. Woolf ou de Proust : roman et romancier ‘deviennent’ l’un par l’autre : écrivain et personnage font ensemble l’expérience de l’instabilité, de l’imprévisibilité de la conscience. 343 objetiva por parte do narrador” (SANTIAGO, 2004, pp. 237-238). Dado que Virginia não tem capacidade para fazer isso por conta própria, o narrador de O lustre o fará por ela233. Como já se anuncia no início do romance, “[...] o que dominara seus contornos e os atraíra a um centro, o que a iluminara contra o mundo e lhe dera íntimo poder fora o segredo. Nunca saberia pensar nele em termos claros temendo invadir e dissolver a sua imagem” (L, p. 7). Onisciente, à maneira de um narrador tradicional, ele sente também a necessidade de explicar determinadas passagens do romance. Em um monólogo narrativizado da mãe de Virgínia, o narrador esclarece ao leitor, após um travessão: “Tudo era tão irremediável, e ela vivia tão segregada, mas tão segregada, Maria – dirigia-se em pensamentos a uma amiguinha da escola, perdida de vista. Simplesmente continuava, Maria” (L, p. 19); da mesma forma, em um devaneio de Virgínia em torno da sua relação com Vicente, o narrador se intromete para dar uma explicação: Sobretudo todos esses pensamentos eram também a mentira. Apoiada no balcão ela queria alguma coisa com mais veemência do que sempre quisera – e não tinha coragem; é só ter coragem, é isso. Mas também era doce falhar [...] no fundo confundia a vaidade de sentir novos desejos com o gosto de possuir as coisas que eles representavam e misturava a tudo o longínquo desespero da ignorância (L, pp. 279-280). No romance posterior, como observa pertinentemente Lícia Manzo (2001, p. 37) em sua comparação de A cidade sitiada com os trabalhos anteriores de Clarice Lispector, notadamente Perto do coração selvagem, a distância entre narrador e personagens faz-se extrema. Mesmo assim, como já vimos, A cidade sitiada não se dissocia do projeto poético e filosófico que representa a obra de Clarice Lispector. A intenção satírica do romance se vê refletida também nesse distanciamento de narrador e personagens. Como assinala Benedito Nunes, nesta obra, “a narradora se distancia da heroína e, descomprometida com as suas vivências, empresta-lhe aos gestos e atitudes algo de maquinal, e aos pensamentos mais secretos uma ênfase cômica” (NUNES, 1995, p. 34). 233 É no final do romance que achamos a chave dessa leitura. As palavras são do narrador: “Também sofria e perguntava-se já docemente, submissa a si própria: mas por quê? por que afinal desejo ir? Que história uniforme era a sua, sentia ela agora sem palavras. [...] agora era apenas uma mulher fraca e atenta, sim, iniciando ocultamente uma velhice que alguém chamaria de maturidade. Teve alguma palavra mais clara que quase a aproximou de seu verdadeiro pensamento e então, sem se compreender, olhou-se ao vidro da janela, examinando-se ” (L, pp. 312-313). 344 Na imensa maioria dos casos, entretanto, o narrador clariceano não domina a narrativa234, não sabe com precisão o que se seguirá no desenrolar da obra. Como também aponta Benedito Nunes (1995, pp. 48-49, grifos do autor), o discurso do narrador de A mação no escuro é dividido em “enunciados assertóricos correspondentes a uma visão direta e próxima da experiência do personagem” e enunciados dubitativos e hipotéticos que implicam a idéia de incerteza quanto ao que está sendo narrado. Pode-se facilmente constatar isso nos seguintes trechos do romance: “Estar contente era um modo de amar; sentado, Martim estava muito contente. E depois? Bem, só mesmo o que aconteceria depois é que iria dizer o que aconteceria depois” (ME, p. 28). Quando Vitória vem anunciar a Martim a visita do professor no dia seguinte, o narrador reconhece a sua limitação: “O olhar de ambos se encontrou e nada foi transmitido nem dito. Ou seria preciso um deus para entender o que se disseram. Eles se disseram talvez: estamos no nada e tocamos no nosso silêncio. Pois por uma fração de segundo eles se haviam olhado no branco das pupilas” (ME, p. 201). Por outro lado, a hesitação em relação ao seu personagem levam o narrador a refletir sobre si mesmo e sobre a humanidade em geral, o que cria um laço especial entre personagem e narrador: E foi desse modo que Martim de vez em quando se perdeu dos seus objetivos. Houvera mesmo uma finalidade planejada, ou ele apenas seguia uma necessidade incerta? até que ponto estava ele determinado? Martim bem poderia chegar rapidamente a uma conclusão. Mas se você se purificou, o caminho se torna longo. E se o caminho é longo, a pessoa pode esquecer para onde ia e ficar no meio do caminho olhando deslumbrado uma pedrinha ou lambendo com piedade os pés feridos da dor de andar ou sentando-se um instante só para esperar um pouquinho (ME, p. 144). Benedito Nunes descreve esse fenômeno da seguinte forma: [...] pelo comentário que interpreta a experiência narrada, o sujeito-narrador, continuamente presente, também a si mesmo interpreta. A serviço do personagem, a sua voz, que fala dele e por ele, alça-se do espaço comum da narrativa, convertido num espaço agônico, onde se representa o drama da linguagem e da expressão, e que ambos ocupam (NUNES, 1995, p. 54) 234 Em O lustre, já há um prenúncio dessa estratégia narrativa quando o narrador parece afirmar como depois de uma hesitação o tempo em que ocorreu um fato determinado: “No dia seguinte, sim fora nessa época, ela visitara o médico moço” (L, p. 185). 345 Ainda, por trás das palavras desse narrador, podemos surpreender a própria escritora que se revela ao sugerir um método de escrita. Quando Martim dispõe-se a escrever, conta o narrador: “Foi com ligeira surpresa que seu pensamento se provou tão rude quanto os dedos engrossados que seguravam o lápis. [...] Ele não sabia que para escrever era preciso começar por se abster da força e apresentar-se à tarefa como quem nada quer” (ME, p. 170). Da mesma forma, no exemplo a seguir, colhido de Perto do coração selvagem, Ela aprendeu desde cedo a pensar e como não vira de perto nenhum ser humano senão a si mesma, deslumbrou-se, sofreu, viveu um orgulho doloroso, às vezes leve mas quase sempre difícil de se carregar. Como terminar a história de Joana? Se pudesse colher e acrescentar o olhar que surpreendera em Lídia: ninguém te amará... Sim, terminar assim: apesar de ser das criaturas soltas e sozinhas no mundo, ninguém jamais pensou em dar alguma coisa a Joana. Não amor, entregavam-lhe sempre outro sentimento qualquer. Viveu sua vida, ávida como uma virgem – isso para o túmulo. Fezse muitas perguntas, mas nunca pôde se responder: parava para sentir [...] Onde se guarda a música enquanto não soa? – indagava-se. E rendida respondia: que façam harpa de meus nervos quando eu morrer (PCS, pp. 183-184) Quem fala aqui? É Joana, que vinha divagando sobre como contar a sua história para o homem? É o narrador? De quem é a história? Quem é que quer fazer de seus nervos uma harpa? Seria Clarice Lispector, que, anos mais tarde, em crônica para o Jornal do Brasil, para expressar sua admiração pelo Quarteto de Hindemith, escreveria: “Pena que a palavra nervos esteja ligada a vibrações dolorosas, que ‘nervos expostos’ sejam expressão de sofrimento. Se não, seria quarteto de nervos. Cordas escuras que, tocadas, não falam sobre ‘outras coisas’, ‘não mudam de assunto’ – são em si e de si, entregam-se iguais como são” (LISPECTOR, 1999a, p. 230)? Esse tipo de confusão, que acaba conferindo um claro protagonismo à visão da personagem, é o que Dorrit Cohn (1981, p. 43, tradução nossa) denomina consonância discursiva, uma variação do romance psicológico caracterizada pela “interseção de um narrador que permanece na sombra e que com gosto se deixa absorver pela consciência que conforma o objeto da sua narrativa235”. Analisando Retrato do artista quando jovem, observa ainda a crítica norte-americana: 235 [...] intercession d’un narrateur qui reste effacé, et qui se laisse volontiers absorber par la conscience qui fait l’objet de son récit. 346 [...] o narrador sempre está presente, fazendo o seu papel que consiste em relacionar os acontecimentos com as expressões que fazem referência à vida interior [...]. Mas essas expressões denotam sobretudo a discrição da voz do narrador, a sua complacência em face dos pensamentos e dos sentimentos da personagem, aos quais ele cede a iniciativa, ao mesmo tempo em que os narra; [...] Outro procedimento que reforça a unidade do ponto de vista é aquele que consiste em associar estreitamente os pensamentos e os sentimentos com as sensações (COHN, 1981, p. 48, tradução nossa236). Vejamos como isso se traduz nos romances de Clarice Lispector. Nas seções anteriores, fomos indicando a relação (em termos de dados biográficos, comportamentais ou mesmo físicos; no que diz respeito a muitas considerações, reflexões, sensações e/ou sentimentos sintonizados com o pensamento indeterminado da própria autora) entre Clarice Lispector e as suas personagens ou narradores. Mostraremos agora como se dá esse entrecruzamento nas técnicas de narração da interioridade, isto é, como autor, narradores e personagens se confundem e se reenviam uns aos outros, em um jogo de espelhos e máscaras que abrange todas as obras. O uso da psiconarrativa, do monólogo narrativizado, do monólogo citado e do monólogo interior autônomo é, na escritura clariceana, muito particular e serve, em nosso juízo, a vários propósitos. Em primeiro lugar, cabe ressaltar a confusão e a dificuldade de determinar as fronteiras entre esses tipos de técnicas em muitos fragmentos dos romances da autora. O romance em que mais é utilizada a psiconarrativa é O lustre. Como já observamos, entretanto, não é fácil aperceber-se disso, pois a narrativa monocêntrica leva-nos a ler a obra – quase toda ela composta de impressões da protagonista – como um grande monólogo narrativizado. Só que no final, o narrador deixa claro que, embora as sensações e sentimentos de Virgínia fossem dela, as palavras eram dele, pois a personagem carecia da capacidade de expressá-los. Por isso, neste romance, a psiconarrativa funciona da forma caracterizada por Dorrit Cohn nos seguintes termos: 236 [...] le narrateur est toujours présent, jouant son rôle qui consiste à rapporter des événements, avec des expressions qui font référence à la vie intérieure [...]. Mais ces expressions dénotent surtout la discrétion de la voix du narrateur, sa complaisance à l’égard des pensées et des sentiments du personnage, auxquels il cède l’initiative, dans le même temps qu’il les relate; [...] Un autre procédé qui renforce l’unicité du point du vue est celui qui consiste à associer étroitement les pensées et les sentiments avec les sensations. 347 A linguagem lírica, carregada de imagens, desta psiconarrativa tem por objetivo esclarecer a psicologia da personagem, e não reproduzir os mecanismos da mesma. O narrador elabora uma paisagem simbólica que desempenha o papel de uma espécie de equivalência especulativa de fenômenos sublimados que não saberão arribar à consciência e à verbalização por parte da personagem. É metaforicamente que a consciência é designada como um fluxo [...] em lugar de ser representada como tal (COHN, 1981, p. 73, grifos da autora, tradução nossa237). A cidade sitiada, em função do seu propósito “exteriorizante”, constitui um caso isolado da produção de Clarice Lispector. Ainda que ele se insira no projeto poético da autora, as técnicas de representação da interioridade não são tão usadas por motivos óbvios. O protagonismo é outorgado ali à descrição. Mas a partir de Perto do coração selvagem e em todos os outros romances de Clarice Lispector, as técnicas mais utilizadas são o monólogo narrativizado e o monólogo citado (autônomo apenas no caso de A paixão segundo G.H.). E também à maneira de um fluxo, essas técnicas se interpenetram, dando lugar a uma ambigüidade da voz narrativa que atravessa toda a obra da autora. Logo na segunda página do romance de estréia defrontamonos com uma passagem confusa nesse sentido: “‘Oi, oi, oi...”, gemeu baixinho cansada e depois pensou: o que vai acontecer agora agora agora? E sempre no pingo do tempo que vinha nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende?” (PCS, p. 12). Em primeiro lugar temos um monólogo citado, marcado com aspas. Logo a seguir continua a descrição onisciente do narrador heterodiegético que, logo após os dois-pontos, introduz outra fala da personagem sem marcação formal. A seguinte frase, em terceira pessoa, pareceria dar continuação à psiconarrativa. No entanto, termina com um verbo em segunda pessoa que nos confunde, pois não sabemos a quem faz referência. Duas páginas depois, no meio de uma psiconarrativa, encontramos uma frase em primeira pessoa: “Sim, eu sei o ar, o ar!” (PCS, p. 14), espécie de monólogo citado sem marcação formal. Às vezes a primeira pessoa aparece sem marcas formais que a anunciem, no meio de uma psiconarrativa: “Joana sorriu. Nesse sorriso começou a agir, não com força – o 237 Le langage lyrique, chargé d’images, de ce psycho-récit a pour but d’éclairer la psychologie du personnage, et non d’en reproduire les mécanismes. Le narrateur élabore un paysage symbolique qui joue le rôle d’une sorte d’équivalence spéculative de phénomènes subliminaux qui ne sauraient arriver à la conscience et à la verbalisation chez le personnage. C’est métaphoriquement que la conscience est désignée comme un courant [...] au lieu d’être représentée comme um courant. 348 cansaço – mas exatamente como eu a impressionaria. Que tolice estou pensando afinal?” (PCS, p. 151). O “rodízio de pronomes” (ASSIS BRASIL, 1969, p. 23) aparece sem falta em todos os romances escritos em terceira pessoa: “E um novo desejo tocava-lhe o coração: o de livrar-se ainda mais. Sair dos limites de sua vida – era uma frase sem palavras que rodava em seu corpo como uma força apenas. Sair dos limites de minha vida, não sabia ela o que dizia olhando-se ao espelho do quarto de hóspedes” (L, p. 75); em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, a primeira pessoa interrompe um monólogo narrativizado: “A esqualidez límpida e quente. Pensar no seu homem? Não, era a farpa na parte coração dos pés. [...] Era por ódio que não havia água. Nada escorria. A dificuldade era uma coisa parada. É uma jóia diamante. [...] E se o Deus se liquefaz enfim em chuva? Não. Nem quero” (ALP, p. 31). Ainda em Perto do coração selvagem, às vezes, o narrador recorre à psiconarrativa, explicando (mesmo sem deixar lugar a dúvidas) sensações confusas para a personagem. Assim, por exemplo, em analepse que resgata um episódio da vida de Joana – que, por sinal, lembra-nos bastante o conto “O Jantar” –, o narrador comenta: “Joana estremecera arrepiada diante de seu pobre café. Mas não saberia depois se fora por repugnância ou por fascínio e voluptuosidade. Por ambos certamente” (PCS, p. 18). Apesar da primazia absoluta da focalização interna neste romance (como em todos os outros), o narrador intervém brevemente, muitas vezes, para nos alertar sobre as “falhas” ou desvios na interpretação dos fatos pelas personagens, ou na sua auto-representação. Assim, por exemplo, ao descrever todo um processo psíquico de Joana ao descobrir que Otávio continuava com Lídia, o narrador interrompe a focalização interna, imiscuindo-se em seu próprio nome, para pontoar e guiar o leitor: “Deslizou pela casa sem destino, chorou mesmo um pouco, sem grande sofrimento, só por chorar – convenceu-se – simplesmente, como quem acena com a mão, como quem olha” (PCS, p. 149); “Envergonhada, humilde e rejeitada, essa vagara até voltar e Joana estava cada vez mais dura, mais concentrada e cada vez mais perto de si mesma – julgava. Até melhor” (PCS, p. 149). O narrador pode interromper uma fala também para marcar uma situação na cena, como faria um dramaturgo. É o que se verifica no momento em que Joana relata a Lídia o seu encontro com Otávio. Diz a protagonista de Perto do coração selvagem: “Não me lembrei de mais nada. – Pausa – Como é que você o quer: com o corpo?” (PCS, p. 160). O monólogo citado também aparece nos romances sem sinais que marquem a sua irrupção. Por exemplo, no meio do mesmo diálogo entre Lídia e Joana, encontramos este trecho, sem conexão com o contexto: “Sim, compremos o artigo, compremos o artigo. Minha 349 moleza vem de que me preparei demais para a festa” (PCS, p. 152). Pela palavra “moleza”, imaginamos que seja um pensamento de Lídia, mas tudo é confuso, pois o mesmo parágrafo termina retomando a narração heterodiegética: “Joana riu novamente, sem alegria” (PCS, p. 152). Assim, Clarice aproxima-se do monólogo interior à maneira de Joyce, ao entremear o pensamento pré-consciente das personagens: O monólogo interior, em Joyce, assenta na ‘associação das idéias e dos sentimentos’, mas também das angústias, das obsessões: é também o discurso do inconsciente. [...] Esta nova técnica retraça, de maneira por vezes chocante ou subversiva, ‘tudo o que se passa pela cabeça’, antes do estilo que dá forma aos pensamentos. Mas, como há sempre estilo, acaba por se procurar um efeito de não-estilo, de pensamento em bruto – como, na mesma época, os surrealistas com a escrita automática (TADIÉ, 1992, p. 46). “O abrigo no homem” encerra-se com uma síntese do capítulo em tom de devaneio pré-consciente: “Otávio também era bonito, olhos. Esse era uma criança uma ameba flores brancura mornidão como o sono por enquanto é tempo por enquanto é vida mesmo que mais tarde... Tudo como a terra uma criança Lídia uma criança Otávio terra de profundis...” (PCS, p. 185). Confirma-se nesta passagem a observação de Sébastien Hubier de que “o encadeamento de frases é governado pelas associações obscuras de palavras e de idéias, e [...] a ausência de interlocução permite ao monólogo rir das leis da conveniência, da moral e dos próprios hábitos literários” (HUBIER, 2003, p. 107, tradução nossa238). O monólogo citado das personagens estende-se muitas vezes nas obras escritas em terceira pessoa, como Perto do coração selvagem, dando lugar a pequenas narrativas poéticas que freqüentemente utilizam algumas imagens-palavras, núcleos poéticos centrais. É o caso de “chuva” e “estrelas” no devaneio (da p. 70 à 76) que segue à transformação de Joana em mulher: Descobri em cima da chuva um milagre – pensava Joana –, um milagre partido em estrelas grossas, sérias e brilhantes [...] O que querem dizer? Nelas pressinto o segredo, esse brilho é o mistério impassível que ouço fluir dentro de mim [...] Meu Deus, pelo menos comunicai-me com elas, fazei realidade meu desejo de beijá-las. [...] Por que surgem em mim essas sedes estranhas? A chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio, desse bosque com cheiro de 238 [...] l’enchaînement des phrases est gouverné par des associations obscures de mots et d’idées, et [...] l’absence d’interlocution permet au monologue de se rire des lois de la bienséance, de la morale et des habitudes littéraires elles-mêmes. 350 abismo onde corre água. [...] Estrelas, estrelas, zero. A palavra estala entre meus dentes em estilhaços frágeis. Porque não vem a chuva dentro de mim, eu quero ser estrela. Nesse momento, minha inspiração dói em todo o meu corpo. Mais um instante e ela precisará ser mais do que uma inspiração. E em vez dessa felicidade asfixiante, como um excesso de ar, sentirei nítida a impotência de ter mais do que uma inspiração, de ultrapassá-la, de possuir a própria coisa – e ser realmente uma estrela. Aonde leva a loucura, a loucura. No entanto é a verdade [...] Mergulho e depois emerjo, como de nuvens, das terras ainda não possíveis, ah ainda não possíveis. Daquelas que eu ainda não soube imaginar, mas que brotarão (PCS, pp. 70-71). Álvaro Lins atenta para o verbalismo a que a autora sente-se inclinada quando utiliza a técnica do monólogo interior e também para um certo fracasso do estilo que “se revela insuficiente ou impotente quando chamado a transmitir as operações de análise psicológica em profundidade” (LINS, 1963, p. 193). Consideramos esta última crítica pertinente quando levamos em consideração os critérios de que dispunha um crítico como Álvaro Lins. No entanto, hoje sabemos que Clarice não queria analisar, mas simplesmente mostrar as sensações e sentimentos das suas personagens, sensações que são um pré-pensamento. Além disso, muitas personagens, marcadas pela intensa procura existencial e expressiva que acalentava a própria autora, vêem-se impelidos a recriar o mundo e a linguagem que o nomeia a fim de captar um sentido (não necessariamente uma compreensão), mesmo que fugidio, para a sua experiência, o seu ser-no-mundo. Como sintetiza Michel Zeraffa, fazendo referência ao Narrador proustiano, A personagem desmistifica a sua própria consciência e o mundo. Ela os arranca das noções comumente admitidas para revelá-los e recriar a sua própria existência. O mundo deve ser experiência. Na sua exigência de autenticidade, a personagem tende a atravessar as palavras, os aspectos do outro, as próprias noções (particularmente, as do tempo e as do amor). Para além das formas e das fórmulas, procura apreender as substâncias, os conteúdos, uma matéria que a sua consciência possa integrar verdadeiramente. A procura da identidade implica a desagregação das aparências. Primeiro, o Narrador confiou nos nomes, depois os afastou a fim de descobrir, sob os seus rótulos, verdadeiras coisas e verdadeiros seres. [...] Essa exigência de autenticidade concreta compromete, para além das formas aparentes, do externo, a sensibilidade da personagem e a sua inteligência: na narrativa baseada no monólogo vai intervir a própria consciência do corpo 351 ou, antes, a consciência pelo corpo (ZERAFFA, 1971, p. 154, tradução nossa239). Por outro lado, Sébastien Hubier (2003, p. 106, tradução nossa) aponta, como principal característica do monólogo autônomo (depois da falta aparente de encadeamento lógico) “a onipresença da modalidade exclamativa que afeta a quase totalidade dos enunciados em primeira pessoa240”. Além dos trechos citados acima, que confirmam essa colocação, não é difícil encontrar frases soltas de monólogo citado que também trazem essa ênfase exclamativa: “Joana alisou os cabelos vagamente, a lâmina fria encostada ao coração quente, sorriu de novo, oh, só para ganhar tempo” (PCS, p. 148). Aquele “Meu Deus” que encontramos sem falta em todas as obras de Clarice Lispector serve ao mesmo propósito. A invocação à divindade é utilizada, no próximo fragmento, como passagem para o indeterminado terreno do sonho, da fantasia: Joana sobressaltou-se. Ah, eu estive trabalhando para isso: consegui ser sublime... como nos antigos tempos... [...] Quando eu for embora ela me desprezará é apenas no momento que está deslumbrada. Sou fugazmente maravilhosa... Deus, Deus... caminho correndo, alucinada, o corpo voando, hesitando... para onde? Há uma substância assustada e leve no ar, eu consegui obtê-la, é como o instante que precede o choro de uma criança. Naquela noite, não sei quando, havia escadarias, leques se movendo, luzes ternas balançando os doces raios como cabeças de mães tolerantes, havia um homem olhando para mim lá da linha do horizonte, eu era uma estranha, mas vencia de qualquer modo, mesmo que fosse desprezando alguma coisa (PCS, pp. 163-164). Freqüentemente é difícil estabelecer se a explicação dada para uma determinada sensação ou sentimento é do narrador ou da personagem, ou, em outras palavras, se a técnica 239 Le personnage démythifie sa propre conscience et le monde. Il les arrache aux notions communément admises pour en révéler et en recréer l’existence même. [...] Le monde doit être expérience. Dans son exigence d’authenticité, le personnage tend à traverser les mots, les aspects d’autrui, les notions même (celle de temps en particulier, et celle d’amour). Au-delà des formes et des formules, il cherche à appréhender des substances, des contenus, une matière que sa conscience puisse véritablement intégrer. La quête de l’identité implique la désagrégation des apparences. Le Narrateur s’est d’abord fié aux noms, puis les a écartés afin de découvrir, sous ses étiquettes, de vraies coses et de vrais êtres. [...] Cette exigence d’authenticité concrète concerne, au-delà des formes aparentes, de l’externe, la sensibilité du personnage comme son intelligence : dans le récit monologué va intervenir la conscience même du corps ou plutôt la conscience par le corps. 240 [...] l’omniprésence de la modalité exclamative qui affecte la quasi-totalité de énoncés à la première personne. 352 utilizada pela autora é a psiconarrativa ou o monólogo narrativizado. Por exemplo, ainda em Perto do coração selvagem, reflete Joana ou conta-nos o narrador: Otávio transformava-a em alguma coisa que não era ela mas ele mesmo e que Joana recebia por piedade de ambos, porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta. E também: como ligar-se a um homem senão permitindo que ele a aprisione? como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? (PCS, p. 32). Na visita de Joana ao professor, com vistas a anunciar-lhe seu próximo casamento: Ele mal erguera os olhos. Sua frase flutuava no ar, tola e tímida. Vou continuar, é exatamente de minha natureza nunca me sentir ridícula, eu me aventuro sempre, entro em todos os palcos. Otávio, pelo contrário, com uma estética tão frágil que basta um riso mais agudo para quebrá-la e torná-la miserável. Ele me ouviria agora inquieto ou senão sorrindo. Otávio já estava pensando dentro dela? ela já se transformara numa mulher que ouve e espera o homem? Estava cedendo alguma coisa... Queria salvar-se, ouvir o professor, sacudi-lo. Então esse velho que estava à sua frente não se lembrava de tudo o que lhe dissera? (PCS, p. 122). Toda essa confusão serve, em primeiro lugar para criar uma ambigüidade em torno de quem está falando no romance: se o narrador, a personagem, ou, em função da coincidência de muitos deles com a visão do mundo da própria autora, se Clarice Lispector ela mesma. A sistemática falta de marcação formal na passagem da terceira para a primeira pessoa confirma essa hipótese, pois a sua recorrência indica-nos que se trata de uma marca do estilo clariceano e não de uma falta de cuidado ou de atenção na escrita. Como resultado disso, e como bem assinala Lícia Manzo (2001, p. 6), “quando Clarice diz ‘ela’, e quando Joana diz ‘eu’ não há dissonância alguma”. Além de contribuir para criar o efeito de incerteza em torno da voz narrativa, o rodízio de pronomes pode ter motivações mais específicas. Conforme a visão de José Fernandes (1986, p. 237), por exemplo, Perto do coração selvagem seria a história de uma luta (expressa pela estratégia narrativa) no interior de Joana entre a objetividade (que a submete à palavra do 353 outro – narrador) e a subjetividade (que seria apenas vislumbrada no final). Ele chama o romance de narrativa mista justamente por essa oscilação entre a primeira e a terceira pessoas (Ib., p. 239). No final, personagens e romancista se encontram nas mesmas inquietações e dilemas existenciais: Sendo a problemática de Clarice Lispector uma “indagação ontológica”, escapa ao enfoque autobiográfico e ao psicológico, articulado nas relações de subjetividade, mesmo quando ela usa a 1ª pessoa do singular. Isto reforça a perspectiva de que sua ficção aponta decididamente para o metafísico. As relações de subjetividade se criam para conferir dramaticidade à narrativa. Filtram-se em Joana, Virgínia, Martim, as indagações da ficcionista, marcadas pela sua particular maneira de ver e sentir. Daí a importância do monólogo interior e do discurso indireto livre, em seu estilo. O monólogo representa um mergulho no fluxo de consciência das personagens para colher a gênese dos pensamentos e sentimentos, coordenadas do mesmo dualismo interior em que parece debater-se a romancista: o desejo de viver ou analisar a consistência da vida; participar do sangue grosso da existência ou atirar-se no jogo da escritura. (SÁ, 1993, pp. 141-142). E como já vimos, seja qual for a técnica adotada no romance – psiconarrativa, monólogo narrativizado ou citado –, a pontuação é geralmente liberta de normas: “Fechou os olhos, os braços ao longo da cama. Mas apenas até o momento em que soassem os passos de Joana lá fora. Porque ele nunca ousara abandonar-se em sua presença” (PCS, p. 174). Outro recurso que serve para unir, não apenas personagens e autora, mas também o leitor e, não raro, a humanidade como um todo, é o uso da primeira pessoa do plural, que irrompe em alguns momentos da narrativa e que, por ser indeterminada, universaliza as afirmações vazadas no texto, o que constitui, por isso, outro dos recursos retóricos mais importantes da prosa clariceana241. No seguinte trecho de Perto do coração selvagem, sentese especialmente o apelo à cumplicidade e sensibilidade do leitor. Confessa a Joana mulher: “Mas estou cansada, apesar de minha alegria de hoje, alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Estou cansada, agora agudamente! Vamos chorar juntos, baixinho. Por ter sofrido e continuar tão docemente” (PCS, p. 22). Mas é sem dúvida em A maçã no escuro e em A paixão segundo G.H. onde esse recurso é mais recorrentemente utilizado. Na seguinte passagem de A maçã no escuro revelase particularmente o sentido de universalização (ou abstratificação) atrelado ao uso da 241 Booth (1980) classificaria este recurso dentro do que ele denomina “retórica camuflada”, pois trata-se de uma estratégia não tão evidente quanto as utilizadas no romance tradicional. 354 primeira pessoa do plural. Ao narrar a cena do sermão às pedras que Martim profere, e ao fazer um sumário da vida passada da personagem, conta o narrador: Mas, com o tempo passando, ao contrário do que seria de esperar, ele fora se tornando um homem abstrato. [...] sua alma se tornara abstrata, e seu pensamento era abstrato: ele poderia pensar o que quisesse, e nada aconteceria. Era a imaculabilidade. [...] Seu próprio corpo era abstrato. E as outras pessoas eram abstratas: todos se sentavam nas cadeiras do cinema escuro, vendo o filme. Na saída do cinema – mesmo não esquecendo o doce vento que nos aguardava, e que nem sequer podeis imaginar pois nada tem a ver com o estúpido sol de que uma pedra é vítima e do qual passou a ser feita – na saída do cinema, ao doce vento, havia um homem em pé pedindo esmola, então dava-se a esmola abstrata sem olhar o homem que tem o nome perpétuo de mendigo. [...] Nós éramos eternos e gigantescos. Eu, por exemplo, tinha um vizinho enorme (ME, p. 46, grifos nossos). No espaço de menos de uma página, aparecem conjugadas praticamente todas as pessoas gramaticais (com exceção da segunda do singular) e também há o sujeito indeterminado do “dava-se”. Por isso, junto com Berta Waldman, consideramos que o “nós” é uma janela para o vazio da voz narrativa e uma preparação para a escritura clariceana que abordaremos no final deste capítulo: O nós parece ser, paradoxalmente, o lugar onde o sujeito sobrevive e onde ele se apaga. [...] Essa presença e diluição do sujeito na primeira pessoa do plural pode ser vista como homóloga àquela que ocorre no discurso indireto livre que, como já disse, é o tom privilegiado nos romances de Clarice Lispector. Aqui, o sujeito da enunciação (narrador) é arrastado por uma força que o atrai para o enunciado (plano dos personagens), transformando-se em ausência, marcando, desse modo, na própria origem da narração, a experiência do vazio. O resultado é o discurso atópico, próprio e alheio, no meio-fio entre o eu e o outro (WALDMAN, 1993, pp. 65-66, grifos da autora). Olga de Sá, por sua vez, enfatizará outro aspecto estrutural que assume esse “nós” na mesma obra: “As enunciações sobre a condição humana, em geral, multiplicam-se no livro com o narrador falando na primeira pessoa do plural – nós – e se imbricam na narrativa, de modo a formar um tecido inconsútil, impossível de recortar, sem colocar em risco sua privilegiada unidade” (SÁ, 1999, p. 83). É o que se verifica, por exemplo, neste pequeno fragmento do romance: “Que chovia, disse ela. Pois também desse modo eu te amo, pensou antes de adormecer, a escuridão também era bondade, nós também éramos bondade” (ME, p. 355 235). Note-se de passagem, e novamente, a ambigüidade criada por esse “nós” e também pela não-marcação das diferentes falas. Primeiro, a descrição de uma fala; depois, monólogo citado sem aspas (primeira pessoa); a seguir, um monólogo narrativizado; e, por último, um “nós” que, em função do estilo ao qual nos acostumou a autora no decorrer de toda a obra, não sabemos se referido a duas personagens ou se universal. As sentenças introduzidas por esse “nós” não se diferenciam muito das sentenças que o autor do romance tradicional (como Lúcio Cardoso) entremeava na narrativa. O que dissimula a estratégia utilizada por Clarice Lispector é que essas afirmações universalizadoras, exprimidas no presente gnômico, não destoam das reflexões, sentimentos, falas e inquietações das próprias personagens e, ao serem percebidas (lidas) como uma continuação natural daquelas, a intromissão do autor fica muito mais velada. É assim que acontece em A paixão segundo G.H. Vejamos alguns exemplos: Se eu gritasse ninguém poderia fazer nada por mim; enquanto, se eu nunca revelar a minha carência, ninguém se assustará comigo e me ajudarão sem saber; mas só enquanto eu não assustar ninguém por ter saído dos regulamentos. Mas se souberem, assustam-se, nós que guardamos o grito em segredo inviolável (PSGH, pp. 62-63). Quero o material das coisas. A humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso; e essa falsa humanização impede o homem e impede a sua humanidade. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se transformar em “pureza”, nossas mãos que são grossas e cheias de palavras (PSGH, pp. 157-158). É que outra característica da escritura clariceana, e que contribui para à questão do apagamento da separação entre personagens, narrador e autora, é a uniformidade do tom e do estilo das falas das diferentes personagens, cujas inquietações e os assuntos sobre os quais refletem – como acabamos de observar – freqüentemente se confundem com as perquirições da própria escritora. Os narradores e personagens dos seus romances (com exceção de Macabéa, Olímpico, Glória e a cartomante de A hora da estrela, romance que será analisado na última seção deste capítulo) herdam também a forma de expressão de Clarice Lispector. Assim, a narrativa monocêntrica estende-se ao domínio da linguagem. Talvez o traço mais marcante dessa uniformidade estilística seja aquele “meu Deus” que aparece intercalado em qualquer contexto, independente da pessoa gramatical que esteja sendo usada e independente do narrador ou personagem que esteja falando. Essa marca é tão 356 característica da escrita clariceana que a própria autora faz referência a ela quando fala da impossibilidade, para ela, de escrever histórias que comecem com “era uma vez”, isto é, histórias apenas narrativas (LISPECTOR, 1999a, p. 406). Vejamos apenas três exemplos extraídos do romance de estréia. Recorrendo à psiconarrativa, o narrador conta a primeira fuga de Joana da casa da tia e sua chegada ao mar: “Sua felicidade aumentou, reuniu-se na garganta como um saco de ar. [...] Era uma alegria quase de chorar, meu Deus” (PCS, p. 40). Os ciúmes que sente Joana da esposa do professor serão enfatizados pela interjeição que se imiscui no meio de um monólogo narrativizado da personagem: “Também ele notaria, meu Deus, pelo menos também ele notaria quanto aquela mulher branca era odiosa [...]?” (PCS, pp. 59-60). Mais tarde, a passagem para a maturidade em Joana será marcada no texto pela desidealização do professor, figura paterna: “Olhando-o Joana descobria que ele era apenas um velho gordo ao sol, os ralos cabelos sem resistir à brisa o grande corpo largado sobre a cadeira. E o sorriso, meu Deus, um sorriso” (PCS, pp. 120-121) Também o imaginário que aparece nas obras é sempre similar e, às vezes, ele se faz presente pela boca das personagens. Já mencionamos aqui outro símbolo da poética clariceana, o ovo. Observemos este diálogo entre o pai de Joana e o seu amigo: “ – Qual é a sensação de ter uma guria?, o homem mastigava. [...] – Às vezes, a de ter um ovo quente na mão” (PCS, p. 26). Ainda em Perto do coração selvagem temos outro exemplo muito ilustrativo da uniformidade do estilo quando, no capítulo “Otávio”, o foco se desloca de Joana para aquela personagem, mantendo-se exatamente o mesmo tom e linguagem. Isso não quer dizer que não haja diferenças entre as personagens. No caso de Otávio, por exemplo, é acentuada uma repressão e uma culpa de tipo religiosa em relação a sua prima Isabel que certamente Joana desconhece. Por outro lado, e como já observamos em relação ao uso da primeira pessoa do plural, as digressões que poderiam ser atribuídas à própria escritora são introduzidas, na maioria das vezes, na fala das personagens. Observemos na próxima citação como Otávio, não só exprime uma idéia da própria autora (duvidando, inclusive, sobre a autoria), como, contrariamente ao seu hábito, encontra um método de escrita igual ao de Clarice, de anotação da idéia que vem espontaneamente: 357 Contrariando a regra de trabalho – uma concessão –, pegou no papel e no lápis mesmo antes de estar inteiramente preparado. Mas desculpou-se, não queria perder aquela nota, talvez lhe servisse um dia: “É necessário certo grau de cegueira para poder enxergar determinadas coisas. É essa talvez a marca do artista. Qualquer homem pode saber mais do que ele e raciocinar com segurança, segundo a verdade. Mas exatamente aquelas coisas escapam à luz acesa. Na escuridão tornam-se fosforescentes” [...] Era dele mesmo? Toda a idéia que lhe surgia, porque se familiarizava com ela em segundos, vinha com o temor de tê-la roubado (PCS, pp. 126-127). É comum encontrar na fala das personagens (atribuíveis à autora, ao narrador ou às próprias personagens ou a ambas) digressões gnômicas do tipo que o narrador tradicional introduz na sua narrativa a fim de guiar a leitura com vistas a obter um determinado efeito. A seguir, Otávio reflete: Nada se perde, nada se cria. O homem que sentisse isso, que dizer, não apenas compreendesse, mas adorasse, seria tão feliz como o que acredita realmente em Deus. No começo dói um pouco, mas depois a gente se acostuma. Quem escreve esta página nasceu um dia (PCS, p. 128). Aqui o “a gente” aparece em substituição ao “nós”, atraindo o leitor para dentro do texto ficcional, ao atingi-lo de uma forma mais familiar do que se fosse usada a primeira pessoa universalizadora do plural. Avançando mais um pouco em Perto do coração selvagem, encontramos uma paródia da retórica explícita utilizada com freqüência na narrativa tradicional, bem como da apresentação tipificada (simplificada) das personagens. Anuncia Otávio: “Vou comover todos, chamá-los para se enternecerem comigo. Vivo com uma mulher nua e fria [...]. Vou comover todos, não agasalho meus erros, mas que todos me agasalhem” (PCS, p. 128). Talvez a pergunta mais oportuna seria, neste caso: Quem escreve essa página? Em nossa dissertação de Mestrado já tínhamos introduzido implicações acarretadas por aquele escopo absoluto da escrita para Clarice Lispector sobre a relação entre autor, narrador e personagens. Basicamente, nas epígrafes que servem de introdução a este capítulo é possível detectar a intenção de um jogo de máscaras que Mendilow (1972, p. 254) interpretará como um tipo de intrusão particular do autor no romance moderno. É assim que Benedito Nunes 358 fala dessa estratégia narrativa de Clarice Lispector, ao analisar os seus dois primeiros romances: O papel da protagonista [...] excede a função de um primeiro agente, que apenas conduz ou centraliza a ação. Ela é a origem e o limite da perspectiva mimética, o eixo através do qual se articula o ponto de vista que condiciona a forma do romance como narrativa monocêntrica, isto é, como narrativa desenvolvida em torno de um centro privilegiado que o próprio narrador ocupa. Em suma, a posição do narrador se confunde ou tende a fundir-se, nessa forma, com a posição da personagem (NUNES, 1995, pp. 28-29, grifos do autor). Para começar, já em Perto do coração selvagem, enquanto a menina Joana (que gosta de escrever poesias) brinca com a sua boneca, o narrador heterodiegético informa-nos que “a filha, a fada, o carro azul não eram senão Joana, do contrário seria pau a brincadeira. Sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal exatamente quando os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura” (PCS, p. 13). De forma similar, como estamos mostrando, a autora ocuparia o papel principal dos seus romances. Em uma das primeiras críticas sobre a obra de Clarice Lispector, Álvaro Lins iniciava seu texto marcando “a presença muito visível e ostensiva da personalidade da autora logo no primeiro plano” (LINS, 1963, p. 186). Esta visibilidade da personalidade da autora é o que tornaria, conforme o crítico carioca, incompleta a sua tentativa (Perto do coração selvagem) como obra de ficção. Já vimos como a própria Clarice Lispector concebia esta questão e como ela mesma, então, responderia a essa crítica. Já Lícia Manzo verá nessa uniformidade estilística a marca diferenciadora da escritura clariceana: Todos falam como Clarice. Clarice fala como todos. E o que poderia ser apenas um defeito, ou uma terrível limitação na história de qualquer outro ficcionista, é o que personaliza a obra de Clarice Lispector: a incapacidade de sair de dentro de si mesma, a presença de uma força afirmativa que se apropria de tudo o que está a sua volta, fazendo com que as coisas passem todas a pertencer à lógica de seu universo particular (MANZO, 2001, p. 16). Outro fator que contribuirá de forma decisiva para instaurar a ambigüidade in crescendo sobre quem fala no romance clariceano é o recurso constante do duplo, em todas as suas modalidades. 359 Em Perto do coração selvagem, em primeiro lugar, temos o duplo de Joana e da mulher do professor, de quem a púbere sente inveja e com a qual compete. A primeira representa, no momento do romance em que é apresentada (pp. 59 e ss.), o que a menina Joana almejaria ser: basicamente (e na visão de Joana) uma mulher feita, segura de si e, mais, a mulher do professor: Com o professor, dizia ela brincando com intimidade, e era branca e lisa. Não miserável e sem saber de nada, não abandonada, não com os joelhos sujos como Joana, como Joana! Joana levantou-se e sabia que sua saia era curta, que sua blusa colava-se ao busto minúsculo e hesitante (PCS, p. 62). Mais tarde, Joana, já adulta, encontra-se no seu duplo: “E, apesar da repulsa que a outra ainda lhe inspirava, numa reminiscência, Joana descobrira surpresa que não só então, mas talvez sempre, se sentira unida a ela, como se ambas tivessem algo secreto e mau em comum” (PCS, p. 121). E quando Joana é uma mulher casada, ao procurar apartamento para alugar, encontrase com uma mulher de voz própria, ao contrário da dela, que havia tempo tinha se transformado na “voz de uma mulher jovem junto de seu homem. [...] aguda, vazia, lançada para o alto, com notas iguais e claras” (PCS, p. 77). Joana surpreende(-se com) “Uma mulher qualquer, cuja voz, porém ressoa aos ouvidos hipersensíveis de Joana como um impacto que questiona, pela sua qualidade inconsciente e sensorialmente feminina, a voz inteligente e articulada da protagonista, obcecada por exprimir as análises de seu agir” (SÁ, 1993, p. 221). É nesta mulher, de “corpo limpo” e “cabelos escuros. Grande, forte” (PCS, p. 78), e que tinha uma “voz de terra” (PCS, p. 78), que Joana projetará seu desejo de apenas existir, sem mais. Imagina então que, alheia às reflexões que perturbam o espírito de Joana, Ela não tinha história [...]. Porque se lhe aconteciam coisas, estas não eram ela e não se misturavam à sua verdadeira existência. O principal – incluindo o passado, o presente e o futuro – é que estava viva. Esse o fundo da narrativa. [...] o murmúrio leve e constante como o de água entre pedras. Por que descrever mais do que isso? É certo que lhe aconteciam coisas vindas de fora. [...] Aconteciam-lhe coisas. Mas apenas vinham adensar ou enfraquecer o murmúrio do seu centro. Por que contar fatos e detalhes se nenhum a dominava afinal? E se ela era apenas a vida que corria em seu corpo sem cessar? [...] Ainda não se cansara de existir e bastava-se tanto que às vezes, de grande felicidade, sentia a tristeza cobri-la como a sombra de um manto, deixando-a fresca e silenciosa como um entardecer. Ela nada esperava. Ela era em si, o próprio fim (PCS, pp. 79-80). 360 Uma mulher que, no devaneio de Joana, teria renunciado à superficialidade e artificialidade do social, cumprido seu destino social, para depois, afastar-se de tudo sem se importar com o preço da solidão, como fará Joana no final do seu percurso existencial. Para Joana, aquela era uma “mulher apenas fêmea, em que Joana surpreendeu o segredo de viver. A voz daquela mulher não pertencia ao domínio da fala, da palavra, que perde o suco da existência; era uma voz-sensação, uma voz sem inteligência, instintiva e aderente à sua natureza de mulher, natureza jamais traída nos caminhos dos signos” (SÁ, 1993, p. 229). Imagina ou projeta Joana sobre a mulher da voz: Uma vez dividiu-se, inquietou-se, passou a sair e a procurar-se. Foi a lugares onde se encontravam homens e mulheres. Todos disseram: felizmente despertou, a vida é curta, precisa-se aproveitar, antes ela era apagada, agora é que é gente. Ninguém sabia que ela estava sendo infeliz a ponto de precisar buscar a vida. Foi então que escolheu um homem, amou-o e o amor veio adensar-lhe o sangue e o mistério. Deu à luz um filho, o marido morreu depois de fecundá-la. [...] Juntou todos os seus pedaços e não procurou mais as pessoas. [...] E agora, mais do que sempre, nunca se vira uma coisa ou uma criatura mais feliz e mais completa. Apesar de que muitos a olhavam com complacência, achando-a fraca. [...] Nada do que diziam lhe importava, assim como os acontecimentos, e tudo deslizava sobre ela e ia perder-se em águas outras que não as interiores (PCS, pp. 80-81). “É bom ser. Mas só isso” (apud. BORELLI, 1981, p. 21), afirmava Clarice Lispector, a quem facilmente detectamos por trás das falas destas duas faces da mesma mulher. No devaneio de Joana, a mulher da voz morrerá ao cair na armadilha alienante da consciência, pois ela só sabia viver apenas sendo: Dentro de si algo tentava parar. Ficou esperando e nada vinha dela para ela. [...] Então soube que estava esgotada e pela primeira vez sofreu porque realmente dividira-se em duas, uma parte diante da outra, vigiando-a, desejando coisas que esta não podia mais dar. Na verdade, ela sempre fora duas, a que sabia ligeiramente que era e a que era mesmo, profundamente. Apenas até então as duas trabalhavam em conjunto e se confundiam. Agora a que sabia que era trabalhava sozinha, o que significava que aquela mulher estava sendo infeliz e inteligente. Tentou num último esforço inventar alguma coisa, um pensamento, que a distraísse. Inútil. Ela só sabia viver. Até que a ausência de si mesma acabou por fazê-la cair dentro da noite e pacificada, escurecida e fresca, começou a morrer. Depois morreu docemente, como se fosse um fantasma (PCS, pp. 82-83). 361 É assim que Joana descobre a impossibilidade de simplesmente viver sem uma forma (“Eram tão pobres os caminhos da ação”, PCS, p. 83) e, tomada pela inveja, a sua vingança em relação à mulher (e o seu consolo pela impossibilidade de ser a mulher da voz) consiste em matá-la, “jogando sobre aquela mulher intumescida de vida seu pensamento frio e inteligente” (PCS, p. 83). Essa revolta em relação ao seu destino de mulher casada e acomodada é o que opõe Joana a seu terceiro duplo, Lídia. Figura materna, acolhe Otávio como se fosse uma criança, aceitando a sua incompreensão e calando para não criar conflito. Ela “sabia que era inútil resolver sobre o próprio destino. [...] Inútil seguir por outros caminhos, quando para um só seus passos a guiavam” (PCS, p. 94); “[...] uma pequena família. Era isso o que desejava. Como um bom fim para toda a sua história” (PCS, p. 137). A revolta de Lídia, em momentos em que ela conseguia projetar o preço de dedicar sua vida exclusivamente a um homem, era falsa, “uma tentativa de libertação que vinha sobretudo com muito medo de vitória. [...] A resignação era doce e fresca. Nascera para ela” (PCS, pp. 94-95). Amava Otávio sem necessidade de motivos, “Alegria de aceitar inteiramente, de sentir que unia o que havia de verdadeiro e primitivo em si a alguém, independente de qualquer das idéias recebidas sobre beleza” (PCS, p. 135). Ela, pura aos olhos de Otávio, está fadada a ser abandonada por seu homem: Joana “Tinha pena de Lídia, sabia que, mesmo sem motivo, mesmo sem conhecer outra mulher, embora ela fosse a única, ele a abandonaria alguma vez” (PCS, p. 95). A maternidade confere-lhe o único poder destinado socialmente às mulheres, o que não passa despercebido a Otávio, que flagra no rosto de Lídia “Uma crueldade distraída... [...] um sorriso horrível, satisfeito” (PCS, p. 138). “E ele mesmo lhe dera o reinado, o tolo...” (PCS, p. 139). A fim de marcar o contraste entre Lídia e Joana e provocar uma expectativa do leitor para, imediatamente, rompê-la, Clarice interrompe a cena entre Otávio e Lídia e volta a Joana, escrevendo: “Joana passou a mão pelo ventre estufado da cachorra” (PCS, p. 96). O gesto de passar a mão pelo ventre nos remete imediatamente à idéia de gravidez, mas de gravidez de Joana, e não de uma cachorra. Logo descobrimos que Joana não é a mulher-mãe, Joana “não é bonita, fina demais” (PCS, p. 97), é a mulher que “fala com uma justeza de termos que horroriza” (PCS, pp. 96-97) e que, justamente pelo domínio racional, faz Otávio se sentir inútil e afeminado (PCS, p. 97). Ela “se voltava para ele no momento preciso, sorridente, fria, pouco passiva. E tolamente ele agia, falava, confuso e apressado em 362 obedecer-lhe” (PCS, p. 97); Ela destruía “as pequenas e cômodas fórmulas que o sustentavam e lhe facilitavam a comunicação com as pessoas” (PCS, p. 97). Joana mente, enreda seu marido em exercícios mentais, pelo prazer de “desenvolver um raciocínio sem plano, seguindo-se apenas [...] Mas agora ela falava também porque não sabia dar-se e porque sobretudo apenas pressentia, sem entender, que Otávio poderia abraçá-la e dar-lhe paz” (PCS, p. 100). Com esta última frase, Clarice Lispector rompe mais uma vez com o binarismo imposto pelo sistema de sexo-gênero e também pelo conceito. Quando tudo nos leva a acreditar que, de acordo com aquele sistema, Joana estaria sendo caracterizada como masculina (predomínio da razão, domínio sobre o outro, atitude ativa), a autora anota um sentimento de fragilidade. A disputa no interior de Joana entre razão e sensibilidade é permanente. Após descobrir que Otávio mantinha uma relação extraconjugal com Lídia, no início, Joana conclui: “Mas sim, por que não continuar com Lídia? [...] Por que recusar acontecimentos? Ter muito ao mesmo tempo, sentir de várias maneiras, reconhecer a vida em diversas fontes... Quem poderia impedir alguém de viver largamente?” (PCS, pp. 148-149). O emocional, porém, não tarda em se manifestar: Mais tarde caiu num estado de estranha e leve excitação. Deslizou pela casa sem destino, chorou mesmo um pouco, sem grande sofrimento, só por chorar – convenceu-se – simplesmente, como quem acena com a mão, como quem olha. Estou sofrendo? – indagava-se às vezes e de novo quem pensava enchia toda ela de surpresa, curiosidade e orgulho e não restava lugar para quem sofrer [...] Quando dela [Lídia] se lembrava, vagamente, um pássaro que vem e volta, não sabia decidir-se, se ficar triste ou alegre, se calma ou agitada. [...] Só que o aço frio se renovava sempre, nunca esquentava. Sobretudo, no fundo de qualquer pensamento pairava um outro, perplexo, quase encantado, como no dia da morte do pai: aconteciam coisas sem que ela as inventasse... (PCS, pp. 149-150). No primeiro encontro entre Joana e Otávio, estabelece-se uma relação díspar: ele sente irremediável o encontro entre os dois e “não era como mulher, não era assim, cedida, que ele a queria... Precisava-a fria e segura. Para que ele pudesse dizer como em pequeno, refugiado e quase vitorioso: a culpa não é minha... [...] que ela fosse pior que ele. E forte, para ensinar-lhe a não ter medo” (PCS, pp. 102-103). Enquanto o homem procura a proteção de uma figura materna, Joana se transforma em mulher, “o corpo dolorido”, “como não se conhecia até então” (PCS, p. 103). Após a paixão, resta “o corpo doente” (PCS, p. 104), carregado como um ferido incômodo e, com o casamento, a acomodação a tudo o que é 363 preestabelecido: “O amor veio afirmar todas as coisas velhas de cuja existência apenas sabia sem nunca ter aceito e sentido” (PCS, p. 105); “Milagrosamente vivia, mas sem lembranças”; “A única verdade tornou-se aquela brandura onde mergulhara” (PCS, p. 106); “[...] percebia seu corpo mergulhado na confortável felicidade. Não sofria, mas onde estava? [...] A felicidade apagava-a, apagava-a...” (PCS, p. 107). Por isso, casada, Joana era “tristemente uma mulher feliz” (PCS, p. 118). No capítulo “O encontro de Otávio” descreve-se o desconforto e a pressão (social) que sente Joana em assumir naturalmente a posição de mulher de um homem, como faz Lídia. Em lugar disso, sente estranheza. O sentimento que une marido e mulher é desconstruído: “Por que não matar o homem? Tolice, esse pensamento era inteiramente forjado” (PCS, p. 142). Após um grande esforço de introspecção, “Os olhos abertos, sem ver, toda a atenção voltada para si própria e para o que sentia” (PCS, p. 144), o vínculo que surge entre homem e mulher, na forma de uma “idéia tão quente que o coração acompanhou-a com pancadas fortes”, é o vínculo primário materno-filial: “Aquele ser vivo era seu. Aquele desconhecido, aquele outro mundo era seu. [...] Ele era seu” (PCS, p. 144). Assim, o outro é incorporado, fazendo de Joana uma mulher que, apesar de recusar-se (consciente ou inconscientemente) a ocupar seu lugar de mulher-mãe, não nega o princípio feminino242. A problemática de gênero é claramente introduzida no final do romance, quando, ao tentar se livrar de todas as determinações impostas pelo Simbólico, Joana reflete Mas a grade do portão era feita por homens; [...] Quis voltar, quis voltar. Em que pensava? Ah, a morte à ligaria à infância. [...] Mas agora seus olhos, voltados para fora, haviam esfriado, agora a morte era outra, desde que homens faziam a grade do portão e desde que ela era mulher... A morte... E de súbito a morte era cessação apenas... Não! gritou-se assustada, não a morte (PCS, p. 204). Após um ato de criação espontânea, o capítulo se encerra com a aproximação de Joana a seu marido, “entregando-lhe sua alma e sentindo-se no entanto plena como se tivesse sorvido um mundo. Ela era como uma mulher243. As árvores escuras do jardim vigiavam secretamente o silêncio, ela bem sabia, bem sabia... Adormeceu” (PCS, p. 147). Mais tarde, Joana reconheceria: “A noite de ontem, minha ternura, não importa, no fundo eu sabia que estava só, nem ao menos fui enganada, porque sabia, sabia” (PCS, p. 157). 242 O que caracteriza o princípio feminino, conforme Hélène Cixous (1995), é justamente a aceitação e incorporação da alteridade. 243 Atente-se aqui para o uso da fórmula “x é como y” à qual fizemos referência na seção anterior. 364 Na verdade, Lídia também é uma “mulher da voz”, ao menos no olhar de Joana. Quando a personagem central de Perto do coração selvagem visita Lídia, já grávida “soube que estava tão longe dela como da mulher da voz” (PCS, p. 150). Percebe que A mulher da voz multiplicava-se em inúmeras mulheres... [...] Até nas mais fracas havia a sombra daquele conhecimento que não se adquire com a inteligência. Inteligência das coisas cegas. [...] E mulher era o mistério em si mesmo, descobriu. Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se mas que jamais se realizava, porque sua essência mesma era a de “tornar-se” (PCS, pp. 150-151). Imagina Joana que é uma “suave incompreensão da vida” (PCS, p. 162) o que permite a Lídia viver e receia “continuar a seu lado, olhá-la sem querer com um pouco mais de força, fazer com que ela tomasse consciência de si própria. Preservá-la, não transformar sua cor, sua preciosa voz” (PCS, p. 162). Por último, há a mulher do homem. Do homem amante de Joana. A mulher primeira deste homem. Sempre há outra mulher que aparece como a outra face de Joana: [...] tão forte era a presença da outra na casa, que os três formavam um par. E jamais Joana e o homem se sentiam inteiramente sós. [...] Joana descobrira que ela era alguém vivo e negro. Orelhas grossas, tristes e pesadas, como um fundo escuro de caverna. O olhar terno, fugitivo e risonho de prostituta sem glória. [...] Joana, aquela mulher e a esposa do professor. O que as ligava afinal? As três graças diabólicas. [...] As três graças amargas, venenosas e puras (PCS, pp. 178-179). Nos outros romances, também encontramos pares de duplos: Virgínia e Daniel em O lustre; Vitória e Ermelinda ou esta e a empregada mulata em A maçã no escuro; G.H. e a empregada Janair; Lóri e as suas máscaras sociais ou Lóri e Ulisses em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Essa capacidade e essa prática de escrever através da transmutação em outrem é o que caracterizaria o trabalho de Clarice Lispector como uma escritura feminina de acordo com o conceito cunhado por Hélène Cixous (1995, p. 47, grifos da autora, tradução nossa): [...] escrever é trabalhar; ser trabalhado; (em) o entre, questionar (e deixar-se questionar) o processo do mesmo e do outro sem o qual nada vive; desfazer o trabalho da morte, desejando o conjunto de um-com-o-outro, dinamizado 365 ad infinitum por uma incessante troca entre um sujeito e outro; só se conhecem e se reiniciam a partir do mais longínquo – de si mesmo, do outro, do outro em mim. Percurso multiplicador de milhares de transformações. Ou seria o contrário? “Poucas vezes temos visto um tão exacerbado individualismo, uma tão lenta e obstinada sondagem do próprio eu”, afirmava Lúcio Cardoso (apud GOTLIB, 1995, p. 182) em artigo sobre Perto do coração selvagem. Assim, o autor mineiro admite simplesmente uma “singularidade de personalidade” da escritora e da personagem, sem a preocupação de distingui-las entre si. Será porque o crítico, amigo de Clarice, já a conhecia o suficiente para não se espantar com o singular individualismo manifesto na construção das personagens – e de outros tantos elementos – do romance supracitado? Na seguinte citação, por exemplo, como não ler, por trás da inquietação de Joana, a angústia da escritura em face do Real fugidio do qual ela almeja se aproximar em uma tentativa incansável e constante? O que pensar naquele instante? Ela estava tão pura e livre que poderia escolher e não sabia. Enxergava alguma coisa, mas não conseguiria dizê-la ou pensá-la sequer, tão diluída achava-se a imagem na escuridão de seu corpo. Sentia-a apenas e olhava expectante pela janela como se olhasse seu próprio rosto na noite. Seria esse o máximo que atingiria? Aproximar-se, aproximar-se, quase tocar, mas sentir atrás de si a onda sugando-a em refluxo firme e suave, sorvendo-a, deixando-lhe após a assombrada e impalpável lembrança de uma alucinação... (PCS, p. 187) Em “L’ère du soupçon”, Nathalie Sarraute (1987, p. 71) comenta a passagem da narração da terceira para a primeira pessoa em função da necessidade que sente o autor de narrativa de introspecção de encontrar uma forma que melhor dê conta dos estados complexos, delicados e minúsculos que ele procura descobrir através da palavra. Assinala então a crítica francesa que a primeira pessoa se prestaria a dissimular a presença do autor, instaurando uma nova intimidade entre aquele e o leitor, por “possuir ao menos uma aparência de experiência vivida, de autenticidade, que prende o leitor em respeito e ameniza a sua desconfiança” (SARRAUTE, 1987, p. 71, tradução nossa244). Em razão do exposto na presente seção, perguntamo-nos se haverá uma diferença fundamental quanto ao envolvimento ou empatia do leitor, entre A paixão segundo G.H. 244 [...] il possède au moins une apparence d’expérience vécue, d’authenticité, qui tient le lecteur en respect et apaise sa méfiance. 366 (primeiro romance escrito por Clarice totalmente em primeira pessoa) e as outras obras da autora. O leitor se sentirá mais comovido, apelado ou atingido pela experiência de G.H. do que pelas inquietações, angústias e pensamentos de Joana, Virgínia ou Martim? Lembremos, com respeito a isso, as cartas trocadas entre Clarice Lispector e Fernando Sabino, das quais citamos alguns fragmentos na nossa introdução concernentes à escolha narrativa para A maçã no escuro. A escritora teria inicialmente escrito o romance em primeira pessoa, mas justamente para criar um distanciamento seu, como autora, do texto, isto é, para tentar ausentar-se do texto, teria optado mais tarde pela terceira pessoa. Fernando Sabino mostra-lhe então a ingenuidade do seu propósito, alertando-a para o fato de que é impossível ficar totalmente fora do texto. E é isso também o que mostramos nesta seção. Por último, no caso de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, como assinala Benedito Nunes (1995, p. 79, grifos do autor), a narrativa oscila entre unidades monologais e unidades dialogais. [...] E o fecho da obra é um diálogo: conversação plena e não distorciva entre dois eu que se revezam um para o outro na posição pessoal do tu. A passagem do monólogo ao diálogo, da monologação interior que fecha a consciência à dialogação intersubjetiva, em que ela se abre a outra consciência, é o movimento tentado pela romancista em Uma aprendizagem, contrariando um aspecto comum de suas obras anteriores, e procurando vencer, por esse meio, a carência estrutural e intrínseca que lhes impunha, com o monocentrismo da narrativa, a posição absorvente da protagonista, sempre ocupando uma situação conflitual fechada. Não resulta tão claro para nós que com esse novo movimento/experimentação da estratégia narrativa, a escritora estivesse tentando “vencer” qualquer tipo de carência ou falha do seu texto literário. Pelo contrário, parece bastante evidente a correlação entre a temática abordada no romance (a tentativa de conquista ou recuperação de um tipo de relação autêntica e não-opressiva com o outro) e o uso do diálogo como forma típica da comunicação (verbal) humana. O último participante do pacto narrativo é o leitor. Em relação ao leitor de Clarice Lispector, cabe assinalar, primeiro, que todos os seus romances incluem narratários245. E, pela forma difusa em que eles são freqüentemente introduzidos, o leitor acaba sendo chamado 245 Inclusive no final de A cidade sitiada surpreendemos um narratário. Em devaneio que Perseu tem em torno de uma mulher que lhe lembra Lucrécia Neves, ele imagina: “Ela não tinha medo. [...] ela era a dona deste deserto onde à varanda fumava um cigarro. Não tinha vergonha de não desejar vida nova – era muito perigoso uma vida nova, quem de vós suportaria” (CS, pp. 156-157). 367 para o interior da própria obra literária, convocado a participar de uma forma diferente que implica, inclusive, confundir-se com a própria personagem246. É que só através desse envolvimento, espécie de “reeducação da alma”, como o denominou Hélène Cixous (1995, p. 158, tradução nossa), ele poderá intuir as verdades que Clarice Lispector quer transmitir por meio da linguagem que – ela alerta incansavelmente – é insuficiente e limitada. Como lembra Oscar Tacca, retomando a noção que Bakhtin já previa de ficcionalização do leitor, mas avançando na análise da questão ao citar Proust, [...] também ninguém escreve para os outros. [...] o escritor escreve para um leitor ideal, feito tanto de si mesmo como dos demais, e de uma modificação de si mesmo como de uma modificação dos demais. Quer dizer, para um estranho leitor, que, muitas vezes, o autor recria em si mesmo quando relê a obra. [...] Mas Proust, todavia, vai mais longe, reivindicando uma nova liberdade de consciência, a liberdade de leitura ‘[...] cada leitor é, quando lê, o próprio leitor de si mesmo. [...] O reconhecimento em si mesmo, por parte do leitor, daquilo que o livro diz é a prova da verdade deste” (TACCA, 1983, pp. 148-149, grifos do autor). Daí que, como ensina Jean Rousset em Narcisse romancier ao apresentar a estética implicada nas obras em que o narrador intervém e corrói a ilusão de realidade criada pelas obras de ficção tradicionais, autor e leitor fundem um diálogo que é também um diálogo do autor consigo mesmo: A forma que toma este intervencionismo é pura e simplesmente aquela do diálogo: a primeira pessoa chama a segunda. Este diálogo, por um efeito lógico de contágio “extradiegético”, institui-se com um interlocutor também exterior à esfera da história narrada: o leitor. Como o autor, o leitor não pertence de direito à ficção contada, pois ele é este ser ausente, ou, antes, virtual, mas não fictício, ao qual a ficção é endereçada; [...] mas, se ele é heterogêneo no universo romanesco, ocupa perfeitamente o seu lugar nas intrusões do autor, que tem necessidade deste parceiro para fazer do seu 246 Além disso, os narratários dos romances de Clarice Lispector, em sua imensa maioria, são externos, e, por isso, confundem-se com o leitor. Oscar Tacca classifica os narratários da seguinte forma, que tomamos como base para nosso estudo: “O destinatário interno de um texto narrativo é sempre conhecido e preciso. [...] Nos textos narrativos, este destinatário interno pode ser fictício [...] ou verdadeiro [...]. Mas, em lugar desse destinatário interno (e, por vezes, junto a ele) as obras têm um destinatário externo, que condiciona igualmente o texto, projectando-o para uma nova dimensão: a do leitor, a do público. Destinatário externo (ou virtual), multiforme, anónimo e proteico, ao qual se lança o livro, umas vezes às cegas [...] outras, expressamente invocado: “O autor ao leitor”. [...] Esse destinatário externo pode ser amplo, indefinido [...] ou pode ser um destinatário restrito, definido” (TACCA, 1983, pp. 143-144, grifos do autor). 368 monólogo uma conversa a dois sobre o seu trabalho (ROUSSET, 1972, p. 88, tradução nossa247). Em Perto do coração selvagem, por exemplo, o narrador heterodiegético, no meio da descrição dos pensamentos de Joana, dirige-se a uma segunda pessoa indeterminável: “E sempre no pingo do tempo que vinha nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer, compreende?” (PCS, p. 12). Mais tarde: “Pensar agora, por exemplo, em regatos louros. Exatamente porque não existem regatos louros, compreende?” (PCS, P. 20) Poderíamos supor que se trataria de uma espécie de monólogo narrativizado em que a própria Joana estaria se dirigindo a si mesma ou podemos sentir-nos interpelados pelo narrador (ou o autor). A escolha cabe ao leitor e o texto não dá uma resposta unívoca. Da mesma forma, depois de começar o capítulo “O abrigo do homem” com focalização interna, o narrador toma a sua própria palavra para descrever que o homem “Quis acrescentar ao pensamento confuso mais uma palavra, a verdadeira, a difícil, porém assaltou-o de novo a idéia de que não precisava mais pensar, não precisava de nada, de nada... ela viria daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas escute: daqui a pouco...” (PCS, p. 175). Quem é chamado a escutar nesse misto de psiconarrativa e monólogo narrativizado? O mesmo procedimento ambíguo se verifica em O lustre: “Ela chamaria quase muda: homem, mas homem!, para retê-lo, para trazê-lo de volta! Mas era para sempre, Virgínia, ouça, para sempre e mesmo que Granja Quieta murche e novas terras surjam indefinidamente jamais o homem voltará, Virgínia, jamais, jamais, Virgínia. Jamais.” (L, p. 11, grifo nosso). Em outros momentos, a segunda pessoa é claramente um desdobramento da primeira, em um diálogo estabelecido pela personagem consigo mesma. É assim que, em monólogo citado, Joana se dirige a si mesma: “Oh, não se fazer de mártir: você sabe que não continuaria no mesmo estado por muito tempo: de novo abriria e fecharia círculos de vida, jogando-os de lado, murchos...” (PCS, p. 165). Mas, como adverte Olga de Sá (e Rousset em citação acima), esse diálogo tem como base o da autora implícita com o seu leitor também implícito: Na verdade, o monólogo, sobretudo em ficção, continua a ser um diálogo, ao menos implícito, pois subentende a presença do leitor, real ou virtual. A 247 La forme que prend cet interventionnisme est tout naturellement celle du dialogue: la première personne appelle la seconde. Ce dialogue, par un effet logique de contagion “extradiégétique”, s’institue avec un interlocuteur lui aussi extérieur à la sphère de l’histoire narrée : le lecteur. Comme l’auteur, le lecteur n’appartient pás de droit à la fiction racontée, puisqu’il est cet être absent ou plutôt virtuel, mais non fictif, auquel la fiction est adressée; [...] s’il est hétérogène dans l’univers romanesque, il est parfaitement à sa place dans les intrusions de l’auteur, qui a besoin de ce partenaire pour faire de son monologue um entretien à deux sur son travail. 369 própria personagem, que monologa, se desdobra em duas entidades mentais: o “eu” e o “outro”, um “eu” que fala e o mesmo “eu” que se ouve, como se fosse um “outro” (SÁ, 1993, p. 142). No caso específico de A Paixão segundo G.H., conforme Lícia Manzo, a personagem título pede a ‘um alguém’ que lhe dê a mão para que ela possa continuar sua busca [...]. Numa leitura possível, Clarice estaria naturalmente dirigindo-se a seus eventuais leitores; em outra, menos aparente, talvez ela estivesse chamando justamente pela outra ‘metade’ de si própria, a metade cotidiana e ‘terrestre’, como se implorasse para que esta não a deixasse perder-se para sempre naquela experiência divina e super-humana (MANZO, 2001, p. 82). Na verdade, indo além das considerações desta crítica, podemos muito bem unir as duas possibilidades; os leitores cumprem na obra de Clarice Lispector a função de duplos, de outros, passando assim, a estar convocados pela obra literária de uma forma inédita dentro da literatura brasileira. Eles mesmos não se distinguem das personagens, ao fazerem o papel de seus outros especulares. O caso de A paixão segundo G.H. resulta especialmente rico para analisarmos esta questão. Vejamos como se dá a relação da personagem com o seu narratário. Primeiro, ela anuncia a intenção de criar um interlocutor imaginário que a ajude a exprimir o inexprimível da sua experiência: “Esse esforço que farei agora por deixar subir à tona um sentido, qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém” (PSGH, p. 15). Logo depois, ela já começa a se dirigir a esse narratário, pedindo a sua atenção: “Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido” (PSGH, p. 17). Confirma, então, a efetivação da sua intenção primária: “Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão” (PSGH, p. 18). E é de fato nesse ser outro que inventou, que ela irá apoiando o seu discurso, cheio de hesitações: “Como te explicar: eis que de repente aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço” (PSGH, p. 44); “[...] era uma alegria sem redenção, não sei te explicar, mas era uma alegria sem a esperança” (PSGH, p. 73). Mais tarde, assim como a autora ficcionaliza o leitor, G.H. traz o seu narratário para dentro da diegese e começa a chamá-lo de “meu amor” (PSGH, p. 61), endereçando-lhe inclusive toda uma declaração: 370 Lembrei-me de ti, quando beijara teu rosto de homem, devagar, devagar beijara, e quando chegara o momento de beijar teus olhos – lembrei-me de que então eu havia sentido o sal na minha boca, e que o sal de lágrimas nos teus olhos era o meu amor por ti. Mas, o que mais me havia ligado em susto de amor, fora, no fundo do fundo do sal, tua substância insossa e inocente e infantil: ao meu beijo tua vida mais profundamente insípida me era dada, e beijar teu rosto era insosso e ocupado trabalho paciente de amor, era mulher tecendo um homem, assim como me havias tecido, neutro artesanato de vida (PSGH, p. 89). G.H. não espera compreensão, sabe que o seu interlocutor é apenas uma muleta na qual ela se apóia, à falta da terceira perna perdida: “Mas não procures entender-me, faze-me apenas companhia. Sei que tua mão me largaria, se soubesse” (PSGH, p. 99). Quando se dispõe a abandonar a palavra para reviver o vivido sem mediações, anuncia: “solto a tua mão” (PSGH, p. 123). No entanto, ao constatar o seu fracasso, pede: “Dá-me de novo a tua mão, não sei ainda como me consolar da verdade” (PSGH, p. 145). No romance anterior, A maçã no escuro, a estratégia adotada pela autora era outra. Baseava-se, principalmente, naquele uso reiterado (e mesmo constante) da primeira pessoa do plural que vem se fundir à narração heterodiegética, como na seguinte passagem do romance que faz parte do episódio em que Martim e Vitória dão um passeio a cavalo pelo morro. Notemos também como o excerto é introduzido por uma sentença generalizadora como as próprias de qualquer narrador intruso: Aliás nada parecia ter acontecido. Nada há de tão destruidor de palavras ditas quanto o sol que continua a queimar. Ficaram em silêncio, dando-se tempo de esquecer. Por um pacto tácito esqueceriam aquela coisa um pouco feia que acontecera. Ambos não eram moços e tinham alguma experiência: certas coisas a pessoa tinha que ter a hombridade de não notar, e ter piedade de nós mesmos e esquecer, e ter o tato de não perceber – se se quisesse impedir que um momento de compreensão nos cristalizasse, e a vida se tornasse outra (ME, p. 269). Como vimos, nos romances de Clarice Lispector, esse uso do “nós” constitui um recurso retórico que suscita especialmente o envolvimento do leitor, convocando-o a sentir em carne própria a experiência que não pertence apenas à personagem (ou ao narrador, ou mesmo à própria autora) que a enuncia, mas ao gênero humano em sua totalidade. Também é comum nas obras da autora a substituição do pronome de primeira ou terceira pessoa do singular pelo pronome de segunda pessoa do singular ou pelos pronomes 371 plurais de primeira e segunda pessoa numa mesma frase. Isso, que já notamos em algumas citações, verifica-se também em A maçã no escuro: Confuso, a modo de dizer, Martim apenas adivinhava. Mas quem sabe, força nenhuma jamais conseguisse mais do que estender ao máximo o comprimento de um braço de homem – e então não alcançar aquilo que, com mais um impulso, o derradeiro e o impossível, encheria com vida a mão. Porque braço de homem tem medida certa. E tem uma coisa que nunca saberemos. Tem uma coisa que nunca saberemos, você sente isso, não sente? embaraçou-se o homem, emocionado como se isso contraditoriamente significasse arriscar-se no primeiro passo de uma estranha esperança (ME, p. 306). Dada a universalidade da questão sobre a qual Martim está “adivinhando” – a limitação humana –, sentimo-nos, enquanto leitores, imediatamente incluídos pela primeira pessoa do plural e a segunda do singular. E embora a continuação da frase (“embaraçou-se o homem”) indique que os pronomes aludem ao próprio Martim, que estaria se dirigindo a si mesmo no seu “descortínio silencioso”, aquela impressão inicial não se dissipa. Essa ambigüidade quanto ao destinatário das sentenças é criada também através de outros recursos. Por exemplo, no seguinte trecho do mesmo romance, o narrador parece desafiar diretamente o leitor, mas na frase seguinte, quem cumpre o gesto proposto é Martim: Afinal pode-se dizer que ele estava realizando tudo o que planejara, mesmo que não tivesse conseguido anotar no papel o que queria. É verdade também que muitas vezes aquele homem forçara a mão. Mas fora necessário. Não pudera ser de outro modo. Então, incerto, ansioso, desamparado, ele pensou: consegui o que queria. Não era muito. Mas afinal de contas é tudo, não é? Diga que é. Diga. Faça esse gesto, aquele que custa mais, o mais difícil, e diga: sim. Então, com esforço sobre-humano, ele disse sim (ME, p. 328) Podemos nos perguntar qual dessas estratégias será a mais efetiva para atingir o leitor. Talvez, nesta questão em particular, o uso da primeira pessoa em A paixão segundo G.H. e o diálogo direto dela com a segunda pessoa, o narratário, resulte mais apelativa do que a oscilação entre o uso da primeira pessoa do plural e o aparecimento esporádico de uma segunda pessoa do singular ou do plural no médio de alguns parágrafos, provocando um efeito de surpresa. Seja como for, a elucidação dessa questão requereria um estudo à parte, que 372 levasse em conta, não apenas os elementos textuais, mas também dados atinentes à recepção da obra por parte dos leitores reais (múltiplos e variados). O certo é que ao utilizar todos esses recursos, e congregar toda a humanidade em uma pequena frase ou fragmento narrativo, a autora evoca, mais uma vez, a unidade de tudo o que existe naquele fundo vital, o Real que a autora chamará de o Deus, o mistério, a coisa ou o it. As palavras de Joana, que assume temporariamente o papel de narradora autodiegética no romance que é narrado mormente em terceira pessoa, “Durmamos sobre Deus e o mistério, nave quieta e frágil flutuando sobre o mar, eis o sono” (PCS, p. 22), traduzem perfeitamente aquela concepção clariceana. E essa concepção, por sua vez, alimenta o convite a um novo pacto narrativo que Clarice, junto com outros romancistas, faz aos seus leitores e que Tadié sintetiza da seguinte forma: Se o romancista romântico quer ser compreendido, se o clássico quer ensinar, o romancista moderno quer “fazer do leitor um cúmplice, um companheiro de jornada. Obter dele a simultaneidade, uma vez que a leitura abole o tempo do leitor para o transferir para o tempo do autor. O leitor chegaria deste modo a ser co-participante e co-sofredor da experiência que o romancista realiza, no mesmo momento e sob a mesma forma” (MARELLE apud TADIÉ, 1992, p. 186, grifos do autor). Como também lembra Tadié, no romance moderno, a perda de identidade da personagem também contribui para que o leitor seja absorvido pela narrativa: E a identificação, a generalização, que permite semelhante anonimato: todo o leitor é como este desconhecido que diz eu, transforma-se nesse eu. É aspirado pelo vazio da ausência nominal. Mas o que se perde é o relevo, a personalidade exterior [...] A ausência do nome de família concorda com a experiência do vazio, com todos os heróis sem nome que se seguirão na literatura, com as personagens sem rosto dos quadros de Chirico, das esculturas de Brancusi [...] (TADIÉ, 1992, p. 65, grifos do autor). Por último, e voltando ao caso específico de Clarice Lispector, cabe apontar um último laço que a romancista estende ao leitor: em A paixão segundo G.H. e em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, inclui notas endereçadas a ele. No caso do primeiro romance, delineando o perfil do leitor ideal, “pessoas de alma já formada” (PSGH, p. 7) que entendam o que o seu livro “nada tira de ninguém” (PSGH, p. 7); no segundo romance supracitado, 373 esboçando uma espécie de justificativa, uma defesa antecipada em face de qualquer crítica eventual: “Este livro se pediu uma liberdade maior que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu” (ALP, p. 13). Com isso, a autora confirma as colocações de Oscar Tacca em citação anterior quanto a que ninguém escreve para os outros, pois, na figura do leitor ideal, desenha-se a silueta do próprio autor, com as suas inquietações e angústias. 2.3 A hora da estrela e Um sopro de vida: da representação do vazio ao vazio-pleno como (não-) lugar de inscrição do autor É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas, das quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia (LISPECTOR, 1999a, p. 254). Porque não vem a chuva dentro de mim, eu quero ser estrela (PCS, p. 70). O que procuro? Procuro o deslumbramento. O deslumbramento que eu só conseguirei através da abstração total de mim (LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p. 79). Para essa raiz de silêncio – e fonte de linguagem – silêncio sugerido nas entrelinhas, é que parece conduzir a obra de Clarice Lispector. Com a meticulosidade de quem constrói um patíbulo (PESSANHA, 1996, p. 317). Se até aqui pudemos constatar, em consonância com o afirmado por J. A. Pessanha (1996, p. 314), como a obra de Clarice Lispector foi, de romance em romance, refletindo ou gestando uma determinada visão do mundo, pensamento-sentimento indeterminado que a autora explicita em suas considerações filosóficas, metalingüísticas e metapoéticas presentes em crônicas e depoimentos; como, no sentido inverso, aquele pensamento é uma espécie de rio subterrâneo que alimenta e fertiliza cada obra; e, por fim, como ele é ao mesmo tempo motivador e resultado da forma em uma retroalimentação cuja dinâmica é impossível determinar com precisão científica, a partir de A hora da estrela, formação e reflexão, criação e metapoética passam a conformar uma unidade indeslindável, que não mais se partirá na vida de Clarice Lispector. Em suma, “[...] por intermédio da literatura – entendida como forma de conhecimento/aprendizado –, Clarice revisita e se busca no próprio ato do fazer. Nesses 374 termos, a obra lhe é o meio; a vida original, a meta à qual se lança em busca de si mesma” (ROSSONI, 2002, p. 20). Os recursos e as marcas de estilo características do texto clariceano continuam sendo utilizados em A hora da estrela e Um sopro de vida. Nestas duas obras, contudo, encontramos dois tipos de passos “além” que os romances abordados até aqui não continham e que serão o objeto desta última seção do nosso trabalho: a representação do próprio discurso e do vazio e o estilhaçamento do autor no vazio-pleno da escritura. Em primeiro lugar, cabe apontar que a ironia, que sempre esteve presente nos romances de Clarice Lispector, despontando aqui e ali de forma sutil (vimos alguns exemplos disso, como no final de A maçã no escuro), assume uma centralidade inédita em A hora da estrela, constituindo-se em pilar do romance. E nisto a obra da autora vem enquadrar-se também na tendência geral do romance moderno. Sobre a ironia, informa-nos Jean-Yves Tadié que: O século XX não inventou a ironia, mas já não há grande romance sem uma enunciação irônica que o transporte: no nosso tempo, tudo é ironia. [...] A voz irônica do autor assenta na distância, na denegação, por vezes na destruição do texto: todas as audácias formais, indo até a ausência de pontuação, têm a sua marca. Quando analisamos as relações entre o autor e a sua obra, depara-se-nos que o processo irônico está na enunciação, porque denega todo ou parte do seu valor ao enunciado ou porque o inverte (TADIÉ, 1992, pp. 27-28). Acrescenta o crítico que “O sinal irônico é dado por vezes pelo título do romance” (TADIÉ, 1992, p. 28). No caso específico de A hora da estrela, além de estabelecer-se um distanciamento máximo (hipercrítico) entre o autor e o seu texto, antes mesmo do título248 nos deparamos com uma chave de leitura do romance sob o signo da ironia: o desmascaramento do jogo de identidades que será proposto na obra através do narrador, Rodrigo S.M., na verdade Clarice Lispector. 248 Diz Tadié que “[...] o tom está dado, no caso de a obra ser inteiramente irônica, desde a primeira página: rupturas sintácticas, palavras inventadas, conflitos entre níveis de linguagem, ortografia fonética, choque da linguagem falada na página escrita” (TADIÉ, 1992, p. 28). Se atentarmos para a primeira frase escrita em A hora da estrela, descobriremos logo várias subversões de códigos: “Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara que são hoje ossos, ai de nós” (HE, p. 21). Primeiro, o livro começa com uma conjunção explicativa (ou coordenativa), indicando que não começa pelo início, mas pelo meio de alguma coisa cuja origem desconhecemos. A obra é chamada de “esta coisa aí”, em um registro coloquial que não se condiz com a solenidade de uma dedicatória. E, por último, duas figuras históricas da cultura erudita são tratadas de forma que pode ser considerada até jocosa e nivelados ao resto da humanidade (“ai de nós”). 375 E, na página seguinte, é-nos antecipado que o romance será “um mar de perguntas imensas e humildes que não pedem resposta: pedem a vida” (CIXOUS, 1995, p. 163, tradução nossa249), porquanto a obra nem sequer sabe o seu nome, como também assinala a crítica francesa. Não sabe ou não quer saber? Na verdade, mostrando a arbitrariedade desta convenção literária, Clarice Lispector sugere treze nomes para sua obra conhecida como A hora da estrela, encontrando-se, cada um desses títulos, intercalados no corpo da mesma, mostrando, assim, a sua razão de ser e o seu caráter não-exclusivo ou excludente, ao representarem diferentes pontos de vista a partir dos quais a obra poderia ser abordada, vista, lida. Ao fazer isso, a autora mostra-se ciente de que, como aponta Adorno em “Posição do narrador no romance contemporâneo”, “Desintegrou-se a identidade da experiência – a vida articulada e contínua em si mesma – que só a postura do narrador permite. [...] Com justiça, a impaciência e o ceticismo vão ao encontro da narração que surge como se o narrador dominasse tal experiência” (Adorno, 1983, p. 269). Assinala ainda Tadié que “A voz do ironista é com efeito a do escritor que põe em questão um texto pré-existente: romance realista, convenções de um gênero literário ou de uma tradição, filosofia da felicidade, estilo estabelecido, neutralidade da narração, formas habituais da percepção [...]” (TADIÉ, 1992, p. 30). Em A hora da estrela, todos esses discursos são parodiados, o que torna cada palavra do romance dialógica (ou bivocal) no sentido bakhtiniano. A autora questiona – chegando inclusive a ridicularizar –, por exemplo, certas verdades abonadas pelo senso comum, assentadas no saber legitimado, ou mesmo no imaginário nacional. Em primeiro lugar, a tentação da literatura apenas ornamental e gasta, bem como a ilusão da obra engajada: “É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos: conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais?” (HE, p. 29) Depois, ataca o prestígio da cultura letrada, que se revela inútil e fútil em um mundo habitado mormente por macabéas. Seres que, à falta de postura crítica – que lhes é negada pelo sistema –, recorrem ao senso comum para administrar os seus conflitos, orientar o seu comportamento e esperar, como Pedro Pedreiro, o trem que nunca chegará: Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe, quem espera sempre alcança. [...] 249 [...] un mar de preguntas inmensas y humildes que no piden respuesta: piden la vida. 376 Outra vez ouvira: “Arrepende-te em Cristo e Ele te dará felicidade”. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de que, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que a vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança. É? (HE, p. 53) O machismo e as mitologias que o sustentam também são denunciados, desconstruídos e apenas falsamente tolerados. Olímpico Deixaria enfim de ser o que sempre fora e que escondia até de si mesmo por vergonha de tal fraqueza: é que desde menino na verdade não passava de um coração solitário pulsando com dificuldade no espaço. O sertanejo é antes de tudo um paciente. Eu o perdôo (HE, p. 83). O preconceito social é anotado: “Ela quis mais porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto, o zé-povinho sonha com fome de tudo. E quer mas sem direito algum, pois não é?” (HE, p. 51). Também os clichês são alvo de chacota: “Então eu canto alto agudo uma melodia sincopada e estridente – é a minha própria dor, eu que carrego o mundo e há [sic?] falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes” (HE, p. 25). Por último, não poderia faltar o dardo lançado contra o totalitarismo racionalizante da ciência: Quando eu era pequeno pensava que de um momento para outro eu cairia para fora do mundo. Por que as nuvens não caem, já que tudo cai? É que a gravidade é menor que a força do ar que as levanta. Inteligente, não é? Sim, mas caem um dia em chuva. É minha vingança (HE, p. 87). O confronto mais acirrado, porém, será com o romance realista e social, com o qual Clarice parece fazer um acerto de contas no final da sua trajetória de escritora, dando todas as respostas que a crítica brasileira alguma vez dela exigiu. No entanto, condizente com a sua própria visão do mundo e da escritura, ela dá respostas apenas em forma de perguntas. O grande diálogo que é A hora da estrela não termina, fica aberto250. E é nisto sobretudo que 250 Como é sabido, o final de A hora da estrela (“Sim”, HE, p. 106) remete ao início (“Tudo no mundo começou com um sim”, HE, p. 25), em uma representação circular da eterna morte-renascimento do texto. Além disso, já na dedicatória, o autor/a transfere ao leitor a responsabilidade por qualquer resposta: “Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo ma dê. Vós?” (HE, p. 22). 377 revela a sua lógica dialógica que, conforme Kristeva (2005, p. 75, grifos da autora), funciona de acordo com três princípios: 1. uma lógica da distância e de relação entre os diferentes termos da frase ou da estrutura narrativa, indicando um devir – em oposição ao nível de continuidade e de substância, que obedecem à lógica do ser e que serão designadas como monológicas; 2. uma lógica da analogia e de oposição nãoexclusiva, em oposição ao nível de causalidade e de determinação identificadora, que será designada como monológica; 3. uma lógica de transfinito, conceito que emprestamos [sic] de Cantor e que introduz, a partir da potência do contínuo da linguagem poética (0-2), um segundo princípio de formação, a saber: uma seqüência poética é imediatamente superior (não deduzida casualmente) a todas as seqüências precedentes da série aristotélica (científica, monológica, narrativa). O conteúdo do discurso irônico, acrescenta Tadié, “parece favorável às idéias, às personagens, ao estilo que a forma, ou a enunciação, desse discurso destrói” (TADIÉ, 1992, p. 30). É assim que neste último romance de Clarice Lispector, vemos o narrador, Rodrigo S.M., defendendo posturas e pressupostos do romance realista, para, logo a seguir, desvendar a precariedade e a relatividade dos mesmos. Ou, na direção contrária, atacando o discurso romântico ou de vanguarda251, para cair sem poder evitá-lo na experimentação mais ousada e no sentimentalismo. Por exemplo, após afirmar que queria um relato frio e que para escrevêlo seria necessário um autor homem (HE, p. 28), Rodrigo S.M. acaba confessando: “[Macabéa] não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela. E só eu é que posso dizer assim: ‘que é que você me pede chorando que eu não lhe dê cantando?” (HE, p. 42). Mais tarde, volta a afirmar que se recusa a ter qualquer piedade pela nordestina (HE, p. 48) e propõe-se, então, “cortar o coitado implícito dessa moça” (HE, p. 63). Nesse movimento oscilatório, mesmo se não chega a destruir o que possivelmente a escritora Clarice Lispector considerasse uma alternativa (outra) legítima de fazer literatura, introduz nos seus postulados a dúvida e o questionamento. Nesse sentido, entendemos aqui a motivação da escrita de A cidade sitiada. Um eco desse romance ressoa em A hora da estrela quando Rodrigo diz que quer uma “história “Era lá tola de perguntar? E de receber um ‘não’ na cara? [...] Por falta de quem lhe respondesse ela mesma parecia se ter respondido: é assim porque é assim. Existe no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor, que se apresente e a diga, estou há anos esperando” (HE, pp. 41-42). Por último, Rodrigo S.M., no final da narrativa avisa: “Não me responsabilizo pelo que agora escrevo” (HE, p. 90) sugerindo, com isso, que ele não domina o (um) sentido final da sua narrativa. 251 “Relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e “grande finale seguido de silêncio e chuva caindo”. 378 exterior e explícita, sim, mas que contém segredos” (HE, p. 27). O segredo que o terceiro romance de Clarice Lispector escondia, o segredo da palavra bivocal, paródica. Em Rodrigo S.M., Clarice representa, então, o autor moderno, que não detém o controle absoluto sobre a sua narrativa (pois, em grande parte, é dele mesmo que ela se trata), mas que se sente na obrigação de dialogar (e se defender, mediante um constante diálogo ou controvérsia velada, nos termos de Bakhtin) com a tradição realista do romance. Ele é “o” narrador clariceano: repassa e deixa a nu todas as questões que os romances anteriores da autora abordavam de passagem ou sub-repticiamente252 e durante todo o seu livro vai mostrando hesitação em relação ao passo seguinte que dará e demonstrando seu desconhecimento relativo aos dados da história, em um diálogo constante com o leitor. Assim, por exemplo: “A história – determino com falso livre arbítrio – vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro” (HE, p. 26-27, grifos nossos); “Tentarei tirar ouro do carvão” (HE, p. 31); Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos. Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível na própria lama (HE, p. 33); Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em fatos e fatos (HE, p. 37); Não sei se estava tuberculosa, acho que não (HE, p. 46); Vou fazer o possível para que ela não morra. Mas que vontade de adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir. [...] Macabéa por acaso vai morrer? Como posso saber? (HE, p. 100). A única prolepse possível é a afirmação de que a obra vai transformar o criador: “A ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização enfim em objeto” (HE, p. 35). E a única certeza de chegar a um fim assenta-se no fato de saber que o que se vai escrever “já deve estar na certa de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca” (HE, p. 35). Do manancial infinito do fundo suprapessoal irá brotar a narrativa do Real. Esse Real que 252 Sobretudo na máxima de que “só consigo a simplicidade através de muito trabalho” (HE, p. 25) e na intenção declarada de “escrever de modo cada vez mais simples” (HE, p. 28). 379 Rodrigo chama de sussurro e que é o elo que o une a Macabéa: “Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todo através dela por entre espantos meus. Os fatos são sonoros mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona” (HE, p. 39). É por esse caminho que a própria possibilidade da representação acaba sendo colocada em questão por Clarice Lispector nas suas duas últimas obras. Vemos como notadamente em A hora da estrela – na figura de Rodrigo S.M.– e em Um sopro de vida é encenada a batalha que Theodor Adorno descreve da seguinte maneira: Muitas vezes ressaltou-se que no novo romance [...] a reflexão rompe a pura imanência da forma. Mas essa reflexão tem, quando muito, o nome em comum com a de Flaubert. Esta era de ordem moral: tomada de partido a favor ou contra figuras do romance. A nova é tomada de partido contra a mentira da representação, na verdade contra o próprio narrador, que, como comentador vigilante dos acontecimentos, tenta corrigir sua arrancada inevitável. A infração da forma reside no próprio sentido dela. Só hoje o recurso de Thomas Mann – a ironia enigmática, irredutível a qualquer zombaria conteudística – faz-se compreender de todo a partir de sua função formadora: o autor despacha com o gesto irônico, que revoga seu próprio discurso, a exigência de criar algo real, ao qual, porém, nenhuma de suas palavras pode escapar (ADORNO, 1983, p. 272). Nem Rodrigo S.M. nem o Autor ou Ângela, em Um sopro de vida, detêm já essa pretensão. A realidade, para eles, é algo que não diz nada e Rodrigo S.M. não chega a dar uma resposta a esse problema; apenas restringe-se a observar: “Transgredir, porém, meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer ‘realidade’” (HE, p. 31); Quanto a sua personagem Macabéa (e a ele), era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela a realidade era demais para ser acreditada. Aliás a palavra “realidade” não lhe dizia nada. Nem a mim, por Deus. [...] Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com um irreal cotidiano... (HE, pp. 49-50). Aos fatos exteriores, o autor-narrador de A hora da estrela (junto com os autores do romance moderno em geral) sobrepõe a concretude da palavra, a força plurívoca do significante poético. No entanto, faz isso recorrendo mais uma vez à ironia: “Mas que ao 380 escrever – que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, inventa-se-a” (HE, p. 32). No que se refere às personagens, em “O romance de introversão”, John Fletcher e Malcolm Bradbury (1989, p. 325) assinalam que, naquele tipo de romance, do qual A hora da estrela é um exemplo paradigmático, As personagens pertencem mais a um processo do que a um mundo reproduzido por imitação, e parecem participar do ato de sua própria criação. Elas integram o plano técnico, e, como em muitos romances modernos, parecem afirmar contra o autor seus direitos a uma maior liberdade, a uma maior profundidade psicológica ou à vida que se estende livremente no tempo, voltando ou adiantando-se. Assim, o romance moderno é criação que, à maneira de um Deus253, molda uma criatura dotada de livre-arbítrio, estabelecendo-se, a partir disso, uma circularidade entre autor, narrador e personagens até chegarmos ao paroxismo de Um sopro de vida em que, de fato, é difícil afirmar quem seja o autor de quem. Como veremos, ali, a origem faz parte do impossível. Isto porque no romance não-monológico, “a palavra do autor sobre o herói é organizada [...] como palavra sobre alguém presente, que o escuta (ao autor) e lhe pode responder. Essa organização da palavra do autor [...] não é absolutamente, um procedimento convencional, mas a posição definitiva aconvencional do autor” (BAKHTIN, 1981, p. 54, grifos do autor). A ambigüidade da voz narrativa nos romances de Clarice Lispector que analisamos na seção anterior é representada/encenada em A hora da estrela no jogo especular que se estabelece entre Rodrigo e Macabéa: quando ele quer escrever sobre a personagem, o discurso volta-se fatalmente sobre ele mesmo, mostrando como 1ª e 3ª pessoa são, na realidade, o mesmo: “[...] a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás – descubro eu agora – também eu não faço a menor falta e até o que escrevo um outro escreveria” (HE, p. 28); “Vejo a nordestina se olhando ao espelho e – um ruflar de tambor – no espelho aparece meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos intertrocamos” (HE, p. 37); 253 Um Deus diferente daquele do romance tradicional, que criava uma criatura submetida a um destino arbitrário. 381 Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando ao receber o salário comprava uma rosa (HE, p. 48). Dá-se, assim, desde o início da narrativa, um nivelamento existencial entre a personagem nordestina e o narrador: “Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente [...] De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu” (HE, pp. 32-33). Segundo Evandro Nascimento, “Intertrocar – verbo recolhido em A hora da estrela – é sair do lugar preestabelecido, ainda que no final das contas uma certa ordem seja preservada. [...] Atravessa-se a experiência da intertroca e ao final é-se ainda o mesmo e outro. Um mesmo diferido de sua identidade pura” (NASCIMENTO, 1999, p. 472, grifos do autor). Por isso, em A hora da estrela, Rodrido S.M. torna-se ao mesmo tempo narrador da história, autor (pois é um escritor dando vida a um mundo de ficção) e personagem (ao introduzir a própria história da narração e exprimir constantemente suas próprias impressões e reflexões em seu confronto com Macabéa). E ainda leitor, pois assumindo a mesma postura da própria Clarice em face da escrita254 (que vai moldando o seu sentimento-pensamento), ele, ao mesmo tempo em que escreve, é o leitor mais espantado de todos e de si mesmo. Essa intertroca atinge também Clarice Lispector, de forma que autora, narrador e personagem ficam intimamente ligados: “O texto parece reconfigurar seu autor, não apenas através do narrador, como é mais comum mas, aqui sobretudo, através da personagem. [...] Há uma simbiose inextricável do leitor-autor-narrador-personagem, no feminino ou no masculino. Tudo é uma questão de mistura de gêneros e de lugares” (NASCIMENTO, 1999, p. 473). Assim como Clarice escolhera se travestir de homem, Rodrigo S.M. diz ser paixão dele “ser o outro. No caso a outra. Estremeço esquálido igual a ela” (HE, p. 45). Por outro 254 Isso fica em evidência quando Rodrigo justifica “Desculpai-me mas vou continuar a falar de mim que sou meu desconhecido, e ao escrever me surpreendo um pouco pois descobri que tenho um destino” (HE, p. 29). Por outro lado, como a autora, ele também não se considera um profissional da escrita. Escreve por necessidade vital, convencido de que “às vezes a forma é que faz conteúdo” (HE, p. 32): “É. Parece que estou mudando de modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional – e preciso falar dessa nordestina senão sufoco” (HE, p. 31). Essa confissão é idêntica – embora não literalmente – ao depoimento outorgado por Clarice Lispector a Júlio Lerner em fevereiro de 1977. 382 lado, as personagens Macabéa e Olímpico são nomeadas como “essas duas pessoas” (HE, p. 74). Essa estratégia narrativa chega até o leitor, que terá um papel fundamental no jogo dialógico proposto em A hora da estrela, pois o espelhamento termina de efetivar-se com ele e as polêmicas veladas estão dirigidas a ele. Estabelece-se assim uma ponte (um desafio) que vai da romancista ao seu leitor: Por essa mensagem dirigida aos leitores, Clarice Lispector abre o jogo da ficção – e o de sua identidade como ficcionista. Comprometida com o ato de escrever, a ficção mesma, fingindo um modo de ser ou de existir, demandará uma prévia meditação sem palavras e o esvaziamento do eu (NUNES, 1995, p.165, grifo do autor). O leitor é convocado permanentemente, não só através daquele “nós” inclusivo que a autora já utilizara nos romances anteriores, mas sobretudo através de uma segunda pessoa que chama ao compromisso com a narrativa: “Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam” (HE, p. 26); “[...] é um relato que desejo frio. Mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós” (HE, p. 27). E, como fizera Clarice Lispector em A paixão segundo G.H. e Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, Rodrigo S.M. delineia seu leitor ideal: pessoas que não exijam muito e nem sejam “ávidas de requintes. Pois o que estarei dizendo será apenas nu” (HE, p. 30). Reunindo a observação de Evandro Nascimento e a colocação de Nunes, após citar o episódio em que Macabéa descobre, entre os anúncios que coleciona, um pote de creme para a pele e imediatamente sente a necessidade de comê-lo, Hélène Cixous conclui: Nesse parágrafo, nós, personagem, leitor, autor, circulamos entre um “eu não sou ela” e um “eu poderia ser ela” pela trilha da meditação mais dura que possamos tomar ao pensar no outro. [...] Aqui, na autobiografia por procuração de Macabéa, eu é também aquela/s que não sou, a primeira pessoa é também a terceira, e a terceira é a primeira (CIXOUS, 1995, p. 195, tradução nossa255). 255 En ese párrafo, nosotros, personaje, lector, autor, circulamos entre un “yo no soy ella” y un “podría ser ella”, por el sendero de meditación más duro que podamos tomar al pensar en el otro. [...] Aquí, en la autobiografía por 383 Uma forma com a que dialoga A hora da estrela é o folhetim (a que o título “História lacrimogênica de cordel” alude), do qual se transforma em triste ironia. Ao apresentar personagens que jamais poderiam se candidatar a heróis – ajustando-se às mirabolantes peripécias românticas daquele tipo de narrativa –, Clarice faz uma crítica mordaz à cultura de massas e aos seus entorpecentes dirigidos ao grande público. Por isso, como observa Olga de Sá (1999, p. 223), A hora da estrela também é uma paródia (ou canto paralelo) a todos os grupos dominantes. Em sua Dialética do esclarecimento (1947) Theodor Adorno e Max Horkheimer expõem sem paliativos um panorama estarrecedor do século XX, segundo o qual a sociedade humana teria chegado ao ápice de um programa de hipervalorização racionalista, continuamente alimentado por um pensamento esclarecido a serviço do poder e indissoluvelmente ligado à dominação. O esclarecimento – entendido na obra como uma tendência geral do pensamento na história e não apenas como o fruto do Iluminismo do século XVIII – transforma o mundo numa gigante malha conceitual e pretende controlar todos os âmbitos da atividade humana, deixando de fora – isto é, excluindo – os saberes que não se enquadram no esquema de análise matemática ou que não se adaptam ao processo técnico, ao qual o pensamento esclarecido pretende submeter toda manifestação vital. Essa dinâmica implica várias perdas para o ser humano. Primeiro, ele perde qualquer vinculação direta com a natureza – da qual faz parte através do seu corpo –, pois toda a sua visão do mundo deve passar, obrigatoriamente, pelo crivo da razão e, por conseguinte, pela mediação do conceito. A base do conceito, como é sabido, é a abstração, e o seu suporte, a linguagem. O esclarecimento, com a sua pretensão de verdade, instaura-se como saber absoluto (“O esclarecimento é totalitário” afirmam enfaticamente Adorno e Horkheimer <1985, p. 22>), ostentando o poder de elucidar e explicar tudo, inundando de luz qualquer resto de treva que possa ainda assombrar o homem e lembrar o terror primordial perante a natureza indomável que o esclarecimento irá apresentar como completamente dominada. É nesse sentido que o esclarecimento transforma a morte, o mistério maior, na mais terrível das ameaças, o abominável, o horripilante, suprimindo-a como alternativa possível para o indivíduo esclarecido, isto é, sensato e inteligente. Só que a dominação da natureza poderes de Macabea, yo es también aquella/s que no soy, la primera persona es también la tercera, y la tercera es la primera. 384 arrasta inevitavelmente a dominação do próprio homem que, como ela, passa a servir apenas como instrumento de autoconservação de um sistema que, embora sustentado por uma coletividade, beneficia apenas a alguns poucos. Nisso consiste, em suma, a coisificação do ser humano a que tanto alude Adorno e que representa, certamente, uma verdadeira morte do indivíduo. Desta forma, o referido ensaio de Adorno e Horkheimer coloca-nos no centro de um quadro desolador dentro do qual parece quase impossível achar uma fresta de luz que não seja daquela artificial proposta pelo esclarecimento e que já não ilumina, mas, antes, deslumbra e cega. No mundo regido pelo pensamento esclarecido, tudo (e todos) deve contribuir para a autoconservação da máquina social, dirigida por alguns poucos, mas alimentada pela grande maioria. A margem de liberdade que esse mecanismo social deixa ao indivíduo é mínima – ou mesmo nula –, limitando-se ao usufruto de alguns momentos de lazer, perfeitamente previstos e programados (através da mídia, das diversões entorpecentes oferecidas pela indústria de consumo) e/ou ao contato restrito com pacotes de natureza oferecidos nas agências de turismo a certos indivíduos que ainda podem aceder a esse luxo, cada vez mais raro256. Em A hora da estrela, Clarice Lispector oferece-nos a possibilidade de olhar para a morte com novos olhos, menos apavorados e – por que não? – mais realistas. Vejamos em que termos o narrador Rodrigo S.M. anuncia a morte de Macabéa: “Enquanto isso, Macabéa no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabéa, como se chegasse a si mesma. Este é um melodrama? O que sei é que melodrama era o ápice de sua vida, todas as vidas são uma arte e a dela tendia para o grande choro insopitável como chuva e raios” (HE, p. 101); Mas quem sabe se ela não estaria precisando de morrer? [...] Acho com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de Macabéa morrer [...] Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina-infante, mas quero o pior: a vida. Os que me lerem, assim, levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago (HE, p. 102). “Então – ali deitada – teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço da morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto” (HE, p. 103); “Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo, enfim o âmago tocando no âmago: vitória!” (HE, p. 104); “Estou agora me esforçando para rir em grande gargalhada. Mas não sei por que não rio. A morte é um encontro consigo. [...] Ela estava enfim livre de si e de nós” (HE, p. 105). 256 Sobre esse assunto, ver Baudrillard, Jean. A sociedade de consumo. 385 Depois de ler essas linhas e se levarmos em consideração as condições a que é submetida atualmente a existência humana, poderíamos afirmar categoricamente que A hora da estrela tem um grande finale trágico? Não foi a morte – paradoxalmente –, para Macabéa, o momento mais alto da sua vida? Afinal de contas, como salienta o narrador: “[...] na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, é o instante de glória de cada um e é quando como no canto coral se ouvem agudos sibilantes” (HE, p. 44). Macabéa, alagoana que “nascera inteiramente raquítica” (HE, p. 43), datilógrafa, “incompetente para a vida” (HE, p. 39), “virgem e inócua” (HE, p. 28), “de leve, como uma idiota, só que não o era” (HE, p. 41), que “como uma cadela vadia era teleguiada exclusivamente por si mesma” (HE, p. 32), que “não tinha” (HE, p.40), que “falava sim, mas era extremamente muda” (HE, p. 45), que “nunca se queixava de nada” (HE, p. 50), cujo maior prazer era colecionar anúncios (HE, p. 54) e cujo sonho maior era ser Marylin Monroe (HE, p. 82), era constantemente humilhada pelo Rio de Janeiro, “uma cidade toda feita contra ela” (HE, p. 29), por Olímpico, por seu chefe, por Glória – sua colega –, pelo médico de pobres, e completamente alienada ao embalo da Rádio Relógio – que oferece o tempo e informações a que ela não poderá dar nenhuma utilidade – a ponto de não se reconhecer no título do livro que ela vê em cima da mesa do seu chefe: “Humilhados e Ofendidos”. É importante notar que Macabéa tem a intuição de que esse título lhe diz alguma coisa, mas ao pensar, descarta a possibilidade. Assim: Outro retrato: nunca recebera presentes. Aliás não precisava de muita coisa. Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou: um livro que Seu Raimundo, dado a literatura, deixara sobre a mesa. O título era “Humilhados e Ofendidos”. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou! Chegou à conclusão que na verdade ninguém jamais a ofendera, tudo que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível, para que lutar? (HE, p. 56). Macabéa “nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável” (HE, p. 44). No entanto, não apenas ela, em sua qualidade de excluída por excelência – por ser integrante da camada mais baixa da sociedade e mulher – estará exposta a esse alheamento. Todos estarão de igual forma, pois, como Adorno e Horkheimer não se esquecem de ressaltar, o esclarecimento se encarrega de anular inclusive sua própria mola de funcionamento, o pensamento, que poderia questionar seu império: 386 O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que ele próprio produz para que ela possa finalmente substitui-lo. O esclarecimento pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento [...] porque ela desviaria do imperativo de comandar a práxis [...]. O procedimento matemático tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Apesar da autolimitação axiomática, ele se instaura como necessário e objetivo: ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, como ele próprio o denomina (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 37). É assim que “quando afinal a autoconservação se automatiza, a razão é abandonada por aqueles que assumiram sua herança a título de organizadores da produção e agora a temem nos deserdados” (Adorno; Horkheimer, 1985, p. 43). A incapacidade paradigmática que torna Macabéa um ser inapto para viver em sociedade, uma deserdada incapaz de constituir ameaça para o sistema, é a sua absoluta falta de domínio da linguagem. Com efeito, ela se comunica através de monossílabos ou de frases feitas, que escuta, sobretudo, na Rádio Relógio e que, para ela, não têm significado algum. Tem uma relação fetichista com as palavras. Assim: Ela que deveria ter ficado no sertão da Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra – a tia é que lhe dera um curso ralo de como bater à máquina. E a moça ganhara uma dignidade: era enfim datilógrafa. Embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe a palavra “designar” de modo como em língua falada diria: “desiguinar” (HE, p. 29). Havia coisas que não sabia o que significavam. Uma era “efeméride”. E não é que Seu Raimundo só mandava copiar com sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas? Achava o termo efemérides absolutamente misterioso. Quando o copiava prestava atenção a cada letra. Glória era estenografa e não só ganhava mais como não parecia se atrapalhar com as palavras difíceis das quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso a mocinha se apaixonara pela palavra efemérides (HE, p. 56). Além disso, é demitida de seu emprego porque “errava demais na datilografia, além de sujar invariavelmente o papel” (HE, p. 39). No entanto, o referido acima não deve nos fazer pensar que essa dignificação ou redenção oferecida pela morte poderia sê-lo apenas para as camadas mais marginalizadas da sociedade. Não devemos esquecer que Macabéa desempenha o papel de espelho do narrador, Rodrigo S.M., que, embora se encontre numa situação existencial completamente diferente e, em princípio, muito mais privilegiada da de Macabéa, freqüentemente, identifica-se com ela 387 enquanto ser humano em “estado de emergência e de calamidade pública” (HE, p. 22). E, no outro extremo, ele, por deter um domínio excessivo da linguagem, também é marginalizado: “Escrevo por não ter nada a fazer no mundo: sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens” (HE, p. 35). “Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, a classe baixa nunca vem a mim” (HE, p. 33) 257. Por tudo isso é que A hora da estrela, romance da palavra bivocalizada e dialógica por excelência e de cunho (também) social, não poderá ser um romance polifônico no sentido bakhtiniano. Parafraseando a Adorno, se o romance quiser ser fiel à sua tradição realista (e com esta obra, Clarice Lispector demonstra querer sê-lo no sentido mais profundo258), ele terá que descobrir que a polifonia social não passa de uma ilusão romanesca. Seres como Macabéa, Olímpico de Jesus, Glória ou Rodrigo S.M. não têm voz259 e, portanto, o romance não poderá mostrar ou representar isso. Rodrigo S.M. até gostaria de fazê-lo, mas isso também foge ao seu controle: “Ela [Macabéa] falava, sim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes consigo mas ela me foge por entre os dedos” (HE, pp. 44-45). Se algum tipo de polifonia podemos surpreender nas páginas do livro seria daquela para a qual aponta Julia Kristeva quando fala do romance polifônico como aquele “que não conhece nem lei, nem hierarquia, sendo uma pluralidade de elementos lingüísticos em relação dialógica” (KRISTEVA, 2005, p. 90). Seria essa, então, uma polifonia, não mais relacionada com a ocorrência de múltiplas vozes (centros-consciência) eqüipolentes no texto, mas com a multivocidade plena do signo poético, capaz de outorgar, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, a mesma dignidade e a mesma força a discursos e facetas diferentes de uma mesma e única vida (Verdade). No entanto, apesar de deixar em aberto muitas questões, há discursos que são claramente destruídos pela grande ironia clariceana que é A hora da estrela. Por outro lado, a estreita relação que se estabelece entre Rodrigo S.M. e Macabéa é o que faz com que, nessa obra, a temática social e o caráter eminentemente introvertido do romance não diminuam em nada o seu teor introspectivo, pois o discurso do narrador-autor 257 Sobre esse ponto, Olga de Sá chega a afirmar que “[...] a marginalização do escritor parece maior, na ótica de Clarice: porque se Macabéa (traída por ele ao ser criada; salvada por ele, ao morrer), tem na hora da morte sua hora da estrela, o escritor que mata a personagem também morre com o texto” (SÁ, 1999, p. 228). 258 Também Rodrigo S.M. declara essa intenção quando afirma: “Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa” (HE, p. 31). Em função de tudo o exposto neste capítulo, sabemos que a realidade à que alude o narrador de A hora da estrela não é a mesma daquela do romance realista. De fato, o narrador sabe que, para além da realidade exterior, o mundo é inapreensível, e ridiculariza um ritual que se propõe para falar de alguém que lhe é inacessível (Macabéa) no “cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo” (HE, p. 37). 259 Eles apenas reproduzem o discurso do outro e obedecem sem consciência alguma à palavra autoritária. Na Rádio Relógio, Macabéa ouvira dizer “que se devia ter alegria de viver. Então eu tenho” (HE, p. 67). 388 (na verdade, Clarice Lispector), em seu jogo de espelhos com a personagem Macabéa, remete-nos constantemente à problemática existencial. De acordo com tudo o exposto até aqui, o romance clariceano (do qual A hora da estrela é culminação e espelho), têm todas as características que R.-M. Albérès identifica na última modalidade do romance moderno: Não mais existe, então, como era o caso na teoria clássica do conhecimento, um mundo visto e um romancista voyeur, mas um conjunto complexo onde os dois se misturam. O romance novo é “fenomenológico”. [...] O drama romanesco não mais se joga, então, nestas condições, entre algumas personagens fictícias da fábula romanesca, mas entre o autor e os seus fantasmas, entre o escritor e a sua visão do mundo... [...] O romance torna-se então um “drama da escrita”, visto ser pela escrita que o escritor, mártir, poeta e testemunho, traduz, em um nível superior que é o da literatura, o drama de todo ser humano: as flutuações, as mitomanias e as incertezas da sua visão do mundo [...] Desta perspectiva, o aspecto “factual” do romance [...] desaparece quase totalmente, substituído por aquilo que somos obrigados a chamar de um aspecto “gnosiológico”, ou seja, por uma teoria do conhecimento, das incertezas, das brumas e do patético do conhecimento. [...] [...] todo romance é tateio de cego, tentativa incerta e obscura de decifração de uma realidade inapreensível [...] (ALBÉRÈS, 1962, pp. 429 a 431, grifos do autor, tradução nossa260). A isso aponta também Benedito Nunes quando, fazendo referência a A paixão segundo G.H., afirma que “o fracasso da história, a dissolução do romanesco [...] é a realidade que restou ao romance, agora convertido no espaço literário de errância do sujeito, desocultando a paixão da existência e da linguagem que o consumia” (NUNES, 1995, p. 151, grifos do autor). E ainda na mesma página (os grifos também são do autor), diz o crítico que “A 260 Il n’existe plus alors, comme c’était le cas dans la théorie classique de la connaissance, un monde vu et un romancier voyeur, mais un ensemble complexe où les deux se mêlent. Le roman nouveau est “phénoménologique”. […] Le drame romanesque ne se joue donc plus, dans ces conditions, entre quelques personnages fictifs de la fable romanesque, mais entre l’auteur et ses phantasmes, entre l’écrivain et sa vision du monde... [...] Le roman devient donc um “drame de l’écriture”, puisque c’est par l’écriture que l’écrivain, martyr, poète et témoin, traduit, à un niveau supérieur qui est celui de la littérature, le drame de tout être humain: les fluctuations, les mythomanies et les incertitudes de sa vision du monde [...] Dans cette optique, l’aspect “événementiel” du roman […] disparaît presque totalment, remplacé par ce que l’on est bien obligé d’appeler un aspect “gnoséologique”, c’est-à-dire par une théorie de la connaissance, des incertitudes, des brumes et du pathétique de la connaissance. [...] [...] tout roman est tâtonnement d’aveugle, tentative hasardeuse et obscure de déchiffrement d’une réalité insaisissable […]. 389 verdade de Joana, de Virgínia, de Lucrécia Neves, de Martim e de G.H. é a verdade do escritor, a quem pertence a paixão da existência e da linguagem que lhes tinha sido delegada”. A hora da estrela e Um sopro de vida são as obras mais auto-reflexivas de Clarice Lispector. No entanto, avançando mais um pouco no seu eterno experimentar, em Um sopro de vida, e como aponta Jorge Wolff (1999, p. 500), a autora “aborda absolutamente sem rodeios o tema da morte do autor e da própria literatura [...] De fato, o Autor a essa altura já não passa de uma silhueta, uma sombra, vivendo ‘por um fio’”. Contraditoriamente, porém, a autora (Clarice Lispector), longe de morrer, parece ser onipresente em sua obra póstuma. Como se resolve, então, essa contradição? Olga de Sá parece nos dar uma chave de resposta quando identifica em Um sopro de vida a passagem da consciência individual ao primeiro plano da narração como centro mimético, isto é, como limiar da apreensão ou da transfusão artística da realidade. E por que não, ausência de qualquer mímesis, a não ser a das palavras fluindo, soltas, de uma mente nutrida pelo orgânico do inconsciente, capaz de condensar-se em desenhos de palavras e ritmos de frases, em manchas de páginas [...] uma escritura esquizóide, centralizada num “eu” quase enlouquecido (SÁ, 1999, p. 232). Por outro lado, no seu ensaio “En el umbral de la palabra: un soplo de vida de Clarice Lispector”, Ihana Ruobueno, após apontar a radical dissolução “das fronteiras entre realidade e irrealidade, verdade e ficção, vigília e sonho” (RUOBUENO, 2003, p. 54, tradução nossa) a que conduz a particularíssima relação entre o Autor, personagem-escritora Ângela e autora Clarice Lispector, identifica nesta obra feita de pulsações uma estrutura que se assenta na alternância de movimentos de contração e expansão, de sístole e diástole, de parte em parte e de subcapítulo em subcapítulo (ver quadro em Ib., p. 57). Mas de quem seria esse coração? Por outro lado, em seu ensaio “Morte e vida de ‘Macabéa Pralini’, Jorge Hoffmann Wolff mostra como Macabéa pode ser considerada um duplo de Ângela Pralini, no sentido de ser seu avesso (portanto, tratar-se-ia de uma alteridade na identidade, assim como era a relação especular entre Macabéa e Rodrigo S.M.). Wolff aponta que, das personagens da autora (conforme o autor, personas da própria escritora), Macabéa seria “a mais fascinantemente vazia e, por esse mesmo motivo, a mais plena ou larga” (WOLFF, 1999, p. 496, grifo do autor). Não será difícil identificar o vazio em Macabéa, vazio-pleno sob constante ameaça de corrupção, como vemos nos trechos seguintes de A hora da estrela. 390 Primeiro, já parecendo pressentir a sua personagem dentro dele mesmo, Rodrigo S.M. apresenta o próprio vazio: Agora me lembrei de que houve um tempo em que para me esquentar o espírito eu rezava: o movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava conseguia um oco de alma – e esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar, um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu – a meu mistério (HE, p. 28). Será a partir desse mesmo vazio que ele irá construindo a sua personagem e caracterizando-a: Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar “quem eu sou?” cairia estatelada e em cheio no chão. É que “quem sou eu?” provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto (HE, pp. 2930); Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso a sua existência física? [...] (Há os que têm. E há os que não têm. É muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo: não tinha. [...]) (HE, p. 40); Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto: ela era capim (HE, p. 46); A maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos [...] parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada (HE, p. 54); Mas não havia nela miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor fresca. Pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia. Só isto (HE, p. 55); Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que para corpo quase murcho de Macabéa tão vasto fosse o seu sopro de vida quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si mesma, por partenogênese (HE, p. 77); Um dia teve um êxtase. [...] Mas apesar do êxtase ela não morava com Deus. Rezava indiferentemente. Sim. Mas o misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um estado de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma quase 391 voando. [...] O ar? Não se conta tudo porque o tudo é um oco nada (HE, p. 81). Trata-se, porém, de um vazio delicado, pois qualquer tipo de conscientização da condição humana e social pode arrancá-lo da beatitude (plenitude) que o caracteriza. Passa-se a querer, e não mais apenas a necessitar sem saber. Como quando Macabéa visita Glória e ao deparar-se com tudo o que ela não tinha, “foi talvez essa uma das poucas vezes em que Macabéa viu que não havia para ela lugar no mundo exatamente porque Glória tanto lhe dava” (HE, p. 84). A conscientização da sua situação e a esperança conduzem Macabéa à morte. Diante da cartomante e as suas revelações “Macabéa empalideceu: nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim” (HE, p. 94). Tomada, então, pela esperança, corre rumo ao futuro que acabara de ganhar e é atropelada pela sua própria ilusão: “Estava meio bêbada [...] sentiase tão desorientada como se lhe tivesse acontecido uma infelicidade. Sobretudo estava conhecendo pela primeira vez o que os outros chamavam de paixão: estava apaixonada por Hans” (HE, p. 97). A sua morte coincide com a destruição daquele vazio-pleno que a sustentava: “Madama Carlota havia acertado tudo, Macabéa estava espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver o seu lado oposto, ela que, como eu disse, até então se julgava feliz” (HE, p. 97). Desta forma, é como se Macabéa realizasse, de forma pura – na medida em que o faz de maneira inconsciente, espontânea –, não só o ideal de uma escritura que almeja a plenitude silenciosa, mas também a despersonalização, “a nudez do eu” (WOLFF, 1999, p. 498) que tanto Martim quanto G.H. se propõem em suas experiências-limite. E, retomando Benedito Nunes, Wolff identifica em Macabéa a personificação do paroxismo da escritura clariceana, isto é, o vazio, o silêncio (Ib., p. 497). Nestas obras-testamento, Clarice, ao mesmo tempo em que denuncia abertamente – através de Rodrigo S.M., Ângela ou o Autor – “o fracasso da história, a dissolução do romanesco” (WOLFF, 1999, p. 499), neste duplo que Wolff chama Macabéa Pralini, lega-nos o ponto de chegada da sua obra, ao serem, Macabéa e Ângela, “figuras que tendem, barrocamente, a favorecer uma espécie de híbrido” (WOLFF, 1999, p. 499). O nada de Macabéa tem a plenitude que falta à Ângela. Hélène Cixous descreve esse vazio-pleno: [...] esta quase mulher, é uma mulher apenas mulher. Mas é tão a-penasmulher que talvez seja mais mulher que toda mulher, mais imediatamente. É tão mínima, tão ínfima, que está no nível do ser, como se estivesse em relação quase íntima com a primeira manifestação do vivo da terra; [...] 392 como as pessoas extremamente pobres, ela está atenta e nos faz atentos para as insignificâncias que são nossas riquezas essenciais e que, com nossas riquezas ordinárias, já esquecemos e rejeitamos (CIXOUS, 1995, p. 167, tradução nossa261). Por último, Jorge Wolff atenta para o fato de que Um sopro de vida culmina com o delineamento de Macabéa: Ângela Pralini – que é também Clarice Lispector – vai delineando, assim, a personagem de A hora da estrela, sua igual. Daí ao final do livro póstumo, a “coisa” se intensifica, como a se exercitar para a narrativa e a personagem derradeira – e vice-versa. “Mas uma coisa eu tenho certeza”, diz o Autor, “esse nada é o melhor personagem de um romance”... E, num parêntese, Rodrigo agregará: “Há os que têm. E há os que não têm. É muito simples: a moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo: não tinha” (WOLFF, 1999, p. 502). Se o autor morre, onde fica o seu nome? Quanto à questão do nome autoral e da importância a ele outorgado na obra de Clarice Lispector, é interessante resgatar aqui duas posições conflitantes: a de Hélène Cixous e a de Carlos Mendes Sousa. Fazendo referência especificamente a A hora da estrela, a crítica chama a atenção para a assinatura de Clarice Lispector que consta entre os títulos do romance, sendo assim, um deles. Longe de ver nisso uma pretensão de grandiloqüência narcísica, Cixous proporá que, conforme ao espírito da obra como um todo, a referida assinatura aí aparece em um exercício de intertroca antecipada com o outro, “porque para o grão de areia que será Macabéa um título é tão válido quanto o outro. Uma criatura é tão válida quanto outra” (CIXOUS, 1995, p. 165, tradução nossa262). Já em sua análise da obra da autora, Carlos Mendes Sousa outorga especial atenção à questão do nome. Como já dissemos, ele detecta, por trás dos nomes das personagens, as marcas do nome autoral e, no caso específico de A hora da estrela, a partir da passagem em que Macabéa, “no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabéa, como se chegasse a si 261 [...] esta casi mujer, es una mujer apenas mujer. Pero es tan a-penas-mujer que quizá sea más mujer que toda mujer, más inmediatamente. Es tan mínima, tan ínfima, que está a nivel del ser, como si estuviera en relación casi íntima con la primera manifestación de lo vivo de la tierra; [...] como la gente sumamente pobre, está atenta y nos hace atentos a las insignificancias que son nuestras riquezas esenciales y que, con nuestras riquezas ordinarias, hemos olvidado y rechazado. 262 Porque para el grano de arena que será Macabea un título es tan válido como otro. Una criatura es tan válida como otra. 393 mesma”, o crítico se pergunta se “encontrar o nome seria o objetivo, o fim para que os homens viveriam. Na própria nomeação se precipitaria o destino?” (SOUSA, 2004, p. 175). Em consonância com a visão do mundo da autora e com o autor implícito de Clarice Lispector, consideramos que a única coisa que o nome garante na sua obra é a alienação do sujeito de si mesmo. “Me deram um nome e me alienaram de mim” (SV, p. 16) diz o narrador de Um sopro de vida263. Essa idéia aparece explicitada também em A hora da estrela. Macabéa diz saber que se chama Macabéa, mas logo acrescenta: “Mas não sei o que está dentro do meu nome. Só sei que eu nunca fui importante...” (HE, p. 73). E o destino, como nos outros romances da autora, ainda tem a ver, antes, com o cumprir-se da existência: “Seu esforço de viver parecia uma coisa que, se nunca experimentara, virgem que era, ao menos intuíra, pois só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. O destino de uma mulher é ser mulher” (HE, p. 103). No que diz respeito à passagem na que se apoia Carlos Mendes Sousa para formular a pergunta, o artigo indefinido que precede o nome da moça, transforma-o em um nome comum; da mesma forma como no fundo vital não se distingue o “mim” de cada um. Rodrigo fala disso na abertura do seu livro: “A minha vida mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique” (HE, p. 25). Para além dessas considerações, entretanto, se considerarmos a ambigüidade que a autora demonstra quanto a sua posição em relação ao nome autoral264, tudo nos leva a pensar que, em função da procura do neutro, do it, a individualidade do autor tornar-se-ia não mais do que um meio (entre outros possíveis) para chegar sempre ao mesmo fim. Além disso, Clarice sabe – e diz-nos isso em todos os romances, mas sobretudo através daquelas iniciais G.H. inscritas em uma valise, a valise da individualidade transitória e precária – que a identificação pelo nome e pela linhagem é “narcisista e empobrecedora. Somos muito mais 263 Mais tarde, ele acrescentará: “Fiz uma breve avaliação de posses e cheguei à conclusão espantada de que a única coisa que temos que ainda não nos foi tirada: o próprio nome. Ângela Pralini, nome tão gratuito quanto o teu e que se tornou título de minha trêmula identidade” (SV, p. 36). 264 Em A Descoberta do Mundo, Clarice faz alusão constante ao esquecimento da origem do texto que cita (leiase, seu autor), ora desculpando-se por isso (“Quem escreveu isto?” <LISPECTOR, 1999a, p. 180>, “Entre aspas” <LISPECTOR, 1999 a, p. 253>), ora justificando-se (“Caderno de notas” <LISPECTOR, 1999a, p. 399>), argüindo que qualquer pessoa (inclusive ela mesma) poderia ter escrito o mesmo texto. E inclusive, em “Carência do poder criador” (LISPECTOR, 1999a, p. 450), após explicitar o nome do autor (Friedrich Schiller), chega a utilizar esse mesmo argumento, sem motivo aparente. Já em “Prazer no trabalho” (LISPECTOR, 1999a, p. 433) e “Quebrar os hábitos” (LISPECTOR, 1999a, p. 434), não parece sentir nenhuma necessidade de acusar autoria O mesmo tipo de reflexão acusa Lóri em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres: “– Viver, disse ela naquele diálogo incongruente em que pareciam se entender, viver é tão fora do comum que só vivo porque nasci. Eu sei que qualquer pessoa diria o mesmo, mas o fato é que sou eu quem está dizendo” (ALP, pp. 105-106). 394 do que o nosso nome nos autoriza e nos obriga a acreditar que somos” (CIXOUS, 1995, p. 197, tradução nossa265). Como também observa Hélène Cixous, o pretenso autor de A hora da estrela (do romance dentro do romance), Rodrigo S.M., já “possui uma personalidade gasta, não é o autor de sucesso dos mass media, está no final da vida, diz-nos que apenas lhe resta a escritura, apenas isso” (CIXOUS, 1995, p. 168, tradução nossa266). Quanto à escritora Clarice Lispector, autora empírica e implícita, acrescenta a crítica francesa: O texto tem, então, por autor uma pessoa que se apresenta prudentemente em terceira pessoa entre parêntese. O autor não é simples: não há verdadeiro autor, apenas há autor suspendido entre ( ). O autor está no banco de reserva – enquanto verdade –, a verdade está reservada. Ser autor na verdade é estar no banco de reserva. À parte. Texto não sem reserva. Rico na verdade, mas obliquamente. Clarice Lispector, autor na capa (do livro) é a verdade deste autor, mas como toda verdade se mantém em segredo, e permanece incognoscível. [...] E, qual é a verdade de Clarice Lispector? (Neste parêntese abrir-se-ia, além disso, um outro parêntese no qual se empilham gnomos, sílfides, sonhos, cavalos, criaturas de diferentes espécies) (CIXOUS, 1995, pp. 169-170, tradução nossa267). Por outro lado, como também demonstra a crítica (1995, p. 179), na “Dedicatória do Autor”, o pronome oblíquo de primeira pessoa faz referência direta ao texto, quando declara “Pois que dedico esta coisa aí [o texto] ao antigo Schumann e sua doce Clara que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra muito escarlate como o meu sangue de homem em plena idade e portanto dedico-me a meu sangue” (HE, p. 21). Ao mesmo tempo em que o eu se identifica com o texto que escreve, o autor (Na verdade Clarice Lispector) declara-se homem. 265 [...] narcisista y empobrecedora. Somos mucho más de lo que nuestro nombre nos autoriza y nos obliga a creer que somos. 266 [...] posee una personalidad gastada, no es el autor exitoso de los mass media, está al final de la vida, nos dice que ya sólo le queda la escritura, sólo eso. 267 El texto tiene, pues, por autor a una persona que se presenta prudentemente en tercera persona entre paréntesis. El autor no es simple: no hay verdadero autor, sólo hay autor suspendido entre ( ). El autor está en la reserva –en cuanto verdad–, la verdad está reservada. Ser autor de verdad es estar en la reserva. Aparte. Texto no sin reserva. Rico de verdad, pero oblicuamente. Clarice Lispector, autor en la portada (del libro) es la verdad de este autor, pero como toda verdad se mantiene en secreto, y permanece incongnoscible. [...] Y, ¿cuál es la verdad de Clarice Lispector? (En este paréntesis se abriría, además, otros paréntesis en el que se apiñan gnomos, sílfides, sueños, caballos, criaturas de distintas especies). 395 É interessante resgatar também, nos casos específicos de A hora da estrela e Um sopro de vida a concepção de universalidade que a autora declarava em relação ao escritor, que nos dá uma pista a mais nesse jogo de máscaras em que os sexos se embaralham: Perguntou-me se eu me considerava uma escritora brasileira ou simplesmente uma escritora. Respondi que, em primeiro lugar, por mais feminina que fosse a mulher, esta não era uma escritora, e sim um escritor. Escritor não tem sexo, ou melhor, tem os dois, em dosagem bem diversa, é claro. Que eu me considerava apenas escritor e não tipicamente escritor brasileiro. Argumentou: nem Guimarães Rosa que escreve tão brasileiro? Respondi que nem Guimarães Rosa: este era exatamente um escritor para qualquer país (LISPECTOR, 1999a, p. 59). Essa concepção contribui para a criação de uma ambigüidade em relação a quem esta falando no texto: Rodrigo S.M., o Autor, ou Clarice Lispector, a Autora? É assim que se anuncia em A hora da estrela o vazio-pleno da escritura que acabará de se concretizar em Um sopro de vida. A obra póstuma de Clarice Lispector começa com uma espécie de apresentação, cujo narrador, em princípio indeterminado, irá aos poucos se identificando com a personagem Autor. Autor que sofre a “vasta e informe melancolia de ter sido criado” (SV, p. 29) e que, por sua vez, cria uma personagem, Ângela, que “chora por ter sido criada” (SV, p. 29). Ângela também é escritora (Autora), e a sua obra é, em parte, a obra de Clarice Lispector (um livro chamado A Cidade Sitiada <SV, p. 104>, outro chamado “História de Coisas” <SV, p. 102>, a descrição de um guarda-roupa, de um relógio chamado Sveglia, “O Ovo e a Galinha” <SV, pp. 104-105>) e que, diz o Autor, “escreve de um modo que em verdade é meu” (SV, p. 108). Que escreve, então, como o Autor e como Clarice Lispector, que criara o Autor e a Ângela, e com ela, a si mesma. E nenhum deles é onisciente: Às vezes sinto que Ângela é eletrônica. [...] Ou é a metade viva de mim? Ângela é mais do que eu mesmo. Ângela não sabe que é personagem. Aliás eu também talvez seja o personagem de mim mesmo. Será que Ângela sente que é um personagem? Porque, quanto a mim, sinto de vez em quando que sou o personagem de alguém. [...] Eu moro na minha ermida de onde apenas saio para existir em mim: Ângela Pralini. Ângela é minha necessidade (SV, p. 29). 396 Por isso, as não-personagens de Um sopro de vida, que “vêm de lugar nenhum. São a inspiração” (SV, p. 17), encontram-se com as personagens dos maiores escritores modernos. Como observa Tadié As personagens dissolvem-se no tempo, na incomunicabilidade, no silêncio. [...] O carácter, nela, é, como observou Marguerite Yourcenar [...], dissolvido no Ser. [...] A percepção da vida, ou dos seus sucedâneos, tece-se num longo discurso que muda de boca, que vai passando uma e outra vez sem real efeito de diferenciação entre as personagens [...] Neste caminho perigoso que conduz à dissolução das personagens, mas também do eu do autor, deparamos com dois grandes escritores italianos: Italo Svevo e Luigi Pirandello (TADIÉ, 1992, p. 50). Mas, para além desse parentesco, Lícia Manzo resume a inovação introduzida em Um sopro de vida. Diz a crítica: Se em A Hora da Estrela, através de Rodrigo e Macabéa, Clarice já se bipartira em autor e personagem, em Um Sopro de Vida, ela repetiria a fórmula para ir ainda mais adiante. Como se se propusesse a si mesma a seguinte questão: ‘Se Rodrigo escreve Macabéa, quem escreve Rodrigo?’, e chegasse à seguinte resposta: ‘Clarice escreve Rodrigo’, para imediatamente desdobrá-la em: ‘Mas quem, então, escreve Clarice?’ [...] Mas, se em seu conto [“A partida do trem”], Ângela e Clarice já pareciam ser irremediavelmente a mesma pessoa, em Um Sopro de Vida torna-se impossível distinguir uma da outra. [...] a estrutura do livro acaba apontando para a seguinte fórmula: ‘O Autor’ escreve ‘Ângela’, ou ainda, ‘o Autor’ escreve ‘Clarice Lispector’. Mas, como também o perfil do personagem ‘O Autor’ parece convergir com o de Clarice, a fórmula parece finalmente avançar para o seguinte: ‘Clarice Lispector’ escreve ‘Clarice Lispector’ (MANZO, 2001, p. 223) Assim, “A linha romanesca se esgarça em confissão, a terceira pessoa vai se transformando em primeira, Ângela Pralini não consegue ser senão Clarice Lispector” (MANZO, 2001, p. 198). Perguntamo-nos, a partir daí, até que ponto Joana conseguia ser algo diferente. Macabéa e Ângela são um duplo com a mesma origem. Qual é essa origem? Clarice Lispector? Ou um Ser que transcende a individualidade e, que no seu âmago, compreende Joana, Rodrigo S.M., Macabéa, Clarice Lispector, Ângela Pralini, o Autor (personagem) e o próprio leitor? 397 O Autor e Ângela são o duplo de duplos da ficção clariceana, pois eles desvendam a unidade que subjaz ao jogo das oposições. O Autor define a personagem como um reflexo (SV, p. 27) ou um espelho (SV, p. 28) e, na espécie de prefácio que abre a obra, anuncia: [...] vou ter que criar um personagem – mais ou menos como fazem os novelistas, e através da criação dele para conhecer. Porque sozinho não consigo: a solidão, a mesma que existe em cada um, me faz inventar. E haverá outro modo de salvar-se? Senão o de criar as próprias realidades? [...] Escolhi a mim e ao meu personagem – Ângela Pralini – para que talvez através de nós eu possa entender essa falta de definição da vida (SV, p. 19). É preciso não esquecer que difiro basicamente de Ângela. [...] Até onde eu vou eu e em onde já começo a ser Ângela? Somos frutos da mesma árvore? Não – Ângela é tudo o que eu queria ser e não fui. [...] Ângela é a minha vertigem. Ângela é a minha reverberação, sendo emanação minha, ela é eu. Eu, o autor: o incógnito. É por coincidência que eu sou eu. Ângela parece uma coisa íntima que se exteriorizou. Ângela não é um “personagem”. É evolução de um sentimento. Ela é uma idéia encarnada no ser. No começo só havia a idéia. Depois o verbo veio ao encontro da idéia. E depois o verbo já não era meu: me transcendia, era de todo o mundo, era de Ângela (SV, p. 30). É por isso que, como sintetiza Ihana Ruobueno, Podemos observar [...] como, se bem que por um lado ambas as personagens se construam por oposição, também o fazem a partir de uma identidade absoluta [...]. Novamente assistimos [...] a um movimento cuja união vem dada pela conjunção de forças opostas que procuram a sua completude na anulação das diferenças (RUOBUENO, 2003, p. 61, grifo da autora, tradução nossa268). O diálogo entre Autor (Clarice) e Ângela (Clarice)269 é um declarado “fac-símile de diálogo” (SV, p. 28), pois “A sucessão de falas, em aparente configuração dialogante, acaba por nos fazer ver que não há propriamente um contraste de registros; percebe-se facilmente a fragilidade das oposições entre as falas da figura do autor e as da personagem por si criada” (SOUSA, 2004, p. 179). Dessa forma fica afirmada, no nível do pacto narrativo, a mesma circularidade proposta pela estrutura de A h
Download