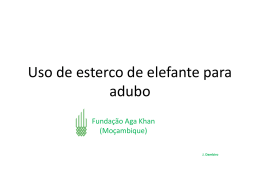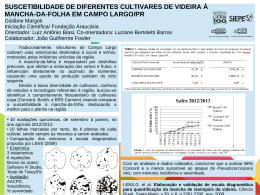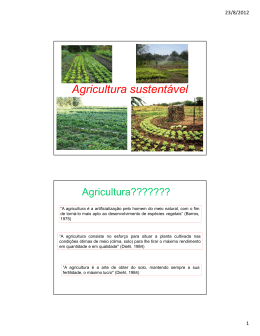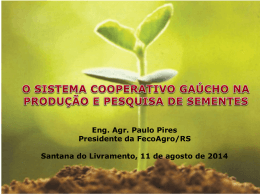SOCIEDADE DE OLERICULTURA DO BRASIL Presidente Rumy Goto UNESP-Botucatu Vice-Presidente Nilton Rocha Leal UENF-CCTA 1º Secretário Arlete Marchi T. de Melo IAC 2º Secretário Ingrid B. I. Barros UFRGS-Porto Alegre 1º Tesoureiro Marcelo Pavan UNESP-Botucatu 2º Tesoureiro Osmar Alves Carrijo Embrapa Hortaliças Volume 19 número 1 Março 2001 ISSN 0102-0536 SUMÁRIO CARTA DO EDITOR 03 PESQUISA Consorciação milho e feijão caupí para produção de espigas verdes e grãos verdes. P. S. L. Silva. Teor de metais pesados e produção de alface adubada com composto de lixo urbano. C. A. Costa; V. W. D. Casali; H. A. Ruiz; C. P. Jordão; P. R. Cecon. Distribuição radicular de cultivares de aspargo em áreas irrigadas de Petrolina - PE. L. H. Bassoi; G. M. Resende; J. E. Flori; J. A. M. Silva; C. M. de Alencar. Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura da alface. R. A. Furlan; D. R. B. Alves; M. V. Folegatti; T. A. Botrel; K. Minami. Características e rendimento de vagem do feijão-vagem em função de fontes e doses COMISSÃO EDITORIAL DA de matéria orgânica. HORTICULTURA BRASILEIRA G. M. Santos; A. P. Oliveira; J. A. L. Silva; E. U. Alves; C. C. Costa. Presidente Cultivar e adubação NPK na produção de tomate salada. Leonardo de Britto Giordano P. R. Z. Santos; A. S. Pereira; C. J. S. Freire. Embrapa Hortaliças Editores Produção de frutos de quiabeiro a partir de mudas produzidas em diferentes tipos Antônio T. Amaral Jr. de bandejas e substratos. UENF-CCTA V. A. Modolo; J. Tessarioli Neto; L. E. R. Ortigozza. Antônio Williams Moita Embrapa Hortaliças Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. Arminda Moreira Carvalho J. B. Menezes; J. Gomes Junior; S. E. Araújo Neto; A. N. Simões. Embrapa Cerrado Utilização do ‘não tecido’ de polipropileno como proteção da cultura de alface Carlos Alberto Lopes durante o inverno de Ponta Grossa – PR. Embrapa Hortaliças R. F. Otto; M. Y. Reghin; G. D. Sá. César Augusto B. P. Pinto UFLA Efeito da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, Daniel J.Cantiffe no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em University of Florida duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação. Eduardo S. G. Mizubuti M. U. C. Nunes; M. L. S. Leal. UFV Uso de inseticidas para o controle da traça-do-tomateiro e traça-das-crucíferas: um estudo de caso. Francisco Reifschneider Embrapa Hortaliças M. Castelo Branco; F. H. França; M. A. Medeiros; J. G. T. Leal. João Carlos Athanázio Concentração de nutrientes e produção do tomateiro podado e adensado em função do UEL uso de fósforo, de gesso e de fontes de nitrogênio. José Geraldo Eugênio de França E. C. Silva; J. R. P. Miranda; M. A. R. Alvarenga. IPA José Magno Q. Luz UFU Marcelo Mancuso da Cunha IICA-MI Maria Aparecida N. Sediyama EPAMIG Maria do Carmo Vieira UFMS - CEUD - DCA Maria Urbana C. Nunes Embrapa Tabuleiros Costeiros Mirtes Freitas Lima Embrapa Semi-Árido Paulo César R. Fontes UFV Ricardo J. Piccolo Argentina Renato Fernando Amabile Embrapa Cerrados Sieglinde Brune Embrapa Hortaliças CORRESPONDÊNCIA: Horticultura Brasileira Caixa Postal 190 70.359-970 - Brasília-DF Tel.: (061) 385-9000/9051 Fax: (061) 556-5744 www.hortbras.com.br [email protected] Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 4 10 17 25 30 35 39 42 49 53 60 64 PÁGINA DO HORTICULTOR Uso de esterco bovino e húmus de minhoca na produção de repolho híbrido. A. P. Oliveira; D. S. Ferreira; C. C. Costa; A. F. Silva; E. U. Alves. Efeito do óleo mineral e do detergente neutro na eficiência de controle da mosca-branca por betacyfluthrin, dimethoato e methomyl no meloeiro. F. A.S.B. Medeiros; E. Bleicher; J. B. Menezes. Produção de raízes de cenoura cultivadas com húmus de minhoca e adubo mineral. A. P. Oliveira; J. E. F. Espínola; J. S. Araújo; C. C. Costa. Rendimento de feijão-caupi cultivado com esterco bovino e adubo mineral. A. P. Oliveira; J. S. Araújo; E. U. Alves; M. A. S. Noronha; C. M. Cassimiro; F. G. Mendonça. Seleção de linhagens de feijão-vagem de crescimento indeterminado para cultivo no Estado de Goiás. N. Peixoto; E. A. Moraes; J. D. Monteiro; M. D. T. Thung. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. F. J. F. Luz. 70 74 77 81 85 88 INSUMOS E CULTIVARES EM TESTE Eficiência de tiacloprid para o controle de mosca-branca. M. Castelo Branco; L. A. Pontes. 97 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 102 ISSN 0102-0536 Volume 19 number 1 March 2001 CONTENT Journal of the Brazilian Society for Vegetable Science EDITOR'S LETTER 03 RESEARCH Intercropping maize with cowpea for green ears and green grain production. P. S. L. Silva. Level of heavy metals and yield of lettuce fertilized with urban solid waste compost. C. A. Costa; V. W. D. Casali; H. A. Ruiz; C. P. Jordão; P. R. Cecon. Root distribution of asparagus cultivars in irrigated areas of Petrolina, Brazil. L. H. Bassoi; G. M. Resende; J. E. Flori; J. A. M. Silva; C. M. Alencar. Carbon dioxide water for lettuce irrigation. R. A. Furlan; D. R. B. Alves; M. V. Folegatti; T. A. Botrel; K. Minami. Characteristics and yield of snap-bean pod in function of sources and levels of organic matter. G. M. Santos; A. P. Oliveira; J. A. L. Silva; E. U. Alves; C. C. Costa. Cultivar and NPK fertilization on yield of fresh market tomato. P. R. Z. Santos; A. S. Pereira; C. J. S. Freire. Influence of different tray cell sizes and substrates over the production of okra plantlets and fruits. V. A. Modolo; J. Tessaroli Neto; L. E. R. Ortigozza. Storage of yellow melons, genotypes TSX 32096 and SUNEX 7057, at room temperature. J. B. Menezes; J. Gomes Junior; S. E. A. Neto; Araújo N. Simões. Use of non woven polypropylene protection under lettuce crop during winter season in Ponta Grossa, Brazil. R. F. Otto; M. Y. Reghin; G. D. Sá. Effect of biofertilizer, and others biological and chemical products, in controlling the fruit small driller and in the production of staked tomato in two planting seasons and two irrigation systems. M. U. C. Nunes; M. L. S. Leal. Use of insecticides for controlling the South American Tomato Pinworm and the Diamondback Moth: a case study. M. C. Branco; F. H. França; M. A. Medeiros; J. G. T. Leal. Yield and nutrient concentration of tomato plants pruned and grown under high planting density according to phosphorus, gypsum and nitrogen sources. E. C. Silva; J. R. P. Miranda; M. A. R. Alvarenga. 4 10 17 25 30 35 39 42 49 53 60 64 GROWER'S PAGE Address: Caixa Postal 190 70359-970 Brasília-DF Tel: (061) 385-9000/9051 Fax: (061) 556-5744 www.hortbras.com.br [email protected] Utilization of cattle manure and earthworm compost on hybrid cabbage production. A. P. Oliveira; D. S. Ferreira; C. C. Costa; A. F. Silva; E. U. Alves. Effect of betacyfluthrin, dimethoate and methomyl applied in mixtures with mineral oil and neutral detergent in the control efficiency of whitefly in melon plants. F. A.S.B. Medeiros; E. Bleicher; J. B. Menezes. Carrot roots production cultivated with earthworm compost and mineral fertilizer. A. P. Oliveira; J. E. F. Espínola; J. S. Araújo; C. C. Costa. Yield of cowpea-beans cultivated with bovine manure and mineral fertilization. A. P. Oliveira; J. S. Araújo; E. U. Alves; M. A. S. Noronha; C. M. Cassimiro; F. G. Mendonça. Selection of climbing snap bean lines in Goiás, Brazil. N. Peixoto; E. A. Moraes; J. D. Monteiro; M. D. T. Thung. Medicinal plants of popular use in Boa Vista, Roraima, Brazil. F. J. F. Luz. 70 74 77 81 85 88 PESTICIDES AND FERTILIZERS IN TEST Efficiency of tiacloprid in controlling whiteflies. M. C. Branco; L. A. Pontes. 97 INSTRUCTIONS TO AUTHORS 102 Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. carta do editor C omo é de conhecimento de nossos sócios, entre os dias 22 e 27 de julho deste ano será realizado, em Brasília, o 41º Congresso Brasileiro de Olericultura e o Encontro sobre Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares. Nessa oportunidade contaremos com a presença de um grande número de profissionais que trabalham direta ou indiretamente com olerícolas. Será uma oportunidade ímpar para troca de conhecimentos técnicos e para conhecimento de outros profissionais que atuam em diferentes segmentos. Convidamos a todos a participar deste evento e aproveitar a ocasião para reencontrar colegas das diversas regiões do País e conhecer os novos profissionais que estão atuando na área. Com relação à Horticultura Brasileira (HB) vamos contar, à partir deste número, com a colaboração de um novo editor, o Dr. Daniel J. Cantliffe, da Universidade da Flórida. A participação do Dr. Cantliffe irá contribuir para melhoria da qualidade da revista, ampliando a penetração da HB na comunidade científica internacional. A capa de todos os números do volume 19 terá como ilustração as pinturas em pranchas de diversas hortaliças, pertencentes ao acervo do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). A HB presta, assim, uma justa homenagem a esta Instituição pelos relevantes serviços prestados ao nosso País. A pesquisa com hortaliças no IAC, que teve início oficialmente em 1937, gerou conhecimentos e tecnologias que extrapolaram nossas fronteiras, conquistando reconhecimento a nível internacional. Leonardo de B. Giordano Presidente da Comissão Editorial Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 3 pesquisa SILVA, P.S.L. Consorciação milho e feijão caupí para produção de espigas verdes e grão verdes. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 04-10, março 2.001. Consorciação milho e feijão caupí para produção de espigas verdes e grãos verdes. Paulo Sérgio L. Silva ESAM – Departamento de Fitotecnia, C. Postal 137, 59.625-900 Mossoró-RN. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT O objetivo do presente trabalho foi avaliar o rendimento de espigas verdes de cultivares de milho (Centralmex, AG-401 e C-701) e o rendimento de feijão verde de cultivares de caupí (Pitiúba, Caicó e CNCx 658-15E) em monocultivos e em consorciação. O rendimento de espigas verdes (grãos com 70% a 80% de umidade) foi avaliado pelo peso de espigas comercializáveis, empalhadas (EE) ou despalhadas (ED). O rendimento de feijão (grãos com 60 a 80% de umidade) foi avaliado pelos rendimentos de vagens (RV) e de grãos verdes (RG). O estudo foi realizado em Mossoró (RN), entre abril e julho/1990. Três monocultivos de milho, três monocultivos de caupí e 3 x 3 consórcios foram avaliados no delineamento de blocos ao acaso com cinco repetições. As populações de plantas de milho e caupí, por hectare, foram 50.000 e 40.000 nos monocultivos, e 25.000 e 20.000 nos consórcios, respectivamente. Não existiu interação cultivares de milho x cultivares de caupí para as características avaliadas. A consorciação reduziu em 50% EE e ED. A redução em RV e RG com a consorciação foi de 55%. O índice Uso Eficiente da Terra (UET), calculado com EE e RV, foi maior com a cultivar Pitiúba do que com as outras cultivares de caupí. Não existiram diferenças entre cultivares de caupí quando UET foi calculado com ED e RG. Não existiram diferenças entre cultivares de milho quando o UET foi calculado com EE e RV ou ED e RG. Intercropping maize with cowpea for green ears and green grain production. Palavras-chave: Zea mays L., Vigna unguiculata (L.) Walp., milho verde, feijão verde, uso eficiente da terra. Keywords: Zea mays L., Vigna unguiculata (L.) Walp., green corn, green bean, land equivalent ratio. The objective was to evaluate the green ears yield of maize cultivars (Centralmex, AG-401 and C-701) and the green bean yield, of cowpea cultivars (Pitiúba, Caicó and CNCx 658-15E), using monocropping and intercropping systems. The green ears yield (grains with 70% - 80% humidity) was evaluated by weight of marketable green ears, both with husk (EH) and without husk (EW). The green bean yield (grains with 60% - 80% humidity) was evaluated by green pods yield (PY) and green grains yield (GY). The study was carried out at Mossoró, Brazil, between April and July, 1990. Three maize monocroppings, three cowpea monocroppings and 3 x 3 intercroppings were arranged in a randomized block design with five replications. The maize and cowpea plant populations, per hectare, were 50,000 and 40,000 with monocropping, and 25,000 and 20,000, with alternate-row intercropping, respectively. The maize cultivars x cowpea cultivars interaction was not significant for the traits evaluated. The intercropping systems reduced 50% EH and EW. The reduction of PY and GY by intercropping was 55%. The Land Equivalent Ratio (LER) calculated from EH and PY was greater when intercropping was made with Pitiúba cultivar than with other cowpea cultivars. There were no differences among cowpea cultivars when LER was obtained from EW and GY. Maize cultivars did not differ as LER calculated from EH and PY or EW and GY. (Aceito para publicação em 15 de janeiro de 2.001) O “milho verde”, isto é, grãos de Zea mays L. com teor de umidade entre 70% e 80%, e o feijão verde, ou seja, grãos de caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp.) com teor de umidade entre 60% e 80%, são produtos amplamente produzidos e consumidos no Rio Grande do Norte. Na realidade, os dois produtos possuem importância expressiva em todo o Nordeste brasileiro, sendo consumidos pelo nordestino sob várias formas, inclusive como ingredientes de pratos típicos da região. Para produção dos dois produtos, milho e caupí são cultivados em monocultivo 4 ou em variados tipos de consórcios, dentre os quais um dos mais comuns é aquele de fileiras alternadas das duas culturas. Aliás, grãos verdes e secos de milho e caupí são produzidos com as mesmas cultivares e práticas culturais. Não existem dados sobre os rendimentos médios de espigas verdes e de grãos verdes das duas culturas no Rio Grande do Norte. Para grãos secos, os rendimentos médios de milho e caupí no período 1993-95 foram de 464 kg ha-1 e 327 kg ha-1, respectivamente (Brasil, 1996). Vários problemas devem estar associados a estes baixos rendimentos. Um dos mais importantes é o plantio de cultivares tradicionais, com baixa capacidade produtiva. Em geral, o agricultor norte-riograndense semeia sua própria semente que, freqüentemente, é de uma mistura de cultivares. Está se tornando comum a semeadura de cultivares importadas de outras regiões do país e que sequer foram avaliadas sob as condições nordestinas. Portanto, a identificação de cultivares adequadas poderá contribuir para melhoria dos rendimentos de milho e caupí cultivados em monocultivo ou em consórcio. Nos trabalhos mais recentes sobre a consorciação milho e caupí o interesse Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Consorciação milho e feijão caupí para produção de espigas verdes e grão verdes. dos pesquisadores é o aumento da produção de forragem (Khandaker, 1994; Tripathy et al., 1997; Krishna et al., 1998), de grãos das duas culturas (Mohammad, 1993; Watiki et al., 1993; Myaka, 1995; Balyan, 1997; Khola et al., 1999;), ou o rendimento de uma terceira cultura plantada em sucessão ao consórcio (Balyan, 1997; Olasantan, 1998). Diferentes cultivares influenciam os rendimentos de forragem (Tripathy et al., 1997) e de grãos. No caso do caupí, a consorciação pode ou não reduzir o rendimento de grãos (Abdel-Gawad, 1993; Watiki et al., 1993). Por outro lado, para o milho, a consorciação com caupí propicia (Balyan, 1997; Skovgard & Pats, 1997) ou não (Watiki et al., 1993) aumento no rendimento de grãos. Apenas o trabalho de Silva & Freitas (1996) foi encontrado na literatura consultada tratando da consorciação milhocaupí para produção de espigas verdes e de grãos verdes. Eles concluíram que o número e o peso de espigas verdes, por hectare, obtidos nos monocultivos foram superiores, em média, aos obtidos nos consórcios. Para o caupí, os monocultivos, em média, também foram superiores aos consórcios, mas a diferença entre monocultivo e a consorciação com uma das cultivares de milho (dentre as três estudadas) não foi significativa. Coelho & Silva (1984) e Ramalho et al. (1985) estudaram o consórcio milho e feijão comum para a produção de espigas verdes e grãos maduros de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). Segundo Coelho & Silva (1984), devido à redução de 15% na produção de espigas verdes comerciais de milho, no sistema consorciado, e considerando que o preço médio do feijão é cerca de quatro vezes o de espigas verdes de milho, a consorciação não se apresenta como alternativa vantajosa, no aproveitamento de várzeas na entressafra do arroz. Ramalho et al. (1985) também concluíram que, em diferentes épocas da entressafra, dificilmente o consórcio milho verde e feijão comum será vantajoso economicamente, pela redução da produção de espigas comerciais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os rendimentos de espigas verdes de milho e de vagens e grãos verdes de caupí, em cultivos puros e consorciados. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado na ESAM. Na tabela 1 são apresentados dados sobre alguns fatores climáticos medidos durante o período de realização do experimento. O trabalho foi realizado sob condições de sequeiro, mas recebeu irrigação suplementar por aspersão. A lâmina líquida requerida para o milho (5,6 mm) foi calculada considerando-se ser de 0,40 m a profundidade efetiva do sistema radicular. O momento de irrigar teve por base a água retida no solo à tensão de 0,04 MPa. O turno de rega foi de um dia. As irrigações foram iniciadas quando as plantas tinham, aproximadamente 35 dias de idade e foram feitas até pouco antes das colheitas. Três cultivares de milho (Centralmex, AG-401 e C-701) e três de caupí (Pitiúba, Caicó e CNCx 65815E) foram cultivadas em monocultivo e em consórcio, perfazendo um total de 15 tratamentos (três monocultivos de milho, três monocultivos de caupí e 3 x 3 consórcios). Os consórcios resultaram da combinação, em esquema fatorial completo, das três cultivares de cada uma das culturas. Os tratamentos foram avaliados no delineamento experimental de blocos ao acaso com cinco repetições. A cultivar Centralmex é variedade de polinização livre, possui altura de planta em torno de 210 cm e foi utilizada como testemunha, dentre as cultivares de milho. As cultivares AG-401 e C-701 são híbridos duplos, com alturas de planta em torno de 170 e 150 cm, respectivamente. As três cultivares de caupí são de crescimento indeterminado (tipo ramador). A cultivar Pitiúba foi utilizada como testemunha, na comparação das cultivares de caupí. As parcelas dos cultivos puros ficaram constituídas por três fileiras com 6 m de comprimento. Como área útil, considerouse a ocupada pela fileira central, eliminando-se uma cova em cada extremidade. Nos consórcios, as parcelas foram formadas por quatro fileiras com 6 m de comprimento. Como área útil, considerou-se a ocupada pelas duas fileiras centrais, eliminando-se uma cova em cada extremidade. Tanto nas culturas puras quanto nas consorciadas, a distância entre fileiras foi de 1,0 m e, entre covas de uma mesma fileira, o espaçamento foi de 0,4 m para o milho e de 0,5 m para o caupí. Nos consórcios, milho e caupí ocuparam fileiras alternadas. O solo, um Argissolo Vermelho Amarelo (PVA), foi preparado com duas gradagens. A análise de uma amostra de solo, retirada de área vizinha à área experimental, indicou: pH = 6,4; P = 18 ppm; K+ = 0,11 cmolc dm-3; Ca2+ = 1,6 cmolc dm-3; Mg2+ = 0,8 cmolc dm-3; Al3+ = 0,0 cmolc dm-3 e Na+ = 0,02 cmolc dm-3;. O plantio foi feito em 22/4/1990, com cinco sementes por cova. Um desbaste foi efetuado aos 25 dias do plantio, deixando-se duas plantas por cova, para as duas culturas. O caupí recebeu, como adubação de plantio, 60 kg de P2O5 e 30 Tabela 1. Médias das temperaturas máximas e mínimas e da umidade relativa do ar e totais de insolação e precipitação mensais, durante o período de abril a julho de 1990. Mossoró, ESAM, 1990. M es es d e 1 9 9 0 Abril Maio Junho Julho Temp. máx. (oC ) 33,4 34,2 34,0 34,4 Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Temp. mín . (o C ) 24,0 23,0 22,3 22,6 Umid. (% ) 72,0 71,9 64,3 64,1 In sol. (h ) 229,6 244,5 229,5 251,4 P recip. (mm) 82,9 124,0 10,9 5,3 5 P.S.L Silva. Tabela 2. Médias do rendimento de espigas verdes empalhadas comercializáveis de cultivares de milho em cultivos puros e em consórcio com cultivares de caupí. Mossoró, ESAM, 1990. Cu ltivares de milh o Centralmex AG-401 C-701 Médias1 1 Milh o em mon ocu ltivo 11.728 9.986 10.377 10.697 a P itiú ba 5.625 5.947 5.602 5.725 b Milh o con sorciado Cu ltivares de cau pí Caicó CNCx 658-15E -1 kg . h a 5.397 6.075 5.333 5.399 4.689 5.159 5.140 b 5.544 b Médias1 7.206 A 6.666 A 6.457 A - Médias seguidas pela mesma letra, na linha ou na coluna, não diferem entre si (Tukey, 5%). Tabela 3. Médias do rendimento de espigas verdes despalhadas comercializáveis de cultivares de milho em cultivos puros e consórcios com cultivares de caupí. Mossoró, ESAM, 1990. Cu ltivares de milh o Centralmex AG-401 C-701 Médias1 1 Milh o em mon ocu ltivo 5.920 5.245 5.629 5.931 a P itiú ba 2.765 3.003 3.321 3.030 b Milh o con sorciado Cu ltivares de cau pí Caicó CNCx 658-15E kg. h a-1 2.782 3.170 2.616 2.879 2.946 2.990 2.781 b 3.013 b Médias1 3.659 A 3.436 A 3.972 A - Médias seguidas pela mesma letra, na linha ou na coluna, não diferem entre si (Tukey, 5%). kg de K2O, por hectare. O milho, além destes adubos, recebeu também, no plantio, 35 kg de N/ha. Os adubos foram aplicados em sulcos, ao lado e abaixo dos sulcos de semeadura. Apenas o milho recebeu adubação em cobertura (65 kg de N/ha, aos 25 dias após o plantio). Como fontes de N, P2O5 e K2O foram utilizados sulfato de amônio, superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. O controle de Spodoptera frugiperda Smith foi efetuado com pulverizações de deltamethrin (250 mL.ha), aos 7 e 15 dias após o plantio. As invasoras foram controladas por capinas realizadas aos 15 e 50 dias após o plantio. Para o milho, foram avaliados os pesos de espigas empalhadas e despalhadas, comercializáveis. A colheita foi realizada em quatro etapas, de 75 a 85 dias após o plantio, à medida que os grãos atingiam o “ponto de milho verde”. Como espigas empalhadas comercializáveis, foram consideradas as espigas com aparência adequada à comercialização e comprimento igual ou superior a 22 cm. Como espigas 6 despalhadas comercializáveis, foram consideradas as espigas com comprimento igual ou superior a 17 cm e com granação e sanidade satisfatórias. Para o caupí, foram avaliados os pesos de vagens e de grãos verdes (kg.ha-1). A colheita foi realizada em nove etapas, de 45 a 75 dias após o plantio, à medida que os grãos atingiam o “ponto de feijão verde”. Os dados referentes às características avaliadas foram submetidos à análise de variância, seguindo-se as recomendações de Gomes (1982). Foram analisados também dados sobre o índice de Uso Eficiente da Terra (UET), tal como descrito por Mead & Willey (1980). O UET indica a área de terra necessária com as culturas em monocultivo para proporcionar um rendimento equivalente ao obtido com as culturas associadas, considerando-se iguais áreas de terra cultivada (Mead & Willey, 1980). Se AC, AS, BC e BS são os rendimentos das culturas A, consorciada e solteira, e B, consorciada e solteira, respectivamente, o UET é igual a (AC/AS) + (BC/BS). RESULTADOS E DISCUSSÃO Para os rendimentos de espigas de milho verde comercializáveis, empalhadas ou despalhadas, houve efeito significativo de “milho (puros e consórcios)” (PC), mas não de “cultivares de milho” (M) ou da interação PC x M. O rendimento médio do milho nos monocultivos foi superior aos rendimentos médios nos sistemas consorciados, os quais não diferiram entre si, tanto para espigas empalhadas (Tabela 2) como para espigas despalhadas (Tabela 3). Para espigas empalhadas comercializáveis, o rendimento médio da gramínea nos consórcios foi de 5,5 t.ha-1. Este valor representa quase 51% do rendimento médio observado nas parcelas do milho solteiro. Para espigas despalhadas comercializáveis, o percentual correspondente (50%) foi semelhante. No que se refere aos rendimentos de vagens e grãos verdes de caupí, à semelhança do encontrado para o milho, houve efeito significativo de “caupí (puros Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Consorciação milho e feijão caupí para produção de espigas verdes e grão verdes. Tabela 4. Médias do rendimento de vagens verdes de cultivares de caupí em cultivos puros e consórcios com cultivares de milho. Mossoró, ESAM, 1990. Cu ltivares de c au p í Pitiúba Caicó CNCx 658-15E Médias1 1 C a u p í em mon ocu ltivo 3.876 6.129 6.216 5.407 a Milh o con sorciado Cu ltivares de milh o Cen tralmex AG-401 kg. h a-1 2.427 2.107 2.591 2.188 2.136 2.391 2.385 b 2.229 b Médias1 C-701 2.737 2.831 2.059 2.542 b 2.787 A 3.435 A 3.200 A - Médias seguidas pela mesma letra, na linha ou na coluna, não diferem entre si (Tukey, 5%). Tabela 5. Médias do rendimento de grãos verdes de cultivares de caupí em cultivos puros e consórcios com cultivares de milho. Mossoró, ESAM, 1990. Cu ltivares de c au p í Pitiúba Caicó CNCx 658-15E Médias1 1 C a u p í em mon ocu ltivo 2.106 2.911 2.816 2.611 a Milh o con sorciado Cu ltivares de milh o Cen tralmex AG-401 kg. h a-1 1.336 1.150 1.165 1.151 1.203 1.142 1.235 b 1.145 b Médias1 C-701 1.409 1.321 957 1.229 b 1.500 A 1.637 A 1.530 A - Médias seguidas pela mesma letra, na linha ou na coluna, não diferem entre si (Tukey, 5%). e consórcios)” (PC), mas não de “cultivares de caupí” (C) ou da interação PC x C. Os rendimentos médios de vagens (Tabela 4) e grãos (Tabela 5) verdes, obtidos nos consórcios, não diferiram entre si e foram inferiores aos respectivos rendimentos médios obtidos nos monocultivos. No caso do rendimento de vagens verdes, o rendimento médio dos consórcios (2,4 t ha-1) foi de apenas 44% do rendimento médio dos monocultivos (5,4 t.ha-1). Para grãos verdes, o rendimento médio de 1,2 t.ha-1, obtido nos consórcios, foi de apenas 46% do rendimento médio dos monocultivos. Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que a consorciação reduziu, significativamente, os rendimentos de espigas empalhadas e despalhadas, comercializáveis, em, aproximadamente, 50%, em relação aos rendimentos dos monocultivos. Estas reduções devem ter sido devidas às menores populações do milho e à competição com o caupí, nos consórcios. Reduções no rendimento do milho, em conseqüência da Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. consorciação têm sido observadas por outros autores. Silva & Freitas (1996) constataram que os decréscimos médios para número e peso de espigas verdes, em decorrência da consorciação, foram de 49 e 45%, respectivamente. Ramalho et al. (1985) verificaram reduções de 23% e 21% na produção de milho verde de duas cultivares consorciadas com feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). Segundo eles, esta redução no rendimento de milho verde é de magnitude superior à normalmente relatada na literatura, envolvendo o consórcio milho e feijão comum, quando é avaliada a produção de grãos secos de milho. Para eles, a maior competição exercida pelo feijão, quando o milho se destina à produção de espigas verdes é, provavelmente, explicada pelo fato de, neste caso, ser menor a diferença no ciclo das culturas. Segundo Willey (1979), citado por Ramalho et al. (1985), quanto maior for a diferença no ciclo das culturas maior será a complementaridade temporal e menor a competição de uma espécie sobre a outra. Mas provavelmente outros fato- res devem estar envolvidos, dentre os quais a população de plantas e as cultivares de milho e feijão. Pereira Filho et al. (1991) verificaram variação de +3% a –34% no rendimento do milho consorciado em relação ao rendimento do milho solteiro, a depender da população de plantas (de 20 mil a 60 mil plantas/ha) e da cultivar de milho. Para uma população de 50 mil plantas/ha, Cruz et al. (1984) encontraram variação correspondente de +14% a –23%, dependendo da cultivar. A variação observada por Carvalho (1990), foi de –48% a –57%, também dependendo da cultivar, quando a população de milho foi de 20 mil plantas/ha. No caso do caupí, a redução dos rendimentos de vagens e de grãos verdes, em conseqüência da consorciação, ficou em torno de 55% e pode ser atribuída às menores populações de plantas do caupí nos consórcios, mas também à grande competição com o milho. Este efeito da população de plantas no consórcio milho e caupí para produção de grãos secos foi demonstrado por Rêgo Neto et al. (1982). Quando a população do caupí 7 P.S.L Silva. Tabela 6. Médias dos índices de uso eficiente da terra (UET) calculados com base no peso de espigas verdes empalhadas comercializáveis de cultivares de milho e peso de vagens verdes de cultivares de caupí. Mossoró, ESAM, 1990. Cu ltivares de cau pí Pitiúba Caicó CNCx 658-15E Médias1 1 Cen tralmex 1,18 0,94 0,91 1,01 a Cu ltivares de milh o AG-401 1,19 0,95 1,00 1,05 a C-701 1,33 0,96 0,89 1,06 a Médias1 1,23 A 0,95 B 0,93 B - Médias seguidas pela mesma letra, na linha ou na coluna, não diferem entre si (Tukey, 5%). no consórcio correspondeu a 50% da população no monocultivo (caso do presente trabalho), a redução média no rendimento de três cultivares foi de 55%. Quando a população do caupí no consórcio foi equivalente a 66% da população no monocultivo, a redução correspondente foi menor (38%). Silva & Freitas (1996) verificaram que os rendimentos de vagens e grãos verdes de caupí nos consórcios milho verde e caupí verde nem sempre foram inferiores, significativamente, aos obtidos nos monocultivos. Assim, o rendimento médio de cultivares de caupí em consórcio com um híbrido duplo de milho de porte intermediário, apesar de ter sido 25% menor que o rendimento médio das cultivares de caupí em monocultivo, a diferença não foi significativa. No presente estudo, para as duas culturas, não houve efeito significativo da interação entre cultivares de milho e de caupí, indicando que os rendimentos das cultivares de milho não dependeram das cultivares de caupí utilizadas nos consórcios e vice-versa. Silva & Freitas (1996), também estudando a consorciação milho verde e caupí verde, concluíram não existir a interação cultivares de milho x cultivares de caupí, para os rendimentos de milho verde ou feijão verde. Ramalho et al. (1984) também não encontraram interação significativa entre as cultivares de feijão comum e as de milho, nem destas com os sistemas de consorciação, para produção de grãos secos. Contudo, Carvalho (1990) verificou que as cultivares de feijão comum interferiram diferentemente no rendimento das cultivares de milho, e estas mostraram, entre si, o mesmo comportamento em relação às cultivares de feijão. 8 A análise de variância dos índices de Uso Eficiente da Terra (UET) indicou efeito significativo apenas para cultivares de caupí. Isto ocorreu quando os índices foram calculados com base nos pesos de espigas empalhadas comercializáveis e de vagens verdes. O UET obtido com a consorciação das cultivares de milho com a cultivar de caupí Pitiúba foi, em média, superior aos UET’s obtidos com as outras duas cultivares de caupí, os quais não diferiram entre si (Tabela 6). O valor de 1,23 para o UET obtido com a cultivar Pitiúba indica que, em média, os monocultivos exigiriam 23% mais de terra que os consórcios para que produzissem o mesmo que um hectare de consórcio. É possível que a superioridade média dos consórcios das cultivares de milho com a cultivar de caupí Pitiúba, em relação aos consórcios com as outras cultivares de caupí, esteja relacionada a uma melhor adaptação da cultivar Pitiúba aos consórcios, apesar da interação cultivares de milho x cultivares de caupí não ter sido significativa, como já foi visto. Em média, a diminuição do rendimento de vagens verdes da cultivar Pitiúba, nos consórcios, em relação ao rendimento no monocultivo, foi de 37% (Tabela 4). Por outro lado, para as cultivares Caicó e CNCx 658-15E, as diminuições correspondentes foram de 59% e 65%, respectivamente (Tabela 4). Quando os UET’s foram calculados com base nos dados de peso de espigas despalhadas e peso de grãos, o valor correspondente à cultivar Pitiúba também foi superior aos correspondentes às outras duas cultivares de caupí, mas neste caso as diferenças não foram significativas . O valor médio do UET, neste caso, foi 1,03. O fato de terem sido encontradas diferenças significativas entre os UET’s calculados com base no peso de espigas verdes empalhadas e peso de vagens verdes, mas não terem sido constatadas tais diferenças entre os UET’s calculados com base no peso de espigas verdes despalhadas e peso de grãos verdes, está relacionado, obviamente, a diferenças nas relações peso de espigas despalhadas/peso de espigas empalhadas e peso de grãos verdes/peso de vagens verdes das cultivares avaliadas. Para as cultivares de milho Centralmex, AG-401 e C-701, a relação média rendimento de espigas despalhadas/rendimento de espigas empalhadas foi de 51, 52 e 62%, respectivamente. Para as cultivares de caupí Pitiúba, Caicó e CNCx 658-15E, a relação média rendimento de grãos verdes/rendimento de vagens verdes foi de 54, 48 e 48%, respectivamente. No caso do milho, as diferenças nas relações podem estar associadas a uma maior ou menor proporção de palhas na espiga ou a um descarte maior ou menor de espigas empalhadas, quando da seleção das espigas despalhadas comercializáveis. Para o caupí, as diferenças nas relações devem estar relacionadas a diferenças na proporção de pericarpo nas vagens. Não foram encontrados na literatura consultada, dados sobre o UET calculados rendimentos de espigas verdes empalhadas e vagens verdes ou com rendimentos de espigas verdes despalhadas e grãos verdes no consórcio milhocaupí. Para rendimentos de grãos secos das duas culturas, os valores do UET têm sido superiores ou inferiores a 1 a depender da densidade de plantio de milho (Watiki et al., 1993) e da estação de plantio (Shumba et al., 1990), dentre outros fatores. Nas maiores densidades de plantio, o UET ficou em torno de 1,1, Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Consorciação milho e feijão caupí para produção de espigas verdes e grão verdes. enquanto nas menores densidades o valor deste índice foi inferior a 1,0 (Watiki et al., 1993). Em ano de pouca chuva, o UET não foi influenciado pela consorciação, mas quando a precipitação pluvial foi acima da média, a consorciação aumentou a produtividade da terra em 51% (Shumba et al., 1990). Deve ser ressaltado que a comparação dos valores de UET nos consórcios milho-caupí para produção de espigas verdes e vagens ou grãos verdes, com os valores de UET nos consórcios para produção de grãos secos das duas culturas, deve ser feita com cautela. No caso do milho, espigas verdes imprestáveis para a comercialização podem ser perfeitamente aproveitadas quando o interesse for por grãos secos. LITERATURA CITADA ABDEL-GAWAD, K.I. Evaluation of cowpea varieties for intercropping with sorghum and corn. Bulletin of Faculty of Agriculture, v. 44, n. 33, p. 571-585, 1993. BALYAN, J.S. Performance of maize (Zea mays)based intercropping systems and their aftereffect on wheat (Triticum aestivum). Indian Journal of Agronomy, v. 42, n. 1, p. 26-28, 1997. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário estatístico do Brasil, Rio de Janeiro, v. 56, 1997. CARVALHO, H.W.L. Cultivares de milho e de feijão em monocultivo e consorciado. I. Ensaio de rendimentos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 25, n. 7, p. 1003-1010, 1990. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. COELHO, A.M.; SILVA, B.G. Fontes de nitrogênio na consorciação milho verde e feijão cultivados em várzeas. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 15., 1984, Maceió, AL. Resumos dos trabalhos. Maceió: EPEAL, 1984. p. 77. CRUZ, J.C.; CORRÊA, L.A.; RAMALHO, M.A.P.; SILVA, A.F.; OLIVEIRA, A.C. Avaliação de cultivares de milho associados com feijão. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 19, n. 2, p. 163-168, 1984. GOMES, F.P. Curso de estatística experimental. 10. ed. Piracicaba: Nobel, 1982. 496 p. KHANDAKER, Z.H. Effect of mixed cropping of maize (Zea mays) and cowpea (Vigna unguiculata) forage on fodder yield, chemical composition and its in vitro digestibility. Indian Journal of Animal Nutrition, v. 11, n. 1, p. 5557, 1997. KHOLA, O.P.S.; DUBE, R.K.; SHARMA, N.K. Conservation and production ability of maize (Zea mays) legume intercropping systems under varying dates of sowing. Indian Journal of Agronomy, v. 44, n. 1, p. 40-46, 1999. KRISHNA, A.; RAIKHELKAR, S.V.; REDDY, A.S. Effect of planting pattern and nitrogen on fodder maize (Zea mays) intercropped with cowpea (Vigna unguiculata). Indian Journal of Agronomy, v. 43, n. 2, p. 237-240, 1998. MEAD, R.; WILLEY, R.W. The concept of a “Land Equivalent Ratio” and advantages in yields from intercropping. Experimental Agriculture, v. 16, p. 217-228, 1980. MOHAMMAD, I.; TYAGY, R.C.; RAO, D.S.R.M. Studies of maize-legumes intercropping systems in relation to nitrogen levels. Farming Systems, v. 9, n. 1-2, p. 5658, 1993. MYAKA, F.A. Effect of time of planting and planting pattern of different cowpea cultivars on yield of intercropped cowpea and maize in tropical sub-humid environment. Tropical Science, v. 35, n. 3, p. 274-279, 1995. OLASANTAN, F.O. Effects of preceding maize (Zea mays) and cowpea (Vigna unguiculata) in sole cropping and intercropping on growth yield and nitrogen requiriment of okra (Abelmoschus esculentus). Journal of Agricultural Science, v. 131, n. 3, p. 293-298, 1998. PEREIRA FILHO, I.A.; CRUZ, J.C.; RAMALHO, M.A.P. Produtividade e índice de espiga de três cultivares de milho em sistema de consórcio com o feijão comum. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 26, n. 5, p. 745-751, 1991. RAMALHO, M.A.P.; COELHO, A.M.; TEIXEIRA, A.L.S. Consórcio de milho verde e feijão em diferentes épocas de plantio na entresafra. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 20, n. 7, p. 799-806, 1985. RÊGO NETO, J.; PAIVA, J.B.; SANTOS, J.H.R.; ALVES, J.F. Efeitos do sistema de cultivo sobre a produção e seus componentes em feijãode-corda, Vigna sinensis (L.) Sarei. Ciência Agropecuária, v. 13, n. 1/2, p. 35-41, 1982. SHUMBA, E.M.; DHLIWAYO, H.H.; MUKOKO, O.Z. The potential of maizecowpea intercropping in low raifall areas of Zimbabwe. Journal of Agricultural Research, v. 28, n. 1, p. 33-38, 1990. SILVA, P.S.L.; FREITAS, C.J. Rendimentos de grãos verdes de milho e caupí em cultivos puros e consorciados. Revista Ceres, Viçosa, v. 43, n. 245, p. 28-38, 1996. SKOVGARD, H.; PATS, P. Reduction of stemborer damage by intercropping maize with cowpea.Agriculture Ecosystems & Environment, v. 62, n. 1, p. 13-19, 1997. TRIPATHY, R.K.; PRADAN, L.; RATH, B.S. Performance of maize (Zea mays) and cowpea (Vigna unguiculata) forage intercropping system in summer. Indian Journal of Agronomy, v. 42, n. 1, p. 38-41, 1997. WATIKI, J.M.; FUKAI, S.; BANDA, J.A.; KEATING, B.A. Radiation interception and growth of maize/cowpea intercrop as affected by maize plant density and cowpea cultivar. Field Crops Research, v. 35, n. 2, p. 123-133, 1993. 9 COSTA, C.A. CASALI, V.W.D. RUIZ, H.A. JORDÃO, C.P. CECON, P.R. Teor de metais pesados e produção de alface adubada com composto de lixo urbano. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19 n. 01, p. 10-16, março 2001. Teor de metais pesados e produção de alface adubada com composto de lixo urbano. Cândido A. Costa1, Vicente Wagner D. Casali2, Hugo Alberto Ruiz3, Cláudio P. Jordão4 Paulo Roberto Cecon5 1 UFMG-NCA, C. Postal 135, 39.404-006 Montes Claros-MG; 2UFV-Depto. Fitotecnia; 3UFV-Depto. Solos e Nutrição de Plantas; 4UFVDepto. Química e 5UFV-Depto. Informática, 36.571-000, Viçosa-MG. E-mail: [email protected]. RESUMO ABSTRACT Avaliou-se o emprego do composto de lixo urbano em três cultivos sucessivos da alface. O experimento foi realizado em campo, em Viçosa no período de outubro/95 a junho/96 num Latossolo Vermelho-Amarelo. Os tratamentos consistiram de quatro doses de composto de lixo (0, 10, 20 e 30 t ha-1) e três cultivares de alface (‘Regina’, ‘Vitória’ Verde Clara’ e ‘Brasil - 303’), arranjadas no esquema fatorial 4 x 3, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, totalizando 48 parcelas. Cada parcela experimental foi constituída por quatro fileiras de cinco plantas, no espaçamento 25 x 30 cm, sendo as três linhas centrais consideradas como parcela. O composto foi adicionado apenas no primeiro cultivo. Determinouse o peso da matéria fresca e da matéria seca da parte aérea das plantas e o teor de Zn, Cu, Pb, Cd, Ni e Cr na matéria seca do tecido vegetal, após a colheita no primeiro, segundo e terceiro cultivos, correspondente a 46, 142 e 222 dias da aplicação do composto, respectivamente. Houve aumento significativo da produção em resposta às doses do composto, principalmente no primeiro cultivo, em que as cultivares ‘Regina’, ‘Vitória Verde Clara’ e ‘Brasil-303’ produziram, respectivamente, 333,82; 337,81 e 303,60 g.planta-1(peso fresco). No segundo cultivo, o efeito diminuiu. Já no terceiro cultivo, não houve efeito do composto sobre a produção. O teor de metais pesados na planta foi aumentado, principalmente no primeiro cultivo, seguindo a seguinte ordem decrescente: Pb>Cd>Cu>Zn. No segundo cultivo, o efeito foi menor e no terceiro cultivo não houve efeito do composto, o que foi atribuído ao esgotamento do seu efeito. Nenhum dos elementos atingiu níveis considerados fitotóxicos. Level of heavy metals and yield of lettuce fertilized with urban solid waste compost. Palavras-chave: Lactuca sativa L., adubação orgânica, fitotoxicidade. A field experiment was carried out to evaluate the influence of fertilization with urban solid waste on the level of heavy metal and yield of lettuce cultivars after three successive crops. The experiment was carried out from October/95 to June/96 under field conditions, in Viçosa (Brazil), on Yellow Red Latosol soil. The experimental design was of complete randomized blocks, with treatments distributed in a factorial cheme 4 x 3 (four levels of compost - 0, 10, 20 and 30 t ha-1 x three cultivars - ‘Regina’, ‘Vitória Verde Clara’ and ‘Brasil-303’), with four replications. Each plot was constituted of 20 plants, spaced 25 x 30 cm, where data were collected from the three central plants. Fresh and dry weight matter and Zn, Cu, Pb, Cd, Ni and Cr content were determined after 46, 142 and 222 days of application, respectively. Yield increased with higher compost rates, particularly on first crop, where ‘Regina’, ‘Vitória Verde Clara’ and ‘Brasil-303’ produced 333.82; 337.81 and 303.60 g.plant-1 (fresh weight), respectively. On the second crop, there was little effect and on the third crop, there was not influence of compost on the yields. Levels of heavy metals content in plants was increased as an effect of the compost, in the following order: Pb>Cd>Cu>Zn. On the second crop, the effect was intermediate and the third crop, was not influence by compost, indicating consequent decrease in the influence of compost on level of heavy metals in plant. No heavy metals were detected in toxic level to the plant. Keywords: Lactuca sativa L., organic manure, phitotoxicity, recycle. (Aceito para publicação em 05 de fevereiro de 2.001) N os últimos anos, difundiu-se bastante o uso de resíduos urbanos como matéria-prima para obtenção de fertilizante orgânico. Dentre esses, o lixo domiciliar tem despertado grande interesse, pois sua utilização permite a reciclagem de nutrientes e o seu acúmulo vem constituindo sérios problemas ambientais, principalmente nas grandes cidades (Ogata, 1983; Glória, 1992; He et al., 1995; Paino et al., 1996). O composto orgânico de lixo urbano, por ter boa capacidade melhoradora das condições químicas, biológicas e físicas dos solos, causa efeitos no cres10 cimento e desenvolvimento das plantas. Muitos são os trabalhos que registram os efeitos positivos desse composto sobre a produção das plantas, principalmente nas espécies olerícolas. Já foram constatados aumentos significativos na produção, como conseqüente efeito do composto orgânico de lixo, na cultura do tomate (Fritz & Venter, 1988; Weir & Allen, 1997), espinafre (Fritz & Venter, 1988; Dixon et al. , 1995), rabanete (Fritz & Venter, 1988), abóbora italiana (Dixon et al., 1995), feijão-vagem (Dixon et al., 1995), cenoura (Fritz & Venter, 1988; Costa et al., 1997) e alfa- ce (Fritz & Venter, 1988; Costa et al., 1994; Dixon et al., 1995). Woodbury (1992), cita o composto orgânico de lixo urbano como grande supridor de micronutrientes, como Zn, Cu e B, além de melhorar a capacidade de retenção de água e estimular a atividade microbiológica dos solos. Tais benefícios explicam o efeito positivo que o composto proporciona no crescimento e desenvolvimento das plantas. Por outro lado, o composto pode também resultar em efeitos negativos na planta, levando a um menor crescimento. Costa et al. (1994) observaram efeiHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Teor de metais pesados e produção de alface adubada com composto de lixo urbano. to negativo do composto na produção de matéria seca da alface e da cenoura quando se aplicava doses acima de 20 t.ha-¹. Hernández et al. (1992), constataram diminuição no crescimento das plantas em doses acima de 60 t.ha-¹. Tais autores atribuíram esse resultado ao teor de sais, principalmente de NaCl, que é comumente encontrado em composto orgânico de resíduos urbanos. O efeito depressivo do composto também pode ser atribuído aos metais pesados veiculados no composto, os quais, sendo absorvidos pelas plantas em grandes quantidades, podem atingir níveis fitotóxicos. Costa (1994), quando aplicou 90 t.ha-¹ de composto orgânico de lixo urbano no solo, observou redução drástica do crescimento da alface e da cenoura. Esse autor atribuiu tal efeito do composto ao elevado teor de Cu no tecido vegetal, além do elevado pH e condutividade elétrica dos solos. O emprego de compostos orgânicos de lixo na agricultura brasileira vem aumentando consideravelmente na medida em que mais usinas de beneficiamento de lixo são construídas. Esses compostos orgânicos são utilizados principalmente pelos agricultores circunvizinhos das usinas, em sua maioria produtores de hortaliças. Entre as olerícolas, destaca-se a alface por ser intensivamente cultivada, demandando, portanto, grandes quantidades de fertilizantes orgânicos. Este trabalho teve por objetivo avaliar a produção de alface cultivada com composto de lixo urbano em três cultivos sucessivos e o teor de metais pesados na matéria seca vegetal. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido em área da Universidade Federal de Viçosa, no período de 09 de outubro de 1995 a 10 de junho de 1996, num Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura argilosa. Os tratamentos consistiram de quatro doses de composto de lixo (0, 10, 20 e 30 t ha-1) e três cultivares de alface (‘Regina’, ‘Vitória Verde Clara’ e ‘Brasil - 303’), arranjadas no esquema fatorial 4 x 3, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabela 1. Características físicas e químicas do solo e do composto orgânico de lixo urbano na época da incorporação ao solo. Viçosa, UFV, 1995. Características pH em água (1:2,5) P disponível (mg dm-3) K disponível (mg dm-3) Ca trocável (cmolc dm-3) Mg trocável (cmolc dm-3) Zn (mg dm-3) Cu (mg dm-3) Cd (mg dm-3) Pb (mg dm-3) Ni (mg dm-3) Cr (mg dm-3) Areia grossa (g kg-1) Areia fina (g kg-1) Silte3 (g kg-1) Argila3 (g kg-1) Classe textural Valor S olo 6,10 52,50 245,00 4,20 1,0 3,00 2,56 0,02 n.d.* 0,33 0,32 200,00 120,00 180,00 510,00 Argila 1 Composto2 6,70 350,00 3.080,00 41,50 6,80 670,38 390,00 1,93 368,11 36,50 97,04 - 1 Extrator químico: Mehlich-I (Defelipo & Ribeiro, 1981) Extrator químico: HNO3/HClO4 * Não detectado. 2 totalizando 48 parcelas. Cada parcela experimental foi constituída por quatro fileiras de cinco plantas no espaçamento 25 x 30 cm, sendo as três linhas consideradas como parcela útil. O composto foi fornecido pela usina de reciclagem e compostagem de lixo urbano da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB). As características físicas e químicas do solo e do composto na época da incorporação são apresentadas na Tabela 1. Foram conduzidos três cultivos sucessivos de alface, com a adição do composto apenas no primeiro cultivo, um dias antes do transplantio das mudas, ou seja: primeiro cultivo (da semeadura à colheita), no período de 5 de outubro a 11 de dezembro de 1995; segundo cultivo, de 16 de janeiro a 20 de março de 1996; e terceiro cultivo, de 09 de abril a 10 de junho de 1996. A colheita no primeiro, segundo e terceiro cultivos, correspondeu a 46, 142 e 222 dias da aplicação do composto, respectivamente. As colheitas foram feitas pela manhã, cortando as plantas rente ao solo e pesando imediatamente toda a parte aérea, para a determinação do peso da matéria fresca. Em seguida, o material vegetal foi colocado para secar em estufa a 65ºC até peso constante, sendo, então, determinado o peso da matéria seca. As raízes foram retiradas do solo, lavadas e também conduzidas para secagem em estufa com ventilação forçada a 65ºC até peso constante, visando a análises químicas. Na preparação das amostras para as análises químicas, a matéria seca da parte aérea foi separada em caule e folhas. Todo o material vegetal seco, tanto caule e folhas quanto raízes da alface, foi moído em moinho tipo Willey e passado em peneira com malha de 20 mesh de abertura. As amostras foram mineralizadas com a mistura nítrico-perclórica, sendo determinados os teores de Zn, Cu, Pb, Cd, Ni e Cr. As leituras foram feitas em espectrofotômetro de absorção atômica. Os resultados foram analisados estatisticamente, por meio das análises de variância e regressão. As médias foram 11 C.A. Costa et al. Tabela 2. Produção de matéria fresca (MF) e de matéria seca (MS) da parte aérea de três cultivares de alface, no segundo cultivo, adubadas com diferentes doses de composto de lixo urbano. Viçosa, UFV, 1995/96. MF Cu ltivar MS g. plan ta-1 Regina Vitória BR-303 282,87 a* 269,84 a 161,01 b 19,64 a 18,75 a 9,89 b RESULTADOS E DISCUSSÃO *As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 1” Cultivo 2” Cultivo 3” Cultivo Peso da MatØria Fresca (g/planta 400 350 300 250 200 Y=298,3810+3,3811X* Y=211,7070+1,7465X** Y=288,23 150 100 r†=0,88 r†=0,99 50 0 Peso da MatØria Seca (g/planta 20 15 Y=15,32+0,11X* Y=14,57+0,10X* Y=13,12 10 r†=0,93 r†=0,98 5 0 0 10 20 30 Doses de Composto de Lixo Urbano, t.ha-1 Figura 1. Produção de matéria fresca e de matéria seca da parte aérea da alface em três cultivos sucessivos, em função do uso de doses de composto orgânico de lixo urbano. Viçosa, UFV, 1995/96. 12 comparadas pelo teste de Tukey, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. As equações foram ajustadas, testando-se os coeficientes de determinação pelo teste F. Produção de matéria fresca e de matéria seca A produção de matéria fresca foi influenciada (p<0,05) pelas doses de composto, no primeiro e segundo cultivo e pela cultivar apenas no segundo cultivo. No terceiro cultivo, não houve diferenças significativas em nenhum dos tratamentos. No segundo cultivo, a produção de matéria seca foi influenciada apenas pela cultivar. A interação dose de composto x cultivar, não foi significativa em nenhum dos casos. No segundo cultivo, as cultivares ‘Regina’ e ‘Vitória’ tiveram maior produção de matéria fresca e de matéria seca do que ‘Brasil-303’ (Tabela 2). Como no primeiro e no terceiro cultivos não houve diferença significativa (p<0,05) entre as cultivares na produção de matéria fresca e matéria seca, as condições ambientais típicas de verão, em fevereiro e março, foram mais desfavoráveis à cultivar ‘Brasil-303’, resultando em menor produção, o que foi confirmado pelo maior pendoamento dessa cultivar. As doses do composto provocaram aumento linear da produção de matéria fresca e de matéria seca das plantas do primeiro e segundo cultivos (Figura 1). No terceiro, o efeito não foi significativo. O efeito positivo do composto na produção de alface nos dois primeiros cultivos é atribuído ao teor relativamente elevado de nutrientes essenciais às plantas (Tabela 1), além da melhoria nas condições físicas do solo. Tal efeito não foi constatado no último cultivo, porque a capacidade do composto em melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo se esgotou, uma vez que foi feita apenas uma aplicação. Ainda, o tempo decorrido até o último cultivo foi suficiente para que houvesse a decomposição de grande parte da matéria orgânica do composto. Paino et al. (1996), analisando o efeito do composto orgânico de lixo urHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Teor de metais pesados e produção de alface adubada com composto de lixo urbano. Tabela 3. Médias dos teores de Zn, Cu, Pb, Cd, Ni e Cr na matéria seca das folhas (F), do caule (C) e das raízes (R) de três cultivares de alface adubadas com composto orgânico de lixo urbano. Viçosa, UFV, 1995/1996. Cu ltivar Variável Regin a Vitória BR-303 D ose 0 t h a-1 Regin a Vitória BR-303 Regin a D ose 10 t h a-1 Vitória BR-303 Regin a D ose 20 t h a-1 Vitória BR-303 D ose 30 t h a-1 µg g-1 ZnC 3º Cultivo 63,10 a 58,45 b 54,08 c 59,05 a 57,04 ab 53,15 b 67,93 a 55,85 b CuC 3º Cultivo 7,07 a 6,21 ab 5,64 b 6,15 b 9,21 a 5,12 b 68,38 a 8,79 a 59,50 b 56,85 b 8,16 a 5,49 b 7,35 a 6,85 a 51,45 c 4,38 b PbF 3º Cultivo 3,28 a 0,46 b 0,46 b 2,35 a 2,08 a 1,00 a 4,95 a 0,86 b 1,64 b 1,23 a 1,74 a 1,70 a PbC 3º Cultivo 1,02 b 4,20 a 0,10 c 0,66 a 0,50 a 0,09 b 1,22 a 0,10 b 0,05 b 0,79 b 0,11 c 1,40 a PbR 3º Cultivo 0,65 a 0,43 a 0,53 a 0,23 a 0,55 a 0,06 a 0,21 b 1,25 b 4,87 a 0,35 b 0,89 b 7,70 a CdC 1º Cultivo 0,13 ab 0,06 b 0,24 a 0,10 a 0,23 a 0,18 a 0,15 b 0,35 a 0,24 ab 0,21 a 0,28 a 0,30 a CdC 3º Cultivo 0,04 a 0,06 a 0,06 a 0,05 a 0,13 a 0,05 a 0,03 a 0,10 a 0,05 a 0,20 a 0,04 b 0,05 b NiC 3º Cultivo 6,78 a 5,50 b 5,34 b 3,85 c 7,19 a 4,39 b 6,45 a 1,60 c 2,70 b 6,75 b 8,51 a 5,25 c CrC 3º Cultivo 10,04 a 7,63 b 5,03 c 8,30 b 12,90 a 7,57 b 11,05 a 2,63 b 2,93 b 9,43 a 6,81 b 3,75 c 4,50 b 12,28 a 12,52 a 9,73 a 14,07 a 14,42 a 16,10 a 13,57 a 16,07 a 5,13 a 0,22 b 0,63 b 5,85 a 4,89 a CrR 1º Cultivo 8,43 b 13,48 a 12,82 ab CrR 3º Cultivo 1,47 a 1,27 a 0,67 a 0,17 b 2,70 ab 4,63 a 4,15 a As médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. bano na cultura do milho após três cultivos sucessivos, observaram redução na produção da planta ao longo dos cultivos. Tais autores atribuíram esse resultado ao esgotamento do efeito do composto na fertilidade do solo. A máxima produção de matéria fresca foi obtida com a aplicação de 30 t.ha-1 do composto no primeiro cultivo, onde as cultivares ‘Regina’, ‘Vitória’ e ‘Brasil-303’ produziram, respectivamente, 333,82; 337,81 e 303,60 g.planta-1. As três cultivares de alface tiveram comportamento semelhante em resposta à aplicação do composto, exceto no segundo cultivo, em que a cultivar ‘BR303’ teve menor produção devido aos fatores climáticos. Teor de metais pesados na matéria seca a) Teor de Zn Entre as cultivares foram constatadas diferenças significativas (p<0,05) quanto ao teor de Zn no caule, no segundo e no terceiro cultivo e nas folhas, no terceiro cultivo (Tabelas 3 e 4). Na comparação das médias do teor de Zn entre as cultivares, observou-se que a cultivar ‘Regina’ apresentou maior teor desse elemento no caule no terceiro cultivo. No segundo cultivo, tal cultivar não diferenciou da BR303. Já nas folhas, as cultivares ‘Regina’ e ‘Vitória’ tiveram a mesma média, porém superior à da cultivar ‘BR-303’. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. A regressão linear do teor de Zn, em função das doses do composto, foi significativa para o caule no primeiro cultivo e para as folhas no primeiro e no segundo cultivo (Tabela 5). Não houve significância da regressão no terceiro cultivo, indicando, provavelmente, o esgotamento desse elemento no solo. Jones & Jarvis (1981) citaram que a estabilidade da ligação Zn-matéria orgânica é relativamente fraca, podendo ser facilmente liberada para ser absorvida e, conseqüentemente, persistir menos tempo no solo. O valor máximo observado na matéria seca da planta (Tabela 6) está abaixo dos níveis considerados fitotóxicos citados por Marschner (1995), que variam de 400 a 500 µg/g na matéria seca. Costa (1994) estimou que, em dose de aproximadamente 20 t.ha-¹ de composto de lixo, a alface pode acumular até 81,47 µg/g desse elemento na matéria seca foliar. Na tabela 7, são comparadas as médias dos teores de metais pesados entre as partes da planta, em cada dose de composto de lixo. Nota-se que o Zn, no primeiro e no segundo cultivo teve maior teor na raiz do que no caule e folhas. Embora no terceiro cultivo não tenha havido diferença significativa entre as médias, percebe-se a tendência de maior teor de Zn na raiz. Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Dechen et al. (1991), que concluíram que as raízes concentram mais Zn do que a parte aérea. b) Teor de Cu Foram constatadas diferenças significativas (p<0,05) entre as cultivares, quanto ao teor de Cu nas raízes no primeiro e no segundo cultivo e no caule e nas folhas no terceiro cultivo (Tabelas 3 e 4). O aumento das doses do composto aumentou linearmente, no primeiro cultivo, o teor de Cu nas raízes e no caule. Nos demais cultivos não foi constatado nenhum efeito significativo (Tabela 5). O Cu não atingiu níveis de fitotoxicidade em nenhuma das partes da planta. O teor máximo observado na planta foi 16,33 µg/g (Tabela 6). Furlani et al. (1978) citaram que, normalmente, o teor de Cu na alface varia de 5 a 13,9 µg/g. Segundo Marschner (1995), os teores considerados fitotóxicos de Cu são de 20 a 30 µg/g na matéria seca das folhas. Na Tabela 7 nota-se que apenas no primeiro cultivo houve maior concentração de Cu no caule, chegando a 55% a mais do teor nas folhas e tendo semelhantes proporções, para os demais cultivos, nas raízes, no caule e nas folhas. Isso indica que o Cu foi translocado para a parte aérea com relativa facilidade, como atestou Alloway (1990). c) Teor de Pb Foram observadas diferenças significativas (p<0,5) do teor de Pb entre as 13 C.A. Costa et al. cultivares (Tabelas 3 e 4). Todavia, nenhuma cultivar se destacou, observando-se comportamento diferenciado nas doses e nos cultivos. O efeito da dose do composto sobre o teor de Pb foi significativo no primeiro cultivo nas raízes e no terceiro cultivo nas folhas da cultivar ‘BR-303’ (Tabela 5). O teor máximo observado foi 4,95 µg/g no caule (Tabela 6). Costa (1994), aplicando doses de 90 t.ha-¹ de composto orgânico de lixo, detectaram 6,33 µg/ g na matéria seca das folhas da alface. Boon & Soltanpour (1992), analisando plantas cultivadas em solos com altos teores de Pb, encontraram até 45 µg/g na parte aérea da alface e não fizeram nenhuma referência a quaisquer efeitos fitotóxicos. Observa-se na Tabela 7 que não houve um padrão de distribuição do Pb na planta. Alloway (1990) citou que a translocação do Pb é muito influenciada pelo estado da planta. Em ótimas condições de crescimento, o Pb precipita-se nas paredes celulares das raízes como compostos poucos solúveis, sendo então pouco transportados para a parte aérea. Todavia, esse mesmo autor mencionou ainda que a absorção e a translocação do Pb para a parte aérea podem variar também em razão da estação do ano. No outono e inverno há maior translocação para a parte aérea do que nas outras estações. Tabela 4. Médias relacionadas com os efeitos gerais das cultivares sobre o teor de Zn, Cu, Pb, Cd, Ni e Cr na matéria seca das folhas (F), do caule (C) e das raízes (R) de três cultivares de alface adubadas com composto orgânico de lixo urbano. Viçosa, UFV, 1995/1996. Variável ZnF 3º Cultivo ZnC 2º Cultivo CuF 3º Cultivo CuR 1º Cultivo CuR 2º Cultivo PbC 1º Cultivo PbR 1º Cultivo CdF 2º Cultivo CdF 3º Cultivo CdC 2º Cultivo CdR 1º Cultivo NiF 1º Cultivo NiC 2º Cultivo NiR 3º Cultivo CrC 2º Cultivo CrR 2º Cultivo Regin a 63,86 a 59,68 a 9,32 a 11,59 ab 10,01 b 4,12 a 0,94 b 0,10 a 0,07 a 0,12 b 0,05 b 3,05 ab 4,69 a 6,79 a 9,23 a 2,02 b Cu ltivar Vitória µg g-1 60,55 a 50,39 b 8,27 ab 10,73 b 9,82 b 1,81 b 1,61 ab 0,08 ab 0,02 b 0,19 a 0,13 a 1,76 b 3,27 b 5,04 b 7,03 ab 6,91 a BR-303 49,55 b 56,10 a 6,89 b 13,24 a 13,34 a 0,88 b 2,74 a 0,05 b 0,02 b 0,16 ab 0,12 ab 3,57 a 2,98 b 3,73 c 3,79 b 5,19 a As médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. d) Teor de Cd Observou-se diferenças significativas no teor de Cd entre as cultivares (Tabelas 3 e 4). Uma vez que nenhuma cultivar se destacou, tais diferenças podem não ser atribuídas ao efeito dos tra- tamentos e sim a outros fatores, como as condições ambientais nos diferentes cultivos e também ao baixo teor de Cd no composto. Na análise de regressão da dose do teor de Cd na matéria seca (Tabela 5), Tabela 5. Estimativas dos efeitos gerais dos teores de metais pesados (Y) na matéria seca das folhas, caule e raízes de três cultivares de alface, em três cultivos, em função de doses de composto de lixo urbano (X) . Viçosa, UFV, 1995/1996. Variáveis Zn Cu Pb Raízes Y=10,12+0,11X r²=0,86* Y=0,48+0,08X r²=0,86* Cd Y=0,07+0,01X Zn - Pb - r²=0,93** Equ ações de Regressão Cau le F olh as 1º Cu ltivo Y=55,18+0,45X r²=0,90* Y=50,47+0,40X r²=0,96** Y=14,40+0,14X r²=0,86* Regina Y=0,12+0,01X+0,0002X² r²=0,97* 2º Cu ltivo Y=57,06+0,39X r²=0,97** 3º Cu ltivo BR-303 Y=0,54+0,04X r²=0,92** **, significativos a 5 e 1% pelo teste F, respectivamente. 14 Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Teor de metais pesados e produção de alface adubada com composto de lixo urbano. ajustaram-se o modelo linear simples para raízes e o modelo quadrático para o caule da cultivar ‘Regina’ no primeiro cultivo. No terceiro cultivo não houve efeito significativo do composto sobre o teor de Cd na planta, o que pode estar relacionado ao teor relativamente baixo no composto e, consequentemente, no teor disponível no solo. Observando o teor máximo de Cd determinado na planta (Tabela 6), notase que o maior teor obtido foi de 0,53 mg/g nas folhas. Todavia, esse teor se mostrou bem abaixo do nível conside- rado fitotóxico por Bakers & Bowers (1988), citados por Amaral (1991), que é de 50 µg/g na matéria seca. No primeiro cultivo houve maior concentração do Cd nas folhas (Tabelas 7). No segundo e no terceiro cultivo, não se observou um padrão da distribuição do Cd nas partes da planta. Malavolta (1994) citou que em plantas de feijão o Cd se acumula mais nas folhas do que em outras partes da planta. e) Teor de Ni Entre as cultivares foram observadas diferenças (p<0,05) no teor de Ni Tabela 6. Valores máximos observados de Zn, Cu, Pb, Cd, Ni e Cr na matéria seca da alface adubada com composto de lixo urbano. Viçosa, UFV, 1995/1996. Elemen to Zn Cu Pb Cd Ni Cr Valor máximo (µg g-1) 111,61 16,33 4,95 0,53 7,19 16,68 Tabela 7. Médias dos teores de metais pesados na matéria seca das folhas, do caule e das raízes da alface adubadas com composto orgânico de lixo urbano. Viçosa, UFV, 1995/1996. Elemento P rimeiro Cu ltivo F olh as Cau le Raízes Terceiro Cu ltivo F olh as Cau le Raízes Zn Cu Pb Cd Ni Cr 50,17 12,68 0,91 0,91 2,97 13,97 57,35 a 14,23 a 1,40 b 0,03 b 5,99 a 18,18 a 57,58 a 60,26 a 10,03 ab 11,04ab 4,48 a 0,58 b 0,05 ab 0,09 a 5,96 a 5,45 a 13,96 a 2,47 b Zn Cu Pb Cd Ni Cr 54,79 b 13,62 c 0,97 a 0,98 a 2,57 a 13,07 b 57,08 14,14 0,76 0,03 4,55 19,18 a a b a a a 56,41 a 11,38 a 3,05 a 0,07 a 5,14 a 16,34 a Zn Cu Pb Cd Ni Cr 60,01 14,05 0,76 0,76 2,31 11,51 b c b a a c 62,16 14,09 2,48 0,04 6,14 17,54 a a a b a a 61,58 a 62,25 a 12,47 a 12,51 a 4,13 a 2,11 a 0,05 ab 0,11 a 3,58 b 4,55 ab 11,07 b 6,19 b Zn Cu Pb Cd Ni Cr 61,67 13,80 1,05 1,05 3,32 10,26 b c b a a b 55,35 11,95 1,55 0,04 6,48 13,50 a a a a a a 58,41 10,38 3,12 0,09 6,84 13,32 b c a a a b S egu n do Cu ltivo F olh as Cau le Raízes -1 µg g 0 t h a-1 52,05 b 75,60 a 57,84 b 56,96 b 95,36 a 22,68 a 16,73 b 15,23 a 17,57 a 16,57 a 1,49 a 0,75 a 2,27 a 1,22 ab 0,58 b 0,13 b 0,08 b 0,10 a 0,15 a 0,12 a 3,43 a 3,26 a 4,18 a 3,94 a 2,13 a 27,64 a 23,75 a 17,64 a 10,81 ab 7,04 b -1 10 t h a 54,22 b 74,05 a 60,26 b 56,96 b 89,08 a 26,02 a 18,53 b 16,90 a 18,85 a 17,52 a 2,30 b 0,87 a 2,14 a 1,18 ab 0,15 b 0,17 b 0,09 b 0,04 a 0,12 a 0,12 a 4,15 a 2,87 a 5,08 a 4,08 a 1,74 a 36,37 a 19,53 b 15,82 a 14,17 a 8,43 a -1 20 t h a 63,33 ab 72,57 a 63,99 ab 54,97 b 76,34 a 30,73 a 22,13 b 16,15 a 18,17 a 16,98 a 3,05 a 2,31 ab 2,93 a 2,30 a 0,48 b 0,24 ab 0,10 b 0,06 b 0,16 a 0,17 a 3,78 a 3,10 a 4,07 a 3,44 a 1,58 a 33,04 a 25,48 b 13,51 a 12,37 a 11,02 a 30 t h a-1 63,75 b 74,03 a 69,65 b 55,07 b 111,92 a 30,21 a 21,77 b 17,05 b 22,45 a 16,80 b 2,17 ab 3,12 a 3,39 a 1,23 b 0,97 b 0,26 b 0,13 b 0,09 b 0,19 a 0,23 a 3,37 a 4,09 a 4,97 a 3,78 a 7,78 a 30,79 a 30,58 a 13,85 a 15,53 a 11,39 a 61,69 a 15,43 a 2,31 ab 0,06 a 5,72 a 5,84 a a 61,38 a a 11,38 a a 2,97 a a 0,07 a a 4,90 a a 7,58 a As médias seguidas da mesma letra na linha, em cada cultivo, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 15 C.A. Costa et al. (Tabelas 3 e 4). A cultivar ‘Regina’ apresentou maiores teores no caule no segundo cultivo e nas raízes no terceiro cultivo. A regressão da dose do composto sobre o teor de Ni na matéria seca da planta não foi significativa para nenhum cultivar e em nenhuma das partes da planta (Tabela 5). O baixo teor desse elemento disponível no solo pode ter sido a causa principal desse resultado. O teor máximo observado na planta foi de 7,19 µg/g (Tabela 6). Malavolta (1976) citou que pode haver redução no crescimento das plantas quando o teor de Ni na matéria seca foliar atinge 40 µg/g. De acordo com Marschner (1995), os níveis fitotóxicos desse elemento na matéria seca do tecido vegetal variam entre 10 e 50 µg/g. Assim, o máximo teor encontrado está bem abaixo dos limites considerados fitotóxicos. Observa-se na Tabela 7 que o Ni teve concentração semelhante nas raízes, no caule e nas folhas, exceto no terceiro cultivo para a dose de 20 t.ha-1. Cataldo et al. (1978) e Alloway (1990) citaram que o Ni é facilmente transportado para a parte aérea das plantas. Por outro lado, Marschner (1995) cita que há diferenças entre as espécies na distribuição de Ni na planta. f) Teor de Cr Foram constatadas diferenças no teor de Cr entre as cultivares (Tabelas 3 e 4). Todavia, não houve destaque para nenhuma das cultivares, que tiveram comportamento diferenciado nas doses e nos cultivos. Não houve resposta significativa no teor de Cr da planta em razão das doses em nenhum dos cultivos (Tabela 5), o que pode ser atribuído à baixa disponibilidade desse elemento no solo como uma conseqüência do teor relativamente baixo de Cr no composto. Tal fato implica que a dose mais alta aplicada (30 t.ha-1) não foi suficiente para o incremento de Cr no tecido vegetal. O teor máximo de Cr na matéria seca foi 16,68 µg/g (Tabela 6). Os teores considerados fitotóxicos na alface são ainda escassos. Em outras espécies, Malavolta (1976) citou que os valores máximos de Cr na matéria seca variam de 3,90 a 14,80 µg/g, entretanto não 16 mencionou os níveis fitotóxicos. Considerando o baixo teor disponível de Cr no solo e o fato de não terem sido constatados quaisquer efeitos de fitotoxicidade nas plantas, verificou-se que os teores desse elemento na matéria seca estavam bem abaixo dos níveis fitotóxicos, assim como ocorreu com os demais metais pesados estudados. Observando a distribuição do Cr na matéria seca da alface (Tabela 7), notase, principalmente no primeiro cultivo, tendência de maior concentração no caule. Já no segundo e terceiro cultivo percebe-se que a maior concentração tende a ser no caule e nas folhas. Nas condições do presente trabalho, o composto de lixo urbano provocou aumento na produção de alface nos dois primeiros cultivos, mostrando grande potencial de uso no cultivo desta hortaliça. Quanto ao teor de metais pesados na planta, também houve aumento, principalmente no cultivo, seguindo a seguinte ordem decrescente em relação às testemunhas: Pb>Cd>Cu>Zn. Todavia, nenhum dos elementos estudados atingiu teores considerados fitotóxicos. LITERATURA CITADA ALLOWAY, B.J. Heavy metals in soil. London: John Wiley and Sons, 1990. 339 p. AMARAL, A.S. Liberação de Zn, Fe, Mn, Cd e Pb de quatro corretivos da acidez do solo e absorção por plantas de alface, em dois solos de diferentes texturas. Viçosa: UFV, 1993. 87 p. (Dissertação mestrado) BOON, D.Y., SOLTANPOUR, P.N. Lead, cadmium, and zinc contamination of Aspen garden soils and vegetation. Journal Environmental Quality, v. 21, p. 82-86, 1992. CATALDO, D.A., GARLAND, T.R., WILDUNG, R.E. Translocation of heavy metals in plants. Plant Physiology, v. 62, p. 566-570, 1978. COSTA, C.A. Crescimento e teores de sódio e de metais pesados da alface e da cenoura adubadas com composto orgânico de lixo urbano. Viçosa: UFV, 1994. 89 p. (Dissertação mestrado) COSTA, C.A.; CASALI, V.W.D.; CECON, P.R. Teor de Cu, Zn, e Cd em cenoura em função de doses de composto de lixo urbano. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 15, p. 2940, 1997. COSTA, C.A.; CASALI, V.W.D.; LOURES, E.G. Teor de metais pesados em alface (Lactuca sativa L.) adubada com composto orgânico de lixo urbano. Revista Ceres, Viçosa, v. 41, p. 629-640, 1994. DECHEN, H.P., HAAG, H.P., CARMELLO, Q.A. Micronutrientes na Planta. In: FERREIRA, M.E., CRUZ, M.C.P. (ed.). Micronutrientes na agricultura. Piracicaba: POTAFOS/CNPq, 1991. p. 65-78 DEFELIPO, B.V., RIBEIRO, A.C. Análise química do solo (metodologia). Viçosa: Impr. Univ., Universidade Federal de Viçosa, 1981. 17 p. DIXON, F.M.; PREER, J.R.; ABDI, A.N. Metal level in garden vegetables raised on biosolids amended soil. Compost Science and Utilization. v. 3, p. 55-63, 1995. FRITZ, D.; VENTER, F. Heavy metals in some vegetable crops as influenced by municipal waste composts. Acta Horticulturae. v. 222, p. 51-62, 1988. FURLANI, A.M.C., FURLANI, P.R. BATAGLIA, O.C. Composição mineral de diversas hortaliças. Brangantia, Campinas, v. 37, p. 33-44, 1978. GLÓRIA, N.A. Uso agronômico de resíduos. In: DECHEN, A.R.; BOARETTO, A.E.; VERDADE, F.C. (coord.). REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 20, 1992, Piracicaba. Anais. Piracicaba, 1992. p. 195-212. HE, X.T.; LOGAN, T.; TRAINA, S.J. Physical and chemical characteristics selected U.S. municipal solid waste composts. Journal Environmental Quality. v. 24, p. 543-552, 1995. HERNÁNDEZ, T.; GARCÍA, C.; COSTA, F. Utilización de residuos urbanos como fertilizantes orgánicos. Suelo y Planta, v. 2, p. 373383, 1992. JONES, L.H.P., JARVIS, S.C. The fate of heavy metals. In: GREENLAND, D.J., HAYERS, M.H.B. (ed.). The chemistry of soil process. New York: John Wiley and Sons, 1981. p. 593620. MALAVOLTA, E. Fertilizantes e seu impacto ambiental: micronutrientes e metais pesados. Piracicaba: Produquímica, 1994. 153 p. MALAVOLTA, E. Manual de química agrícola. São Paulo: Ceres, 1976. 528 p. MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. San Diego: Academic Press, 1995. 889 p. OGATA, M.G. Os resíduos sólidos na organização do espaço e na qualidade do ambiente urbano: uma contribuição geográfica ao estudo do problema na cidade de São Paulo. Rio de Janeiro: IBGE, 1983. 188 p. PAINO, V.; PEILLEX, J.; MONTLAHUC, O. Municipal tropical compost: effects on crops and soil properties. Compost Science and Utilization. v. 4, p. 67-69, 1996. WEIR. C.C.; ALLEN, J.R. Effects of using organic wastes as soil amendments in urban horticultural practices in the district of Columbia. Journal Environmental Science Health. v. 32, p. 323-332, 1997. WOODBURY, P.B. Trace elements in municipal solid waste compost: a review of potential detrimental effects on plants, biota, and water quality. Biomass and Bioenergy, v. 3, p. 239259, 1992. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. BASSOI, L.H.; RESENDE, G.M.; FLORI, J.E.; SILVA, J.A.M.; ALENCAR, C.M. Distribuição radicular de cultivares de aspargo em áreas irrigadas de Petrolina - PE. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 17 - 24, março 2.001. Distribuição radicular de cultivares de aspargo em áreas irrigadas de Petrolina - PE. Luís Henrique Bassoi1, Geraldo M. Resende1, José Egídio Flori1, José Antonio M. Silva1, Cristina M. Alencar2 1 Embrapa Semi-Árido, C. Postal 23, 56.300-000 Petrolina-PE; 2USP-ESALQ, C. Postal 83, 13.418-900 Piracicaba-SP; E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT A distribuição radicular de duas cultivares de aspargo (New Jersey 220 e UC 157 F1), irrigadas por aspersão convencional, foi avaliada durante o ano de 1997 em solos de textura arenosa, em plantio experimental e comercial, respectivamente, nos Projetos de Irrigação de Bebedouro e Senador Nilo Coelho, em Petrolina (PE). O objetivo foi obter informações do sistema radicular do aspargo, empregando-se os métodos do monolito e do perfil de solo auxiliado pela análise de imagens digitais, para o manejo de solo e água nesse cultivo. Na área experimental, a maior parte da matéria seca, área e comprimento de raízes no perfil de solo e densidade de comprimento radicular foram encontradas até a profundidade de 0,4 m nas duas cultivares, enquanto que na comercial a maior parte da área e comprimento de raízes no perfil do solo estendeu-se até a profundidade de 0,6 m (cv. New Jersey 220). Nesses dois plantios, as raízes das cultivares atingiram a profundidade de 1 m. Na área experimental, a massa seca, a área e o comprimento no perfil de solo, e a densidade de comprimento radicular nas cultivares concentraram-se até a distância de 0,6 m à linha de plantas. No intervalo de diâmetro (d) de raízes 2<d£5 mm, foram encontrados 88 e 82,2% das raízes da cv. New Jersey 220 e UC 157 F1, respectivamente, enquanto que pela análise das imagens, o diâmetro de raízes variou entre 2,4 e 2,6 mm (cv. New Jersey 220) e 2,4 e 3,6 mm (cv. UC 157 F1). As estimativas da distribuição e do diâmetro radicular apresentaram similaridades considerando os métodos empregados. Root distribution of asparagus cultivars in irrigated areas of Petrolina, Brazil. Palavras-chave: Asparagus officinalis, distribuição de raízes, monolito, análise de imagens. Keywords: Asparagus officinalis, root distribution, monolith, digital image analysis. In 1997 the root distribution of two asparagus cultivars (New Jersey 220 and UC 157 F1) irrigated by sprinkler was evaluated in coarse textured soils in experimental and commercial areas at Petrolina county, in the semi-arid region of northeastern Brazil, to obtain useful information for soil and water management. Both the monolith and the soil profile aided by digital image analysis methods were used to evaluate it. In the experimental area, a greater concentration of root dry weight, root area and length in the soil profile and root length density was found up to 04 m depth for both cultivars, while in commercial area the root area and length of cv. New Jersey 220 were concentrated until 0,6 m depth. Roots reached 1 m depth in both areas. In experimental area, dry weight, area and length in the soil profile and the length density of the roots showed greater presence up to the distance of 0.6 m from the plant row. Most of the roots (88% for cv. New Jersey 220 and 82.2% for cv. UC 157 F1) were found with diameter greater than 2 mm and less than or equal to 5 mm, while root diameter estimated by image analysis varied from 2.4 to 2.6 mm (cv. New Jersey 220) and from 2.4 to 3.6 mm (cv. UC 157 F1). Data of both methods of root distribution analysis and diameter estimation showed similarity. ( Aceito para publicação em 18 de dezembro de 2.000) N o Brasil acreditava-se ser o aspargo uma cultura de clima frio, inadaptável aos locais de temperaturas elevadas, com calor ao longo do ano. Em tais condições a planta vegetaria continuamente devido à ausência do frio do inverno, necessário ao repouso e acúmulo de reservas. Segundo tal concepção, o aspargo apenas se adaptaria ao cultivo no extremo sul do Brasil, onde foi introduzido (Pelotas, RS), no início da década de 30 (Filgueira, 1982). Entretanto, especialistas americanos consideram que a seca é capaz de propiciar o período de repouso necessário à planta, independente da temperatura, simplesmente pela ausência do fornecimento de água (Gardé & Gardé, 1964). Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Introduzido pela Embrapa Semi-Árido no final dos anos 70, o aspargo ocupa hoje uma área cultivada de 500 hectares no Vale do São Francisco, destacando-se como uma das maiores regiões produtoras desta cultura no país (D’Oliveira, 1992). Na região Nordeste do Brasil, o clima quente e seco e o solo arenoso, acrescidos de adequados níveis de adubação e irrigação, fizeram com que a cultura apresentasse excelente vigor, precocidade e produtividade, podendo chegar a 5.000 kg ha-1, a partir do terceiro ano, quando a produção tende a se estabilizar. Com a introdução do aspargo como uma alternativa de cultivo em condições de clima quente, tor- nou-se necessário desenvolver tecnologias, objetivando estabelecer definitivamente a cultura como uma nova opção de plantio. Em Petrolina (PE), o bom crescimento da planta permite a obtenção de até duas colheitas por ano de aspargo branco, sendo comum esta prática entre os agricultores. A cultivar New Jersey 220, incialmente, foi a mais utilizada devido à disponibilidade de sementes, sendo que outras cultivares, como a UC 157 F1, foram introduzidas posteriormente na região pela iniciativa privada (D’Oliveira et al., 1998). Uma das caracterísitcas da planta de aspargo é ser perene, com renovação 17 L.H. Bassoi et al. Tabela 1. Caracterísiticas físicas do Latossolo Vermelho Amarelo da área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro, cultivado com aspargo irrigado por aspersão convencional. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rofu n didade m 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 Areia S ilte Argila 910 910 830 800 770 kg-1 40 20 40 50 70 D en sidade global kg dm-3 50 70 130 150 160 1,55 1,44 1,47 1,44 1,55 constante do seu sistema radicular a cada ciclo de produção. Apresenta dois tipos de raízes: as de reservas (carnosas), que se desenvolvem a partir do rizoma, atuando, principalmente, no armazenamento de substâncias fotossintetizadas, e as fibrosas, que encontram-se sobre as anteriores, e são encarregadas da absorção de água e de nutrientes do solo (Oliveira et al., 1981). Em comparação com outros vegetais, a produção de aspargo não é diretamente o resultado da fotossíntese, mas é uma função das reservas de carboidratos que foram produzidos pela folhagem do ano anterior. A quantidade do potencial de carboidrato no início do ciclo depende diretamente da quantidade de massa radicular por planta (Martin & Hartamann, 1990). As raízes parecem ser o orgão da planta mais adaptado para avaliar o estado nutricional do aspargo, e desde que sejam estabelecidas as relações nutricionais, pode-se avaliar a disponibilidade de nutrientes no solo e estipular práticas de fertilização de acordo com o teor de nutrientes nas raízes da planta de aspargo (Hartmann et. al., 1990). Na Holanda, observou-se que as produções médias de aspargo em cinco anos aumentaram com a profundidade de enraizamento. As maiores produções, superiores a 5.000 kg ha-1, foram obtidas com raízes atingindo 1,5 m de profundidade (Reijmerink ,1973). Em um solo de textura silte arenosa, na California, EUA, a atividade radicular de uma cultura de aspargo proporcionou uma remoção de água abaixo de 2,5 m de profundidade (Cannell & Takatori, 1970). Em cultivos realizados no Peru e Espanha, o sistema radicular pode atingir 3 m de profundidade (Delgado de la Flor et al., 1987; Ganiza Sola et al., 1988). 18 Entre os vários meios para o estudo de sistemas radiculares, pode-se citar o método da escavação, do monolito, do trado, do perfil de solo, da parede ou tubos de vidros, e os métodos indiretos, baseados no princípio da determinação das alterações no teor de água e de nutrientes, e da radioatividade de traçadores em sucessivas amostragens. Dessas mudanças pode-se inferir informações sobre a distribuição radicular no perfil do solo (Bohm, 1979; Kopke, 1981). Juntamente com esses métodos, as técnicas de processamento de imagens digitais podem substituir a análise qualitativa da raiz por uma medida quantitativa. Em um perfil de solo, o cálculo da densidade de raiz pode ser obtido pela filtragem da imagem e calibração do Sistema Integrado para Análise de Raiz e Cobertura do Solo (SIARCS) baseado no nível de cor de cada pixel. A análise de imagens digitais de raízes expostas em um perfil de solo permite a quantificação radicular em um menor tempo, com menor requerimento de trabalho e com maior número de repetições (Crestana et al., 1994). É possível obter rapidez, precisão e uma análise de acordo com a presença, tamanho, volume e superfície da raiz (Fante Jr. et al., 1994). A estimativa da atividade radicular baseada na dinâmica da água, medida pela técnica de moderação de nêutrons e por tensiometria, mostrou boa correlação com a distribuição radicular estimada pela análise de imagens digitais em milho (Bassoi et al., 1994). Em videiras, Bassoi et al. (1998) avaliaram a distribuição radicular pela análise de imagens digitais. No entanto, uma combinação de métodos pode oferecer um estudo mais completo sobre o comportamento das raízes no solo (Atkinson, 1980). Umidade Umidade 1, 5 0, 033 M p a MP a -1 g kg 40,0 23,6 49,0 29,3 75,0 37,4 87,4 41,8 105,6 45,2 O conhecimento detalhado da distribuição radicular do aspargo cultivado na região semi-árida do Nordeste do Brasil, que se caracteriza pela necessidade de irrigação, pode trazer importantes informações práticas para o manejo da aplicação de água, do solo e da própria planta. A inexistência dessas informações levou à realização deste trabalho, que teve como objetivo avaliar o sistema radicular em plantios experimental e comercial, em áreas irrigadas de Petrolina-PE, empregando-se os métodos do monolito e do perfil de solo auxiliado pela análise de imagens digitais. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado no município de Petrolina, em uma área experimental e em outra de produção comercial. A área experimental pertence à Embrapa Semi-Árido, situada no Projeto de Irrigação de Bebedouro. A área de produção comercial encontra-se no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. Na área experimental, em agosto de 1997, foi analisada a distribuição radicular das cultivares de aspargo New Jersey 220 e UC 157 F1 presentes em uma coleção de germoplasmas. As cultivares foram plantadas em um Latossolo Vermelho Amarelo, com alta porcentagem de areia (Tabelas 1 e 2), cujos atributos físicos e químicos foram determinados em amostras deformadas de solo, de acordo com o procedimento descrito por Embrapa (1997). O plantio da cv. New Jersey 220 foi realizado em agosto de 1990, em um espaçamento de 2,3 x 0,4 m e a produtividade média de turiões de primeira (diâmetro superior a 13 mm) e de segunda qualidade (diâmetro entre 8 e 13 mm) foi de 3.125 Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Distribuição radicular de cultivares de aspargo em áreas irrigadas de Petrolina - PE. Tabela 2. Características químicas do Latossolo Vermelho Amarelo da área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro, cultivado com aspargo irrigado por aspersão convencional. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rof. m pH H 2O C. E. D S m-1 C a 2+ M g 2+ N a+ 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 6,1 6,0 4,9 4,6 4,4 0,33 0,45 0,32 0,36 0,46 1,0 1,0 1,0 0,6 0,8 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 C.E.:condutividade elétrica do extrato saturado a 25o C kg ha-1 entre 1991 e 1996, com uma colheita por ano, sempre no mês de novembro. Posteriormente, em 1995, foi introduzida à coleção de germoplasma a cv. UC 157 F1, com o mesmo espaçamento, tendo produtividade média de 4.802 kg ha-1 em 1996. As plantas da coleção de germoplasma foram irrigadas por um sistema de aspersão convencional fixo, com aplicação de uma lâmina de água de 15 mm, duas vezes por semana (D’Oliveira et al., 1998). Foram utilizados dois métodos de análise de raízes, o do perfil de solo auxiliado pela análise de imagens digitais (Crestana et al., 1994) e o do monolito (Bohm, 1979). Em cada cultivar, abriuse uma trincheira paralelamente à fileira de plantas, com o primeiro perfil de solo a 0,8 m de distância das plantas. Uma fina camada de solo (1-2 cm de espessura) foi retirada do perfil para melhor visualização das raízes, as quais foram pintadas com tinta látex branca para um maior contraste com o solo. Um reticulado de madeira de 1 x 1 m, subdividido com uma malha de barbante branco em áreas de 0,2 x 0,2 m, foi colocado contra a parede, para auxiliar a filmagem de cada área com uma câmera de vídeo, em todo o perfil (2 m de comprimento x 1 m de profundidade). Em seguida, foram coletados monolitos de 0,2 x 0,2 x 0,2 m de cada área filmada na metade do perfil (1 m de comprimento x 1 m de profundidade). Com a retirada desses monolitos e da outra metade da parede da trincheira (0,2 m de espessura), obteve-se um novo perfil a 0,6 m de distância das plantas. Este procedimento se repetiu até que se chegasse a distância de 0,2 m à linha de plantas. Nesse perfil, procedeu-se apenas a filmagem das raízes. Para cada cultivar, Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. K+ H+Al -1 cmolc kg 0,26 0,66 0,24 0,99 0,20 1,65 0,18 1,82 0,16 2,15 C. T. C. Al3+ V % 2,04 2,75 3,27 3,28 3,53 0,05 0,05 0,40 0,70 0,70 68 64 50 38 3 M. O . P g kg-1 mg kg-1 5,8 4,1 3,3 - 67 44 17 - m.o.: matéria orgânica = %C x 1,725 + - método do perfil auxiliado pela análise de imagem e do monolito - método do perfil Figura 1. Esquema representativo (vista de frente) da trincheira e da coleta de dados pelos dois métodos de análise de raízes utilizados, na área experimental de aspargo no Projeto de Irrigação de Bebedouro. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. + - método do perfil auxiliado pela análise de imagem e do monolito - método do perfil Figura 2. Esquema representativo (vista de cima) da trincheira e da coleta de dados pelos dois métodos de análise de raízes utilizados, na área experimental de aspargo no Projeto de Irrigação de Bebedouro. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. foram analisados os perfis de 0,8; 0,6; 0,4 e 0,2 m de distância da planta, sendo coletadas 200 imagens e 75 monolitos. Os esquemas representativos da coleta de imagens e de monolitos são apresentados nas Figuras. 1 e 2. As raízes foram separadas dos monolitos por peneiramento no campo, e em laboratório, foram lavadas, separadas em intervalos de diâmetro (d) (d£2 mm, 2<d£5 mm, 5<d£10 mm) e secas em estufa a 105oC para a determinação da massa seca (g). Para a estimativa do comprimento radicular em cada monolito, as raízes foram colocadas contra um fundo pla19 L.H. Bassoi et al. Tabela 3. Características físicas do solo da área de produção comercial no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, cultivado com aspargo irrigado por aspersão convencional. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rofu n didade m 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 Areia S ilte Argila 800 700 690 670 200 kg-1 70 100 110 120 540 Densidade global kg dm-3 130 200 200 210 260 1,51 1,44 1,42 1,38 1,41 Umidade Umidade 1, 5 0, 033 M p a Mpa g kg-1 80,9 42,2 103,1 58,3 125,9 60,7 131,1 66,6 167,6 85,5 Tabela 4. Características químicas do solo da área de produção comercial no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, cultivado com aspargo irrigado por aspersão convencional. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rof. m pH H 2O C. E. D S m-1 C a 2+ M g 2+ N a+ 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 6,3 6,6 7,0 6,9 6,8 0,37 0,26 0,20 0,20 0,24 2,0 1,9 2,0 1,7 1,6 0,8 0,8 0,5 0,8 0,9 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 C.E.:condutividade elétrica do extrato saturado a 25o C no de área conhecida (0,2 x 0,2 m) e cor contrastante, e divididas em tantas partes quanto necessárias para a aquisição de imagens com câmera de vídeo. Os valores de comprimento de raiz encontrados para cada monolito foram totalizados e divididos pelo volume de solo (8.000 cm3), para a determinação da densidade de comprimento de raiz (cm.cm-3). Na área de produção comercial, em setembro de 1997, analisou-se a distribuição radicular da cultivar de aspargo New Jersey 220, plantada em dezembro de 1993 em um espaçamento de 2,0 x 0,3 m, irrigada por aspersão convencional semi-fixo, com aplicação diária de 7,2 mm de água. Nessa área, utilizou-se apenas o método do perfil de solo auxiliado pela análise de imagens digitais, em uma trincheira com 1 m de profundidade e 1 m de comprimento, e entre duas linhas de plantas. As imagens foram obtidas em dois perfis de solo, a 0,4 m de distância perpendicular à linha de plantas, um em cada lado da trincheira. O preparo do perfil para a filmagem foi o mesmo descrito anteriormente para a área experimental. Os atributos físicos e químicos do solo (Tabelas 20 K+ H+Al -1 cmolc kg 3,30 0,33 2,75 0,33 2,85 0,00 2,85 0,17 0,14 0,17 C. T. C. Al3+ V % 6,45 5,81 5,37 5,55 2,85 3,40 3,30 2,75 2,85 2,85 90 90 100 94 94 M. O . P g kg-1 mg kg-1 9,8 5,6 3,9 - 57 7 7 - m.o.: matéria orgânica = %C x 1,725 3 e 4) foram determinados em amostras deformadas de solo, segundo Embrapa (1997). As imagens obtidas em campo (área experimental e área de produção comercial) e em laboratório foram digitalizadas por meio de uma placa digitalizadora (resolução de 640 x 480 pixels) instalada em um microcomputador. As imagens foram armazenadas em disquetes como arquivos BMP e, posteriormente, analisadas pelo Sistema Integrado para Análise de Raízes e Cobertura do Solo (SIARCS 3.0). Em cada imagem, pela diferença de cor entre os pixels, foram selecionados os que representavam o sistema radicular, determinando-se sua área (cm2), tendo como medida de referência as dimensões da área de solo ou de fundo com cor contrastante (0,2 x 0,2 m). Posteriormente, procedeu-se à “esqueletização”, onde toda a extensão das raízes era representada por uma linha com largura de 1 pixel, e à medida do comprimento (cm). Integrando-se os valores de massa radicular em cada monolito, determinou-se a distribuição percentual na direção vertical (profundidade) e horizon- tal (distância à linha de plantas), em relação ao total encontrado em todo o volume de solo (0,6 m3) analisado pelo método do monolito. Os resultados de área e comprimento de cada imagem analisada, em todo o comprimento da trincheira (2 m na área experimental e 1 m em cada lado da trincheira na área de produção comercial), também foram somados para o conhecimento da distribuição percentual nas camadas de solo, em relação ao total encontrado em cada perfil de 1 m de profundidade. O diâmetro das raízes (mm) expostas em cada área filmada no campo (0,2 x 0,2 m) foi estimado, por meio da relação área/comprimento, e o valor médio em todo o perfil de solo foi obtido (Bassoi et al., 1999). Para a área experimental, efetuou-se a comparação desse valor médio com a distribuição percentual das raízes classificadas nos intervalos de diâmetro. As médias de área e comprimento de raízes da área experimental e de produção comercial, obtidos em cada área de 0,2 x 0,2 m filmada no perfil do solo, e as médias de densidade de comprimento de raízes da área experimental, determinados em cada monolito, foram Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Distribuição radicular de cultivares de aspargo em áreas irrigadas de Petrolina - PE. Tabela 5. Distribuição percentual da massa seca radicular das cv. de aspargo New Jersey 220 e UC 157 F1, em função da profundidade do solo, na área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rof. (m) 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 0, 2-0, 4 71,3 23,6 0,4 0,1 4,7 0, 4-0, 6 0, 6-0, 8 New Jersey 220 64,6 53,7 32,3 38,5 3,1 5,3 0 2,5 0 0 P erfil de solo (m) 0, 2-0, 8 0, 2-0, 4 % 68,2 44,2 27,0 38,9 1,5 1,3 0,2 15,5 0,3 0,2 0, 4-0, 6 0, 6-0, 8 UC 157 F 1 32,9 29,4 61,9 48,7 2,6 14,6 2,3 5,6 0,4 1,6 0, 2-0, 8 40,4 44,3 3,0 11,9 0,4 Tabela 6. Distribuição percentual da massa seca radicular das cv. de aspargo New Jersey 220 e UC 157 F1, em função do perfil de solo, na área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rof. (m) 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 0-1,0 0, 2-0, 4 68,4 57,2 17,8 16,7 100 65,4 0, 4-0, 6 New Jersey 220 26,4 33,3 58,3 0 0 27,8 comparadas pelo teste t, na direção vertical e horizontal. RESULTADOS E DISCUSSÃO Na área experimental, observou-se pelo método do monolito que a massa radicular diminuiu à medida que se aumentou a distância em relação à linha de plantas, em todo o perfil de solo de 1 m de comprimento e 1 m de profundidade. Nos monolitos coletados entre os perfis de 0,2-0,4 ; 0,4-0,6 e 0,6-0,8 m de distância à linha de plantas, a quantidade de massa seca radicular foi de, respectivamente, 194,0; 82,5 e 19,9 g para a cv. New Jersey 220, e de 103,0; 27,5 e 16,7 g para a cv. UC 157 F1. Na direção vertical, 95,2% (cv. New Jersey 220) e 84,7% (cv. UC 157 F1) da massa seca total de raízes estiveram presentes nas profundidades de 0-0,2 m e de 0,2-0,4 m (Tabela 5), enquanto que na direção horizontal, 93,2% (cv. New Jersey 220) e 88,7% (cv. UC 157 F1) esteve presente nos perfis de 0,2-0,4 m e 0,4-0,6 m à linha de plantas (Tabela 6). A variação observada em ambas as direções são uma das maiores fontes de Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. P erfil de solo (m) 0, 6-0, 8 0, 2-0, 4 % 5,3 76,6 9,6 61,5 23,9 29,0 83,3 91,0 0 31,5 6,7 70,0 variação na distribuição de raízes (Atkinson,1989). Pela análise das imagens, na área experimental, a maior parte do sistema radicular de ambas as cultivares esteve presente até 0,2-0,4 m de profundidade, com uma redução à medida que se aumentou a profundidade do solo, em todos os perfis analisados. Entretanto, a cv. UC 157 F1 apresentou uma maior presença na camada 0,4-0,6 m em relação à cv. New Jersey 220. Foi muito pequena a presença de raízes a 0,6-0,8 e 0,8-1,0 m de profundidade. Na área de produção comercial, notou-se uma distribuição mais homogênea das raízes da cv. New Jersey 220 até a camada 0,40,6 m de profundidade, com uma redução gradual até a camada de 0,8-1,0 m (Tabela 7). A medida da massa seca radicular é relativamente fácil de ser obtida, mas fornece pouca informação, enquanto que a área da superfície é de difícil interpretação. Apesar das raízes finas estarem mais envolvidas no processo de absorção, existem evidências que as raízes suberizadas podem absorver água. Devido a essa incerteza do diâmetro apro- 0, 4-0, 6 UC 157 F 1 15,2 26,1 16,2 3,6 18,5 18,7 0, 6-0, 8 8,2 12,5 54,8 5,4 50,0 11,3 priado, o comprimento de raiz por volume de solo, ou densidade de comprimento de raiz, tem sido usado para caracterizar a presença de raízes no solo (Kleper, 1992). Na área experimental, as médias da área e do comprimento de raízes, estimadas no método do perfil, e da densidade de comprimento de raízes, estimada pelo método do monolito, foram superiores nas profunidades de 0-0,2 e 0,20,4 m, enquanto que na área de produção comercial, analisada somente pelo método do perfil, os maiores valores ocorreram na profundidade de 0,4-0,6 m (Tabela 8). Houve correspondência com as maiores porcentagens de massa seca (Tabela 5) e de área e comprimento de raiz até a profundidade de 0,2-0,4 m na área experimental, e com as maiores porcentagens de área e comprimento até a profundidade de 0,4-0,6 m na área comercial (Tabela 7). Em relação à distância à linha de plantas, analisada somente na área experimental, as médias de área e comprimento de raízes e de densidade de comprimento diminuíram à medida que se afastou das plantas. Os valores deter21 L.H. Bassoi et al. Tabela 7. Distribuição percentual dos parâmetros área e comprimento das raízes das cv. de aspargo New Jersey 220 e UC 157 F1, em função da profundidade do solo, na área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro, e na área de produção comercial no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P rof. (m) 0, 2 0, 4 0, 6 Área 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 58,1 39,8 1,6 0,3 0,3 54,4 44,7 0,8 0,1 0 50,3 41,2 7,9 0,5 0 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 52,9 44,9 2,2 0 0 32,8 49,2 18,0 0 0 26,9 38,9 32,8 1,4 0 P erfil de solo (m) 0, 4* 0, 2 % New Jersey 220 63,9 23,7 55,4 26,9 20,8 41,7 6,9 30,6 2,1 2,3 18,3 0,4 0 6,6 0,4 UC 157 F 1 11,2 52,2 49,4 45,2 11,5 2,6 21,8 0 6,1 0 0, 8 0, 4 0, 6 0, 8 Comprimen to 50,7 48,4 0,9 0,04 0 52,4 37,1 9,8 0,7 0 71,1 20,5 6,6 1,8 0 33,0 47,4 19,6 0 0 25,1 39,3 34,4 1,1 0 15,9 46,3 12,8 19,0 6,0 0, 4* 22,3 21,2 30,0 19,4 7,0 * área comercial, analisada somente para a cv. New Jersey 220 a 0,4 m de distância da linha de plantas Tabela 8. Médias de área e comprimento de raízes no perfil do solo, e da densidade de comprimento de raízes no monolito, em função da profundidade do solo, para as cv. New Jersey 220 e UC 145 F1, na área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro e na área de produção comercial no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. New Jersey 220 UC 157 F 1 Área experimen tal Área experimen tal P rof. (m) Comprim. D en sidade Comprim. D en sidade Área (cm2) Área (cm2) (c m) (cm. cm-3) (c m) (cm. cm-3) 0-0,2 16,87 a 63,16 a 0,099 a 11,69 a 47,42 a 0,033 a 0,2-0,4 12,33 b 49,28 b 0,037 b 12,82 a 51,43 a 0,029 a 0,4-0,6 0,69 c 3,42 c 0,0043 c 2,88 b 12,73 b 0,0033 b 0,6-0,8 0,10 d 0,44 d 0,00093 c 0,49 c 1,59 c 0,0073 b 0,8-1,0 0,053d 0,24 d 0,0040 c 0,13 c 0,45 c 0,00094 c New Jersey 220 Área comercial Área Comprim. (cm2) (c m) 10,35 a,b 42,85 a,b 9,08 b 40,67 b 13,35 a 57,68 a 7,98 b 37,31 b 2,90 c 13,45 c Médias seguidas pela mesma letra em um mesma coluna não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade minados no perfil de solo diferiram entre si, enquanto que para os valores determinados no volume de solo compreendido entre dois perfis (monolito), a diferença foi significativa entre todos na cv. New Jersey 220, e somente para 0,2-0,4 m na cv. UC 157 F1 (Tabela 9). Esse comportamento está em concordância com a distribuição percentual de massa seca de raízes em função da distância do perfil do solo (Tabela 6). O diâmetro das raízes de aspargo, tanto da área experimental como da área comercial, estimado pela relação entre a área e o comprimento das raízes (Tabela 10) encontram-se dentro do intervalo 2<d≤5 mm. Alguns valores não apresentam desvios-padrão, pois as 22 raízes foram observadas em apenas uma área (0,2 x 0,2 m) da respectiva profundidade, ao longo de todo o comprimento da trincheira. Pelo método do monolito, para os perfis de 0,2-0,4 , 0,40,6 e 0,6-0,8 m, as raízes com 2<d≤5 mm corresponderam a 89,0, 86,8 e 83,6% do total na cv. New Jersey 220, e 84,2, 81,2 e 71,8% na cv. UC 157 F1, respectivamente, enquanto que as com d≤2 mm apresentaram menor contribuição (7,7, 11,9 e 16,4% na cv. New Jersey 220, e 15,8, 18,8 e 28,2% na cv. UC 157 F1, respectivamente). Apenas a cv. New Jersey 220 apresentou raízes entre 5<d≤10 mm (3,3% a 0,2-0,4 m e 1,3% a 0,4-0,6 m). Assim, os valores estimados pela imagem digital encontram-se dentro dos intervalos de diâmetro onde a maior parte das raízes foi encontrada. Drost (1999) relatou que plantas de aspargo com 2; 3 e 4 anos apresentaram, respectivamente, uma profundidade de enraizamento médio (80% do total de raízes) de 0,3; 0,4 e 0,5 m, enquanto que o valor máximo foi de 0,8, 1,0 e 1,4 m, para as raízes de reserva. Para as raízes fibrosas, os valores médios foram 0,6; 0,6 e 0,7 m, e os máximos, 1,0; 1,2 e 1,3 m. A maior presença de raízes ocorreu próximo à coroa do aspargo, a qual decresceu em profundidade e com a distância às plantas. Esses resultados apresentam similariedade com os apresentados nesse trabalho. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Distribuição radicular de cultivares de aspargo em áreas irrigadas de Petrolina - PE. Tabela 9. Médias de área e comprimento de raízes no perfil do solo, e da densidade de comprimento de raízes no monolito, em função da distância do perfil à linha de plantas, para as cv. New Jersey 220 e UC 145 F1, na área experimental do Projeto de Irrigação de Bebedouro. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. I m a g em P erfil (m) 0,2 0,4 0,6 0,8 New Jersey 220 Área ( c m 2) 12,52 a 7,67 b 2,96 c 0,89 d UC 157 F 1 Comprim. (c m) 46,45 a 30,20 b 12,31 c 4,26 d Área (cm2) 12,46 a 5,94 b 2,35 c 1,66 c Comprim. (c m) 50,68 a 24,50 b 9,62 c 6,09 c Mon olito D istân cia (m) 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 New Jersey UC 157 F 1 220 D en sidade D en sidade (cm. cm-3) (cm. cm-3) 0,053 a 0,028 a 0,027 b 0,0098 b 0,0074 c 0,0062 b médias seguidas pela mesma letra em um mesma coluna não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade Tabela 10. Estimativa do diâmetro das raízes pela análise de imagem digital, das cv. de aspargo New Jersey 220 e UC 157 F1, na área experimental no Projeto de Irrigação de Bebedouro, e na área de produção comercial no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1997. P erfil de solo (m) 0,2 P rof. (m) 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 N ew Jersey 220 2,8 ± 0,2 2,5 ± 0,3 2,2 ± 0,2 2,6 ± 0,7 2,2 ± 0,2 0,4 0,6 0,8 N ew N ew N ew N ew UC 157 UC 157 Jersey UC 157 UC 157 Jersey Jersey Jersey F1 F1 220* F1 F1 220 220 220 comerc. 2,5 ± 0,2 2,7 ± 0,3 2,4 ± 0,2 2,4 ± 0,1 2,4 ± 0,4 2,9 ± 0,9 2,0 ± 0,7 1,9 ± 0,2 2,4 ± 0,2 2,4 ± 0,3 2,4 ± 0,4 2,1 ± 0,3 2,7 ± 0,5 2,5 ± 0,7 2,7 ± 0,9 4,8 ± 3,6 2,5 ± 1,2 2,2 ± 0,4 2,3 ± 0,3 2,2 ± 0,3 2,2 ± 0,4 2,7 ± 0,8 2,6 2,7 ± 0,7 4,0 2,2 ± 0,2 2,0 3,2 ± 1,5 2,8 3,1 2,2 ± 0,3 2,8 - não foram observadas raízes * analisado apenas no perfil 0,4 m A profundidade de 0,6 m pode ser considerada como a profundidade efetiva do sistema radicular do aspargo, podendo ser levada em consideração na análise da eficiência de aplicação de água, definida pela relação entre a quantidade de água armazenada na zona radicular durante a irrigação e a quantidade de água aplicada, e da eficiência de armazenamento de água, definida pela relação entre a quantidade de água armazenada na zona radicular e a quantidade de água requerida na zona radicular antes da irrigação (Hansen et al., 1980). Os resultados evidenciaram que a maior parte do sistema radicular do aspargo cv. New Jersey 220 e cv. UC 157 F1, irrigados por aspersão convencional e em solos de textura arenosa em áreas irrigadas de Petrolina-PE, apresentou maior presença de raízes até a camada de solo 0,4-0,6 m de profundidade (direção vertical), e até a distância Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. perpendicular à linha de plantas de 0,6 m (direção horizontal). A comparação de médias dos parâmetros área, comprimento e densidade de comprimento de raízes mostraram resultados similares entre si e também com a distribuição percentual de massa seca, área e comprimento de raízes, nas profundidades de solo e distâncias à linha de plantas analisadas. As estimativas do diâmetro de raíz pela análise de imagem estiveram dentro do intervalo de diâmetro com maior presença do sistema radicular. AGRADECIMENTOS Os autores agradecem o suporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (projeto 523559/96-8), do Banco do Nordeste do Brasil e do International Foundation for Science (projeto C/2748-1), da Suécia, para a realização deste trabalho. LITERATURA CITADA ATKINSON, D. Root growth and activity: current performance and future potential. In: Roots and the soil environment. Wellesbourne: The Association of Applied Biolgists, 1989. p.1-14. ATKINSON, D. The distribution and effectiveness of the roots of tree crops. Horticultural Reviews, New York, v. 2, p. 424-490, 1980. BASSOI, L.H.; FANTE JÚNIOR, L.; JORGE, L.A.C.; CRESTANA, S.; REICHARDT, K. Distribuição do sistema radicular do milho em terra roxa estruturada latossólica: II- Comparação entre cultura irrigada e fertirrigada. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 51, n. 3, p. 541- 548, 1994. BASSOI, L.H.; JORGE, L.A.; CRESTANA, S. Root distribution analysis of irrigated grapevines in northeastern Brazil by digital image processing. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 16., Montpellier. 1998. Proceedings..., ISSS, 1998. CD ROM. BASSOI, L.H.; SILVA, J.A.M.; ALENCAR, C.M.; RAMOS, C.M.R; JORGE, L.A.C.; HOPMANS, J.W. Digital image analysis of root distribution towards improved irrigation water and soil management. In: AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERING ANNUAL INTERNATIONAL MEETING. Toronto. 1999. 5 p. (ASAE paper 992225). 23 L.H. Bassoi et al. BOHM, W. Methods of studying root systems. New York: Springer - Verlag, 1979. 194 p. CANNEL, G.H; TAKATORI, F.H. Irrigationnitrogen studies in asparagus and measurement of soil moisture changes by the neutron method. Soil Science Society of American Journal, v. 34, n. 3, p. 501-506, 1970. CRESTANA, S.; GUIMARÃES, M.F., JORGE, L.A.C., RALISCH, R., TOZZI, C.L., TORRE, A; VAZ, C.M.P. Avaliação da distribuição de raízes no solo auxiliada por processamento de imagens digitais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 18, n. 3, p. 365-371, 1994. DELGADO DE LA FLOR, F.B.L.; MONTAUBAN, R.; HURTADO P.F. Manual de cultivo del esparrago. Lima: Instituto de Comercio Exterior, 1987, 134 p. D’OLIVEIRA, L.O.B. A cultura do aspargo irrigado na região do Submédio São Francisco. Petrolina, PE: EMBRAPA-CPATSA, 1992, 22 p. (EMBRAPA-CPATSA, Circular Técnica, 26). D’OLIVEIRA, L.O.B.; FLORI, J.E.; RESENDE, G.M. Coleção de gerrmoplasma de aspargo (Asparagus officinalis L.) no Submédio São Francisco. Petrolina, PE: EMBRAPACPATSA, 1998. 3 p. (EMBRAPA-CPATSA, Comunicado Técnico, 74). DROST, D.T. Irrigation effects on asparagus root distribution. Acta Horticulturae, Wageningen, v. 479, p. 283-288, 1999. 24 EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. Rio de Janeiro, 1997. 212 p. FANTE JÚNIOR, L.; REICHARDT, K.; JORGE, L.A.C.; CRESTANA, S. Distribuição do sistema radicular do milho em terra roxa estruturada latossólica: I - Comparação de metodologias. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 51, n. 3, p. 513 - 518, 1994. FILGUEIRA, F.A. Manual de olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. São Paulo: Agronômica Ceres, 1982. 357 p. GANIZA SOLA, A.; BENITO CALVO, A.; SAEZ GARCIA - FALCES, R.; SANTOS ARRIAZU, A. Sistemas de cultivo en el espárrago. In: JORNADAS TECNICAS DEL ESPARRAGO, 2., 1998, Pamplona. Anais...Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion, 1998, tomo 1, p. 115-137. GARDÉ, A.A.A.; GARDÉ, N.V.P.M. Culturas hortícolas. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1964. 493 p. HANSEN, V.E.; ISRAELSEN, O.W.; STRINGHAM, G.E. Irrigation principles and practices. 4. ed., New York: John Willey, 1980. 417 p. HARTMANN, H.D.; HERMANN, G.; ALTRINGER, R. Evaluation of nutrient status of asparagus by leaf and root analyses. Acta Horticulturae, Wageningen, v. 271, p. 433442, 1990. KLEPPER, B. Roots: past, present and future. In: ROOTS OF PLANT NUTRITION, 1992, Champaign. Proceedings… Champaign: Potash & Phosphate Institute, 1992. p. 7-18. KOPKE, U. Methods for studying root growth. In: THE SOIL/ROOT SYSTEM IN RELATION TO BRAZILIAN AGRICULTURE, Londrina, 1980. Proceedings... Londrina, IAPAR, 1981. p. 303318. MARTIN, S.; HARTMANN, H.D. The content and distribution of the carbohydrates in asparagus. Acta Horticulturae, Wageningen, v. 271, p. 443-449, 1990. OLIVEIRA, E.A.; OLIVEIRA, J.J.; MORAES, E.C.; MAGNANI, M.; FEHN, L.M.; FELICIANO, A. A cultura do aspargo. Pelotas: EMBRAPA-UEPAE, 1981. 48p. (EMBRAPA-UEPAE de Pelotas, Circular Técnica, 5). REIJMERINK, A. Microstructure, soil strength and root development of asparagus on loamy sands in the Netherlands. Netherlands Journal of Agricultural Science, v. 21, n. 1, p. 24-43, 1973. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. FURLAN, R.A.; ALVES, D.R.B.; FOLEGATTI, M.V.; BOTREL, T.A.; MINAMI, K. Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura de alface. Horticultura Brasileira, Brasília, v.19, n.1, p. 25-29, março 2.001. Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura da alface. Raquel A. Furlan1; Dálcio R. B. Alves1; Marcos V. Folegatti2; Tarlei A. Botrel2; Keigo Minami3 1 USP-ESALQ , Doutorandos em Irrigação e Drenagem, Av. Pádua Dias, 11, 13.418-900 Piracicaba, SP. E-mail: [email protected]; 2 USP-ESALQ, Profs. Drs. Departamento de Engenharia Rural; 3 USP-ESALQ, Prof. Dr. Departamento de Horticultura. RESUMO ABSTRACT O experimento foi realizado em Piracicaba (SP), com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de dióxido de carbono via água de irrigação na produtividade e qualidade de alface cultivada em ambiente protegido. Os tratamentos foram constituídos de dois ambientes protegidos, sendo um com aplicação de CO2 e o outro sem aplicação de CO2, onde se cultivou a alface cultivar Verônica. Cada um dos ambientes foi composto por oito parcelas com dimensões de 1,2 m x 6,0 m e espaçadas de 0,80 m. A cultura foi irrigada com o tubo gotejador “Rain Tape” com vazão de 1,15 L/h, pressão de serviço de 60 kPa e espaçamento entre gotejadores de 0,20 m. As irrigações foram feitas diariamente, tendo em vista o objetivo de aplicação diária da dose de CO 2 de 50 L/m2/dia. As mudas de alface para o plantio foram formadas em ambiente protegido, em bandejas de isopor, contendo vermiculita como substrato. O transplante foi feito aos 30 dias após o semeio em canteiros de 1,2 m de largura por 6,0 m de comprimento, com espaçamento entre as plantas de 0,30 m e entre linhas de 0,30 m. A aplicação de CO2 foi iniciada no dia 02 de outubro de 1997, sendo feita diariamente, estendendo-se por um período de 30 dias, quando foi então realizada a colheita final da cultura de alface. A aplicação de CO2 via água de irrigação proporcionou aumentos de área foliar e consequentemente do peso da matéria seca da parte aérea, de cerca de 27%, aos 30 dias após o transplantio. O diâmetro da cabeça de alface, número de folhas e o rendimento de cabeças aumentaram em media 15,9%, 5,5% e 28,8%, respectivamente, em comparação aos dados obtidos no tratamento sem aplicação de CO2. Palavras-chave: Lactuca sativa L., ambiente protegido, CO2, gotejamento. Carbon dioxide water for lettuce irrigation. The experiment was carried out in Piracicaba, Brazil, in order to evaluate the effects of carbon dioxide, applied with the irrigation water, on the productivity and quality of the lettuce cultivated in plastic greenhouse. The treatments were designed in two plastic greenhouses, one was enriched with CO2 and the other without CO2, where lettuce variety Verônica was cultivated. The plastic greenhouse had eight plots with 1.2 x 6.0 m and spaced by 0.8 m. The crop was irrigated with “Rain Tape” drip with outflow of 1.15 L/h at operating pressure of 60 kPa. The irrigation was scheduled on a daily basis in order to apply 50 liters/m2/day of CO2 daily. The seedlings were produced in plastic greenhouse by using isopor tray with vermiculite as substratum. They were transplanted 30 days after sowing date in beds of 1.2 m width and 6.0 m length, with 0.30 m spaced between plants and 0,30 m between lines. After the application of CO2 (10/ 02/97 – 11/02/97) plants were harvested. Enrichment of irrigation water with CO2 increased the leaf area, dry weight of the aerial part by 27%, after 30 days of transplanting. The increase in lettuce head diameter, number of leaves and yield of heads was of 15.9%, 5.55% and 28.8%, respectively, in relation to the plot without CO2 application. Keywords: Lactuca sativa L., plastic greenhouse, CO2, drip irrigation. (Aceito para publicação em 31 de janeiro de 2.001) T oda a evolução que originou a moderna agricultura foi fundamentada na necessidade de aumentar a produtividade, reduzir os custos de produção e melhorar a qualidade do produto. Para atingir esses objetivos, foi necessário criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento das plantas. Assim, surgiram novas técnicas como o cultivo protegido e a aplicação de dióxido de carbono via água de irrigação. A alface se constitui numa das hortaliças mais consumidas pelos brasileiros. É uma planta muito tolerante às doenças e pode ser produzida sem maiores problemas durante quase todo o ano. Muitos agricultores preferem Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. cultivá-la em ambientes protegidos e usando a alface para fazer rotação com outras espécies. Outros cultivam espécies de primavera-verão durante o inverno, quando o preço no mercado é mais alto, e durante o verão cultivam alface obtendo desse modo preços mais elevados (Sganzerla, 1995). Os primeiros trabalhos utilizando-se enriquecimento artificial com CO2 na atmosfera interna de ambiente protegido, visando aumentar a produtividade de culturas, foram realizados há mais de 100 anos no norte da Europa. Na década de 50, devido ao desenvolvimento de técnicas modernas utilizando-se isótopos radioativos foi possível acom- panhar com clareza o processo de assimilação do CO2 pelas plantas. Também nessa época foram realizados os primeiros experimentos com injeção de CO2 diretamente na água utilizada para irrigação das culturas a céu aberto, visando aumentar a sua produtividade. Entretanto, o grande desenvolvimento dessa tecnologia ocorreu na década de 60 (Galvão, 1993). Vários estudos conduzidos com enriquecimento de dióxido de carbono em ambientes controlados e em condições de campo mostraram aumento da fotossíntese, melhor desenvolvimento das plantas e maior resistência ao estresse hídrico. Estes resultados podem ser atribuídos à maior absorção de 25 R.A. Furlan et al. dióxido de carbono pelas raízes e ao conseqüente aumento na assimilação pelo metabolismo das plantas (Arteca et al., 1979; Cooker & Schubert, 1981). No final dos anos 80, empresas norte-americanas que comercializavam CO2 interessaram-se pelo processo e iniciaram trabalhos com injeção de CO2 na água utilizada para irrigação, em culturas a céu aberto, visando aumentar a sua produtividade, obtendo resultados promissores (Sanches, 1992). A idéia de fertilização com CO2 dissolvido na água de irrigação se deve à dificuldade de manter alta concentração do mesmo na atmosfera de ambientes protegidos em países como Colômbia, devido aos custos elevados desses ambientes herméticos (Salazar, 1991). Para muitas espécies é difícil estabelecer concentração ótima de CO2, pela escassez de dados encontrados na literatura. Entretanto, consultando-se resultados obtidos em pesquisas, conclui-se que a concentração ótima de CO2 para o crescimento da maioria das espécies situa-se entre 600 e 900 mmolCO2/mol de ar. Em alguns casos, têm sido observadas injúrias em plantas submetidas a concentrações acima de 1.000 mmolCO2/mol de ar, o que é também uma razão adicional para manter a concentração abaixo de 900 mmolCO2/mol de ar. Além disso, incrementos da concentração de CO2 também implicam no aumento de perdas devido ao vazamento do gás para o ambiente externo (Mortensen, 1987). Ambientes com elevadas concentrações de CO2 induzem pequenos acréscimos na área foliar e aumentos um pouco maiores na massa (Ford & Thorne, 1967). O CO2 induz mudanças na anatomia e na morfologia das plantas, resultando em alterações no peso seco de órgãos (Acock & Pasternak, 1986). A temperatura ótima para fotossíntese varia com o estádio de desenvolvimento das plantas, estando na faixa de 20 a 30°C para a maioria das espécies, sendo menor na fase de maturação (Acock et al., 1990). Variando a concentração de CO2 e a intensidade luminosa, Ghannoum et al. (1997) obtiveram variação de 71% na massa seca de plantas C3 (Panicum laxum) e 28% de C4 (Panicum antidotade). O au26 mento da velocidade de assimilação pode atingir 80% ao ativar a enzima ribulose 1,5 bifosfato carboxilaseoxigenase (Rubisco), reduzindo a fotorrespiração, melhorando o metabolismo, o crescimento e a produção. O aumento da concentração de CO2 induz o fechamento parcial dos estômatos, causando, como conseqüência, redução na transpiração (Faquhar et al., 1978; Kimball, 1983; Kimball & Idso, 1983; Morison, 1985; Cure & Acock, 1986). Nesta situação há aumento da taxa de crescimento, com produção de maior quantidade de matéria vegetativa e aumento da área foliar (Morison & Gifford, 1984). Kimball (1983) revisou 70 publicações apresentadas nos últimos 64 anos referentes ao efeito do enriquecimento do ambiente com CO2 sobre a produtividade de várias espécies de plantas. Os resultados mostraram aumento de 33% na produtividade com a duplicação da concentração de CO2 da atmosfera. O enriquecimento do ambiente de túneis plásticos cultivados com pepino, alface e pimentão, a uma concentração de 10.000 mmolCO2/mol de ar por um período de uma a duas horas antes do nascer do sol, resultou em desenvolvimento mais rápido das plantas, frutos precoces e aumento da produtividade de pepino e alface em cerca de 45% em relação à testemunha. Já a cultura de pimentão teve maior número de frutos e acréscimo de 20% na produção (Enoch et al.,1970). D’Andria et al. (1990) verificaram aumento no peso do fruto de tomate de 98 para 105 g e na produção de 84 para 97 t/ha com uso de CO2 via água de irrigação. Entretanto, Hartz & Holt (1991) não encontraram diferença de produtividade em tomate com fornecimento artificial de CO2. Fernandez Bayon et al. (1993) observaram maior crescimento de raízes, brotação e número de flores por planta com aplicação de CO2 via água de irrigação na cultura de melão. A aplicação de CO2 via água de irrigação induziu aumento do conteúdo de clorofila da folha, da absorção de zinco e manganês e da produtividade de algodão (Mauney & Hendrix, 1988). A aplicação de 1.100 mmolCO2/mol de ar via água de irrigação em uva, durante 37 dias no inverno, proporcionou aumento de 36% na sua produtividade (Kurooka et al., 1990). Trabalhando com soja, Prior et al. (1991) verificaram aumento na área foliar e maior potencial no xilema ao meio dia com aplicação de CO2 via água de irrigação. Em experimentos com curtos períodos de tempo de aplicação CO2, o aumento da concentração induziu aumento da fotossíntese em até 52% e da produção de ervilha em 29% (Mudrik et al.,1997). Em condições de ambiente protegido, com e sem a aplicação de CO2 via água de irrigação, Pinto (1997) verificou que a maior produtividade de melão foi obtida no ambiente com aplicação de 1.170 mmolCO2/mol de ar via água de irrigação, durante um período de trinta minutos, apresentando incremento de produtividade de 27,3% em relação ao tratamento sem CO2. No Brasil, recentemente iniciou-se a aplicação de CO2 via água de irrigação, mas há carência de trabalhos referentes ao assunto. Portanto, são necessários estudos para analisar os efeitos da aplicação de CO2 via água de irrigação para as culturas, visando aperfeiçoar o uso dessa técnica. Assim, objetivo desse trabalho foi avaliar a produção quantitativa e qualitativa de alface em decorrência da aplicação de CO2 via fertirrigação. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado em ambiente protegido na área experimental da USP – ESAL em Piracicaba, SP, de 25 de setembro a 25 de outubro de 1997. As coordenadas geográficas do local são 22°42’ de latitude sul, 47°38’ de longitude oeste e altitude de 575 m. O clima é do tipo CWA, subtropical úmido, conforme classificação de Köppen. Utilizou-se a alface cultivar Verônica crespa, submetida a dois ambientes protegidos, sendo um com a aplicação de CO2 (50,5 L/m2/dia de CO2) e o outro sem aplicação, em delineamento inteiramente casualizado. Cada ambiente foi composto por oito parcelas com dimensões de 1,2 m x 6,0 m, espaçadas de 0,80 m, consideradas como repetições. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura de alface. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 140 2 120 y(CCO2) = 0,121D - 0,4583D + 3,1502 2 R = 0,9697 100 y (SCO2)= 0,0746D + 0,3853D - 0,9305 2 R = 0,9871 `rea Foliar (cm 2) 2 80 60 40 CCO2 SCO2 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Dias ap s o transplantio Figura 1. Área foliar de alface em função da aplicação (CCO2) ou não (SCO2) de CO2 e dos dias após o transplantio das mudas (D). Piracicaba, ESALQ, 1997. 25 y(CCO2) = 0,0257D2 - 0,1325D + 0,437 R2 = 0,9687 20 MatØria seca (g/planta) As mudas de alface foram formadas em bandejas de isopor e vermiculita como substrato em casa de vegetação e transplantadas com cerca de 30 dias, com as plântulas apresentando de três a quatro folhas. Cada parcela foi constituída de quatro linhas de plantas espaçadas de 0,3 m x 0,3 m. As parcelas foram cobertas com filme de polietileno preto, considerando-se como área útil a linha central de plantas. A adubação foi feita segundo a análise química de solo baseando-se nas recomendações do Instituto Agronômico de Campinas (Raij et al., 1986). Foram utilizadas 67 g/m2 de superfosfato simples e 3,3 g/m2 de cloreto de potássio. Para a adubação de cobertura foram adicionadas 4,4 g/m2 de uréia, divididas em quatro aplicações iguais via fertirrigação, a cada sete dias. A irrigação foi feita com o tubo gotejador “Rain Tape” com vazão de 1,15 L/h, pressão de serviço de 60 kPa e espaçamento entre gotejadores de 0,20 m. O manejo da irrigação baseou-se na evaporação do Tanque Classe A, repondo diariamente 100% da evaporação do tanque. O sistema de aplicação de CO2 foi composto de um contêiner (cilindro de dióxido de carbono de alta pressão), equipado com uma válvula dosadora do produto CO 2 liberada do cilindro, manômetro e um injetor Venturi para introduzir CO2 na linha de irrigação. A aplicação foi iniciada no dia 02 de outubro de 1997, estendendo-se até a colheita final da cultura. A injeção na linha de irrigação foi feita a partir das 11:00 h, por um período de aproximadamente 40 minutos, durante a aplicação da lâmina de irrigação. A cada cinco dias, a partir dos sete dias após o plantio, foram colhidas oito plantas, sendo uma em cada parcela, para avaliar o diâmetro das cabeças de alface, número de folhas, massa seca da parte aérea e área foliar, com uso do integrador de área foliar modelo LICOR LI 3100. Para a determinação do diâmetro da cabeça, foram tomadas duas medidas transversais da planta, antes da colheita e obtida a média. Após a determinação da área foliar, as plantas foram acondicionadas em sacos de papel e colocadas para secar em estufa de circula- y(SCO2) = 0,0163D2 + 0,0413D - 0,3669 R2 = 0,9889 15 10 5 CCO2 SCO2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Dias ap s o transplantio Figura 2. Matéria seca de plantas de alface em função da aplicação (CCO2) ou não (SCO2) de CO2 e dos dias após o transplantio (D). Piracicaba, ESALQ, 1997. ção de ar forçada a 65oC até massa constante. Em seguida as plantas foram pesadas e determinou-se a matéria seca. Foi aplicado o teste F para verificar se a aplicação de CO2 teve efeito significativo sobre as características avaliadas. A área foliar, matéria seca, diâmetro de cabeça e número de folhas foram submetidas à análise de regressão polinomial. RESULTADOS E DISCUSSÃO Até 15 dias após o transplantio houve certa homogeneidade entre os tratamentos quanto à área foliar (Figura 1), enquanto aos 30 dias, o valor médio de área foliar observado no ambiente com aplicação de CO2 foi de 98,55 cm2, valor esse 27,4% maior do que sem CO2, (77,33 cm2). Acréscimos da área foliar em beterraba açucareira, cevada, couve e milho também foram verificados por Ford & Thorne (1967) em ambientes enriquecidos com concentrações de 1.000 a 3.000 mmolCO2/mol de ar. O ambiente enriquecido com CO2 resultou em aumento de matéria seca das plantas de alface a partir de 15 dias após o transplantio (Figura 2), com valores médios, aos 30 dias, de 15,52 e 19,75 g/ planta, para os tratamentos sem e com a aplicação de CO2, respectivamente. Apesar de os valores de área foliar e matéria seca terem aumentado no ambiente com a aplicação de CO2, a rela27 R.A. Furlan et al. mento com aplicação de CO2. O máximo rendimento da cultura de alface observado no ambiente com CO2 foi de 59,5 t/ha e em ambiente sem CO2 foi de 46,2 t/ha, apresentando diferença de 28,8%. Enoch et al. (1970) também observaram acréscimo em massa de matéria fresca da ordem de 43% em alface cultivada em túneis de plástico sob enriquecimento de CO2 e Pinto (1997) observou aumento da produtividade com a aplicação de CO2 injetado via água de irrigação. 60 2 y(CCO2) = -0,0121D + 1,5653D + 10,402 2 R = 0,959 50 2 Di metro de cabe a y(SCO2) = -0,0189D + 1,7201D + 6,0088 R2 = 0,9424 40 30 20 10 CCO2 SCO2 LITERATURA CITADA 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Dias ap s o transplantio Figura 3. Diâmetro de cabeça de alface em função da aplicação (CCO2) ou não (SCO2) de CO2 e dos dias após o transplantio das mudas (D). Piracicaba, ESALQ, 1997. 45 2 y(CCO2) = 0,0254D + 0,0744D + 5,9049 2 R = 0,9036 40 Nœmero de folhas 35 y(SCO2) = 0,007D2 + 0,5221D + 3,2745 R2 = 0,9183 30 25 20 15 10 CCO2 SCO2 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Dias ap s o transplantio Figura 4. Número de folhas de alface em função da aplicação (CCO2) ou não (SCO2) de CO2 e dos dias após o transplantio das mudas (D). Piracicaba, ESALQ, 1997. ção entre área foliar e matéria seca (área foliar específica) não foi alterada, apresentando valor médio de 4,9 cm2/g nos dois ambientes. Assim, o acréscimo em área foliar foi proporcional ao acréscimo em matéria seca na planta. Vários autores (Kimball & Mitchell, 1979; D´Andria et al., 1990; Islam et al., 1996) observaram que o enriquecimento do ambiente com CO2 possibilitou produção de pepino, pimentão e tomate mais pesados, provavelmente por ter havido maior acúmulo de carboidratos nos frutos devido às altas taxas de fotossíntese encontradas nos ambientes com enriquecimento de CO2. 28 O valor médio do diâmetro da cabeça de alface observado no ambiente com aplicação de CO2 aos 30 dias após o transplantio foi de 46,63 cm e sem aplicação de CO2, de 40,25 cm, apresentando acréscimo no diâmetro da cabeça da alface de 15,9% (Figura 3). O número de folhas de alface por cabeça não diferiu significativamente, nos tratamentos com ou sem aplicação de CO2, havendo, porém, tendência a apresentar aumento do número de folhas no ambiente onde houve a aplicação de CO2 (Figura 4). Aos 30 dias após o transplantio houve incremento de 5,5% no número de folhas para o trata- ACOCK, B.; PASTERNAK, D. Effects of CO2 concentration on composition, anatomy and morphology of plants. In: ENOCH, H. Z.; KIMBALL, B. A. Carbon dioxide enrichment of greenhouse crops. Flórida: CRC Press, Inc, 1986. v. 2, p. 41-52. ACOCK, B.; ACOCK, M.C.; PASTERNAK, D. Interactions of CO 2 enrichment and temperature on carbohydrate production and accumulation in muskmelon leaves. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 115, n. 4, p. 525-529, 1990. ARTECA, R.N.; POOVAIAH, B.W.; SMITH, O.E. Changes in carbon fixation, tuberization and growth induced by CO2 applications to the root zone of potato plants. Science, v. 205, n. 4412, p. 1279-1280, 1979. COOKER, R.T.; SCHUBERT, K.R. Carbon dioxide fixation in soybean roots and nodules: I. Characterization and comparison with N2 fixation and comparison of xylem exudate during early nodule development. Plant Physiology, v. 67, n. 4, p. 691-696, 1981. CURE, J.D.; ACOCK, B. Crop responses to carbon dioxide doubling: a literature survey. Agricultural Forest and Meteorology, v. 38, n. 1/3, p. 127-145, 1986. D’ANDRIA, R.; NOVERO, R.; SHANAHAN, J.F.; MOORE, F.D. Drip irrigation of tomato using carbonated water and mulch in Colorado. Acta-Horticulturae, n. 278, p. 179-185, 1990. ENOCH, H.Z.; RYLSKI, I.; SAMISH, Y. CO2 enrichment of cucumber, lettuce and sweet pepper plants grown in low plastic tunnels in a subtropical climate. Journal of Agriculture Research, v. 20, p. 63-69, 1970. FAQUHAR, G.D.; DUBLE, D.R.; RASCHKE, K. Gain of the feedback loop envolving carbon dioxide and stomat, theory and measurement. Plant Physiology, v. 62, n. 3, p. 406-412, 1978. FERNANDEZ BAYON, J.M.; BARNES, J.D.; OLLERENSHAW, J.H.; DAVISON, A.W. Physiological effects of ozone on cultivars of watermelon (Citrullus lannatus) and muskmelon (Cucumis melo) widely grown in Spain. Enviromental Pollution, v. 81, n. 3, p. 199-206, 1993. FORD, M.A.; THORNE, G.N. Effect of CO 2 concentration on growth of sugar-beet, barley, kale and maize. Annals of Botany, v. 31, n. 629, 1967. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura de alface. GALVÃO, A.C. Mecanismos de ação do CO2 nas plantas. Brasil: Líquid Carbonic, 1993, 18 p. GHANNOUM, O.; CAEMMERER, S.V.; BARLOW, E.W.R.; CONROY, J.P. The effect of CO 2 enrichment and irradiance on the growth, morphology and gas exchange of a C3 (Panicum laxum) and a C 4 (Panicum antidotade) grass. Australian Journal of Plant Physiology, v. 24, n. 2, p. 227-237, 1997. HARTZ, T.K. ; HOLT, D.B. Root-zone carbon dioxide enrichment in field does not improve tomato or cucumber yield. HortScience, v. 69, n. 11, p. 1423, 1991. ISLAM. M.S.; MATSUI, T.; YOSHIDA, Y. Effect of carbon dioxide enrichment on physicochemical and enzymatic changes in tomato fruits at various stages of maturity. Scientia Horticulturae, v. 65, p.137-149, 1996. KIMBALL, B.A. Carbon dioxide and agricultural yield: an assemblage and analysis of 430 prior observation. Agronomy Journal, v. 75, n. 5, p. 779-788, 1983. KIMBALL, B.A.; IDSO, S.B. Increase atmospheric CO2: effects on crop yield, water use, and climate. Agricultural Water Management, v. 7, n. 1, p. 55-73, 1983. KIMBALL, B.A.; MITCHELL, S.T. Tomato yields from CO2 enrichment in unventilated and conventionally ventilated greenhouses. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 104, p. 515-520, 1979. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. KUROOKA, H.; FUKUNAGA, S.; YUDA, E.; NAKAGAWA, S.; HORIUCHI, S.; KUROKA, H. Effect of carbon dioxide enrichment on vine growth and berry quality of “Kyoho” grapes. Journal of Horticultural Science, v. 65, n. 3, p. 463-470, 1990. MAUNEY, J.R.; HENDRIX, D.L. Responses of glasshouse grown cotton to irrigation with carbon dioxide saturated water. Crop Science, v. 28, n. 5, p. 835-838, 1988. MORISON, J.I.L. Sensitivy of stomata and water use efficiency to high CO2. Plant,Cell and Environment, v. 8, p. 467-474, 1985. MORISON, J.I.L.; GIFFORD, R.M. Plant growth and water use with limited water supply in high CO2 concentrations. I. Leaf area, water use and transpiration. Australian Journal of Plant Physiology, v. 11, n. 5, p. 361-374, 1984. MORTENSEN, L.M. Review: CO2 enrichment in greenhouses Crop Responses Scientia Horticulturae, v. 33, p. 1-25, 1987. MUDRIK, V.A.; ROMANOVA, A.K.; IVANOV, B.N.; NOVICHKOVA, N.S.; POLYAKOVA, V.A. Effect of increased CO2 concentration on growth, photosynthesis, and composition of Pisum sativum L. plant. Russian Journal of Plant Physiology, v. 44, n. 2, p. 165-171, 1997. PINTO, J.M. Aplicação de dióxido de carbono via água de irrigação em meloeiro. Piracicaba: ESALQ/USP. 1997. 82 p. (Tese doutorado). PRIOR, S.A.; ROGERS, H.H.; SIONIT, N.; PATTERSON, R.P. Effects of elevated atmospheric CO2 on water relations of soya bean. Agriculture Ecosystems and Environment, v. 35, n. 1, p. 13-25, 1991. RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.; FURLANI, A.M.C. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2.ed. Campinas: Instituto Agronômico & Fundação IAC, 1996. 285 p. (Boletim técnico, 100) SALAZAR, Y.S. CO2 in the fertilization by water enrichment. Chicago: Liquido Carbonico Colombiana. 1991, 29 p. SANCHES, O.F. Efecto del enriquecimiento del microambiente con CO2 en cultivo de melon en campo abierto. México: Liquid Carbonic de Mexico. 1992, 7 p. SGANZERLA, E. Nova agricultura: a fascinante arte de cultivar com os plásticos. 5.ed. Guaíba: Agropecuária, 1995. 341 p. 29 SANTOS, G.M.; OLIVEIRA, A.P.; SILVA, J.A.L.; ALVES, E.U.; COSTA, C.C. Características e rendimento de vagem do feijão-vagem em função de fontes e doses de matéria orgânica. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 30 - 35, março, 2.001. Características e rendimento de vagem do feijão-vagem em função de fontes e doses de matéria orgânica. Gilmara M. Santos; Ademar P. Oliveira; José Algaci L. Silva; Edna U. Alves; Caciana C. Costa UFPB – CCA, C. Postal 02, 58.397-000 Areia – PB. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Com o objetivo de avaliar doses e fontes de matéria orgânica na cultura do feijão-vagem, cultivar Macarrão Trepador, instalou-se um experimento em condições de campo no período de julho a novembro de 1998, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. O delineamento experimental empregado foi blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 5, compreendendo quatro fontes de matéria orgânica (esterco de galinha, esterco bovino, esterco caprino e húmus de minhoca) e cinco doses, sendo 0; 5; 10; 15 e 20 t/ha de esterco de galinha; e, 0; 10; 20; 30 e 40 t/ha de esterco bovino, caprino e húmus de minhoca, em quatro repetições. Utilizaramse parcelas com 20 plantas, espaçadas de 1,00 x 0,50 m. Os resultados indicaram que o comprimento de vagens aumentou linearmente com as doses de estercos de galinha, de bovino e de caprino. O peso médio de vagens foi influenciado apenas pelo esterco de galinha. O húmus de minhoca não exerceu efeito sobre a característica e a produtividade de vagens. O esterco de galinha na dose de 13,0 t/ha proporcionou rendimento máximo de vagens (26,3 t/ha), o esterco bovino na dose de 24,0 t/ha produziu 30,3 t/ha e o esterco caprino, na dose de 16,6 t/ha, produziu 23,0 t/ha. A análise econômica indicou a dose de 11 t/ha de esterco de galinha e de 23,0 t/ha de esterco bovino, como as mais viáveis economicamente para adubação orgânica no feijão-vagem, resultando num rendimento estimado de 11,3 e 21,2 t/ha de vagens e uma receita prevista de 8.000 e 21.000 kg/ha de vagens, respectivamente. Para o esterco caprino, 20 t/ha apresentou saldo um pouco superior à sua ausência, enquanto 10 t/ha de húmus de minhoca revelou saldo de R$ 2.336,00/ha, porém, inferior à sua ausência. Conclui-se, pois, que nas condições em que foi realizada a presente pesquisa, não é vantajoso o emprego do esterco caprino e do húmus de minhoca como fontes de matéria orgânica para programas de produção de vagens em feijão-vagem. Characteristics and yield of snap-bean pod in function of sources and levels of organic matter. Palavras-chaves: Phaseolus vulgaris L, vagem, adubação orgânica, rendimento. Keywords: Phaseolus vulgaris L, pod, organic fertilization, yield. With the objective of evaluating levels and sources of organic matter in the culture of the snap-bean, Macarrão Trepador cultivar, an experiment in field conditions was setted in the period from July to November 1998, in the Federal University of Paraíba, Brazil. The experimental design was of randomized blocks, in factorial scheme 4 x 5, with four sources of organic matter (chicken manure, bovine manure, goat manure and earthworm compost) and five levels (0, 5, 10, 15 and 20 t/ha of chicken manure and, 0, 10, 20, 30 and 40 t/ha of bovine manure, goat manure and earthworm compost), in four replications. Plots were of 20 plants, space 1.00 x 0.50 m. The results indicated that the length of beans increased linearly with the levels of chicken, bovine and goat manure. The average weight of pods was just influenced by chicken manure. The earthworm compost didn’t exercise effect on the characteristics and the productivity of pods. The use of 13.0 t/ha of chicken manure provided maximum yield of pods (26.3 t/ha), the bovine manure in the level of 24.0 t/ha produced 30.3 t/ha and the goat manure in the level of 16.6 t/ha produced 23.0 t/ha. The economical analysis indicated the use of 11 t/ha of chicken manure and 23 t/ha of bovine manure the most viable sources of organic fertilization in snap-bean, by resulting in a productivity of 11.3 and 21.2 t/ha of pods and a foreseen yield of 8 and 21 t/ha of pods, respectively. For the goat manure, the use of 20 t/ha revealed to be a little superior compared to its absence, while 10 t/ha of earthworm compost showed a balance of R$ 2.336.00/ha, but inferior to its absence. In the conditions of the present research, the use of goat manure and earthworm compost as organic matter sources is not advantageous for programs of snap bean pods production. (Aceito para publicação em 12 de fevereiro de 2.001) A literatura não menciona o emprego de adubos orgânicos na cultura do feijão-vagem. Refere-se apenas à adubação mineral, levando em consideração os teores de fósforo e potássio existentes no solo. As recomendações de fertilização da cultura se baseiam em indicações para o feijão-comum (Viggiano, 1990). Entretanto, o feijãovagem difere do feijão-comum quanto ao porte, área foliar, altura, ciclo, hábito de crescimento e produtividade, principalmente, nas cultivares de crescimento indeterminado. 30 É indiscutível a importância e a necessidade de adubos orgânicos em hortaliças (Kimoto, 1993), tanto na produtividade como na qualidade dos produtos obtidos, especialmente em solos com baixo teor de matéria orgânica, sendo considerados agentes condicionadores do solo, por melhorar as condições de cultivo, através da retenção de água e aumento da disponibilidade de nutrientes em forma assimilável pelas raízes. (Filgueira, 1982; Ingue, 1984). Quantidades adequadas de esterco de boa qualidade podem suprir as ne- cessidades das plantas em macronutrientes, sendo o potássio, o elemento cujo teor atinge valores mais elevados no solo pelo uso contínuo. O teor desses elementos depende, entretanto, da qualidade e da quantidade de esterco, bem como do tipo de solo (Lund & Doss, 1980). O esterco de galinha pode suprir parcial ou integralmente as exigências nutricionais do tomateiro, resultando em maiores rendimentos e qualidade de frutos (Silva Júnior & Vizzoto, 1990). O esterco bovino desempenha papel importante no aumento da produHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Característica e rendimento de vagem do feijão-vagem em função de fontes e doses de matéria orgânica. tividade em diversas hortaliças (Filgueira, 1982; Camargo, 1984; Silva et al., 1989; Seno, 1995; Espínola, 1998). O esterco caprino, apresenta fermentação mais rápida do que o esterco de galinha e bovino, podendo ser utilizado com sucesso na agricultura após um menor período de decomposição (Tibau, 1993); Em algumas hortaliças tem desempenhado papel importante na elevação da produtividade (Leal & Souza, 1992; Ferreira et al., 1993). O vermicomposto contém nutrientes essenciais às plantas numa forma mais disponível, especialmente o nitrogênio (Hara, 1989), sendo que seu emprego tem proporcionado resultados satisfatórios, na elevação da produtividade de alface e de cenoura (Ricci et al., 1993; Espínola, 1998). Devido à carência de informações sobre o emprego de matéria orgânica na cultura do feijão-vagem, foi realizado o presente trabalho que objetivou avaliar fontes e doses de matéria orgânica sobre característica e rendimento de vagens. MATERIAL E MÉTODOS Foi instalado um experimento em Latossolo Vermelho-Amarelo, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba no município de Areia (PB), entre julho a novembro de 1998. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 4, constituídos de quatro fontes de matéria orgânica (esterco de galinha, húmus de minhoca, esterco bovino e esterco caprino) e cinco doses, sendo 0, 5, 10, 15 e 20 t/ha de esterco de galinha; e 0, 10, 20, 30 e 40 t/ ha de húmus de minhoca, de esterco bovino e de esterco caprino com quatro repetições. A análise química do solo indicou as seguinte características: pH = 6,10; P = 92 mg/dm3; K = 105 mg/dm3; Ca+2 = 3,10 cmol/dm3; Mg+2 = 1,30 cmol/dm3 e matéria orgânica = 9,88 g/dm3. A caracterização química das fontes de matéria orgânica apresentou os resultados: húmus de minhoca (P = 5,10 g/kg; K = 3,31 g/kg; N = 4,05 g/kg; matéria orgânica = 103,3 g/dm3 e relação C/N = 21/ 1), esterco de galinha (P = 6,97 g/kg; K = 14,36 g/kg; N = 11,5 g/kg; matéria Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. orgânica = 265,20 g/dm3 e relação C/N = 13/1), esterco bovino (P = 5,2 g/kg; K = 4,90 g/kg; N = 8,82 g/kg; matéria orgânica = 112,07 g/dm3 e relação C/N = 14/1) e esterco caprino (P = 7,2 g/kg; K = 8,46 g/kg; N = 7,1; matéria orgânica = 124,02 g/dm3 e relação C/N = 10/1). O solo foi preparado mediante aração, gradagem, levantamento de leirões e abertura de covas de plantio. A adubação constou apenas do fornecimento das fontes e doses de matéria orgânica 15 dias antes da semeadura. As parcelas constaram de 20 plantas, espaçadas de 1,00 m entre fileiras e 0,50 m entre plantas, todas consideradas úteis. Na semeadura, utilizaram-se quatro sementes por cova da cultivar Macarrão Trepador, a partir de sementes comerciais. Aos 15 dias realizou-se o desbaste, deixando-se uma planta por cova, e a prática de tutoramento pelo sistema de varas cruzadas. Procurou-se manter as plantas sempre no limpo, por meio de capinas, com auxílio de enxadas para evitar concorrência com plantas daninhas. Foram efetuadas irrigações pelo método de aspersão, no período de ausência de precipitação. Realizou-se controle fitossanitário, por meio da aplicação de Benomyl para controlar mancha de alternaria (Alternaria alternata) ferrugem (Uromyces appendiculatus) e mancha angular (Phaeoisariopsis griseola). O plantio foi realizado no início de julho. As colheitas, em número de cinco, foram efetuadas semanalmente a partir de 50 dias do plantio. A característica da vagem foi avaliada pelo comprimento e peso médio de vagem, enquanto a produtividade foi obtida pelo somatório da produção das colheitas e transformada em toneladas de vagens/ha. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão polinomial, utilizando-se o programa de computação SAEG (1997). A partir das equações de segundo grau ajustadas, calculou-se a dose de esterco de galinha e de bovino que proporcionou produtividade máxima econômica. Entretanto, a fim de atenuar os problemas de variação cambial, para as fontes de matéria orgânica que permitiram o cálculo da dose mais econômica, trabalhou-se com uma relação de troca ao invés de moeda corrente, igualandose a derivada segunda às relações entre preços do produto e do insumo (Raij, 1991; Natale et al., 1996), vigentes em Areia-PB, em 1998, buscando-se assim dados mais estáveis. Neste estudo, os valores utilizados para as variáveis vagens e matéria orgânica, foram: R$ 400,00/t de vagens, R$ 30,00/t de esterco bovino e caprino e R$ 120,0/t de esterco de galinha e húmus de minhoca. Dessa maneira, a ‘moeda’ utilizada nos cálculos da dose econômica de esterco de galinha e de bovino, foi a própria vagem. A relação de equivalência entre a tonelada de esterco bovino e a tonelada de vagens foi igual a 0,075 e entre a tonelada de esterco de galinha e a tonelada de vagens foi igual a 0,3; ressaltando porém que o preço da tonelada da vagem correspondeu ao utilizado pelo produtor e, que essa relação de preços pode variar a cada ano, conforme a demanda e oferta. RESULTADOS E DISCUSSÃO A característica comprimento de vagem foi influenciada pelo esterco de galinha, bovino e caprino, enquanto a característica peso médio de vagem, pelo esterco de galinha. O comprimento da vagem aumentou linearmente com as doses de esterco de galinha, de bovino e de caprino (Figuras 1 e 2). A resposta do esterco de galinha para o peso médio de vagem, foi de natureza quadrática (Figura 3). A derivada da equação de regressão revelou a dose de 10 t/ha de esterco de galinha, como a responsável pelo menor peso médio das vagens no feijão-vagem (9,52 g). Em tomateiro, Salek et al. (1981) verificaram elevação no peso médio de frutos empregando o esterco de galinha como fonte de matéria orgânica. Com exceção do húmus de minhoca, todas as fontes de matéria orgânica influenciaram significativamente o rendimento de vagens nos tratamentos avaliados. O esterco de galinha apresentou efeito quadrático sobre o rendimento de vagens (Figura 4), com ponto de máximo em 13,0 t/ha, responsável pela produtividade de 26,3 t/ha. Em outras hortaliças, vários trabalhos têm mostrado 31 G.M. Santos et al. Comprimento de vagem (cm) 18,0 17,0 y = 16,642 + 0,0746x R2 = 0,87* 16,0 0 5 10 15 Esterco de galinha (t/ha) 20 Comprimento de vagens (cm) Figura 1. Comprimento de vagem de feijão-vagem, em função de doses de esterco de galinha. Areia, CCA-UFPB, 1998. y 1 = 18,688 + 0,0195x R2 = 0,78* 20 19 18 17 y 2 = 17,12 + 0,0159x R2 = 0,80* 16 15 0 10 20 30 40 Esterco bovino e caprino (t/ha) Peso mØdio de vagem (g) Figura 2. Comprimento de vagem de feijão-vagem em função de doses de esterco bovino (y1) e de caprino(y2). Areia, CCA-UFPB, 1998. 13 11 9 y = 11,533 - 0,3961x + 0,0195x2 R2 = 0,98* 7 5 3 0 5 10 15 20 Esterco de galinha (t/ha) Figura 3. Peso médio de vagem de feijão-vagem, em função de doses de esterco de galinha. Areia, CCA-UFPB, 1998. 32 elevação do rendimento em função da aplicação de esterco de galinha. No tomateiro, Salek et al. (1981) e Ferreira et al. (1993), no alho, Seno et al. (1996), e na cenoura, Souza (1990), obtiveram elevação no rendimento empregando doses variáveis de esterco de galinha. No feijão-vagem, Alves (1999), obteve elevado rendimento de sementes com 20 t/ha de esterco de galinha. A resposta do esterco bovino sobre o rendimento de vagens foi de natureza quadrática (Figura 5). Pela estimativa da equação da regressão, calculou-se a dose de 24,0 t/ha, como a responsável pelo máximo rendimento de vagens (30,3 t/ ha). Há consenso entre diversos autores da eficiência do esterco bovino em elevar a produção de hortaliças, Em alho, por exemplo, Seno et al. (1995), bem como no tomateiro, conforme Nakagawa & Conceição (1977), houve aumento na produção dessas hortaliças quando utilizou-se o esterco bovino como fonte de matéria orgânica. Alves (1999), verificou rendimento máximo de sementes com 29 t/ha de esterco bovino. Com relação ao emprego do esterco caprino, a exemplo do esterco de galinha e esterco bovino, os dados ajustaram-se ao modelo quadrático (Figura 6). A dose de 17,0 t/ha de esterco caprino, foi responsável pelo rendimento máximo de vagens (23,0 t/ha). Elevação na produtividade do tomateiro e da alface, com o emprego de esterco caprino como fonte de matéria orgânica, foi retratada de forma positiva por Ferreira et al. (1993) e por Leal & Souza (1992), respectivamente, com o emprego de 20 t/ ha de esterco caprino. Não obstante, elevação no rendimento de sementes no feijão-vagem empregando o esterco caprino como fonte de matéria orgânica, foi verificado por Alves (1999). A correlação significativa positiva entre o comprimento e o rendimento de vagens (0,84**) e o baixo valor verificado para a correlação entre o rendimento e o peso médio de vagens (0,42*), indicam que o rendimento do feijão-vagem, foi função do comprimento de vagens e não foi influenciado pelo seu peso médio. Os rendimentos máximos de vagens obtidos pelo uso do esterco de galinha (26,9 t/ha), e de esterco bovino (30,3 t/ ha), superaram a média nacional que, Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Característica e rendimento de vagem do feijão-vagem em função de fontes e doses de matéria orgânica. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. y =15,271 + 1,7748x - 0,0676x2 R 2 = 0,62* 35 Rendimento (t/ha) 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 Esterco de galinha (t/ha) Figura 4. Rendimento do feijão-vagem, em função de doses de esterco de galinha. Areia, CCA-UFPB, 1998. y = 9,0669 + 1,7884x - 0,0376x2 R 2 = 0,90* 35 Rendimento (t/ha) 30 25 20 15 10 5 0 0 10 20 30 40 Esterco bovino (t/ha) Figura 5. Rendimento do feijão-vagem, em função de doses de esterco bovino. Areia, CCAUFPB, 1998. y = 17,047 + 0,7148x - 0,0215x2 R 2 = 0,91* 30 25 Rendimento (t/ha) segundo Blanco et al. (1997), está em torno de 25,0 t/ha de vagens, em cultivares de feijão-vagem de hábito de crescimento indeterminado. Os benefícios proporcionados pela adição de esterco de galinha e de esterco bovino, possivelmente estejam relacionados ao suplemento de nutrientes de forma equilibrada permitindo ao feijão-vagem a capacidade máxima de produção de vagens, induzida pela sua constituição genética e pela condição do experimento, responsáveis pelos resultados obtidos. Segundo Primavesi (1985), o equilíbrio entre os elementos nutritivos proporcionam maiores produtividades do que maiores quantidades de macronutrientes, isoladamente. Também, acredita-se que os efeitos do esterco de galinha e do esterco bovino sobre a produtividade de vagens, devam-se não somente ao suprimento de nutrientes, mas a melhoria da estrutura do solo e o fornecimento de água, proporcionando melhor aproveitamento dos nutrientes originalmente presentes (Peavy & Greig, 1972). A ausência de resposta significativa à adubação com húmus de minhoca, pode ser atribuída à alta quantidade de nutrientes originalmente presentes no solo e às baixas concentrações de N e K na sua composição, embora contenha elevada disponibilidade de matéria orgânica. Analisando-se economicamente os resultados, a dose mais econômica de esterco de galinha e de esterco bovino foi de 11 e 23,0 t/ha, resultando num rendimento estimado de 26,3 e 30,3 t/ ha de vagens, respectivamente. A receita prevista, devido à aplicação do esterco de galinha e do esterco bovino, pode ser calculada pelo aumento de produção proporcionada pelas doses econômicas, custo do fertilizante e pela receita obtida. Igualando-se a derivada primeira a zero, pôde-se calcular o aumento de produção proporcionado por estas fontes de matéria orgânica. O esterco de galinha proporcionou um aumento de 11,3 t/ha e o esterco bovino de 21,2 t/ha de vagens. Deduzindo-se o custo de aquisição de 11 toneladas de esterco de galinha (3.300 kg de vagens) e de 23,0 toneladas de esterco bovino (1.710 kg de vagens), obteve-se um receita prevista de 8.000 e 21.000 kg/ha de vagens, para 20 15 10 5 0 0 10 20 30 40 Es terco caprino (t/ha) Figura 6. Rendimento do vagens de feijão-vagem, em função de doses de esterco caprino. Areia, CCA-UFPB, 1998 33 G.M. Santos et al. Tabela 1. Rendimento de vagens de feijão-vagem, renda bruta, custo de aplicação e receita, em função de húmus de minhoca e saldo. Areia, CCA-UFPB, 1999. Esterco caprin o (t/h a) 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Cu sto de S aldo aqu isição (R$/ha = A-B) (R$/h a = B) 17,92 7.168,00 7.168,00 19,85 7.940,00 30,00 6.740,00 24,08 9.632,00 600,00 9.032,00 19,54 7.816,00 900,00 6.916,00 10,80 4.320,00 1.200,00 3.120,00 Hú mu s de min h oca (t/h a) 18,59 7.436,00 7.436,00 27,43 3.536,00 1.200,00 2.336,00 19,56 424,00 2.400,00 -1.976,00 16,22 -948,00 3.600,00 -2.652,00 26,14 3.020,00 4.480,00 1.460,00 Ren dimen to Ren da bru ta (t/h a) (R$/h a = A) o esterco de galinha e o bovino, respectivamente. As doses mais econômicas de esterco de galinha e de bovino, estiveram próximas dos valores máximos atingidos pelo rendimento (figuras 4 e 5) e, sob o ponto de vista de rendimento, as doses econômicas de esterco de galinha e de esterco bovino, proporcionaram rendimentos de vagens acima da média nacional, indicando os benefícios do emprego destas fontes de matéria orgânica na produção de vagens no feijão-vagem. Contudo, o esterco bovino por apresentar maior rendimento e a mais elevada receita prevista deve ser recomendado como fonte de matéria orgânica de origem animal num programa de adubação orgânica para esta hortaliça. Para o esterco caprino, a relação entre esterco e rendimento de vagens, embora tenha ajustado-se a modelo quadrático, apresentou valor abaixo da média nacional, não permitindo o cálculo da sua dose mais econômica, enquanto para o húmus de minhoca não se constatou influência significativa sobre o rendimento. Portanto, estas duas fontes foram avaliadas economicamente pela diferença entre a renda bruta e o custo de aquisição, em moeda corrente (Pereira et al., 1985). Para o esterco caprino, relacionando a renda bruta com o custo dos adubos, pode-se verificar, sob o ponto de vista dos rendimentos, que nenhuma dose apresentou produtividade acima da média nacional e sob o ponto de vista econômico a aplicação 34 de 20 t/ha foi a única que apresentou saldo um pouco superior à sua ausência, enquanto para o húmus de minhoca, as doses de 10 e 40 t/ha, propiciaram rendimentos acima da média nacional (Tabela 1). Sob o ponto de vista econômico, estas doses foram as únicas que propiciaram saldos positivos, com destaque para 10 t/ha, com R$ 2.336,00/ ha, porém inferior à ausência de húmus de minhoca. Nas condições em que foi realizado a presente pesquisa, não é vantajoso o emprego do esterco caprino e do húmus de minhoca, em relação à ausência de suas aplicações e ao esterco de galinha e de bovino, caracterizandose como fontes de matéria orgânica não recomendadas para programas de produção de vagens de feijão-vagem. AGRADECIMENTOS Os autores agradecem a professora Sheila Costa de Farias pela correção do Abstract e aos agentes em Agropecuária José Ribeiro Dantas Filho, Francisco de Castro Azevedo, José Barbosa de Souza, Francisco Soares de Brito, Francisco Silva do Nascimento e Expedito de Souza Lima que viabilizaram a execução dos trabalhos de campo. LITERATURA CITADA ALVES, E.U., OLIVEIRA, A.P., GONÇALVES, P.E., COSTA, C.C. Produção e qualidade de sementes de feijão-vagem em função de doses e fontes de matéria orgânica: UFPB, 1999. 109 p. (Tese mestrado) BLANCO, M.C.S.G.; GROPPO, G.A.; TESSARIOLI NETO, J. Feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L.) Manual Técnico da Culturas, Campinas (SP), n. 8, p. 63-65, 2ª ed., 1997. CAMARGO, L.S. As hortaliças e seu cultivo. Campinas: Fundação Cargill, p. 28-29, 1984. ESPÍNOLA, J.E.F. Produção e Qualidade de raízes de Cenoura (Daucus carota L.) cultivada com húmus de minhoca e adubação mineral. Areia: UFPB, 1998. 61 p. (Tese mestrado). FERREIRA, M.E.; CASTELLANE, P.E.; CRUZ, M.C.P. Nutrição e adubação de hortaliças. Piracicaba - SP: Potafós, 1993. 487 p. FILGUEIRA, F.A.R. Manual de Olericultura: Cultura e Comercialização de Hortaliças. 2a ed. São Paulo, Agronômica Ceres, 1982. 385 p. HARA, T. Effects of nitrogen, phosphorus and potassium in culture solution on the head yield and free sugar composition of cabbage. Journal of the Japanes Society for Horticultural Science. v. 58, n. 3, p. 595 - 599, 1989. INGUE, K. Dinâmica da matéria orgânica e seus efeitos nas propriedades do solo. In: Adubação verde no Brasil, Campinas - SP: CARGILL, 1984. p. 232-267. KIMOTO, T. Nutrição e adubação de repolho, couve-flor e brócoli. In: NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE HORTALIÇAS. Jaboticabal, 1983. Anais. Jaboticabal, UNESP., p. 149-178, 1993. LEAL, F.R.; SOUZA, R.M. Efeitos de diferentes níveis de esterco de caprinos, isolados e combinados com NPK na produção de alface, cv. Babá de Verão. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 10, n. 1, p. 58, 1992. LUND, Z.F.; DOSS, B.D. Residual effects of dairy cattle manure on plant growth and soil properties. Agronomy Journal, v. 72, n. 1, p. 123 -130, 1980. NAKAGAWA, I.; CONCEIÇÃO, A.D. Efeito de cinco fertilizantes orgânicos na cultura do tomateiro (Lycopersicum exulentrum Mill) estaqueado II. In: EMBRAPA. Tomate:. Brasília, 1977. p. 146 (Resumo Informativo) NATALE, W.; COUTINHO, E.L.M.; BOARETTO, A.; PEREIRA, F.M. Dose mais econômica de adubo nitrogenado para a goiabeira em formação. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 14, n. 2, p. 196-199, 1996. PEAVY, W.S.E.; GREIG, J.K. Organic and mineral fertilizers compared by yield, quality and composition of spinach. Journal of American Society for Horticultural Science, v. 97, p. 718 -723, 1972. PEREIRA, E.B.; CARDOSO, A.A.; VIEIRA, C.; LOURES, E.G.; KUGIKARI, Y. Viabilidade econômica do composto orgânico na cultura do feijão. Cariacica-ES: EMCAPA, junho 1985. 4 p. (Comunicado técnico). PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo, editora Nobel, 1985, 541 p. RAIJ, B. VAN. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres/Potafós, 1991. 343 p. RICCI, M.S.F. Crescimento e teores de nutrientes em cultivares de alface (Lactuca sativa L.) adubados com vermicomposto. Viçosa: UFV, 1993. 48 p. (Dissertação mestrado). Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Característica e rendimento de vagem do feijão-vagem em função de fontes e doses de matéria orgânica. SAEG - Sistema para análise estatística, versão 4.2. Fundação Artur Bernardes, Viçosa-MG, 1997. SALEK, R.C.; ALMEIDA, D.L.; RIBEIRO, M.I.S.D. Efeito do esterco de galinha e sua associação com fertilizantes sobre a produção do tomateiro no município de Teresópolis – RJ. Niterói, PESAGRO – Rio, 1981. 3 p. (Comunicado Técnico, 70). SENO, S.; SALIBA, G.G.; PAULA, F.J. Efeito de doses de fósforo e esterco de galinha na produção do alho (Allium Sativul L). Científica, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 127 - 133, 1996. SENO, S.; SALIBA, G.G.; PAULA, F.J. Utilização de fósforo e esterco de curral na cultura do alho. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 13, n. 2, p. 196 - 199, 1995. SILVA JÚNIOR, A.A.; VIZZOTTO, V.J. Efeito da adubação mineral e orgânica sobre a produtividade e tamanho de fruto de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) Horticultura Brasileira, Brasília, v. 8, n. 1, p. 17-19, 1990. SILVA, R.M.; BRUNO, G.B.; LIMA, E.D.P.A.; LIMA, C.A.A. Efeito de diferentes fontes de matéria orgânica na cultura do tomateiro (Lycopersicum esculentum Mill.),. Agropecuária Técnica, Areia, v. 10, n. 1-2, p. 36-47, 1989. SOUZA, A.P. Efeitos de diferentes fontes de adubação orgânicos sobre a produtividade de cenoura (Daucus carota L.) Areia: UFPB, 1990. 74 p. (Monografia graduação). TIBAU, A.O. Matéria orgânica e fertilidade do solo. São Paulo: Editora Nobel, 1983. 220 p. VIGGIANO, J. Produção de Sementes de feijãovagem. In: CASTELLANE, P. D. NICOLOSI, W.M, HASEGAWA, M., coord. Produção de sementes de hortaliças. Jaboticabal-SP: Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/ Fundação de Estudos e Pesquisas em Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, 1990, p.127140. SANTOS, P.R.Z.; PEREIRA, A.S.; FREIRE C.J.S. Cultivar e adubação NPK na produção de tomate salada. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 35–39, março 2.001. Cultivar e adubação NPK na produção de tomate salada. Paulo Renato Z. Santos1; Arione S. Pereira2; Cláudio José S. Freire2 1 UFPEL – Colegiado de pós-graduação em agronomia, C. Postal 354, 96.010-900 Pelotas-RS; 2Embrapa Clima Temperado, C. Postal 403, 96.001-970 Pelotas-RS. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de cultivar, da adubação NPK e da interação desses fatores na produção de tomate salada tutorado. O experimento foi conduzido em Pelotas (RS) no ano agrícola 1995/96. Foram utilizadas cinco cultivares (Flora-Dade, Max, Empire, Pacific e Diva) e três níveis (2,0, 3,5 e 5,0 t/ha) de adubação NPK (3,6-7,2-10). Os tratamentos foram dispostos sob esquema fatorial em delineamento de blocos casualizados, com três repetições. As cultivares Empire e Pacific apresentaram frutos com maior peso médio do que Flora-Dade, Max e Diva. O número de frutos por planta aumentou com a elevação do nível de adubação de 2,0 para 3,5 t/ha, enquanto que o peso médio de frutos diminuiu, sem alterar a produção. As cultivares apresentaram resposta diferencial aos níveis de adubação, em relação ao peso médio de frutos. Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill., adubo, genótipo. Cultivar and NPK fertilization on yield of fresh market tomato. The objective of this work was to study the effect of cultivar, NPK fertilization and the interaction on yield components of fresh market tomatoes. The experiment was carried out in Pelotas, Brazil, in 1995/96 season. Five cultivars (Flora-Dade, Max, Empire, Pacific and Diva) and three fertilization levels (2.0, 3.5 and 5.0 t/ha) of NPK (3.6-7.2-10) were used. The treatments were displayed under a factorial scheme, in a randomized complete block design, with three repetitions. Empire and Pacific cultivars showed higher average fruit weight than Flora-Dade, Max and Diva. The number of fruits per plant increased with the elevation of fertilization levels from 2.0 to 3.5 t/ha, while the average fruit weight diminished, without changing yield. The cultivars showed differential response to fertilization levels, in relation to average fruit weight. Keywords: Lycopersicon esculentum Mill., fertilizer, genotype. (Aceito para publicação em 17 de janeiro de 2.001) O tomate tipo salada ocupa lugar de destaque no mercado gaúcho, ao contrário do restante do País. Em 1995, na região de Pelotas, a produção de tomate ocupou uma área de cerca de 110 ha (Universidade Católica de Pelotas, 1998). Os produtores desta região preferem as cultivares híbridas Empire e Pacific, devido ao excelente tamanho de fruto. A adubação de plantio varia de 1,5 a 2,0 t/ha das mais variadas formulações NPK (Simch, 1995), e se baseia em recomendações oriundas de outras regiões, visto que nesta não existem resultados experimentais sobre adubação em tomate tutorado. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Na região de Pelotas a recomendação de adubação para tomateiro rasteiro consiste de 100 a 120 kg/ha de N, 131 kg/ha de P e 242 kg/ha de K, para solos com baixo teor de matéria orgânica e com teores limitantes de P e K (Comissão de Fertilidade do Solo – RS/SC, 1995). Entretanto Veduim & Bartz (1998) testando diferentes níveis de adubação em tomate tutorado, em Santa Maria (RS), concluíram que a dose de máxima eficiência econômica situa-se em 2,87 vezes a recomendação da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo do RS e SC, ROLAS (Comissão de fertilidade do solo – RS/SC, 1995). Para o Estado de São Paulo, Trani et al. (1996) recomendam para tomate estaqueado (12.500 pl/ha) a calagem para elevar a saturação de bases a 80% e o teor de Mg ao mínimo de 9 mmolc/ dm3; 20 a 30 t/ha de esterco de curral bem curtido ou 5 a 8 t/ha de esterco de galinha; 60 kg/ha de N, 351 kg/ha de P e 250 kg/ha de K no plantio, para solos de “baixa fertilidade” e 63 kg/ha de N e 38 kg/ha de K em cobertura, aos 15, 30, 45 e 60 dias após o transplante. Em São Paulo, Horino et al. (1984) concluíram que as melhores doses de N, P, K, para a produção de frutos da cv. Santa Cruz Yokota foram 300, 262 e 375 kg/ha, respectivamente. 35 P.R.Z. Santos et al. Nos Estados Unidos, Smith et al. (1990) encontraram resposta em peso médio de frutos das cultivares Count II, Freedom e U.S.68, inversamente proporcional às doses de NPK, enquanto a produção total de frutos com a adubação NPK, foi significativamente superior à da testemunha. A melhor adubação foi 112 kg/ha de N, de P e de K. Na Índia, Gupta & Shukla (1977), em testes de doses de N, P e K, verificaram que o tomateiro, cv. Sioux, respondeu positivamente em produção de frutos apenas para N e P. A dose que permitiu a obtenção da produtividade máxima foi de 91,5 e 59,7 kg/ha de N e P, em 1973, e 121 e 69 kg/ha de N e P em 1974. Dois tipos de interação, envolvendo adubação têm importância na agricultura moderna, sendo que uma delas é a interação adubação x cultivar (Raij, 1991). Filgueira et al. (1995), estudando a interação entre cultivares de batatas em diferentes locais, encontraram respostas distintas das cultivares aos locais de cultivo, o que caracteriza a existência de interação. O objetivo deste trabalho foi obter informações referentes a cultivares e adubação NPK, para a cultura do tomateiro salada na região de Pelotas. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no município de Pelotas, no ano agrícola de 1995/96. O solo utilizado foi classificado como Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico, A moderado, textura argilosa (Hapludult) (Brasil, 1973). A análise do solo apresentou os seguintes resultados: argila = 18%; pH = 5,4; índice SMP = 59; M.O. = 31 g/l; P = 12,5 mg/l; K = 129 mg/l; Na = 18 mg/l; Al = 0,2 cmolc/l; Ca+Mg = 8,5 cmolc/l. A área em que foi realizado o experimento, estava em pousio há mais de dez anos. Foram estudados três níveis de adubação NPK de plantio e cinco cultivares de tomateiro. Os níveis de adubação foram: 72 kg/ha de N, 328 kg/ha de P2O5 e 240 kg/ha de K2O (nível 1), 126 kg/ha de N, 574 kg/ha de P2O5 e 420 kg/ha de K2O (nível 2), 180 kg/ha de N, 820 kg/ ha de P2O5 e 600 kg/ha de K2O (nível 3), obtidos pela aplicação de 2,0, 3,5 e 36 5,0 t/ha da formulação 3,6-7,2-10, respectivamente. O adubo foi aplicado em todas as parcelas, utilizando-se 2/3 do total quatro dias antes do transplante e o restante, vinte dias após, por ocasião da amontoa. Foram usadas quatro cultivares híbridas (Empire, Max, Pacific e Diva) e uma de polinização aberta (FloraDade). ‘Flora-Dade’ e ‘Pacific’ apresentam hábito de crescimento determinado, ‘Empire’, semi-determinado, e ‘Max’ e ‘Diva’ (longa vida), indeterminado. O experimento foi delineado em blocos casualizados, em um esquema fatorial 3 x 5, com três repetições. A semeadura foi realizada em 15 de setembro de 1995, em bandejas de isopor, e o transplante foi efetuado em 18 de outubro de 1995, quando as plantas atingiram altura igual ou superior a 10 cm. O preparo do solo teve início com uma aração, três meses antes do transplante, seguida de duas gradagens. Para a correção do solo, utilizou-se calcário da classe B. Este foi incorporado ao solo por ocasião da primeira gradagem, na dose de 4,0 t/ha. Quatro dias antes do transplante, foram abertos os sulcos e incorporados os adubos de plantio (2/3 do total). As plantas de bordadura receberam adubação equivalente ao nível mais baixo. Cada parcela foi constituída de 40 plantas, além da bordadura, sendo que apenas as 12 plantas centrais formaram a unidade de observação. As plantas foram colocadas em fileiras duplas, em espaçamentos de 0,35 x 0,70 x 1,10 m, sendo 0,35 m entre plantas, 0,70 m entre fileiras simples e 1,10 m entre fileiras duplas. Os demais tratos culturais (irrigação, desbrota, tutoramento, controle de invasoras, controle de pragas e de doenças) foram realizados quando se fizeram necessários, sendo uniformes em todas as parcelas e de acordo com as práticas usadas em lavouras comerciais da região. A adubação de cobertura foi de 357 kg/ha de N e 297 kg/ha de K2O (mistura de sulfato de amônia e cloreto de potássio), parcelada em três aplicações aos 25, 50 e 75 dias após a amontoa, e mais uma aplicação de 793 kg/ha de nitrato de cálcio, 100 dias após a amontoa. A colheita foi iniciada em 26 de dezembro, sendo realizada duas vezes por semana, durante 86 dias. Os frutos de cada parcela foram colhidos, classifica- dos, contados e pesados. Frutos com diâmetro superior a 50 mm foram considerados como comerciais. Os tratamentos foram avaliados pelas variáveis produção e número de frutos total e comercial. Calculou-se, ainda, a partir desses dados, o peso médio de frutos, total e comercial. A análise estatística compreendeu a análise de variância, pelo teste F, e a comparação de médias, pelo teste de Duncan, ao nível de 5%. Efetuou-se, também, a análise de adaptabilidade das cultivares aos níveis de adubação, através do método de Eberhart & Russel (1966). RESULTADOS E DISCUSSÃO A análise da variância revelou efeito significativo dos fatores cultivar e adubo, para número total e comercial de frutos e peso médio total e comercial de frutos. A interação cultivar x adubo foi significativa somente para o peso médio de frutos (total e comercial). O fator cultivar mostrou efeito significativo ainda para produção total e comercial. O número total e comercial de frutos por planta não diferiu estatisticamente entre os níveis de 3,5 e 5,0 t/ha de adubo, entretanto foi superior ao nível de 2,0 t/ha de adubo (Tabela 1). Isto pode ser explicado pelo fato das parcelas que receberam níveis mais altos de adubo terem apresentado um maior crescimento vegetativo, possibilitando a formação de maior número de inflorescências por planta e, consequentemente um maior número de frutos. As cultivares tiveram comportamentos distintos no que se refere aos números total e comercial de frutos. ‘Diva’ apresentou maior número de frutos total e comercial, seguida por ‘Max’ e ‘FloraDade’. ‘Empire’ e ‘Pacific’ apresentaram menor número de frutos total e comercial, não diferindo entre si (Tabela 1). ‘Max’ foi estatisticamente superior a ‘Pacific’, ‘Diva’ e ‘Flora-Dade’ em produtividade total e comercial, porém não diferiu de ‘Empire’. As cultivares Empire e Pacific, que são as mais plantadas na região de Pelotas, não diferiram entre si, quanto à produtividade comercial, com valores de 131,6 t/ha e 121,2 t/ha, respectivamente (Tabela 1). Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Cultivar e adubação NPK na produção de tomate salada. Tabela 1. Número de frutos comerciais por planta e produtividade comercial de cinco cultivares de tomate salada tutorado, em função de três níveis de adubação NPK (3,6-7,2-10). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 1996. Nú mero de fru tos comerciais por plan ta Cu ltivar Nível de adu bação (kg/h a) 2, 0 3, 5 B 30,0 a* Max 25,9 b A 28,6 b A Flora-Dade 21,6 c B Empire 18,4 c A 19,5 c A Pacific 18,2 c A Média 22,8 B 34,6 a Média 5, 0 Diva A AB Nível de adu bação (kg/h a) 2, 0 3, 5 Média 5, 0 31,9 a 120,3 ab A 127,4 ab A 119,5 ab A 122,4 bc 28,9 ab A 27,8 b 136,3 a 143,1 a A 137,6 a 25,0 b AB 26,9 b A 24,5 c 108,5 b* A 120,1 b A 128,3 a A 119,0 20,4 c A 19,4 d 127,4 ab A 135,4 ab A 132,2 a A 131,6 ab 18,8 c A 16,3 dA 17,8 d 128,7 ab A 132,7 ab A 102,2 b B 121,2 bc 25,3 24,7 A 24,3 124,2 131,7 126,4 A 31,1 a P rodu tividade comercial de fru tos (t/h a) A A 133,5 a A A 123,1 A c */ Médias seguidas das mesmas letras, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. A análise de variância para produção total e comercial revelou efeito significativo somente para cultivar, mostrando que os genótipos estudados apresentaram diferentes necessidades nutricionais, em função, talvez de seu teto de produtividade. A resposta não significativa, na produtividade, para doses de adubo pode ser explicada pelo fato de que os níveis testados no experimento são bem superiores à atual recomendação para a cultura no Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Comissão de fertilidade do solo – RS/SC, 1995). Deve também ser considerado que o nível de fertilidade da área experimental foi considerado de satisfatório a bom, de acordo com os critérios de interpretação da análise do solo. Por fim, cabe lembrar que todas as parcelas experimentais receberam em cobertura, formulações contendo N e K. Portanto, a diferença esperada na produtividade seria devido ao P, já que os outros dois nutrientes, pelos teores iniciais e ao adicionado em cobertura, não deveriam limitar a produtividade. Os dados mostram que a dose mais baixa de P já foi suficiente para se obter a máxima produtividade. Se tivesse sido usada uma testemunha sem fertilizante, provavelmente, a resposta seria outra. A resposta não significativa para adubação, em relação à produção total e comercial de frutos (Tabela 1), está em concordância com resultados obtidos por diversos autores (Maschio & Souza, 1982; Baungartner et al., 1988). Entretanto outros autores (Smith et al., 1990; Faria & Pereira, 1993) encontraram resposta a níveis crescentes de adubação NPK. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Estes resultados sugerem que para solos com características semelhantes ao usado neste experimento podem ser usadas como adubação de base as doses de 72 kg/ha de N, 328 kg/ha de P2O5 e 240 kg/ha de K2O (2,0 t/ha da formulação 3,6-16,4-12). Essa dose é comumente utilizada pelos tomaticultores da região (Simch, 1995). No entanto, é muito inferior à recomendada por Stevens (1997) para o RS, baseado em dados empíricos e, às recomendações para tomate tutorado em São Paulo (Trani, 1996) e para o Centro-Sul do Brasil (Filgueira, 1982). Comparando-se com a recomendação da ROLAS, verifica-se que essa dose é alta. A recomendação seria de 65 e 100 kg/ha de P e K, respectivamente. Cabe ressaltar, entretanto, que a recomendação da ROLAS é baseada na cultura de tomate rasteiro, que utiliza o menor nível tecnológico, requerendo menor quantidade de nutrientes. As médias de produção total e comercial de frutos (137,3 t/ha e 126,4 t/ ha, respectivamente) obtidas neste trabalho demonstram que a cultura tem um potencial produtivo bem maior que a produção média (60 t/ha) obtida na região de Pelotas (Universidade Católica de Pelotas, 1998), sendo bastante superior, entretanto, à média nacional (43,8 t/ha) e do Rio Grande do Sul (31,8 t/ha) (Anuário Estatístico do Brasil, 1996). As cultivares Max, Empire e Pacific tiveram pesos médios total e comercial de frutos diminuídos com o incremento na quantidade de adubo de 2,0 para 5,0 t/ha, concordando com os resultados obtidos por Gupta & Shukla (1977), para NP, Maschio & Souza (1982), para PK, e Smith et al. (1990), para NPK. As cultivares Empire e Pacific destacaram-se com relação ao peso médio de frutos (total e comercial), sendo estatisticamente superiores às demais. ‘FloraDade’ e ‘Max’ apresentaram comportamento intermediário. Entre as cultivares testadas, Diva foi a que apresentou menor peso médio total e comercial. O peso médio dos frutos das cultivares Empire e Pacific observado neste trabalho é um pouco inferior aos relatados por Peixoto et al. (1996), para a cultivar Empire, no Triângulo Mineiro, e por Silva Júnior et al. (1995), para a cultivar Pacific, no Litoral Catarinense. Os resultados de número de frutos (Tabela 1) e de peso médio (Tabelas 2) mostram que houve diferenças entre as cultivares, independente do nível de adubação, sugerindo que essas são características próprias de cada cultivar. No entanto, cultivares que produzem grande número de frutos, apresentam também menor peso médio, confirmando os resultados de Maschio & Souza (1982). Valores semelhantes foram obtidos por Postingher (1995), em Pelotas, com médias entre 27,5 e 29,2 frutos por planta, para cultivares de hábito de crescimento indeterminado. O peso médio de frutos é uma característica importante, pois o principal critério de classificação do tomate é baseado no tamanho. Produzindo frutos de tamanho reduzido, o tomaticultor tem dificuldade em colocar o produto no mercado, de forma competitiva. Como a interação cultivar x adubo foi significativa para a variável peso médio de frutos, realizou-se análise de adaptabilidade, pelo método de Eberhart 37 P.R.Z. Santos et al. Tabela 2. Peso médio total e de frutos comerciais de cinco cultivares de tomate salada tutorado, em função três níveis de adubação NPK (3,6-7,2-10). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 1996. P eso médio total (g/fru to) Cu ltivar Nível de adu bação (kg/h a) 2, 0 3, 5 Média 5, 0 Flora-Dade 142, b* A 135, b A Max 152, b A 144, b AB 134, b P eso médio de fru tos comerciais (g/fru to) 134, b A B Nível de adu bação (kg/h a) 2, 0 3, 5 Média 5, 0 137, b 158, b A 150, b A 143, b 166, b A 158, b AB 146, b B 150, b A 153, b 157, b Empire 200, a A 196, a A 180, a B 192, a 218, a A 217, a A 204, a B 213, a Pacific 207, a A 202, a A 171, a B 193, a 222, a* A 222, a A 197, a B 214, a Diva 116, 111, c 126, c A 115, c A c A 106, cA 111, cA 122, c A 121, c Média 163, A 157, B 146, C 155, 178, A 172, B 164, C 171, */ Médias seguidas das mesmas letras, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. Tabela 3. Análise de adaptabilidade, quanto ao peso médio de frutos (g/fruto), de cinco cultivares de tomate salada tutorado, em função do uso de três níveis de adubação NPK (3,67,2-10). Pelotas, Embrapa Clima Temperado, 1996. Cu ltivar Pacific Empire Max Flora-Dade Diva P eso médio Média 193,6 192,0 143,4 136,9 110,7 total b* 2,07 1,17 1,05 0,47 0,57 P eso médio comercial Média b 213,8 1,77 213,3 0,98 156,4 1,42 152,6 0,54 121,0 0,79 */ Coeficiente de regressão linear obtido da regressão da média de peso médio de frutos das cultivares na média de peso médio de frutos dos níveis de adubação para cada cultivar (b > 1 significa adaptação restrita aos níveis baixos de adubação; b < 1 indica adaptação aos níveis altos de adubação; b = 1,0 indica adaptação ampla aos diferentes níveis de adubação). & Russel (1966). Nesta análise de regressão, o coeficiente (b) indica a resposta dos genótipos a condições do ambiente. Para cada cultivar, foi calculada a regressão linear do peso médio de frutos em relação à média de peso de frutos de todas as cultivares (Tabela 3). ‘Pacific’ apresentou b > 1, que indica adaptação restrita aos níveis baixos de adubação. ‘Flora-Dade’ e ‘Diva’ (b < 1) mostraram-se mais adaptadas a doses altas de adubação. Estes genótipos não foram afetados de modo significativo no peso médio com o aumento dos níveis de adubação. A cultivar Empire, para peso médio total e comercial, e Max, para peso médio total, apresentaram valores de b muito próximos à unidade, sugerindo ampla adaptabilidade às diferentes doses de adubo (Tabela 3). Os resultados envolvendo ‘Pacific’, melhor adaptada a níveis mais baixos de adubação, e ‘Empire’, de ampla adaptabilidade, explicam o bom desempenho 38 dessas cultivares na região de Pelotas, onde se utiliza níveis de adubação de baixos a médios, quando comparados aos níveis testados neste trabalho. Nas condições do presente trabalho, as cultivares Empire e Pacific foram superiores à Flora-Dade, Max e Diva, quanto ao peso médio total e comercial de frutos. O número de tomates produzido por planta aumentou com o nível de adubação, enquanto que o peso médio de frutos diminuiu, porém sem alterar a produção. As cultivares apresentaram resposta diferencial aos níveis de adubação para peso médio de frutos. LITERATURA CITADA ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro: IBGE, v. 56, 1996. BAUNGARTNER, J.G.; HAAG, H.P.; OLIVEIRA, G.D.; PERECIN, D. Tolerância de cultivares de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) ao alumínio e ao manganês. In: HAAG, H.P.; MINAMI, K. Nutrição mineral em hortaliças. Campinas: Fundação Cargill, 1988. 538 p. BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Rio Grande do Sul. Recife: 1973. 431 p. (Boletim Técnico, 30). COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC. Recomendações de adubação e calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Passo Fundo: SBCS, 1995. 224 p. EBERHART, S.A.; RUSSEL, W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, v. 6, p. 36-40, 1966. FARIA, C.M.B.; PEREIRA, J.R. Movimento do fósforo no solo e seu modo de aplicação no tomateiro rasteiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 28, p. 1363-1370, 1993. FILGUEIRA, F.A.R. Manual de Olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. São Paulo: Agronômica Ceres, v. 2, 1982. 357 p. FILGUEIRA, R.A.R.; BANZATTO, D.A.; CHURATA-MASCA, M.G.C.; CASTELLANE, P.D. Interação genótipo x ambiente em batata. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 13, n. 2, p. 134-141, nov. 1995. GUPTA, A.; SHUKLA, V. Response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to plant spacing, nitrogen, phosphorus and potassium fertilization. Indian Journal of Horticulture, Bangalore, v. 34, p. 270-276, 1977. HORINO, Y.; SHIROZU, R.; SHIROSE, I. Ensaio de níveis de adubação para tomateiro em Itapetininga – SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 24, 1984, Jaboticabal. Resumos... Jaboticabal: FCAV, 1984. p. 8. MASCHIO, L.M.A.; SOUZA, G.F. Adubação básica, nitrogênio em cobertura. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 17, p. 1309-1315, 1982. PEIXOTO, J.R.; FARIA, V.R.C.A.; RODRIGUES, F.A.; SILVA, R.P.; RAMOS, R.S.; JULIATTI, F.C. Avaliação de genótipos de tomate tipo “salada”, no período das águas, em Araguari - MG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 36, 1996, Rio de Janeiro. Resumos... Brasília: Horticultura Brasileira, Brasília, 1996, v. 14, n. 1, p. 106. POSTINGHER, D. Respostas agronômicas e consumo hídrico da cultura do tomateiro cultivado em estufa plástica. Pelotas: UFPEL, 1995. 59 p. (Dissertação mestrado). RAIJ, B. VAN. Fertilidade do solo e adubação. São Paulo: Ceres/Potafos, 1991. 343 p. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Cultivar e adubação NPK na produção de tomate salada. SILVA JUNIOR, A.A.; VIZZOTTO, V.J.; STUKER, H. Cultivares de tomate para o Baixo Vale do Itajaí. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 8, n. 4, p. 35-39, 1995. SIMCH, T.L. Produção e comercialização de tomate tipo salada em Pelotas, RS. Pelotas: UFPEL, 1995. 76 p. (Dissertação mestrado). SMITH, C.B.; DEMCHAK, K.T.; FERRETI, P.A. Fertilizer placement effects on growth and nutrient uptake on sweet corn, snapbeans, tomatoes and cabbage. Communications in soil science and plant analysis, New York, v. 21, p. 107-123, 1990. STEVENS, J. A cultura do tomate tutorado. Palestra apresentada para produtores da Colônia Santa Helena, Pelotas. 25/Julho/1997. TRANI, P.E.; NAGAI H.; PASSOS, F.A. Tomate (estaqueado). In: RAIJ, B. VAN; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.; FURLANI, A.M.C. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2 ed. Campinas: IAC, 1996. p. 184, 285 p. (Boletim Técnico, 100). UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS. Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria. Banco de dados da Zona Sul – RS. Pelotas: EDUCAT, n. 9, 1998. 209 p. VEDUIM, J.V.R.; BARTZ, H.R. Fertilidade do solo e rendimento do tomateiro em estufa de plástico. Ciência Rural, Santa Maria, v. 28, n. 2, p. 229-233, 1998. MODOLO, V.A.; TESSARIOLI NETO, J.; ORTIGOZZA, L.E.R. Produção de frutos de quiabeiro a partir de mudas produzidas em diferentes tipos de bandejas e substratos. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 39-42, março 2.001. Produção de frutos de quiabeiro a partir de mudas produzidas em diferentes tipos de bandejas e substratos1 . Valéria A. Modolo; João Tessarioli Neto; Luís Enrique R. Ortigozza ESALQ, C. Postal 9, 13.418-900, Piracicaba - SP. E.mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Com o objetivo de avaliar a produção comercial de frutos de quiabeiro a partir de plantas originadas do transplante de mudas, instalou-se um experimento na ESALQ em Piracicaba. Na produção de mudas, que ocorreu em ambiente protegido, foram utilizados três tipos de bandeja, que diferiam entre si pela altura e volume das células, associadas a quatro diferentes substratos, que eram variações de uma mistura comercial (denominada GII). O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, no esquema fatorial 3x4 (três tipos de bandeja e quatro variações do substrato), perfazendo um total de doze tratamentos. Foram transplantadas 30 mudas/tratamento, obedecendo ao espaçamento de 0,5x1,0 m. Cada parcela experimental foi constituída por cinco fileiras de 3,0 m de comprimento totalizando a área de 15 m2. A colheita foi iniciada 49 dias após o transplante, sendo colhidos frutos de tamanho comercial (8 – 10 cm de comprimento) das doze plantas centrais. Foram avaliados número e peso total dos frutos. Foi observada maior produtividade em plantas originadas de mudas provenientes das bandejas de maior tamanho, independentemente do substrato utilizado. A menor produtividade ocorreu quando no substrato foi adicionado casca de arroz carbonizada na proporção 1:1 ao produto comercial GII, independentemente do tipo de bandeja utilizada. Influence of different tray cell sizes and substrates on the production of okra plantlets and fruits. This study proposed to evaluate the production of okra fields established by using seedling transplant. The experiment was carried out in a greenhouse at the Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” in São Paulo, Brazil. Trays with different cell size were used in the okra seedling production. The substrates used were a blend of a commercial mixture (Gioplanta). A completely randomized block design, with 3 x 4 factorial arrangement (3 types of trays and 4 different substrates) was used, in a total of 12 treatments. In the field 30 seedlings per each treatment were transplanted using 1,0 m between rows and 0,5 m within each plant in the row. Each plot was constituted by 5 rows of 3,0 m and area of 15 m2. Commercial fruits size (8 – 10 cm length) were harvested from the 12 central plants 49 days after seedling transplanting. Number and fruit weight were evaluated. In the field the plants grown in largest cell volume produced more fruits than plants from small cell volume, regardless of the substrate. The lowest yield was obtained when GII and carbonized rice hulls were mixed (1:1) in the seedling production, independently of the tray type used. Palavras-chave: Abelmoschus esculentus, transplante, recipientes, substrato. Keywords: Abelmoschus esculentus, transplant, container, substrate. (Aceito para publicação em 19 de janeiro de 2.001) O cultivo do quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) é realizado predominantemente, por meio de semeadura direta, onde são colocadas de quatro a cinco sementes/cova (Minami et al., 1997) ou até mesmo de cinco a oito, conforme as recomendações técnicas para o Estado de São Paulo (Jorge 1 et al., 1990), consumindo assim de 4 a 8 kg de sementes/ha. Este gasto excessivo de sementes deve-se ao fato destas apresentarem dormência devido à impermeabilidade do tegumento (Medina, 1971), que promove uma germinação desuniforme e demorada. Este fato é acentuado quando a semente pos- sui menos de 12% de umidade relativa, o que pode ocorrer quando é submetida a um período de secagem muito prolongada ou armazenamento em local com umidade relativa inferior a 60% (Minami et al., 1997). Outro fator importante no início do cultivo é a exigência de temperaturas elevadas, pois a tem- Parte da dissertação de mestrado do primeiro autor, ESALQ/USP, Piracicaba – SP. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 39 V.A. Modolo et al. peratura ótima para germinação das sementes é de 21 a 35 O C (Sementes Hortec, 1995). Dependendo da região estas condições ocorrem somente em algumas épocas do ano, o que restringe a época de plantio da cultura. A produção de mudas pode ser uma alternativa quando as sementes de uma determinada espécie ou variedade são menos vigorosas e necessitam de maiores cuidados na fase de germinação e emergência (Minami, 1995). Existem no mercado diversos modelos de bandejas de isopor com células de formas e volumes diferentes, com profundidades de 47, 60 ou 120 mm. Do mesmo modo, estão disponíveis várias formulações de substratos, produzidos especialmente para a produção de mudas olerícolas. Porém, o estudo do volume e da altura adequada do recipiente, assim como do substrato para cada espécie é de grande importância para que não ocorram prejuízos no desenvolvimento da cultura após o transplante, bem como na sua produção. Estudos realizados por Ruff et al. (1987) mostraram que houve redução no desenvolvimento e alterações na morfologia do sistema radicular de plantas de tomate quando estas foram produzidas em diferentes tipos de recipiente. Weston & Zandstra (1986), avaliaram diversos tamanhos de bandejas na produção de mudas de tomate e verificaram que após o transplante das mudas para o campo, plantas provenientes de mudas formadas em bandejas com célula de maior volume começavam a produzir mais cedo que aquelas provenientes de células de menor volume, não havendo porém diferença entre as produções totais. Isto foi atribuído ao menor trauma sofrido pelas raízes durante o transplante, pois as plantas originadas de células maiores apresentavam sistema radicular mais desenvolvido. Em berinjela, além da precocidade de produção, houve diferença na produtividade pois as mudas provenientes de células maiores apresentaram aumento na produção (Gorski & Wertz, 1985). Nicklow & Minges (1963) e Knavel (1965) verificaram que mudas provenientes de células de maior volume apresentavam mais folhas, maior taxa de desenvolvimento após o transplante e preco40 cidade na produção. Verifica-se portanto, que a interferência do tamanho do recipiente na produtividade pode variar de acordo com a hortaliça considerada. O objetivo deste experimento foi avaliar a produção de frutos de quiabeiro a partir de mudas produzidas em três tipos de bandejas e quatro tipos de substrato. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Para a produção de mudas de quiabeiro cultivar Santa Cruz - 47, em ambiente protegido, foram utilizadas bandejas de isopor de três tipos: T1 (72 cm3 de volume, 12 cm de altura e 128 células); T2 (36 cm3 de volume, 6 cm de altura e 128 células) e T3 (16 cm3 de volume, 4,7 cm de altura e 200 células), associadas a quatro substratos constituídos basicamente de uma formulação comercial, denominada pelo fabricante como GII (Gioplanta - Comércio e Representação Agrícola Ltda.) e composto pela mistura de casca de pinus compostada, casca de arroz carbonizada, vermiculita grossa número doze, calcário dolomítico e uma adubação básica composta por fertilizante 4-148, FTE-BR9 e Superfosfato Simples. Nesta formulação foram feitas diferentes associações com outros materiais e/ ou com suplementação de adubação. O substrato denominado A foi composto somente da formulação do fabricante. Para aquele denominado B, na formulação do fabricante foram acrescentadas suplementações minerais durante a formação da muda. Para o substrato C foi encomendado ao fabricante o produto GII sem a adubação básica e também foram realizadas as suplementações minerais, semelhante ao substrato B. No substrato D foi adicionada casca de arroz carbonizada na proporção 1:1 ao produto comercial GII e suplementação mineral durante a formação da muda. Estas suplementações adotadas nos substratos B, C e D consistiram da aplicação de 300 ml/bandeja do adubo solúvel Petters, na concentração 1 g/l em intervalo de 6 dias. A composição de elementos deste adubo é: 20% N; 10% P; 20% K; 0,15% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,1% Fe; 0,056% Mn; 0,01% Mo e 0,0162% Zn. A semeadura ocorreu em 09/02/1997 e o transplante das mudas após 31 dias, adotando-se o espaçamento de 0,5 m entre plantas e 1,0 m entre linhas. Segundo Vidal-Torrado & Sparovek (1993), o solo desta área é descrito como Terra Roxa Estruturada Eutrófica A moderado textura argilosa sobre muito argilosa, correspondente ao Kandiudalfic Eutrudox. Nas primeiras semanas após o transplante, a irrigação por aspersão foi realizada quase que diariamente e após o pegamento das mudas no campo estas foram realizadas em intervalos maiores (duas a três vezes por semana). A adubação de cobertura foi realizada aos 30 e 60 dias após o transplante, empregando-se 10 g/planta de nitrocálcio. Efetuou-se o controle de pragas e doenças conforme necessário e para o controle de plantas daninhas foram realizadas capinas manuais, com intervalo de aproximadamente quinze dias, durante todo o ciclo da cultura. O delineamento experimental foi blocos ao acaso no esquema fatorial 3 x 4. Os tratamentos consistiram da combinação dos quatro diferentes substratos (A, B, C e D) aos três tipos de bandeja (T1, T2 e T3). Cada parcela foi composta por 30 mudas numa área de 15 m2 (5 fileiras com 6 plantas). Como área útil foram consideradas as doze plantas centrais desprezando-se as linhas laterais como bordadura. Os critérios de avaliação foram número e peso total dos frutos por planta. Foram efetuadas sete colheitas sendo a primeira aos 49 dias após o transplante das mudas para o campo, quando os frutos apresentavam padrão comercial, ou seja, 8 a 10 cm de comprimento. Os frutos de cada parcela foram contados e pesados em balança de precisão e as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com Gomes (1990). Na análise dos dados utilizou-se o programa computacional SAS (Statistical Analysis System Institute, 1985). RESULTADOS E DISCUSSÃO As plantas originadas das mudas provenientes das bandejas com células de maior volume (T1 e T2), produziram Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Produção de frutos de quiabeiro a partir de mudas produzidas em diferentes tipos de bandejas e substratos. maior quantidade de frutos que aquelas provenientes de bandeja com células de menor volume (T3), independentemente do substrato utilizado (Tabela 1). As mudas produzidas na bandeja com células de volume intermediário (T2) não diferiram daquelas produzidas nas demais bandejas. O mesmo comportamento que ocorreu com a produção em número de frutos foi verificado também para a produção em peso (Tabela 2). Estes resultados estão em concordancia com aqueles obtidos por Gorski & Wertz (1985) em berinjela, onde também houve diferença na produção de frutos quando as mudas transplantadas eram provenientes de bandejas com células de maior volume. Weston & Zandstra (1986), não observaram este comportamento na cultura do tomate. Estes autores constataram que as plantas provenientes de bandejas cujo volume de célula era maior começaram a produzir mais cedo, entretanto, não diferiram na produção total. Sendo assim, a interferência do tamanho do recipiente na produtividade pode variar de acordo com a hortaliça. É importante ressaltar que antes do transplante, ao se comparar os doze tipos de mudas estudadas, constatou-se que aquelas produzidas na bandeja de maior volume celular (T1) apresentaram maior desenvolvimento. É possível que estas mudas pudessem ter sido transplantadas mais cedo, considerando-se que após o transplante houve um certo índice de tombamento que pode ser devido ao tamanho da muda no momento do transplante. Quanto aos substratos pode-se observar que aquelas mudas formadas utilizando casca de arroz carbonizada, na proporção 1:1, originaram plantas que produziram menor quantidade em peso e em número de frutos, independentemente do tipo de bandeja (Tabelas 1 e 2). Também foi observado que além do substrato D ter proporcionado mudas de menor tamanho, no momento do transplante houve dificuldade na retirada destas mudas das bandejas, pois não houve formação de torrão. Os demais substratos não diferiram entre si. Como informação complementar, observou-se que o sistema de produção de mudas em bandeja, de uma forma geral, possibilita maior uniformidade de germiHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabela 1. Número total de frutos/planta de quiabeiro, referentes às mudas formadas em diferentes tipos de bandejas e substratos. Piracicaba, ESALQ, 1997. S u bstratos2 A B C D Média3 T1 55,66 58,16 50,95 43,00 51,19 A Ban dejas1 T2 50,05 43,86 54,66 36,14 46,18 AB T3 42,63 41,50 44,89 34,99 41,00 B Média3 48,45 a 47,84 a 50,17 a 38,04 b 1 T1, T2, T3: bandejas com 128 células e 72 cm3 de volume; 128 células e 36 cm3 de volume e 200 células e 4,7 cm3 de volume, respectivamente. 2 A, B, C e D: substratos compostos pela formulação GII; formulação GII + suplementação mineral; formulação GII sem adubação básica do fabricante + suplementação mineral; formulação GII + casca de arroz carbonizada na proproção 1:1 + suplementação mineral, respectivamente. 3 Médias seguidas por letras diferentes, maiúscula na linha e minúscula na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. CV = 14, 45% Tabela 2. Produção total (em gramas), de frutos/planta de quiabeiro referentes às mudas formadas em diferentes tipos de bandejas e substratos. Piracicaba, ESALQ, 1997. S u bstratos2 A B C D Média T1 819,79 927,03 831,42 683,69 815,48 A Ban dejas1 T2 921,42 686,29 884,94 598,60 772,81 AB T3 727,22 661,94 700,23 565,58 663,74 B Média3 822,80 a 758,42 a 805,53 a 615,96 b 1 T1, T2, T3: bandejas com 128 células e 72 cm3 de volume; 128 células e 36 cm3 de volume e 200 células e 4,7 cm3 de volume, respectivamente. 2 A, B, C e D: substratos compostos pela formulação GII; formulação GII + suplementação mineral; formulação GII sem adubação básica do fabricante + suplementação mineral; formulação GII + casca de arroz carbonizada na proproção 1:1 + suplementação mineral, respectivamente. 3 Médias seguidas por letras diferentes, maiúscula na linha e minúscula na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. CV = 16, 91% nação, diminuindo assim os problemas de dormência das sementes de quiabeiro. LITERATURA CITADA GOMES, F.P. Curso de estatística experimental. 13ª ed. São Paulo: Nobel, 1990. 467 p. GORSKI, S.F.; WERTZ, M.K. Eggplant and tomato: a study on the effects of transplant root volume on yield. Ohio State University, 1985. (Circ., 288). JORGE, J.A.; LOURENÇÃO, A.L.; ARANHA, C. (Ed) Instruções Agrícolas para o Estado de São Paulo. 5 ed. Campinas: Instituto Agronômico, 1990. 233 p. (IAC. Boletim Técnico 200). KNAVEL, D.E. Influence of container, container size and spacing on growth of transplant and yields in tomato. Proceedings of the American Society for Horticultural Science, v. 86, p. 583586, 1965. MEDINA, P.V.L. Efeito da profundidade de plantio, tipo de leito, modo de semeadura e pré-tratamento na germinação do quiabeiro (Hibiscus esculentus L.). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1971. 42 p. (Tese mestrado). MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade. São Paulo: T.A. Queiroz, 1995. 128 p. MINAMI, K.; MODOLO, V.A.; ZANIN, A.C.W.; TESSARIOLI NETO, J. Cultura do quiabeiro: técnicas simples para hortaliça resistente ao calor. Piracicaba: ESALQ/DIB, 1997. 36 p. (Séria Produtor Rural, 3). NICKLOW, C.W.; MINGES, P.A. Plant growing factors infuencing the field performance of the Fireball tomato variety. Proceedings of the American Society for Horticultural Science, v. 50, n. 2, p. 261-266, 1963. RUFF, M.; KRIZEK, D.; MIRECKI, R.; INOUYE, D. Restricted root zone volume: Influence on growth and development of tomato. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 112, n. 5, p. 763-769, 1987. 41 V.A. Modolo et al. SAS INSTITUTE. SAS user’s guide: statistics. 5ª ed. Cary, 1985. 958p. SEMENTES HORTEC. Catálogo de sementes de hortaliças. São Paulo, 1995. 47p. VIDAL-TORRADO, P.; SPAROVEK, G. Mapa pedológico detalhado do Campus “Luiz de Queiroz”, ESALQ/USP. Piracicaba: ESALQ, 1993. Escala 1:10.000. WESTON, L.A.; ZANDSTRA, B.H. Effect of root container size and location of production on growth and yield of tomato transplant. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 111, n. 4, p. 498-501, 1986. MENEZES, J.B.; GOMES JUNIOR, J.; ARAÚJO NETO, S.E.; SIMÕES, A.N. Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1 p. 42-49, março, 2.001. Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. Josivan B. Menezes; Julio Gomes Junior; Sebastião E. Araújo. Neto; Adriano do N. Simões ESAM; Km 47, BR 110, Costa e Silva, C. Postal 137 59.625-900 Mossoró-RN. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Com o objetivo de avaliar a qualidade pós-colheita de dois genótipos de melão amarelo (TSX 32096 e SUNEX 7057) armazenados sob condições ambiente (30,0 ± 1°C e 50,0 ± 5% de umidade relativa), instalou-se experimento em Mossoró (RN), com frutos provenientes do Agropólo Mossoró – Assu, (RN). O clima dessa região é quente e seco, com precipitação pluviométrica de 423 mm, temperatura máxima e mínima de 33 e 29°C, respectivamente. O solo da área experimental é do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo Equivalente Eutrófico. Os frutos foram colhidos nas primeiras horas da manhã no estádio de maturação comercial. Imediatamente após a colheita e seleção (frutos com boas características externas de qualidade) os melões foram embalados e transportados para o Laboratório de Análises de Frutos e Hortaliças do Departamento de Química e Tecnologia da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, onde foram armazenados à temperatura de 30,0 ± 1°C e 50,0 ± 5% de umidade relativa por até 49 dias. As avaliações foram feitas a intervalos de 7 dias. Montouse o experimento em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial do tipo 2 x 8 (genótipos x tempo de armazenamento) com 3 repetições, cada parcela composta por 3 frutos. Foram avaliadas as seguintes características: firmeza da polpa, perda de peso, aparência (externa e interna), acidez total titulável, pH, o conteúdo de sólidos solúveis totais, vitamina C total e os açúcares solúveis (redutores, não-redutores e totais). Houve interação significativa entre os fatores estudados (temperatura x tempo de armazenamento) para a firmeza da polpa, aparência interna e teor de açúcares solúveis (redutores, não-redutores e totais). Os resultados revelam aumento regular na perda de peso e um declínio na firmeza da polpa durante o período experimental. Os dois genótipos apresentaram redução na firmeza da polpa e da qualidade externa e interna até o final do período experimental, no entanto, o genótipo TSX 32096 apresentou uma firmeza de polpa mais elevada e uma melhor aparência interna. A firmeza da polpa aos 42 dias de armazenamento foi de 18,40N e 15,38N para os genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057, nesta ordem. A perda de peso aos 42 e 49 dias de armazenamento foi de 4,60% e 5,12%, respectivamente. Houve redução da acidez total titulável, do conteúdo de sólidos solúveis totais e da vitamina C total para os dois genótipos. O conteúdo de açúcares totais sofreu um acréscimo (variação de 6,8% para 8,2%) e um declínio (variação de 9,5% para 8,8%) durante o armazenamento, para os genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057, nesta ordem. De acordo com os dados, os genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057 apresentaram uma vida útil pós-colheita de 42 dias sob condições ambiente (30,0 ± 1°C e 50,0 ± 5% de umidade relativa). Storage of yellow melons, genotypes TSX 32096 and SUNEX 7057, at room temperature. Palavras-chave: Cucumis melo L., armazenamento, qualidade. Keywords: Cucumis melo L., storage, quality. The purpose of this research was to examine the postharvest quality of two yellow melon genotypes TSX 32096 and SUNEX 7057, at room temperature (30,0 ± 1°C and at relative humidity of 50,0 ± 5%). The experiment was carried out in Mossoró, Brazil, with fruits produced at Pólo Agrícola Mossoró–Assu. The region is characterized by hot dry summer with maximum and minimum temperature of 33ºC and 29ºC, respectively. Fruits were harvested at the stage of commercial maturity. Immediately after harvesting and selection (fruits presenting good external characteristics of quality) were transported to Mossoró and were stored during 49 days. The analyses were conducted at sevenday-intervals. A 2 x 8 factorial in completely randomized design with three replications was used. The factorial consisted of two genotypes (TSX 32096 and SUNEX 7057) and eight storage periods (0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49 days). The following traits were evaluated during this period: pulp firmness, weight loss, external and internal aspect, titratable acidity, pH, soluble solids contents, total vitamin C and soluble sugars (reducing, non-reducing and totals). A significant interaction was observed among the factors cultivars x time during storage for pulp firmness, internal aspect and soluble sugars (reducing, nonreducing and totals). The results of this study showed regular increase of weight loss and decline of pulp firmness during storage. The firmness of the pulp tissue and external and internal quality declined during storage for two cultivars, however, the cultivar TSX 32096 showed a significantly higher pulp firmness and better internal aspect. The values for pulp firmness at 42 days of storage was18,40 N and 15,38 N for cultivars TSX 32096 and SUNEX 7057, respectively. The weight loss observed at 42 and 49 days of storage was 4,60% and 5,12% for the two cultivars. A decline of titratable acidity, soluble solids contents and total vitamin C for two cultivars was observed. The total sugars increased (6,8% to 8,2%) and decline (9,5% to 8,8%) during fruits storage of cultivars TSX 32096 and SUNEX 7057, respectively. Fruits of TSX 32096 and SUNEX 7057 melon presented 42 days of shelf life (30,0 ± 1°C and at relative humidity of 50,0 ± 5%). (Aceito para publicação em 01 de dezembro de 2.000). O melão (Cucumis melo L.) é derivado de formas nativas encontradas na Índia (Salunke & Desai, 1984). Apresenta plantas anuais, herbáceas, 42 caule prostrado, com número de hastes e ramificações variáveis em função da cultivar (Pedrosa, 1997). Os frutos cultivados apresentam considerável varia- ção de tamanho, forma e peso; a casca pode apresentar-se lisa, enrugada, tipo “rede” ou em forma de gomos. Os frutos imaturos são normalmente verdes e Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. quando maduros mudam para amarelo, dependendo da cultivar. É uma das espécies olerícolas de maior expressão econômica e social para a região Nordeste do Brasil, gerando cerca de 20.000 a 30.000 empregos diretos, sem contar com aqueles relacionados com o transporte, comercialização e venda de insumos (Pedrosa, 1997). Esse interesse tem sido estimulado pela crescente exportação e condições ótimas de clima para o desenvolvimento dessa cultura. A alta luminosidade, os baixos índices pluviométricos (com exceção do período de janeiro a maio que é a estação chuvosa) e a baixa umidade relativa do ar, além da inexistência da mosca-das-frutas, permitem uma produção durante quase todo o ano. No Brasil, a produção de melão concentra-se na região Nordeste de modo especial nos Estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, onde 90% da área total plantada é responsável por cerca de 91% da produção nacional (Dias et al. 1998). Em 1998 as 58.900 toneladas exportadas deram ao Estado do Rio Grande do Norte o título de líder nacional, com 91% de participação no mercado, com um aumento de 34,2% em volume com relação a 1996. A qualidade de um produto agrícola (fruto ou hortaliça) pode ser definida através de critérios de qualidade. Estes incluem propriedades nutricionais (vitaminas, proteínas, carboidratos etc.), higiênicas (condição microbiológica, conteúdo de componentes tóxicos, etc.), tecnológicas (capacidade de armazenamento) e sensoriais (aparência, aroma, textura etc.). Quando se conhece o critério que caracteriza a qualidade de um produto utiliza-se métodos de mensuração que variam desde técnicas instrumentais avançadas até análise sensorial (Menezes, 1996). Em melão, o termo qualidade na précolheita tem sido relacionado a diferentes características, sendo as mais estudadas a firmeza da polpa, o conteúdo de sólidos solúveis totais (SST), a avaliação subjetiva relacionada à aparência (externa e interna), o conteúdo de açúcares solúveis (redutores, não-redutores e totais), bem como, a perda de peso e o valor nutricional (conteúdo vitamínico). Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. O conteúdo de SST, definido como a percentagem de sólidos solúveis no suco extraído da polpa, é um fator tradicionalmente usado para assegurar a qualidade do melão, embora em alguns casos seja considerado como um indicador de qualidade falho (Menezes et al., 1998b). A importância do SST na qualidade dos frutos é relatada por Cohen & Hicks (1986), que comprovaram uma forte correlação entre o SST e a aceitação, doçura e aroma. Yamaguchi et al. (1977), em estudo sobre a correlação entre análise sensorial e SST em cantaloupe, determinaram outros atributos de qualidade, tais como: firmeza da polpa, aparência (interna e externa) e compostos voláteis. A firmeza da polpa é um dos principais atributos de qualidade em frutos. Suas propriedades mecânicas de resistência dos tecidos se correlacionam com as características estruturais do conglomerado celular, sendo também um dos recursos mais utilizados no acompanhamento do amolecimento dos frutos, uma vez que sofre alterações durante este processo (Tucker, 1993), sendo uma ocorrência importante no armazenamento de frutos e hortaliças. Dos atributos de qualidade, a textura se caracteriza como um dos mais importantes, constituindo-se, portanto, em um dos desafios da fisiologia pós-colheita para manutenção da integridade dos frutos. Sob o ponto de vista de manuseio pós-colheita, a textura é essencial, em razão de frutos com maior firmeza serem mais resistentes às injúrias mecânicas durante o transporte e comercialização (Grangeiro, 1997). Mutton et al. (1981) concluíram, a partir de modelos matemáticos que o nível mínimo sugerido para a firmeza da polpa por ocasião da colheita dos melões ‘PMR 45’, ‘Goldpack’ e ‘Gulfstream’ deve estar entre 9,80 N e 19,60 N. A vitamina C é muito encontrada no reino vegetal e recebe o nome de ácido ascórbico, forma principal de atividade biológica. Ao se oxidar, o ácido ascórbico transforma-se em ácido dehidroascórbico, que também possui atividade de vitamina C. O requerimento diário do homem em vitamina C se encontra na faixa de 50 mg. O conteúdo de vitamina C total em melão é relati- vamente baixo quando comparado com outras culturas como o caju, abacaxi, manga e acerola. Os frutos constituem a fonte natural mais importante de vitamina C (ácido ascórbico) para os seres humanos, e os que se destacam pelo alto conteúdo desse ácido são: acerola, caju, mamão, goiaba, citrus, morango, manga, caqui, kiwi, maracujá e tomate (Awad, 1993). Evensen (1983) considerou o conteúdo de ácido ascórbico um importante fator de qualidade para as cultivares Superstar, Classic, Roadside, Star Headliner, Star Trek e Harvest Pride durante o armazenamento. Dhiman et al. (1995) reportaram que o teor de ácido ascórbico pode ser usado como forma de avaliar a qualidade de diferentes cultivares de melão. Kader (1992), Salunke & Desay (1984) e Cohen & Hicks (1986) levaram em consideração critérios visuais, organolépticos, texturais e nutritivos. Artés et al. (1993) ampliaram os critérios de qualidade para o melão, estudando peso, tamanho, forma, espessura da casca, proporção da porção comestível, firmeza, SST, pH, acidez total titulável, açúcares redutores e não-redutores, além do índice de formol, nutrientes minerais e velocidade de respiração. Como o consumidor não pode julgar com confiabilidade a qualidade do melão (conteúdo de açúcar) pela aparência externa, há necessidade de se introduzir padrões de mercado que servem para prevenir a venda de frutos de baixa qualidade. Isso indica que há inúmeros fatores relacionados com a qualidade pós-colheita do melão, e que o não entendimento por parte dos produtores poderá desvalorizar substancialmente o produto a nível de consumidor. Na região Nordeste há predomínio do cultivo de melão do grupo inodorus, devido ao seu maior potencial de conservação pós-colheita (25 a 30 dias) em relação às cultivares dos grupos reticulatos e cantaloupe (Souza et al., 1994), as duas últimas não alcançando quatorze dias de vida útil pós-colheita sob condições ambiente. Diversos genótipos estão sendo plantados no Rio Grande do Norte, dentre eles, o ‘Gold Mine’, ‘AF 646’, ‘AF 682’ e ‘Piel de Sapo’, todos pertencentes ao grupo inodorus. Anualmente, verifica-se a introdução de diversos genótipos de melão com o objetivo de diversificar o pro43 J.B. Menezes et al. duto a ser oferecido aos mercados interno e externo. O conhecimento sobre o comportamento pós-colheita desses novos materiais é fundamental para que o produtor possa decidir sobre a sua introdução em plantios comerciais, haja visto que os principais mercados consumidores (Região Sudeste do Brasil e Europa) necessitam que o produto apresente bom potencial de conservação póscolheita. A importância econômica da cultura tem estimulado a intensificação das pesquisas nos últimos anos sobre fisiologia, bioquímica e tecnologia pós-colheita do fruto (Menezes et al., 1997). O presente trabalho objetivou avaliar o potencial de conservação pós-colheita dos genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057 armazenados à temperatura de 30,0 ± 1°C e umidade relativa de 50,0 ± 5%, através de características representativas de qualidade. MATERIAL E MÉTODOS Os frutos foram obtidos de plantio comercial localizado no Agropólo Mossoró–Assu, (RN). O clima dessa região é quente e seco, com precipitação pluviométrica de 423 mm, temperatura máxima e mínima de 33 e 29°C, respectivamente. O solo da área experimental é do tipo Podzólico VermelhoAmarelo Equivalente Eutrófico. Colheu-se os frutos no estádio de maturação comercial, adotando-se como critério para a colheita um conteúdo mínimo de sólidos solúveis totais (SST) de 8,0% e boas características visuais (externa e internamente). Em seguida, os frutos foram conduzidos ao Laboratório de Pós-colheita de Frutos e Hortaliças do Departamento de Química e Tecnologia da ESAM, onde foram pesados, selecionados (eliminando-se os frutos portadores de imperfeições) e armazenados em uma sala com ar condicionado à temperatura de 30,0 ± 1°C e umidade relativa de 50,0 ± 5% por até 49 dias. As avaliações foram realizadas em intervalos regulares de sete dias. A perda de peso foi determinada em relação ao peso inicial dos frutos (1.997g e 1.821g para os genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057, respectivamente) por 44 ocasião da colheita e àqueles obtidos em cada intervalo de amostragem. Os resultados foram expressos em percentagem (%). Para a avaliação da firmeza da polpa, o fruto foi dividido longitudinalmente em duas partes, sendo que em cada uma das metades procedeu-se duas leituras na polpa (em regiões opostas) com penetrômetro de marca Mc Cormick modelo FT 327 com ponteira de 8 mm de diâmetro. Os resultados obtidos em libras (lbf) foram transformados para Newton (N) utilizando-se o fator de conversão 4,45. A avaliação da aparência externa e interna foi realizada utilizando-se uma escala visual e subjetiva. A escala corresponde a notas variando de 1 a 5, atribuídas por três pessoas treinadas, de acordo com a severidade dos defeitos (nota 1 = defeitos extremamente severos em mais de 50% da área do fruto; nota 2 = defeitos severos em 31 a 50% da área do fruto; nota 3 = defeitos moderados em 11 a 30% da área do fruto; nota 4 = defeitos leves em 1 a 10% da área do fruto e, nota 5 = ausência de defeitos). Considerou-se como fruto inadequado para a comercialização aquele cuja nota apresentou valor igual ou inferior a 3,0 para quaisquer das avaliações. A acidez total titulável (ATT) foi determinada em duplicata utilizando-se uma alíquota de 25 ml de suco, ao qual adicionou-se 75 ml de água destilada e 5 gotas de fenolftaleína alcoólica a 1,0%. A seguir procedeu-se a titulação até o ponto de viragem com solução de NaOH a 0,1 M, previamente padronizada. Os resultados foram expressos em percentagem de ácido cítrico, conforme metodologia proposta por Artés et al.(1993). O potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado no suco em duplicata, utilizando-se um potenciômetro digital modelo DMPH-2 Digimed. O conteúdo de sólidos solúveis totais foi determinado no suco, após homogeneização da polpa em liqüidificador doméstico e posterior filtração, por refratometria utilizando-se um refratômetro digital modelo PR-100 Palette (Attago Co., Ltd, Japan). Os resultados foram expressos em percentagem, conforme metodologia proposta por Kramer (1973). O conteúdo de vitamina C total foi determinada através da titulação com iodato de potássio e os resultados expressos em mg/100 mL de suco, conforme metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). As determinações dos açúcares solúveis totais extraídos do suco foram realizadas com o suco tendo sido mantido em freezer por um período máximo de 24 horas sendo os açúcares redutores e não redutores analisados pelo método de Somoghy-Nelson (Southgate, 1991). Os resultados foram expressos em percentagem. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 8 , onde o primeiro fator referiu-se aos genótipos (TSX 32096 e SUNEX 7057) e, o segundo, aos intervalos de armazenamento (0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49 dias). Foram utilizadas três repetições com três frutos por parcela, totalizando cento e quarenta e quatro frutos no experimento. Os resultados foram submetidos à análise de variância através do software SPSSPC (Norusis, 1990) e detectada interação significativa procedeu-se a regressão polinomial através do software Table Curve (Jandel Scientific, 1991). RESULTADOS E DISCUSSÃO Houve efeito significativo da interação (p<0,05) para as variáveis firmeza da polpa, aparência interna e açúcares solúveis (redutores, não-redutores e totais). Observou-se um decréscimo linear acentuado na firmeza da polpa para os dois genótipos (Figura 1). O genótipo TSX 32096 foi o que apresentou maior firmeza da polpa ao longo de todo período experimental, com uma firmeza média de 24,14 N, sendo 29% superior à firmeza do SUNEX 7057. A firmeza inicial foi de 32,18 amaciando acentuadamente para 16,08 N, correspondendo a uma redução de 53% na sua firmeza. O genótipo SUNEX 7057 teve uma firmeza média de 18,72 N sofrendo uma redução de 40% (23,39N a 14,04 N), do início ao final do período experimental, nesta ordem. A menor firmeza da polpa proporcionada pelo SUNEX 7057 foi provavelmente devido à características do ponto de colheita já que o TSX 32096 foi colhido num estádio em que a cor da casca se apresentava amarelo–verdosa, Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 6 5 30 25 4 20 3 15 10 2 1- Y = 32,1775 0,3281X R = 0,92* 2 2- Y = 23,3900 0,1908X R = 0,96* 2 3- Y = 1,4800 + 0,0742X R = 0,90* 5 2 0 . 35 Perda de peso (%) . 40 Firmeza da polpa (N) enquanto que o SUNEX 7057 foi colhido no estádio amarelo. Segundo Tucker (1993), a perda de turgor (desidratação dos tecidos) é um dos fatores responsáveis pelo amolecimento. Além disso a água ajuda a manter a estabillidade estrutural da parede celular (Bartley & Knee, 1982), sendo possível que a exposição dos frutos a uma temperatura mais elevada possa ter contribuído para uma ação mais intensa das enzimas envolvidas no amadurecimento. Essa redução na firmeza da polpa é uma característica geral do processo de amadurecimento em diversos frutos, inclusive melão, e também foi observado por Miccolis & Saltveit Jr (1991) em sete cultivares do mesmo grupo (inodorus). Neste experimento a firmeza da polpa reduziu-se para valores inferiores a 50 N, 60 dias após a antese. Lester & Shellie (1992) também observaram uma redução acentuada na firmeza da polpa de melões “Honey Dew” após 10 dias de armazenamento a 18ºC. Miccolis & Saltveit (1995) observaram que após três semanas de armazenamento refrigerado (7, 12 e 15ºC; UR = 90%) frutos das cvs. Honeydew, Amarelo, Juan Canary e Golden Casaba apresentaram redução na firmeza da polpa de 67, 63, 60 e 54%, respectivamente. Entretanto, nas cvs. Pacceco e Honey Loupe esta redução foi de apenas 40% e 32%, nesta ordem. Verificou-se um comportamento linear crescente na perda de peso ao longo do tempo de armazenamento; no entanto, a interação entre os fatores genótipos x tempo de armazenamento não foi significativa (Figura 1). Avaliando os coeficientes de correlação entre a perda de peso e a firmeza da polpa, percebe-se uma relação inversa, indicando que a perda de peso pode influenciar na redução da firmeza da polpa. A perda de peso atingiu valores médios de 3,30% (33 kg×t-1) com uma variação de 1,48% (14,8 kg×t-1) para 5,12% (51,2 kg×t-1) no início e aos 49 dias de armazenamento. Essa perda de peso pode ser atribuída principalmente à perda de umidade (evapotranspiração) e ao consumo de açúcares (respiração). No entanto, nesse experimento acredita-se que a perda de peso tenha sido ocasionada principalmente pelo primeiro fa- 1 0 7 14 21 28 35 42 49 Armazenamento (dias) 1- FP TSX 32096 2- FP SUNEX 7057 PP Figura 1. Efeito da duração do armazenamento em condições ambiente (T = 30,0 ± 1ºC e UR = 50,0 ± 5%) sobre a firmeza da polpa (FP) e perda de peso (PP) de melão amarelo, genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057. Mossoró, ESAM, 1998. tor (no caso do TSX 32096) e pelo segundo fator (no caso do SUNEX 7057) como pode ser notado na Figura 5. Os açucares solúveis totais tiveram um comportamento crescente e decrescente ao longo do armazenamento para os dois genótipos mencionados, nesta ordem. Os resultados obtidos neste trabalho são semelhantes àqueles obtidos por Menezes et al. (1995), em pesquisa realizada com o genótipo AF 646, em que a perda de peso atingiu valores médios de 3,60% e 6,70%, aos 25 e 45 dias de armazenamento, respectivamente. Segundo Kader (1992) a perda de peso é a causa principal de deterioração no armazenamento, resultando não apenas em uma perda quantitativa (perda de peso), o que ocasiona sérios prejuízos econômicos (normalmente os frutos são vendidos por unidade de peso), mas também em uma perda qualitativa (enrugamento, amolecimento, etc.). No entanto, a perda de peso de até 4,60% não foi suficiente para causar alguma perda na qualidade comercial dos frutos até o período de 42 dias (tempo de vida útil), a partir do qual os frutos de ambos genótipos foram afetados qualitativamente no que se refere a sua aparência externa e interna. Esses resultados são concordantes com os trabalho realizados por Gonçalves et al., (1996), em que reduções em torno de 5% no peso dos frutos de melão, não foi suficiente para causar enrugamento da casca ou afetar significativamente a aparência externa dos frutos até 45 dias de armazenamento. O comportamento da avaliação subjetiva (aparência externa e interna) pode ser visto na Figura 2. As principais características que conferiram perda da qualidade externa dos frutos foram o murchamento, o surgimento de manchas escuras devido à senescência e a fermentação, sendo mais aparentes a partir dos 42 dias de armazenamento. Miccolis & Saltveit Jr (1995) também verificaram aumento progressivo de manchas superficiais em frutos de melão armazenado a 7ºC e umidade relativa próxima de 90%. No presente trabalho, os dois genótipos apresentaram-se com boa qualidade externa até 42 dias de armazenamento, quando então começaram a surgir alguns sinais de senescência. Os genótipos alcançaram o 42º dia de armazenamento com nota média de 4,0 (parte do fruto afetada em 1 a 10%) para a aparência externa e interna. O comportamento em relação a perda da qualidade externa foi idêntico para ambos os genótipos. No que se refere à aparência interna, o genótipo SUNEX 7057 foi o mais afetado com o colapso interno da polpa já que aos 42 dias de armazenamento teve nota mé45 J.B. Menezes et al. . 6 AparŒncia (esc. 1 - 5) 5 4 3 2 1 0 0 7 14 21 28 35 42 49 Armazenamento (dias) 1- AE TSX 32096 e SUNEX 7057 2- AI TSX 32096 3 AI SUNEX 7057 Figura 2. Efeito da duração do armazenamento em condições ambiente (T = 30,0 ± 1ºC e UR = 50,0 ± 5%) sobre a aparência externa (AE) e aparência interna (AI) de melão amarelo, genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057. Mossoró, ESAM, 1998. 6,8 0,1 6,6 0,06 6,4 6,2 6 0,04 5,8 1- Y = 0,1050 0,0008X 2- Y = 5,9167 + 0,0167X 0,02 2 R = 0,86* 2 R = 0,95* pH (esc. 1 - 14) . 0,08 ATT (%) . 0,12 5,6 0 5,4 0 7 14 21 28 35 42 49 Armazenamento (dias) ATT pH Figura 3. Efeito da duração do armazenamento em condições ambiente (T = 30,0 ± 1ºC e UR = 50,0 ± 5%) sobre a acidez total titulável (ATT) e o potencial hidrogeniônico (pH) de melão amarelo, genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057. Mossoró, ESAM, 1998. dia de 3,3 (parte do fruto afetada em 11 a 30%), enquanto que o TSX 32096 alcançou esse mesmo período com nota média de 4,0 (parte do fruto afetada em 1 a 10%). Considerando que os frutos com nota menor ou igual a 3,0 eram inadequados ao consumo, conclui-se que a vida útil pós-colheita dos melões amarelos, genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057, limita-se a 42 dias sob condições 46 ambiente (30,0 ± 1°C e umidade relativa de 50,0 ± 5%). Estes dados são extremamente úteis na estimativa dos limites de tempo de comercialização para o produto. Não houve interação significativa entre os fatores genótipos e tempo de armazenamento (Figura 3) para as variáveis acidez total titulável (ATT) e pH. Como pode ser observado na Figura 3, a acidez decresceu linearmente até o fi- nal do período experimental, concordando com a elevação no pH, que sofreu um acréscimo ao longo do armazenamento. Os resultados mostraram que os dois genótipos tiveram comportamento semelhante durante todo o período experimental para essas duas variáveis. Os valores médios para a ATT no início e aos 49 dias de armazenamento foram de 0,11% e 0,07% de ácido cítrico, respectivamente. Essa redução pode ser atribuída à utilização desse ácido no processo respiratório (Campbell, Huber & Koch, 1989). Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Menezes et al., (1995) e Gonçalves et al., (1996) para os genótipos AF 646 e Piel de Sapo armazenados sob refrigeração. Esses autores reportaram uma variação de 0,15% a 0,10% e de 0,19% a 0,13% para o AF 646 e Piel de Sapo, nesta ordem, do início ao final do período experimental. Carvalho (1995) reportou um comportamento constante da ATT em melão Yellow King até 21 dias de armazenamento a 25 ± 2ºC e 70 ± 5% de umidade relativa, observando uma redução a partir desse período. O conteúdo médio foi de 0,14%. Por ocasião da colheita os frutos apresentaram um pH médio de 5,92 aumentando para 6,51 aos 49 dias de armazenamento. Aos 42 dias (tempo de vida útil dos genótipos) o pH médio ficou em torno de 6,43. Esse aumento no pH pode ser explicado pelo consumo de ácidos orgânicos durante a respiração. Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Silva (1993) para os genótipos Gold Mine e Duna sob condições ambiente (26,0 ± 2ºC e 65,0 ± 2% de umidade relativa). Esse autor relatou uma variação no pH de 5,47 para 6,17 e 5,55 para 6,05, no início e no final do período experimental, para os genótipos Gold Mine e Duna, nesta ordem. Apesar da facilidade na metodologia de análise para a determinação da ATT e do pH, Menezes et al. (1998b) citam que a variação nos níveis da ATT durante a maturação do melão têm pouco significado prático em função da baixa concentração. Assim, o conteúdo de ácidos orgânicos apresenta pouca contribuição para o sabor e aroma, o que justifica a ausência de estudos sobre o metabolismo dos ácidos durante a maturação do melão e armazenamento. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 13 45 40 12,5 30 11,5 25 11 20 15 10,5 Vitamina C (mg/100 mL) . 35 12 SST (%) . Observou-se um comportamento linear e decrescente para o conteúdo de SST e vitamina C total (Figura 4). A determinação do conteúdo de sólidos solúveis, normalmente é feita com o objetivo de se ter uma estimativa da quantidade de açúcares presentes nos frutos, embora, medidos através de um refratômetro, incluem, além dos açúcares solúveis, pectinas, vitaminas hidrossolúveis, sais e ácidos orgânicos. O conteúdo de sólidos solúveis tem sido usado como um indicador de maturação e critério de aceitação comercial, no entanto, a doçura, o sabor o aroma e a firmeza da polpa, são fatores de qualidade complementar. O conteúdo médio de SST foi de 11,5%, com uma variação de 12,4% (por ocasião da colheita) para 10,6% no final do período experimental. Aos 42 dias de armazenamento os frutos apresentaram um conteúdo médio de 10,8%. Menezes et al., (1998a) reportaram conteúdos médios de SST entre 9% e 10% para os genótipos Gold Mine e AF 646. Segundo esses mesmos autores um conteúdo médio de SST superior a 9% é bastante desejável sob o ponto de vista comercial, em virtude do SST ser um importante fator de qualidade em muitos países, inclusive no Brasil. Os valores encontrados para o SST estão bem acima do exigido para o mercado americano e europeu que é de 9% e 8%, respectivamente. O elevado conteúdo de SST pode ter contribuído para a fermentação alcoólica que ocorreu após esse tempo de armazenamento o que contribuiu para limitar a vida útil em 42 dias, no máximo, sob condições ambiente para os dois genótipos. A alta concentração de substâncias alcoólicas é encontrada, principalmente, nos tecidos mais internos que amolecem e subseqüentemente degradam (Motomura, 1994). Alta concentração de substâncias alcoólicas (acima de 100 mL·100 mL-1 de suco) causa um aroma desagradável e diminui a qualidade organoléptica e comercial do produto. O conteúdo de vitamina C total (ácido ascórbico + ácido dehidroascórbico) foi afetado significativamente pelo tempo de armazenamento, havendo oxidação desses componentes durante o período experimental (Figura 4). A redução foi da ordem de 80% até 49 dias de armazenamento. O conteúdo médio foi 10 1- Y = 12,3717 2- Y = 31,4817 10 2 0,0367 R = 0,98* 2 0,5129 R = 0,81* 5 9,5 0 0 7 14 21 28 35 42 49 Armazenamento (dias) 1- SS 2- Vitamina C total Figura 4. Efeito da duração do armazenamento em condições ambiente (T = 30,0 ± 1ºC e UR = 50,0 ± 5%) sobre os sólidos solúveis totais (SST) e a vitamina C de melão amarelo, genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057. Mossoró, ESAM, 1998. de 18,92 mg 100 mL-1 com uma variação de 31,48 mg 100 mL-1 (por ocasião da colheita) para 6,35 mg 100 mL-1 (no final do experimento). Aos 42 dias o conteúdo médio foi 9,94 mg 100 mL-1. O conteúdo de vitamina C total em melão é relativamente baixo quando comparado com outras culturas como o caju, abacaxi, manga e acerola. Dhiman et al. (1995) analisando o teor vitamínico de quatro cultivares de melão encontraram variações de 24,90 mg·100 mL-1 a 32,49 mg.100 mL-1. O conteúdo médio foi de 32,49; 27,73; 28,50 e 24,90 mg×100 mL –1, respectivamente para as cultivares MR– 12, Hara Madhu, Punjab Sunehri e Punjab. Eitenmiller (1987) encontrou valores médios de 28 mg×100 mL –1 de peso fresco para melões cantaloupe contra 15,00 mg×100 mL –1 nos melões “Honeydew”. O conteúdo de vitamina C total aumenta com o desenvolvimento do fruto declinando durante o armazenamento. Menezes et al. (1998a) reportaram um acúmulo no conteúdo de vitamina C total 20,63 mg×100 mL–1 para 32,23 mg×100 g–1 do melão tipo Galia Nun 1380. O comportamento dos principais açúcares solúveis encontrados nestes genótipos (redutores, não-redutores e totais) está expresso na Figuras 5. Verificou-se comportamento diferenciado com redução no conteúdo de açúcares redutores no genótipo TSX 32096 de 5,34% para 3,21% do início ao final do experimento acompanhada por acúmulo nos açúcares não-redutores que variaram de 1,45% para 4,70%. Entretanto, para o genótipo SUNEX 7057, foi observado acúmulo nos açúcares redutores (variação de 3,89% para 5,12%) e decréscimo nos açucares não-redutores de 5,58% para 3,54%. Como os açúcares redutores apresentam maior poder adoçante que a sacarose, pode-se inferir que houve aumento na qualidade organoléptica nos frutos do genótipo SUNEX 7057 durante o armazenamento até os 42 dias. A composição de açúcares solúveis totais do melão tem recebido considerável atenção em função da sua importância na determinação da qualidade. O conteúdo de açúcares solúveis totais encontrado neste experimento, que foi em média de 8,2% e 8,8%, aos 42 dias de armazenamento, para os genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057, nesta ordem, são semelhantes aos obtidos por Menezes et al., (1995) para AF 646. Deste modo, pode-se concluir que os genótipos estudados conservam as suas características de qualidade por um período de até 42 dias de armazenamento sob condições ambiente, sem perdas significativas de suas propriedades 47 J.B. Menezes et al. 6 10 9 8 7 . 4 6 3 5 4 2 1- Y = 5,3442 0,0435X 2- Y = 3,8850 + 0,0253X 3- Y = 1,4492 + 0,0774X 4- Y = 5,5817 0,0417X 5- Y = 6,7917 + 0,0339X 6- Y = 9,4858 0,0167X 1 2 R = 0,99* 2 R = 0,99* 2 R = 0,96* 2 R = 0,95* 2 R = 0,88* 2 R = 0,78* 3 2 AST (%) AR e ANR (%) . 5 1 0 0 0 7 14 21 28 35 42 49 Armazenamento (dias) 1- AR TSX 32096 2- AR SUNEX 7057 3- ANR TSX 32096 4- ANR SUNEX 7057 5- AST TSX 32096 6- AST SUNEX 7057 Figura 5. Efeito da duração do armazenamento em condições ambiente (T = 30,0 ± 1ºC e UR = 50,0 ± 5%) sobre os açúcares redutores (AR), não-redutores (ANR) e totais (AST) de melão amarelo, genótipos TSX 32096 e SUNEX 7057. Mossoró, ESAM, 1998. organolépticas, podendo ser comercializado em qualquer lugar do país, já que sua vida útil foi superior a 25 dias. AGRADECIMENTOS Os recursos desta pesquisa foram oriundos do convênio ESAM/ VALEFRUTAS/CNPq–BIOEX. Agradecemos também aos proprietários da Fazenda São João Ltda pela concessão dos frutos. LITERATURA CITADA ARTÉS, F.; ESCRICHE, A.J.; MARTINEZ, J.A.; MARIN, J.G. Quality factors in four varieties of melons (Cucumis melo, L.). Journal of Food Quality, v. 16, n. 2, p. 91-100, 1993. AWAD, M. Fisiologia pós-colheita de frutos, São Paulo: Nobel, 1993, 114 p. BARTLEY, L.M.; KNEE, M. The chemistry of textural changes in fruit during storage. Food Chemistry, v. 9, n. 7, p. 47 - 58, 1982. CAMPBELL, C.A.; HUBER, D.J.; KOCH, K.E. Postharvest changes in sugars, acids, and color of carambola fruit at various temperatures. Hortscience, v. 24, n. 3, p. 472-475, 1989. CARVALHO, H.A.; CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B.; MENEZES, J.B. Vida útil pós-colheita de melão “Yellow King”. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v. 17, n. 3, p. 111-118, 1995. 48 COHEN, R.A.; HICKS, J.R. Effect of storage on quality and sugars in muskmelon, Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 111, n. 4, p. 553-557, 1986. DHIMAN, J.S.; TARSEM, L.A.L.; BAJAJ, K.L. Evaluation of muskmelon (Cucumis melo L.) genotypes for multiple disease resistance, yield, and quality characterstics. Tropical Agriculture, v. 72, n. 1, p. 58-62, 1995. DIAS, R.C.S.; COSTA, N.D.; CERDAN, C.; SILVA, P.C.G.; QUEIROZ, M.A.; ZUZA, F.; LEITE, L.A.S.; PESSOA, P.F.A.P.; TERAO, D.A. Cadeia produtiva do melão no Nordeste. In: CASTRO, A.M.G.; LIMA, S.M.V.; GOEDERT, W.J.; FILHO, A.F.; VASCONCELOS, J.R.P. Cadeias Produtivas e Sistemas Naturais: Prospeção Tecnológicas. SPI – Brasília. 1998. p. 440 - 493. EITENMILLER, R. Nutrient composition of Red Delicious apples, peaches, Honey Dew melons, cantaloupes, Florida Pink and Texas ruby Red grapefruit, and Florida oranges. Athens: The university of Georgia, 1987. 15 p. (Research report 526). EVENSEN, K.B. Effects of maturity at harvest, storage temperature and cultivar on muskmelon quality. Hortscience, v. 18, n. 6, p. 907-908, 1983. GONÇALVES, F.C.; MENEZES, J.B.; ALVES, R.E. Vida útil pós-colheita de melão “Piel de Sapo” armazenado em condição ambiente. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 14, n. 1, p. 49-52, 1996. GRANGEIRO, L.C. Densidade de plantio em híbridos de melão amarelo. Mossoró: ESAM, 1997. 48 p. (Tese mestrado). INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos químicos e físicos para análise de alimentos, São Paulo. 1985, v. 1, p. 392 – 395. JANDEL SCIENTIFIC. User ’s Manual. Califórnia: Jandel Scientific, 1991. 280 p. KADER, A.A., Postharvest biology and technology: an overview. In: KADER, A.A.; Postharvest Technology of Horticultural Crops. California: University of California, p. 15-20, 1992. KRAMER, A. Fruits and Vegetables. In: KRAMER, A.; TWIGG, B.A. Quality Control for the Food Industry. Connecticut: Avi Publishing Company, 1973. v 2, p. 157-227. LESTER, G.E.; SHELLIE, K.C. Postharvest sensory and physiochemical attributes of Honey Dew melons fruit. Hortscience, v. 27, p. 1012 - 1014, 1992. MENEZES, J.B.; CHITARRA, A.B.; CHITARRA, M.I.F.; BICALHO, U.O. Modificações dos componentes de parede celular de melão tipo Gália durante a maturação. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 17, n. 3, p. 301-308, Set. 1997. MENEZES, J.B. Qualidade pós-colheita de melão tipo Galia durante a maturação e o armazenamento. Lavras: UFLA, 1996. 157 p. (Tese doutorado). MENEZES, J.B.; CASTRO, E.B.; PRAÇA, E.F.; GRANGEIRO, L.C.; COSTA, L.B.A. Efeito do tempo de insolação pós-colheita sobre a qualidade do melão amarelo. Horticultura Brasileira, Brasília,. v. 16, n. 1, p. 80 - 81, 1998. MENEZES, J.B.; CHITARRA, A.B.; CHITARRA, M.I.F.; BICALHO, U.O. Caracterização do melão tipo Galia durante a maturação. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 16, n. 2, p. 159-164, 1998. MENEZES, J.B.; CHITARRA, A.D.B.; CHITARRA, M.I.F.; CARVALHO, E.A. Caracterização pós-colheita do melão amarelo “Agroflora 646”. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 13, n. 2, p. 150-153, 1995. MICCOLIS, V.; SALTVEIT Jr, M.E. Morphological and physiological changes during fruit growth and maturation of seven melon cultivars. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 116, p. 1025-1029, 1991. MICCOLIS, V.; SALTVEIT, M.E. Influence of storage period and temperature on the postharvest characteristics of six melon (Cucumis melo L.), Inodorus Group) cultivars. Postharvest Biology and Technology, v. 5, p. 211-219, 1995. MOTOMURA, Y. Formation of alcohol substances in muskmelon: variation among cultivarsand maturity. Scientia Horticulturae, v. 58, p. 343-350, 1994. MUTTON, L.L.; CULLIS, B.R.; BLAKENEY, A.B. The objetive definition of eating quality in rockmelons (Cucumis melo L.). Journal Science Food Agricultural, v. 32, p. 385, 1981. NORUSIS, M.J. SPSSPC statistics. Illinois: SPSS Inc., 1990. PEDROSA, J.F. Cultura do melão. Mossoró: ESAM, 1997. 51 p. (Apostila). SALUNKE, D.K.; DESAI, B.B. Postharvest biotecnology of vegetables. Flórida, CRC Press, v. 2, 1984, 194 p. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Armazenamento de dois genótipos de melão amarelo sob condições ambiente. SILVA, G.G. Armazenamento de melão, híbridos Gold Mine e Duna, sob condições ambiente. Mossoró: ESAM, 1993. 32 p. (Monografia graduação). SOUTHGATE, D.A.T. Determination of foods carbohydrates, London: Elservier Applied Science, 1991, 232 p. SOUZA, M.C.; MENEZES, J.B.; ALVES, R.E. Tecnologia pós-colheita e produção de melão no Estado do Rio Grande do Norte. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 12, n. 2, p. 188-190, 1994. TUCKER, G.A. Intoducion. In: SEYMOUR, G.B.; TAYLOR, S.E.; TUCKER, G.A. Biochemistry of fruit ripening. London: Capman & Hall, 1993. p. 255-266. YAMAGUCHI, M.; HUGHES, D.L. YABUMOTO, K.; JENNINGS, W.G. Quality of canataloupe muskmelon: variability and attributes, Scientia Horticultural, v. 6, p. 5970, 1977. OTTO, R.F.; REGHIN, M.Y.; SÁ, G.D. Utilização do ‘não tecido’ de polipropileno como proteção da cultura de alface durante o inverno de Ponta Grossa PR. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p.49-52, março 2.001. Utilização do ‘não tecido’ de polipropileno como proteção da cultura de alface durante o inverno de Ponta Grossa – PR. Rosana Fernandes Otto; Marie Yamamoto Reghin; Guilherme Domingues Sá1 UEPG, Depto. de Fitotecnia e Fitossanidade, Praça Santos Andrade s/n, 84.010-790, Ponta Grossa, PR. E.mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT O experimento foi realizado na UEPG, Ponta Grossa, PR. Estudou-se o efeito da proteção com ‘não tecido’ de polipropileno sobre o desenvolvimento, a qualidade e a produção de três cultivares de alface, transplantadas no inverno de 1998. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, distribuído segundo esquema fatorial 3x2 (cultivares x sistema de cultivo), com 5 repetições. As cultivares utilizadas foram Tainá, Elisa e Verônica, cultivadas sob a proteção do ‘não tecido’ de polipropileno (PP) e em ambiente natural (AN). O uso do ‘não tecido’ como proteção de plantas de alface resultou em maior peso de matéria fresca de cabeça para todas as cultivares estudadas quando comparado ao AN. Verificou-se, para as cultivares Tainá e Verônica, incremento do índice de área foliar, com conseqüente aumento da biomassa das plantas produzidas sob o ‘não tecido’. A cultivar Elisa apresentou limbo foliar com aspecto de estiolamento, perdendo a turgidez rapidamente após a colheita. Possivelmente, os níveis de radiação sob PP foram inferiores ao ponto de saturação fotossintética para a cv. Elisa. Recomenda-se o uso do ‘não tecido’ para as cultivares Verônica e Tainá, no inverno, para a região de Ponta Grossa, por apresentarem cabeças com ótima qualidade e peso comercial. Use of non woven polypropylene protection under lettuce crop during winter season in Ponta Grossa, Brazil. Palavras-chave: Lactuca sativa L., cultivo protegido, polipropileno, estiolamento, agrotêxtil. A field experiment was carried out in ‘’Capão da Onça’’ School Farm, at the Universidade Estadual de Ponta Grossa in Brazil. The effect of the protection of an spunbonded polypropylene non woven fabric on the development, quality and yield of three lettuce cultivars, transplanted during the winter of 1998 was studied. The experimental design was of complete randomized blocks, displayed in a factorial scheme 3x2 (cultivars x crop system), with five replications. The cultivars were Tainá, Elisa and Verônica growing under non woven polypropylene protection (PP) and environmental conditions (EC). Greater head fresh weight was observed on woven protected plants. Increased leaf area index (LAI) was observed for ‘Tainá’ and ‘Verônica’, with consequent increase of biomass in row cover plants. ‘Elisa’ showed etiolate leafs, that lost rapidly the turgidity after harvesting. It is possible that the radiation levels under PP were bellow of the saturated photosynthetic point for cv. Elisa. The use the non woven protection for cv. Verônica and cv. Tainá, during winter season of Ponta Grossa`s region is recommended, due to the fact that these plants presented heads with excellent quality and commercial weight. Keywords: Lactuca sativa L., protected cultivation, polypropylene, etiolation, row cover. (Aceito para publicação em 15 de janeiro de 2.001) A alface é a principal hortaliça folhosa no mercado consumidor brasileiro. Nos últimos anos, a produção da cultura tem passado por mudanças significativas, tanto em relação a cultivares quanto aos sistemas de produção. Atualmente, em contraste com o cultivo tradicional no campo, os produtores têm investido cada vez mais no cultivo protegido de alface (estufas, tú- 1 neis, etc.), utilizando mudas de qualidade e diferentes substratos para crescimento. Nesse sentido, o cultivo de alface sob proteção do ‘não tecido’ de polipropileno (também conhecido como agrotêxtil) pode ser uma alternativa promissora para o produtor. A técnica consiste na colocação do material diretamente sobre a cultura ou sobre o solo semeado, não necessitando de qualquer estrutura de apoio. Os resultados têm demonstrado aumento na produção, na precocidade e na melhoria da qualidade do produto comercial (Wells & Loy, 1985; Hemphill & Mansour, 1986; Jenni & Stewart, 1989; Fuello et al., 1993; Borosic et al., 1994; Otto, 1997; Otto & Reghin, 1999; Reghin et al., 2000; Otto et al., 2000a). O uso do agrotêxtil ofe- Estudande de graduação do curso de agronomia da UEPG, Ponta Grossa, PR. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 49 R.F. Otto et al. rece proteção contra fatores climáticos adversos (Hernández & Castilla, 1993; Otto et al., 2000b) e contra pragas (Wells & Loy, 1985; Benoit & Ceustemans, 1992/3; Gregoire, 1992). Apresenta ainda facilidade no manuseio do material (Otto, 1997) e requer menor investimento inicial, se comparado a outros sistemas de proteção de cultivo. A realização de trabalhos verificando o efeito do agrotêxtil sobre diferentes espécies hortícolas é algo recente no Brasil. Na produção de mudas de mandioquinha-salsa observou-se efeito benéfico da proteção tendo como resultado a formação de mudas mais uniformes, precoces e vigorosas quando comparadas àquelas formadas sem proteção com agrotêxtil (Reghin et al., 2000). Também, na região de Ponta Grossa, verificou-se maior precocidade e incrementos de até 124% no peso de raízes tubérosas de beterraba cultivada sob agrotêxtil em relação às plantas não protegidas (Otto & Reghin, 1999). Em tomate e pimentão, a colocação do ‘não tecido’ sobre as mudas recém transplantadas danificou o ponto de crescimento das plantas, atrasando o início da fase reprodutiva (Foltran et al., 1999), porém resultando em aumento da produção total para o pimentão (dados não publicados). Nos Estados Unidos e Europa a técnica já é conhecida desde os anos 70, sendo utilizada para diferentes espécies. Em alface, cultivada durante o outonoinverno de Astúrias – Espanha, verificou-se que o uso do agrotêxtil promoveu o aumento do peso de matéria fresca da cabeça em relação ao cultivo sem proteção. Constatou-se também maior precocidade na formação de cabeças (Fuello et al., 1993). No Canadá, foi verificado que, para alface americana transplantada na primavera, deve-se manter a proteção com o agrotêxtil até a cobertura total do solo pelas plantas, visto que promoveu incremento no peso e firmeza das cabeças de alface sob proteção (Jenni & Stewart, 1989). O estágio ótimo para retirada da cobertura pareceu depender das temperaturas encontradas, visto que temperaturas excessivas resultaram em necrose e queima das folhas externas. Entretanto, as respostas obtidas em relação a incremento de produção e 50 melhora da qualidade da alface protegida com agrotêxtil não são unânimes. Durante o período de inverno e sob precipitações fortes e constantes de Córdoba, Espanha, foi verificado estiolamento e danos no limbo foliar das plantas cultivadas sob a proteção, impedindo, desta maneira, a formação da cabeça comercial. Parte deste resultado pôde ser explicado pelo baixo nível de radiação fotossinteticamente ativa incidente nesta época do ano. Nesta condição, os baixos níveis de radiação foram mais prejudiciais às plantas protegidas do que o efeito benéfico do aumento de temperatura de ar e do solo verificados, resultantes do uso da proteção com agrotêxtil (Otto, 1997). No Brasil, pouco se conhece sobre o efeito da proteção de polipropileno sobre as diferentes espécies hortícolas. Alguns produtores tem usado o material para o cultivo da alface, porém não se conhece se os resultados são semelhantes para os principais grupos da espécie aqui comercializados (alface lisa, crespa e americana). Em Ponta Grossa o prolongado período com temperaturas baixas e a ocorrência de geadas no inverno, dificulta o cultivo da alface em ambiente natural, apresentando perdas e aumento no ciclo da espécie. Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivo estudar a influência do uso da cobertura com ‘não tecido’ de polipropileno (agrotêxtil) sobre o desenvolvimento, a qualidade e a produção de três cultivares de alface, cultivadas no inverno, na região de Ponta Grossa. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa no inverno de 1998, em um solo podzólico vermelho amarelo textura média. O inverno da região é caracterizado por temperaturas mínima e máxima de 12 e 20oC, respectivamente, com ocorrência de geadas freqüentes durante todo o período. O preparo da área consistiu no destorroamento do solo e na incorporação de esterco bovino (5 kg.m-2) com enxada rotativa e no preparo de canteiros. A adubação de base adotada foi de 100 g.m-2 da formulação 414-8, de acordo com o resultado da aná- lise de solo. Aos 10 e 20 dias após o transplante, realizaram-se as adubações de cobertura com 5 g/planta de nitrocálcio. As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido, com 128 células, com substrato comercial e transplantadas em 13/05/98 quando apresentavam quatro folhas definitivas. O espaçamento utilizado foi 30x30 cm, distribuído em parcelas experimentais de 1,20x2,10m, para todas as cultivares, totalizando de 28 plantas/parcela. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado, distribuído segundo esquema fatorial 3x2 (cultivares x sistema de proteção), com cinco repetições. As cultivares utilizadas foram Elisa (grupo manteiga), Verônica (grupo crespa) e Tainá (grupo americana), cultivadas em ambiente natural (AN) e sob proteção do ‘não tecido’ de polipropileno (PP) ou agrotêxtil, de coloração branca, com 20 g.m-2. O agrotêxtil foi colocado diretamente sobre as mudas transplantadas de alface. Para evitar a movimentação do material, utilizaram-se varas de bambu, as quais foram enroladas nas bordas do material e colocadas em contato com o solo. Para avaliação do trabalho, foram colhidas seis plantas centrais/parcela de cada cultivar. Isto ocorreu aos 47 dias após o transplante para a ‘Verônica’ e aos 54 dat para a ‘Elisa’ e ‘Tainá’. Neste período iniciou-se o desenvolvimento de Sclerotinia sclerotiorum na área de cultivo, o que fez com que todo o experimento fosse colhido na última data descrita, ainda que somente as plantas sob agrotêxtil houvessem completado o ciclo produtivo. Para cada planta, avaliaram-se o peso de matéria fresca, o número de folhas e o peso de matéria seca após secagem em estufa a 70oC. A área foliar de cada planta colhida/ parcela foi estimada pelo método de Blackman & Wilson (1951), adaptado para este experimento. Retiraram-se quatro folhas de cada planta, em diferentes fases de desenvolvimento. Em seguida, da parte central de cada folha foi retirado um disco do limbo foliar, utilizando-se um cilindro de metal com 21,88 cm2 de área interna. Os discos Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Utilização do ‘não tecido’ de polipropileno como proteção da cultura de alface durante o inverno de Ponta Grossa - PR. foram secados em estufa a 70°C e pesados. A área foliar foi, então, determinada pela equação ND x AD x PSL AF= ————————— (1) PSD em que: AF = área foliar da planta (cm 2 ); ND = número de discos amostrados; AD = área do disco (cm2); PSL = peso da matéria seca do limbo foliar (g) e PSD = peso da matéria seca dos discos (g). Com base nos dados de área foliar, de peso de matéria seca das plantas e de espaçamento, calculou-se o Índice de Área Foliar (IAF), a Biomassa Total (BT, g.m-2) e a Superfície Foliar Específica (SFE, cm2.g-1) para cada uma das plantas avaliadas. Foi realizada a análise de variância para todas as características estudadas. Para os resultados que apresentaram interação significativa, as médias entre os tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey, em 5% de probabilidade, para cada cultivar. RESULTADOS E DISCUSSÃO A interação entre cultivares x sistema de proteção foi significativa para todas as variáveis estudas, exceto para número de folhas/planta e SFE. O uso do ‘não tecido’ como proteção de plantas de alface resultou em maior peso da matéria fresca de cabeça, para todas as cultivares estudadas, comparativamente ao cultivo em ambiente Tabela 1. Peso de matéria fresca, biomassa e índice de área foliar das cultivares de alface produzidas em ambiente natural (AN) e sob proteção de ‘não tecido’ de polipropileno (PP). Ponta Grossa, UEPG, inverno de 1998. Característica Peso da matéria fresca, g Biomassa, g.m-2 IAF, m.m-2 S istema de cu ltivo AN PP CV (%) AN PP CV (%) AN PP CV (%) Elisa 224,6 bA * 305,8 aA 138,7 aA 146,6 aB 1,51 bA 1,97 aB Cu ltivar Tain á 191,7 bA 297,9 aA 9,7 125,4 bA 156,0 aB 12,1 1,13 bA 1,88 aB 12,7 Verôn ica 141,7 bB 292,3 aA 91,7 bB 201,5 aA 1,17 bA 2,75 aA *Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. natural (Tabela 1). A maior produção das plantas sob agrotêxtil refletiu também em maior número de folhas por planta em relação àquelas cultivadas em ambiente natural (Tabela 2), caracterizando uma maior atividade metabólica, com menor intervalo de dias para emissão de novas folhas. Resultados semelhantes referentes a maior crescimento das plantas em ambiente protegido vêm sendo verificados por outros autores. Streck et al. (1994), em Santa Maria (RS), verificaram maiores valores para número de folhas para duas cultivares de alface cultivadas sob túnel baixo, no inverno e na primavera, comparadas ao cultivo em ambiente externo. Segovia (1991), durante o inverno de Santa Maria, comparou três cultivares de alface cultivadas em ambiente natural e sob estufa plástica e verificou aumento significativo no número de folhas ao longo de todo o período avaliado para o cultivo em estufa. Printz & Faus (1988), em Marrocos, relataram incremento de 34% no peso médio de cabeça de alface cultivada sob ‘não tecido’, em relação ao cultivo ao ar livre. Fuello et al. (1993), durante o período de outono-inverno de Astúrias, Espanha, verificaram que a utilização do ‘não tecido’ combinado com cores preta ou branca aumentou em 81% e 183%, respectivamente, a produção de alface relativamente ao uso exclusivo do ‘’mulching’’ preto ou branco. Entretanto, o incremento no peso de matéria fresca da cabeça não é a única Tabela 2. Número de folhas por planta e superfície foliar específica (SFE) das cultivares de alface produzidas em ambiente natural (AN) e sob proteção de ‘não tecido’ de polipropileno (PP). Ponta Grossa, UEPG, inverno de 1998. Característica S istema de cu ltivo No.de folhas/ planta SFE, cm2.g-1 AN PP Média CV (%) AN PP Média CV (%) Elisa 35,2 39,5 37,3 A Cu ltivar Tain á 20,1 24,2 22,2 B Verôn ica 16,0 20,8 18,4 C Média 23,8 a 28,2 b 4,5 108,1 137,6 122,8 A 91,1 121,6 106,3 B 127,5 137,7 132,6 A 108,9 a 132,3 b 10,6 *Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 51 R.F. Otto et al. característica a ser considerada na produção comercial da alface. O limbo foliar deve ser bem formado, isento de lesões, tenro, porém firme. Sob estes aspectos, as cabeças de ‘Elisa’, produzidas sob a proteção, apresentaram qualidade comercial inferior ao cultivo em AN, ainda que o peso de matéria fresca tenha sido maior sob PP. O uso do ‘não tecido’ de polipropileno promoveu incremento no índice de área foliar, porém, não houve aumento na biomassa da planta (Tabela 1), caracterizando estiolamento das mesmas. Como resultado, verificou-se um limbo excessivamente tenro, que perdeu a turgidez imediatamente após a colheita. Este fato, possivelmente, ocorreu devido aos níveis de radiação solar incidentes sob a proteção serem inferiores ao ponto de saturação de fotossíntese da cultivar. Isto contribui para que os valores de superfície foliar específica (SFE) das plantas cultivadas sob PP sejam maiores que das plantas em AN (Tabela 2), caracterizando folhas mais finas, com menor espessura. Entretanto, esse fator não é desejável para cultivares cujas folhas são naturalmente finas e tenras, com é o caso da ‘Elisa’, comparada à ‘Verônica’ ou ‘Tainá’. O aumento dos valores de SFE para ‘Elisa’ resultaram em folhas de qualidade inferior. Resultados semelhantes foram constatados por Otto (1997), no cultivo da alface sob polipropileno, durante o inverno, em Córdoba, Espanha. Neste estudo, verificou-se que o uso do ‘não tecido’ de polipropileno (17 g/m2) reduziu, em média, 20% da radiação fotossinteticamente ativa (PAR) incidente sobre a proteção. Observou-se ainda que, como no inverno, a inclinação dos raios solares é menor do que em outras estações do ano, os níveis de radiação PAR incidente foram inferiores ao ponto de saturação fotossintética da espécie, resultando em aumento da superfície foliar específica (SFE), sem incremento de biomassa. No presente estudo, para as cultivares Tainá e Verônica, verificou-se que além do aumento verificado no peso de matéria fresca devido a proteção do polipropileno, as plantas apresentaram incremento significativo na produção de biomassa quando comparadas ao tratamento “ambiente natural” (Tabela 1). Possivelmente, a modificação 52 microclimática devido ao uso da proteção favoreceu o aumento da área foliar, promovendo a captação de radiação, o que resultou em maior produção de fotoassimilados por essas cultivares. Provavelmente, os níveis de radiação sob ‘não tecido’ de polipropileno foram superiores ao ponto de saturação fotossintética para ambas cultivares na maior parte do dia. O incremento relativo de biomassa para a cv. Tainá cultivada sob ‘não tecido’ comparado ao ambiente natural foi de 24,4%, enquanto que para ‘Verônica’ foi de 119,7%. É provável que essa diferença seja devido a características morfológicas das cultivares. As plantas da ‘Tainá’ sob a proteção formaram cabeça comercial, fazendo com que a sobreposição das folhas diminuíssem a atividade fotossintética das mesmas. Entretanto, comparativamente à arquitetura das folhas, a cv. Verônica facilitou a captação de radiação e, consequentemente, resultou em maior produção de fotoassimilados. Assim, a proteção da cultura da alface com agrotêxtil (20 g.m-2), durante o inverno de Ponta Grossa, favoreceu o desenvolvimento, a produção e a qualidade das cultivares Verônica e Tainá. As plantas apresentaram não só cabeça bem formada, como também folhas com ótimas características comerciais. Já a cv. Elisa apresentou cabeças de bom tamanho comercial, porém com folhas excessivamente tenras, não sendo recomendável a proteção com o polipropileno para o cultivo no inverno de Ponta Grossa. AGRADECIMENTOS Agrademos a Cia Providência - Divisão Não Tecido, pela cessão do material de polipropileno utilizado neste trabalho. LITERATURA CITADA BENOIT, F.; CEUSTERMANS, N. Ecological vegetable growing with plastics. Plasticulture, v. 95, p. 11 - 20, 1992/3. BLACKMAN, G.E.; WILSON, G.L. Physiological and ecological studies in the analysis of plant environment. Annals of Botany, v. 15, n. 57, p. 63 - 94, 1951. BOROSIC, J.; ZUTIC, I.; HEBLIN, D. Spring crops of lettuce, carrot and pak-choi growth under direct covers. In: INTERNACIONAL CONGRESS OF PLASTIC IN AGRICULTURE, 13. 1994, Verona, Italy. Proceedings ..., Verona: ICPA, 1994, 22 p. FOLTRAN, B.N.; OTTO, R.F.; REGHIN, M.Y. Uso da proteção de “não tecido” de polipropileno sobre a cultura do pimentão, em Ponta Grossa-PR. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 17, n. 3, p. 286, novembro 1999. (Resumos). FUELLO, M.A.O.; BARANDA, A.A.; ARRIETA, A.I. Semiforzado de lechuga con agrotextiles - Producción de otoño-invierno al aire libre. Hortofruticultura, v. 4, p. 37 - 40, 1993. GREGOIRE, Ph. Los no tejidos y la protección contra los insectos y los virus. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE PLÁSTICOS EM AGRICULTURA, 12., 1992, Granada. Actas..., Granada: 1992. p. E11 - E18. HEMPHILL, J.D.D.; MANSOUR, N.S. Response of muskmelon to three floating row covers. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 111, n. 4, p. 513 - 517, 1986. HERNÁNDEZ, J.; CASTILLA, N. El semiforzado con cubiertas flotantes. Hortofruticultura, v. 4, p. 34 - 36, 1993. JENNI, S.; STEWART, K.A. Optimal stage of row cover removal for early lettuce and mini carrot production in Southern Quebec. In: NATIONAL AGRICULTURAL PLASTICS CONGRESS, 21., 1989, Florida. Proceedings..., Florida, 1989, p. 263 - 268. OTTO, R.F. Cubiertas de agrotextil en especies hortícolas: balances térmicos, evapotranspiración y respuestas productivas. Córdoba, España: Universidad de Córdoba. 1997. 157 p. (Tesis doctoral). OTTO, R.F.; REGHIN, M.Y. Respostas produtivas da beterraba cultivada sob «não tecido» de polipropileno, durante o inverno de Ponta Grossa - PR. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 17, n. 3, p. 311, novembro 1999. (Resumos). OTTO, R.F.; REGHIN, M.Y.; TIMOTEO, P.; PEREIRA, A.V.; MADUREIRA, A. Resposta produtiva de duas cultivares de morango cultivadas sob «não tecido» de polipropileno no município de Ponta Grossa - PR. Horticultura Brasileira, v. 18, p. 210-211, julho 2000a. (Suplemento). OTTO, R.F.; REGHIN, M.Y.; TIMOTEO, P.; PEREIRA, A.V.; MADUREIRA, A. Eficiência do “não tecido” de polipropileno na proteção contra danos de geada na cultura do morangueiro, no município de Ponta Grossa – PR. Horticultura Brasileira, v. 18, p. 208-209, julho 2000b. (Suplemento). PRINTZ, Ph.; FAUS, A. El forzado con los agrotextiles. Revista Horticultura, v. 40, p. 47 - 53, 1988. REGHIN, M.Y.; OTTO, R.F.; SILVA, J.B.C. «Stimulate Mo» e proteção com Tecido «Não Tecido» no pré-enraizamento de mudas de mandioquinha-salsa. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 18, n. 1, p. 53 - 56, março 2000. SEGÓVIA, J.F.O. Influência da proteção ambiental de uma estufa de polietileno transparente sobre o crescimento da alface. Santa Maria, RS: Universidade Federal de Santa Maria. 1991. 73 p. (Tese mestrado). STRECK, N.A.; BURIOL, G.A.; ANDRIOLO, J.L. Crescimento da alface em túneis baixos com filme de polietileno perfurado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 24, n. 2, p. 235 - 240, 1994. WELLS, O.S.; LOY, J.B. Intensive vegetable production with row covers. HortScience, v. 20, n. 5, p. 822 - 826, 1985. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. NUNES, M.U.C.; LEAL, M.L.S. Efeitos da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação. Horticultura Brasileira, Brasília , v. 19 n. 01 p. 53-59, março 2.001. Efeito da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação. Maria Urbana C. Nunes; Maria Lourdes S. Leal Embrapa Tabuleiros Costeiros, C. Postal 44, 49.001-970 Aracaju – SE. E.mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Avaliou-se o efeito de biofertilizante, associado ou não a produtos biológicos e químicos, em diferentes condições de irrigação, sobre a produção do tomateiro tutorado e a ocorrência da broca pequena do fruto. Os experimentos foram conduzidos na região de Itabaiana (SE) nos períodos seco e chuvoso. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 13 tratamentos e quatro repetições, sendo cada parcela composta de 48 plantas no espaçamento de 1,00 x 0,50 m com uma planta por cova conduzida com duas hastes. A eficiência dos tratamentos variou com a época de plantio e com o sistema de irrigação utilizado. De modo geral, na época chuvosa, obteve-se maiores produções totais e comerciais superando as produções obtidas na época seca em 82% e 59%, respectivamente, e um maior peso médio de frutos. Também na época chuvosa a percentagem de frutos brocados foi significativamente superior àquela obtida na época seca. Para o plantio na época seca, os melhores tratamentos foram: a) com irrigação por aspersão: Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (Btk) isolado ou em combinação com clorfluazuron; deltametrina + clorfluazuron e Btk + biofertilizante; b) com irrigação por gotejamento: Btk + clorfluazuron. Para o plantio na época de chuva destacaram-se os tratamentos: a) com irrigação por aspersão: Btk + clorfluazuron; biofertilizante + teflubenzuron e clorfluazuron; b) com irrigação por gotejamento: biofertilizante + clorfluazuron e biofertilizante + abamectin. Effect of biofertilizer, and others biological and chemical products, in controlling the fruit small driller and in the production of staked tomato in two planting seasons and two irrigation systems. Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, Bacillus thuringiensis, Neoleucinodes elegantalis, irrigação por aspersão, irrigação por gotejamento, tomate. Keywords: Lycopersicon esculentum, Bacillus thuringiensis, Neoleucinodes elegantalis, sprinkler irrigation, drips irrigation, tomato. The objective of this study was to evaluate the effects of a biofertilizer associated or not with biological and chemical products under different irrigation systems upon the yield of staked tomato and the occurrence of the “small fruit borer”. The experiments were carried out at Itabaiana county, Sergipe State, Brazil, during the dry and wet seasons, on a randomized blocks design with 13 treatments and four replications. Each plot contained 48 plants, with two branches, spaced by 1.00 x 0.50 with one plant of two stems. The efficiency of the treatments varied according to the seasons and to the irrigation systems. Total and commercial yields in the wet season were respectively, 82 and 59% greater than the ones obtained in the dry season, also with a higher average fruit weight. Percentage of drilled fruits was significantly higher in the wet season than in the dry season. Best treatments for the dry season were: a) sprinkler irrigation: Bacillus thuringiensis variety Kurstaki (Btk) alone or in combination with clorfluazuron; deltametrina + clorfluazuron and biofertilizer + Btk; b) drip irrigation: Btk + clorfluazuron. For the wet season sowing the best treatments were: a) sprinkler irrigation: Btk + clorfluazuron; biofertilizer + tefluazuron and clorfluazuron, and b) drip irrigation: biofertilizer + clorfluazuron and biofertilizer + abamectin. (Aceito para publicação em 01 de fevereiro de 2.001) O tomate é uma das principais hortaliças cultivadas nas regiões produtoras do Estado de Sergipe. A região agreste de Itabaiana lidera a produção com uma área colhida de 116 hectares e rendimento médio de 13,60 t/ha (IBGE, 1996). O tomate consumido nos sete Estados dentro dos Tabuleiros Costeiros provém em grande parte da importação, a exemplo de Sergipe, que atende apenas 21% de sua demanda interna. Ao lado dessa dependência por importação, existem grandes áreas produtoras e/ou em potenciais dentre os 305 municípios dos Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabuleiros Costeiros. Entretanto, um dos principais entraves à cultura do tomate na região deve-se à ocorrência de pragas, especialmente da broca pequena do fruto (Neoleucinodes elegantalis). A mesma ocorre durante todos os meses do ano, sendo mais problemática na época das chuvas (maio a agosto) quando causa perdas de produção de até 90%. Causa danos diretamente nos frutos, tornando-os imprestáveis ao consumo. O adulto deposita os ovos junto ao cálice ou sob as sépalas. As lagartas recémeclodidas levam em média 50 a 60 mi- nutos para penetrarem nos frutos ainda pequenos, nos quais deixam um orifício quase imperceptível, ocorrendo perfeita cicatrização. As lagartas desenvolvem-se no interior dos frutos, alimentando-se da polpa. No final de seu desenvolvimento, com aproximadamente 30 dias, abandonam o fruto fazendo um orifício grande e muitas vezes causando o apodrecimento. As lagartas de coloração rósea, de 11 a 13 mm de comprimento, empupam no solo próximo à planta por um período de 17 dias (Sandre Júnior et al., 1992). A infestação 53 M.U.C. Numes & LEAL, M.L.S. Leal da broca varia com a época de plantio e com a cultivar utilizada. Em Sergipe constatou-se perdas que variaram de 66,21% para a cultivar Jumbo AG-592 a 92,75% para a cultivar Marglobe (Embrapa, 1994). Os prejuízos causados por essa praga atingem até 90% dos frutos dependendo da época de plantio (Gallo et al., 1988), sendo os inseticidas fosforados não sistêmicos e carbamatos, aplicados quando os frutos ainda estão pequenos, apresentam um controle satisfatório. O controle químico é viável com o emprego de inseticidas piretróides e carbamatos, com pulverizações dirigidas para os frutos ainda novos, antes da penetração das lagartas (Filgueira, 1982). Vários autores avaliaram a eficiência de produtos químicos para o controle da broca pequena em diversas condições climáticas do Brasil. Raetano et al. (1993a), em Botucatu, constataram que a permetrina (200 ml p.c./100 L de água) foi o produto que apresentou maior eficiência, seguido pelo cartap (250g p.c./100 L de água) e pelo abamectin nas doses de 50, 75 e 100 ml de p.c./100 L de água. Dentre os inseticidas piretróides avaliados por Raetano et al. (1993b), em Monte Mor (SP), a deltametrina, cipermetrina, permetrina e carbaryl foram igualmente eficientes, provocando um aumento significativo na produção. Em avaliações feitas por Bortoli & Castellane (1988), os inseticidas lambdacyalothrin e permethrin propiciaram menores incidências de frutos brocados quando comparados com cartap e metamidophós. Em Pernambuco, Lyra Neto et al. (1991), constataram que a permetrina 500 foi o produto mais eficiente, tanto para o controle da broca pequena como para a traça. Nas condições de Lavras, de quatro produtos avaliados na época seca, destacaram-se o abamectin, permethrin e triflumuron, com eficiência superior a 80%, e o clorfluazuron apresentou-se como o quarto produto menos eficiente (Reis & Souza, 1995). Em Piracicaba, Moreno et al. (1995), constataram a eficiência da deltametrina e do tebufenozide na época seca. O mesmo não foi constatado em experimentos conduzidos em Camocin de São Félix (PE) onde o tra54 tamento com deltametrina ficou em quarto lugar em relação à eficiência de controle desse inseto-praga (Lyra Neto et al. 1984). Atualmente, além dos produtos organo-sintéticos, alguns de origem microbiológica, com eficiência sobre o controle de lagartas, vêm sendo estudados em relação à broca pequena do tomateiro. Souza & Reis (1991) avaliaram Bacillus thuringiensis (200g p.c./ 100 L de água) e abamectin 18 CE (100 e 200 ml p.c./100 L de água) aplicados em intervalos de sete dias. O tratamento mais eficiente foi o abamectin na dosagem de 200 ml, apresentando baixas porcentagens de frutos brocados. Verificaram também que a eficiência do abamectin não foi melhorada quando associado com o inseticida microbiano. Estes resultados contrariam os obtidos por Gravena (1989), que recomenda como melhor estratégia de controle da broca do tomateiro no MIP a aplicação de B. thuringiensis, semanalmente, nas doses de 0,016 a 0,032 kg i.a./ha. Por outro lado, Prando & Silva Júnior (1990) constataram que, com aplicações semanais de B. thuringiensis (600g p.c./ha), houve controle de apenas 27,43% da broca pequena. A associação de biofertilizantes com inseticidas químicos ou biológicos poderá ser uma alternativa viável no controle desta praga. O biofertilizante é um produto que tem ação inseticida e repelente não agressiva ao meio ambiente, atuando com maior eficiência como repelente de insetos adultos e alados, matando principalmente as formas jovens. É recomendado para o controle de pulgão, ácaros, mosca das frutas, lagartas, vaquinhas, percevejo e cochonilhas (Vairo, 1992). A falta de cultivares resistentes, faz com que o controle químico seja o método mais utilizado. Mas, diante das grandes perdas de produção causadas pela broca , deve-se estudar também os fatores relacionados com o manejo da cultura, que favorecem a ocorrência desse inseto-praga. No presente trabalho objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de biofertilizante e de produtos biológicos e químicos, em diferentes épocas de plantio sob diferentes sistemas de irri- gação, na produção e na incidência da broca pequena do tomateiro tutorado. MATERIAL E MÉTODOS Os experimentos foram conduzidos na área experimental da Emdagro/ Embrapa localizada no Perímetro Irrigado de Jacarecica, na região agreste de Itabaiana, à altitude de 180 m e em um planossolo eutrófico de textura arenoargilosa. O trabalho foi desenvolvido em três épocas de plantio: dezembro/95, junho/96 e maio/97, ou seja duas épocas de chuva (maio e junho) e um de seca (dezembro). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro repetições e treze tratamentos: biofertilizante; biofertilizante + Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk); biofertilizante + abamectin; biofertilizante + teflubenzuron; biofertilizante + deltametrina; biofertilizante + clorfluazuron; Btk; abamectin; Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki e aizawai (Btka); deltametrina; clorfluazuron; deltametrina + clorfluazuron e Btk + clorfluazuron, avaliados sob irrigação por aspersão e por gotejamento. A parcela foi constituída por 48 plantas no espaçamento de 1,00 x 0,50 m com uma planta por cova, conduzida com duas hastes, com tutoramento tipo cerca cruzada. Foram consideradas como úteis as 20 plantas centrais. Os produtos foram usados nas seguintes dosagens: Biofertilizante (50%), Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (6,72g i.a./100 L de água); abamectin (0,9 ml i.a./100 L de água); teflubenzuron (3,75g i.a./100 L de água); deltametrina (1,25g i.a./100 L de água); clorfluazuron (5g i.a./100 L de água); Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki e aizawai (5,7g i.a./100 L de água). O biofertilizante foi produzido por fermentação anaeróbica, em tonel plástico de 200 litros, onde foi colocado esterco fresco de bovino e água em partes iguais, deixando um espaço vazio de 15 cm entre a solução e a boca do tonel. Para escapamento do gás metano resultante da fermentação, foi colocada uma mangueira plástica tendo uma das extremidades em contato com o espaço vazio interno e a outra imersa em água Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Efeitos da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação. contida em uma garrafa plástica transparente, por meio da qual foi acompanhado o processo de fermentação. Aos trinta dias, final da fermentação, o tonel foi aberto, coando-se o líquido e preparando uma solução a 50% com água não clorada. Como o biofertilizante contém macro e micronutrientes em sua composição, que pode sofrer alterações com o decorrer do tempo após a abertura do tonel (Vairo, 1992), a porção líquida de cada tonel foi utilizada por um período de apenas oito dias. As mudas foram produzidas em bandeja de isopor sob telado, com substrato formulado com pó de casca de coco (Nunes, 2000) e transplantadas com 25 dias após a semeadura. A adubação de plantio foi feita com esterco bovino na dosagem de 30 t/ha e com a fórmula 624-12 na dosagem de 150 g/m de camalhão. O plantio foi feito em sistema de camalhões baixos, em torno de 10 cm de altura. Foram feitas duas amontoas, aos 30 e 60 dias. Para as adubações de cobertura utilizou-se o sulfato de amônio na dosagem correspondente a 40 kg de nitrogênio por hectare por ocasião de cada amontoa. Os tratos culturais constaram de capina, amontoas, desbrotas e amarrios. Durante o desenvolvimento da cultura constatou-se a ocorrência da larva minadora (Liriomyza sp.) e pinta-preta (Alternaria solani), que foram controladas com cyromazine, iprodione e oxicloreto de cobre, respectivamente. O início da colheita se deu aos 60 dias após o transplante e foram realizadas três colheitas na época seca e cinco colheitas na época de chuva. Foram avaliados todos os frutos colhidos na parcela útil e calculada a produção total, produção comercial e a percentagem da produção total perdida devido à incidência de broca. Os dados foram submetidos à análises de variância com posterior teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade para comparações múltiplas entre médias de tratamentos. Também foram formulados contrastes entre médias de tratamentos, testados pelo teste t ao mesmo nível de significância. Durante a fase experimental a temperatura variou de 18 a 36ºC no período de dezembro/95 a março/96; de 16ºC a 31ºC de junho a setembro/96 e de 17 a Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 31ºC de maio a agosto/97. Registrou-se uma variação de precipitação mensal de 0 mm a 20,3 mm; 33,3 mm a 332,2 mm e de 3,8 mm a 284,2 mm nos respectivos períodos acima citados. RESULTADOS E DISCUSSÃO As análises conjuntas dos experimentos, segundo metodologia proposta por Gomes (1985), realizadas dentro de cada época (seca e chuva), dentro de cada sistema de irrigação (aspersão e gotejamento), ou ainda considerando-se todos os fatores estudados (época, sistema de irrigação e biofertilizante) numa análise mais geral, evidenciaram interações significativas entre estes três fatores, em todos os níveis, não sendo possível, portanto, a indicação do biofertilizante sem considerar a época de plantio e o sistema de irrigação utilizado. Entretanto, apesar das interações observadas entre os efeitos de época x biofertilizante e época x sistema de irrigação, o efeito principal da época de plantio sobrepujou os efeitos secundários das interações, podendo-se concluir que, de um modo geral, na época de chuva obteve-se maiores produções total (50,61 t/ha) e comercial (37,34 t/ha), superando as produções obtidas na época seca em 82% e 59%, respectivamente, e um maior peso médio de frutos (90,41 g e 70,80 g nas épocas de chuva e seca respectivamente). Também na época de chuva a percentagem de frutos brocados (23,25%) foi significativamente superior àquela obtida na época seca (5,89%). Conclusões semelhantes podem ser tomadas com relação ao efeito do sistema de irrigação, em que o gotejamento proporcionou maiores produções total e comercial e maior peso médio dos frutos (43,85 t/ha, 34,66 t/ha e 84,28 g, respectivamente), superando em 27%; 32% e 9,5% aqueles obtidos na irrigação por aspersão. Neste sistema de irrigação também se observou uma menor percentagem de frutos brocados (13,68%) do que com o uso da irrigação por aspersão (15,45%). Esses resultados indicam que o tomateiro tutorado é uma planta mais adaptada à irrigação por gotejamento, a qual evita a lavagem dos produtos aplicados na parte aérea e cria um microclima desfavorável à infestação da broca pequena do fruto. Os resultados com relação aos produtos utilizados serão discutidos dentro de cada situação, de acordo com as análises de cada experimento, em particular. Houve efeito significativo entre os tratamentos dentro de cada época de plantio e de cada sistema de irrigação utilizado, para produção total, comercial e de frutos brocados. No plantio da época seca com o uso da irrigação por aspersão (Tabela 1), houve destaque do tratamento com Btk seguido pelos tratamentos deltametrina + clorfluazuron e Btk + clorfluazuron que não diferiram estatisticamente, tanto para produção total como para a produção comercial. Na produção comercial, a aplicação de biofertilizante + Btk, não diferiu estatisticamente de Btk; deltametrina + clorfluazuron e Btk + clorfluazuron. Estes tratamentos apresentaram também menores perdas de frutos brocados, destacando-se a aplicação de biofertilizante + Btk. A eficiência deste Bacillus foi comprovada também por Gravena (1989) no controle de Neoleucinodes elegantalis no MIP. Constatou-se que o efeito do clorfluazuron tanto em relação à produção total e comercial quanto à percentagem de frutos brocados, aumentou significativamente quando associado com deltametrina ou Btk. A aplicação de deltametrina, isoladamente, foi o tratamento que apresentou maior percentagem de frutos brocados, resultado que discorda daqueles encontrados por Raetano et al. (1993b) e da recomendação de Filgueira (1982), porém foi um dos tratamentos mais eficiente quando em combinação com o clorfluazuron. O teste t para contrastes entre médias de tratamentos, ao nível de 5% de significância, confirmou os resultados do teste de Tukey, apresentados na tabela 1. Pelo teste t, a utilização da combinação biofertilizante + deltametrina resultou em maior produção comercial e menor percentagem de frutos brocados que a aplicação de deltametrina, isoladamente (t=4,55 e t=4,12, respectivamente). A combinação deltametrina + clorfluazuron também foi mais eficiente que a deltametrina, tanto na produção comercial (t=11,42) quanto na redução de fru55 M.U.C. Numes & LEAL, M.L.S. Leal Tabela 1. Produção e perdas causadas pela broca pequena do fruto do tomateiro com plantio em época seca e sob irrigação por aspersão, em função de tratamentos com biofertilizante e inseticidas biológicos e químicos. Aracaju (SE), Embrapa Tabuleiros Costeiros, 1995 – 1997. Tratamen to Biofertilizante B. thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) Biofertilizante + Btk. Clorfluazuron Biofertilizante + clorfluazuron Abamectin Biofertilizante + abamectin Deltametrina Biofertilizante + deltametrina Biofertilizante + teflubenzuron Btk+ clorfluazuron Deltametrina + clorfluazuron B. thuringiensis subsp. kurstaki e aizawai (Btka) C. V. Média Geral D. M. S. tos brocados (t=10,31). A combinação Btk + clorfluazuron superou, em produção comercial, o efeito do clorfluazuron aplicado isoladamente (t=3,65). Os dados de produção obtidos no plantio na época de chuva (maio/junho) com um complemento de irrigação por aspersão (Tabela 2), mostraram que os tratamentos com Btk + clorfluazuron e com biofertilizante + teflubenzuron apresentaram produções totais estatisticamente superiores aos demais. Em produção comercial, destacaram-se estes tratamentos além daqueles em que foi usado o clorfluazuron isoladamente. O resultado obtido com o uso do clorfluazuron, em relação à ocorrência de broca, discorda daquele obtido por Reis & Souza (1995) em Lavras, em que esse produto foi o menos eficiente no controle da broca pequena do tomateiro. Tal fato, pode estar relacionado com as condições climáticas de cada local de aplicação. O tratamento com biofertilizante + teflubenzuron além de apresentar maior produção comercial foi um dos mais eficientes no controle da broca pequena do fruto. O tratamento com abamectin está entre aqueles que apresentaram menores produções comerciais e maior incidência de broca, 56 P rodu ção total ( t/ h a ) 24,34 e 33,56 a 29,97 bc 29,34 bc 28,34 cd 25,52 de 28,52 cd 22,65 e 24,88 e 23,23 e 31,54 abc 32,63 ab 28,84 3,98 27,95 3,33 cd P rodu ção comercial (t/h a) 20,37 fg 28,95 a 26,32 abc 24,00 bcde 23,90 bcd 21,07 efg 22,55 def 16,62 h 20,48 fg 19,34 gh 27,09 ab 26,31 abc 24,58 bcd 4,48 23,20 3,11 cujo efeito foi significativamente melhorado quando associado com o biofertilizante. O resultado obtido com a aplicação isolada de abamectin foi semelhante àquele citado por Raetano et al. (1993a) e contrário ao obtido por Reis & Souza (1995). As melhores produções e controle da broca pequena do fruto devido à associação do biofertilizante aos inseticidas teflubenzuron e abamectin, estão relacionados com o efeito nutricional e inseticida do biofertilizante, como referenciado por Vairo (1992). O teste t para contrastes entre médias de produção comercial mostrou haver superioridade das combinações biofertilizante + abamectin e biofertilizante + Btk sobre o abamectin e o Btk, utilizados isoladamente (t=10,18 e t=3,65 respectivamente), confirmando o efeito positivo do biofertilizante nesta situação. Também a produção comercial média obtida na combinação Btk + clorfluazuron foi significativamente superior às obtidas nestes dois produtos isolados (t=13,37 e t=3,17 respectivamente). Estes resultados confirmam, em parte, aqueles mostrados na tabela 2. Com o uso da irrigação por gotejamento, na época seca (Tabela 3) P erda por broca (% ) 7,50 bcd 4,95 ef 4,65 f 6,00 cdef 6,74 bcde 6,83 bcde 6,57 bcdef 10,74 a 8,50 b 7,95 bc 5,53 def 5,14 ef 5,28 ef 10,00 6,64 1,99 o tratamento com Btk + clorfluazuron apresentou maior produção total e comercial que todos os demais tratamentos e uma das menores perdas de produção devido à ocorrência de broca (4,30%). Nestas condições de cultivo sobressaiu, em segundo lugar, o tratamento com clorfluazuron, em produção total e comercial, apresentando também pequena perda de frutos brocados (4,48%). Em relação à produção comercial, o uso de Btk, biofertilizante + clorfluazuron e biofertilizante + teflubenzuron não diferiram estatisticamente entre si, fazendo parte dos melhores tratamentos, porém inferiores ao tratamento de Btk + clorfluazuron. O teste t não evidenciou contrastes significantes entre os produtos usados isoladamente ou em combinação com o biofertilizante. Nessa época de plantio (época seca), com o uso da irrigação por aspersão (Tabela 1), a média geral da produção comercial foi de 23,20 t/ha com uma perda de 6,64% devido à ocorrência da broca pequena do fruto. Usando a irrigação por gotejamento (Tabela 3) obteve-se uma produção comercial média de 23,74 t/ha e uma perda de 5,13% de frutos brocados. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Efeitos da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação. Tabela 2. Produção e perdas causadas pela broca pequena do fruto do tomateiro com plantio em época de chuva e sob irrigação por aspersão, em função de tratamentos com biofertilizante e inseticidas biológicos e químicos. Aracaju (SE), Embrapa Tabuleiros Costeiros, 1995 – 1997. Tratamen to Biofertilizante B. thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) Biofertilizante + Btk Clorfluazuron Biofertilizante + clorfluazuron Abamectin Biofertilizante + abamectin Deltametrina Biofertilizante + deltametrina Biofertilizante + teflubenzuron Btk + clorfluazuron Deltametrina + clorfluazuron B. thuringiensis subsp. Kurstaki e aizawai (Btka) C. V. Média Geral D. M. S. P rodu ção total (t/h a) 33,75 g 37,50 ef 41,29 cd 43,82 bc 40,19 de 35,48 fg 39,91 de 41,32 cd 41,66 cd 46,27 ab 49,04 a 42,08 cd 42,71 cd 2,83 41,16 3,48 P rodu ção comercial (t/h a) 22,09 e 25,81 d 28,80 bc 34,00 a 27,12 cd 21,09 e 29,16 bc 28,98 bc 29,41 bc 36,61 a 36,51 a 28,41 bcd P erda por broca (% ) 22,88 d ef 22,81 d ef 24,92 bcd 21,27 ef 24,33 cde 33,66 a 22,33 d ef 26,88 bc 26,50 b 19,81 f 22,16 d ef 28,00 b 30,33 b 19,92 3,34 29,10 2,90 4,60 24,27 3,34 f Tabela 3. Produção e perdas causadas pela broca pequena do fruto do tomateiro com plantio na época seca e sob irrigação por gotejamento, em função de tratamentos com biofertilizante e inseticidas biológicos e químicos. Aracaju (SE), Embrapa Tabuleiros Costeiros, 1995 – 1997. Tratamen to Biofertilizante B. thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) Biofertilizante + Btk Clorfluazuron Biofertilizante + clorfluazuron Abamectin Biofertilizante + abamectin Deltametrina Biofertilizante + deltametrina Biofertilizante + teflubenzuron Btk + clorfluazuron Deltametrina + clorfluazuron B. thuringiensis subsp. kurstaki e aizawai (Btka) C. V. Média Geral D. M. S. Na época de chuva e com o complemento da irrigação por gotejamento (Tabela 4), as maiores produções totais e Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. P rodu ção total (t/h a) 25,46 d ef 28,53 bcd 25,48 d ef 31,37 b 28,13 bcd 29,08 bc 24,59 ef 28,98 bc 22,51 f 27,29 cde 35,89 a 25,29 d ef 26,53 4,13 27,72 3,41 cde P rodu ção comercial (t/h a) 19,61 fg 24,95 bc 22,04 cdef 28,01 b 25,11 bc 23,69 cd 20,33 efg 24,41 cd 17,68 g 25,09 bc 32,92 a 21,68 d ef 23,15 4,51 23,79 3,20 comerciais e as menores perdas de produção devido à ocorrência da broca foram obtidas com aplicação de cde P erda por broca (% ) 6,91 a 4,52 cd 4,26 cd 4,48 cd 5,37 abcd 6,57 ab 4,92 bcd 4,34 cd 5,82 abc 4,13 d 4,30 cd 6,37 ab 4,68 cd 10,86 5,17 1,66 biofertilizante + abamectin e de biofertilizante + clorfluazuron, cujos resultados não diferiram estatisticamen57 M.U.C. Numes & LEAL, M.L.S. Leal Tabela 4. Produção e perdas causadas pela broca pequena do fruto do tomateiro com plantio na época das chuvas e sob irrigação por gotejamento, em função de tratamentos com biofertilizante e inseticidas biológicos e químicos. Aracaju (SE), Embrapa Tabuleiros Costeiros, 1995 – 1997. Tratamen to Biofertilizante B. thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) Biofertilizante + Btk Clorfluazuron Biofertilizante + clorfluazuron Abamectin Biofertilizante + abamectin Deltametrina Biofertilizante + deltametrina Biofertilizante + teflubenzuron Btk + clorfluazuron Deltametrina + clorfluazuron B. thuringiensis subsp. kurstaki e aizawai (Btka) C. V. Média Geral D. M. S. te entre si. Também aqui foram constatadas diferenças significativas, tanto pelo teste de Tukey quanto pelo teste t, entre os tratamentos biofertilizante + abamectin e abamectin, com relação à produção comercial e percentagem de frutos brocados (t=8,26 e t=3,25, respectivamente), indicando um melhor efeito da combinação sobre o produto isolado no aumento da produtividade e redução da broca, à semelhança do observado no mesmo período, com a irrigação por aspersão (Tabela 2). Somente nessa época e com a irrigação por gotejamento, foram evidenciadas médias de produção total e comercial significativamente superiores do tratamento biofertilizante + clorfluazuron, quando comparado ao clorfluazuron isolado (t=5,19). Constatou-se, pelas médias gerais, maior ocorrência de broca pequena do fruto nos plantios feitos na época de chuva (Tabelas 2 e 4), onde a perda média de produção foi 17,63%, superior ao do plantio realizado na época seca (Tabelas 1 e 3). A produção total, produção comercial e o peso médio de fruto obtidos nos cultivos feitos na época de chuva, foram superiores em 47%, 25% e 28%, respectivamente, em relação à época seca. 58 P rodu ção total ( t/ h a ) 58,65 e 59,45 de 57,06 ef 59,64 cde 65,36 ab 53,99 fg 65,89 a 60,82 bcde 52,10 g 64,20 abc 59,94 cde 60,61 cde P rodu ção comercial (t/h a) 44,97 cde 43,87 cde 43,51 de 45,72 cd 52,01 a 41,35 ef 51,35 ab 43,44 de 37,83 f 48,19 abc 46,21 cd 46,49 cd 63,28 abcd 47,55 2,58 60,08 4,63 3,25 45,58 4,43 O fato da maior ocorrência de broca ter sido observado na época de chuva, pode estar relacionado com a maior lavagem dos produtos aplicados e com a maior infestação desse inseto-praga favorecida pelas condições climáticas nesse período. Por outro lado as maiores produções na época de chuva podem ser devido à ocorrência de temperaturas mais amenas, principalmente à noite, que são favoráveis ao vingamento de flores e formação de frutos. No presente trabalho observou-se que as plantas que receberam a aplicação de biofertilizante apresentaram maior vigor e coloração verde mais intensa em relação aos demais tratamentos. Diante dos resultados alcançados nas condições em que foram desenvolvidos os experimentos, conclui-se que o efeito dos tratamentos variou com a época de plantio e com o sistema de irrigação utilizado. Os melhores tratamentos, em ordem decrescente, foram: a) Época seca com a irrigação por aspersão: Btk; Btk + clorfluazuron; deltametrina + clorfluazuron; biofertilizante + Btk; b) Época seca com irrigação por gotejamento: Btk + clorfluazuron.; c) Época de chuva com a irrigação por aspersão: Btk + clorfluazuron; bcd P erda por broca (% ) 21,56 bcd 23,23 abc 21,48 cd 21,90 bcd 20,11 cd 21,59 bcd 19,79 d 25,95 a 24,93 ab 22,73 abcd 21,83 bcd 21,00 cd 22,95 abcd 5,09 22,23 3,38 biofertilizante + teflubenzuron e clorfluazuron; d) Época de chuva com a irrigação por gotejamento: biofertilizante + clorfluazuron e biofertilizante + abamectin. O biofertilizante por ser um adubo foliar orgânico, tem o efeito de nutrir a planta influenciando no seu desenvolvimento, e consequentemente na produção. Estes efeitos somados ao efeito inseticida de alguns produtos, resultam em melhores produções e controle da broca pequena do fruto do tomateiro. AGRADECIMENTOS Agradecemos ao Técnico Agrícola da EMDAGRO Waltênis Braga Silva e ao Técnico Agrícola da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Arnaldo Santos Rodrigues pelo apoio técnico e dedicação na condução dos experimentos e coleta dos dados em campo. LITERATURA CITADA BORTOLI, S.A.; CASTELLANE, P.D. Controle químico da traça do tomateiro e de brocas dos frutos em tomateiro ‘Kazue’, 1988. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 6, n. 2, p. 27-28, nov.1988. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Efeitos da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação. EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE). Relatório Técnico Anual do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros. Aracaju, 1994. 105 p. FILGUEIRA, F.A.R. Manual de Olericultura. 2 ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1982. 286 p. v. 2. GALLO, D.; NAKANO, 0.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, G.C., BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCHI, R.A.; ALVES, S.B. Manual de entomologia agrícola, 2 ed., São Paulo, Agronômica Ceres, 1988. 649 p. GOMES, F.P. Curso de estatística experimental. 11 ed. revista e ampl. Piracicaba: ESALQ, 1985. 466 p. GRAVENA, S. Manejo integrado de pragas do tomateiro. In: ENCOTRO NACIONAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE TOMATE, 1, 1989, Viçosa, Anais... Viçosa: EMATER - MG, 1989. p. 36-51. IBGE, RJ. Produção Agrícola Municipal. Rio de Janeiro: IBGE, 1996. Disponível: http:// www.sidra.ibge.gov.br. consultado em 16de maio de 2000. LYRA NETO, A.M.C.; WANDERLEY, L.J.G.; MELO, P.C.T. Controle químico de Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) e Scrobipalpula absoluta (Meyrik, 1917)) (Lepidoptera: Gelechhiidal) no tomateiro em Pernambuco. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, Porto alegre, v. 20, n. 2, p. 353-358, 1991. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. LYRA NETO, A.M.C.; WANDERLEY, L.J.G.; MELO, P.C.T.; SANTOS, V.F. Controle de pragas do tomateiro (Neoleucinodes elegantalis) e (Scrobipalpula absoluta) em Pernambuco. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 24, 1984, Jaboticabal. Resumos. Jaboticabal: SOB, 1984. p. 145. MORENO, P.R.; NAKANO, O.; ANDRADE, F.M.E.; DODO, S. Controle da broca pequena do tomateiro Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera - Pyralidae) com um novo inseticida fisiológico denominado Tebufenozide. IN: CONGRESSSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 15,1995, Caxambu. Resumos Caxambu: SEB, 1995, p. 512. NUNES, M.U.C. Produção de mudas de hortaliças com o uso da plasticultura e do pó de coco. Aracaju: Embrapa – CPATC, 2000. 29 p. (Embrapa - CPATC. Circular Técnica, 13). PRANDO, H.F.; SILVA Jr., A.A. Eficácia de seis inseticidas no controle de Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera Pyralidae) em tomate. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil., Itabuna, v. 19, n. 1, p. 59-63, 1990. RAETANO, C.G.; GUASSU, C.M.O.; CROCOMO, W.B.; WILKEN, C.F. Avaliação da eficiência do abamectin no controle da broca pequena do tomateiro Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera Pyralidae) em tomate estaqueado. Científica, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 221-229, 1993a. RAETANO, C.G.; GUASSU, C.M.O.; CROCOMO, W.B. Eficiência de inseticidas piretróides no controle da broca pequena do tomateiro - Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera - Pyralidae), em tomate estaqueado. Científica , São Paulo, v. 21, n. 1, p. 197-202,1993b. REIS, P.R.; SOUZA, J.C. Controle da broca pequena, Neoleucinodes elegantalis, (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera - Pyralidae), com inseticidas fisiológicos, em tomateiro estaqueado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 15, 1995, Caxambu. Resumos ... Caxambu: SEB, 1995, p. 443. SANDRE Jr., P.; SILVA, A.L.; ALCANTARA, V.E.D.; FARIAS, T.A. Ensaio para o controle químico da broca pequena Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera Pyralidae) do tomateiro. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária , v. 21/22, n. 1, p. 127-131, 1991/1992. SOUZA, J.C., REIS, P.R. Eficiência do inseticida Vertimec (Abamectin) 18CE no controle da broca pequena do tomate Neoleucinodes elegantalis (GUENÉE, 1854) (Lepidoptera Pyralidae), em tomateiro estaqueado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13, 1991, Recife. Resumos ... Recife: SEB, 1991. v. 2, p. 453. VAIRO, S.A.C. Biofertilizante líquido: o defensivo agrícola da natureza. Niterói, EMATER Rio, Agropecuária Fluminense, Rio de Janeiro, n. 8, 16 p. 1992. 59 CASTELO BRANCO, M.; FRANÇA, F.H., MEDEIROS, M.A.; LEAL, J.G.T. Uso de inseticidas para o controle da traça-do-tomateiro e traça-dascrucíferas: um estudo de caso. Horticultura Brasileira, v. 19 n. 1, p. 60-63, março, 2.001. Uso de inseticidas para o controle da traça-do-tomateiro e traça-dascrucíferas: um estudo de caso. Marina Castelo Branco1; Félix H. França1; Maria A. Medeiros1, José Guilherme T. Leal2 1/ Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70.359-970, Brasília - D.F; E-mail: [email protected] 2/EMATER-DF. Escritório Local Núcleo Rural da Taquara, s/n. 70.000-000 Brasília – DF RESUMO ABSTRACT Em agosto de 1999, produtores de tomate e brassicas da Núcleo Rural da Taquara tiveram seus cultivos seriamente comprometidos devido à impossibilidade de controle da traça-do-tomateiro e da traça-das-crucíferas. Diversos inseticidas, alguns com o mesmo princípio ativo ou, pertencentes ao mesmo grupo químico, eram aplicados de uma a sete vezes por semana sem qualquer eficiência no controle das pragas. Lavouras foram abandonadas em diferentes estádios de desenvolvimento. A fim de definir uma estratégia de controle que viabilizasse a produção de tomate e brassicas na região, foi avaliado em laboratório a eficiência da dose comercial de alguns inseticidas usados no controle das duas pragas. Para isso, foram coletadas duas populações de traça-do-tomateiro e uma população de traçadas-crucíferas. Para traça-do-tomateiro, cartap, abamectin, lufenuron, acefate e deltametrina causaram respectivamente 100; 90; 67 e 0% de mortalidade das larvas. Para traça-das-crucíferas, B. thuringiensis, abamectin, cartap, acefate and deltametrina causaram 100; 96; 86; 79 e 5% de mortalidade respectivamente. De acordo com estes resultados foi recomendada a suspensão imediata do uso de piretróides e organofosforados para o controle das duas pragas. Abamectin e cartap foram recomendados para o controle da traça-do-tomateiro e B. thuringiensis para o controle de traça-das-crucíferas. Use of insecticides for controlling the South American Tomato Pinworm and the Diamondback Moth: a case study. Palavras-chave: Brassica oleracea, Lycopersicon esculentum, Tuta absoluta, Plutella xylostella, tomate, repolho, couve-flor, controle químico, resistência a inseticida. Keywords: Brassica oleracea, Lycopersicon esculentum, Tuta absoluta, Plutella xylostella, tomato, cabbage, cauliflower, chemical control, insecticide resistance. In August 1999, at the “Núcleo Rural da Taquara”, Federal District, Brazil, tomato and brassica crops were severely damaged by the South American Tomato Pinworm (Tuta absoluta) and the Diamondback Moth (Plutella xylostella). During that time growers related that they had been spraying insecticides one to seven times per week without controlling the pests. In the fields it was observed that there were crops with different ages and levels of chemical residues which allowed the pests to multiplicate continuously. Then it was decided that the first step to solve the problem would be to evaluate the efficacy of the recommended field rate of some insecticides in laboratory bioassays. Two Brazilian Tomato Pinworm populations and one Diamondback Moth population were collected. Cartap, abamectin, lufenuron, acephate and deltamethrin caused 100; 90; 67 and 0% of larval mortality to the South American Tomato Pinworm, respectively. B. thuringiensis, abamectin, cartap, acephate and deltamethrin caused 100; 96; 86; 79 and 5% of mortality to the Diamondback Moth, respectively. According to laboratory results it was recommended that the use of pyrethroid and organophosphorous compounds must be suspended immediately. Abamectin and cartap must be used to control the South American Tomato Pinworm and B. thuringiensis must be employed to Diamondback Moth control. (Aceito para publicação em 04 de janeiro de 2.001). E m agosto de 1999, foi verificado que no Núcleo Rural da Taquara (DF) a produção de tomate e brassicas estava seriamente comprometida devido aos danos ocasionados pela traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e pela traça-dascrucíferas (Plutella xylostella). Diversos tipos de inseticidas, com freqüência que variava de semanal a diária, foram utilizados na região. A impossibilidade de controle das pragas foi atribuída, pelos agricultores, à possível “falsificação dos produtos”. Não foi levantada a hipótese de que a ineficiência dos produtos poderia ser devida à resistência das pragas aos inseticidas. Resistência de traça-do-tomateiro a cartap já foi observada no Brasil (Siqueira et al., 2.000) e 60 resistência de traça-das-crucíferas a diversos inseticidas já foi observada em várias partes do mundo (Castelo Branco & Gatehouse, 1997; Cameron & Walker, 1998; Baker, 1999; Kovaliski, 1999). Observações preliminares de tomate do local constataram a presença de minas de traça-do-tomateiro em praticamente todas as folhas e, em alguns casos, até 100% de frutos danificados. Em lavouras de brassicas foram observados furos de traça-das-crucíferas em folhas de repolho e couve-flor e, em um cultivo de couve-flor, foram encontradas mais de 100 larvas/planta. O sistema de produção destas culturas envolvia: plantio contínuo e sucessivo de tomate e brassicas; abandono de restos culturais nas áreas de cultivo; mistura de inseticidas; utilização em rotação de dois ou três produtos diferentes, em uma mesma semana, sem observação de critérios técnicos. Zhao et al. (1995), em ensaios realizados na China, observaram que testes de laboratório onde se avaliava a eficiência da dose comercial de inseticidas para o controle da traça-das-crucíferas eram bons indicadores da eficiência dos inseticidas em campo. A fim de determinar quais os inseticidas ineficientes para o controle da traça-das-crucíferas e traçado-tomateiro no Núcleo Rural da Taquara, testes de laboratório foram realizados. De posse destes dados e das observações de campo, recomendações para o manejo da cultura foram sugeridas. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Uso de inseticidas para o controle da traça-do-tomateiro e traça-das-crucíferas: um estudo de caso. MATERIAIS E MÉTODOS 1. Populações coletadas Foram coletados ovos, larvas e pupas de duas populações de traça-dotomateiro (Populações 1 e 2) e de uma população de traça-das-crucíferas (População 3) no Núcleo Rural da Taquara. Os agricultores forneceram dados sobre os inseticidas utilizados e freqüência de aplicação, conforme segue: 1.1 Traça-do-tomateiro: abamectin, Bacillus thuringiensis, chlorfluzuron, ciflutrina, deltametrina, fenpropatrina, lufenuron, metomil, permetrina e triflumuron. As pulverizações foram realizadas com um inseticida ou com mistura de produtos a cada 24 horas. 1.2 Traça-do-tomateiro: abamectin, Bacillus thuringiensis, betaciflutrina, ciflutrina, cartap, fenpropatrina, lufenuron, metomil, permetrina, triflumuron. As pulverizações eram realizadas a cada três dias, com um inseticida ou com mistura de dois inseticidas (piretróide + lufenuron). 1.3 Traça-das-crucíferas: abamectin, chlorfluzuron, deltametrina, metamidofós e outros inseticidas não identificados. As pulverizações eram feitas com intervalo que variavam de um a três dias. 2. Bioensaios 2.1. Traça-do-tomateiro: Foram utilizadas larvas de segundo e terceiro estádio de traça-do-tomateiro provenientes diretamente do campo. Os inseticidas abamectin (9 g.i.a./ha), acefate (750 g.i.a./ha), cartap (625 g.i.a./ha), deltametrina (10 g.i.a./ha) e lufenuron (40 g.i.a./ha) foram diluídos considerando-se o volume de calda de 1.000 L/ha. Folíolos que não continham larvas de traça-do-tomateiro foram imersos na solução de inseticida por 10 segundos e, em seguida, colocados para secar a temperatura ambiente. Após estarem secos, 10-15 larvas de traça-do-tomateiro foram colocadas em três folíolos em placa de Petri (15 cm de diâmetro). Em outro teste, folíolos infestados com larvas de traça-do-tomateiro foram imersos na solução de inseticida por 10 segundos (10-15 larvas/repetição) e transferidos para placas de Petri. Foram utilizadas quatro repetições por tratamento. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Para todos os inseticidas, a mortalidade de larvas foi avaliada após 24 h, exceto para lufenuron, onde a mortalidade de larvas foi avaliada após seis dias. Para este último inseticida foi ainda avaliado o número de adultos emergidos. Para a população 1 foram testados abamectin, acefate, deltametrina e lufenuron. Para a população 2 foram testados acefate, cartap e deltametrina. Os produtos cuja mortalidade de larvas foi superior a 90% foram considerados como eficientes para o controle da praga. Para a análise estatística foi utilizado o esquema fatorial 5 x 2 e 4 x 2 [inseticidas x posição das larvas nas folhas (sobre ou dentro das minas)] para as populações 1 e 2, respectivamente. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste DMS (p<0,05) para a separação das médias. 2.2.Traça-das-crucíferas: Larvas e pupas foram coletadas em cultivo de couve-flor e criadas em laboratório até a emergência de adultos. Os adultos foram liberados em gaiola contendo folhas de repolho para a obtenção dos ovos os quais foram mantidos em caixas plásticas com folhas de repolho até que as larvas se desenvolvessem até o segundo estádio, quando foram utilizadas no bioensaio. Foi avaliada a eficiência dos seguintes inseticidas: acefate (750 g i.a./ ha), abamectin (9 g i.a./ha), Bacillus thuringiensis (18 g i.a./ha), cartap (300 g i.a./ha) e deltametrina (6 gi.a./ha). As diluições foram realizadas considerando-se um volume de calda de 400 l/ha. Discos de folhas de repolho de 4 cm de diâmetro foram imersos na solução inseticida e secos à temperatura ambiente, no laboratório. Foram transferidos para placas de Petri com 9 cm de diâmetro e sobre cada folha foram colocadas 15 larvas de traça-das-crucíferas. A mortalidade de larvas foi avaliada após 48 h. Os dados foram submetidas à análise de variância e foi utilizado o teste DMS (p<0,05) para a separação de médias. 2.3. Inimigos naturais: Um total de 50 ovos de traça-do-tomateiro foram coletados no campo em cada uma das duas áreas de tomate. Os ovos foram individualizados em cápsulas de gelatina para a verificação de ocorrência de parasitóides. Larvas de traça-das-crucíferas coletadas no campo foram também separadas e criadas até o estágio de pupa. Quando as pupas foram obtidas (172 no total), foram individualizadas em cápsulas de gelatina para a observação da emergência de parasitóides ou adultos da praga. RESULTADOS E DISCUSSÃO 1. Traça-do-tomateiro: Para as duas populações de traça-do-tomateiro houve apenas efeito do inseticida na mortalidade das larvas. Não houve efeito da posição das larvas sobre os folíolos (larvas sobre os folíolos ou no interior destes) nem da interação inseticida x posição das larvas. Este resultado é diferente do observado por Castelo Branco & França (1993) onde, quando folhas de tomate foram tratadas com cartap, a mortalidade de larvas de traça-do-tomateiro no interior das minas foi significativamente menor do que a mortalidade de larvas sobre as folhas. A causa desta diferença não pôde ser identificada, mas é possível que o grau de suscetibilidade das populações ao inseticida de alguma maneira interfira nos resultados. As doses comerciais dos inseticidas deltametrina e acefate causaram a mortalidade de menos de 2% das larvas das populações 1 e 2 (Tabelas 1 e 2). Lufenuron ficou em uma posição intermediária, causando entre 67 e 72% de mortalidade das lagartas (Tabela 1). No entanto, este produto, por ser um regulador de crescimento, afeta também a emergência de adultos. Uma média de 13% dos adultos emergiram, quando as larvas foram colocadas sobre as folhas. Já quando as larvas estavam dentro das folhas, este percentual subiu para 26%. Ainda que mais de 10% dos adultos da traça-do-tomateiro tenham emergido, inseticidas reguladores de crescimento como lufenuron afetam a fertilidade de fêmeas (França & Castelo Branco, 1996), podendo contribuir para a redução da população da praga em campo. Abamectin causou a mortalidade de mais de 90% das larvas da população 1 (Tabela 1) e cartap causou a mortalidade de todas as larvas da população 2 (Tabela 2). Estes resultados indicam que estes dois inseticidas são os produtos 61 M. Castelo Branco et al. Tabela 1. Mortalidade de larvas de traça-do-tomateiro tratadas com diferentes inseticidas. Larvas sobre folhas ou no interior das minas. População 1. Taquara, Embrapa Hortaliças, 1999. In seticida Posição das larvas n1 dentro sobre dentro sobre dentro sobre dentro sobre dentro sobre 40 40 45 45 39 32 35 37 39 39 Abamectin Lufenuron Deltametrina Acefate Testemunha C.V. (%) % larvas mortas (média ± EPM) 96,8 ± 3,1 a 90,0 ± 5,7 a 67,2 ± 4,7 b 72,0 ± 5,7 b 0,0 ± 0,0 c 0,0 ± 0,0 c 2,2 ± 2,2 c 0,0 ± 0,0 c 5,0 ± 2,9 c 0,0 ± 0,0 c 25,71 1/ número de larvas encontradas após 24 h para todos os inseticidas a exceção de Match®, onde o número de larvas é o número de larvas encontrado após seis dias. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste DMS (p> 0,05) Tabela 2: Mortalidade de larvas de traça-do-tomateiro tratadas com diferentes inseticidas. Larvas sobre folhas ou no interior das minas. População 2. Taquara, Embrapa Hortaliças, 1999. In seticida P osição das larvas n1 dentro sobre dentro sobre dentro sobre dentro sobre 40 40 39 32 35 37 39 39 Cartap Deltametrina Acefate Testemunha C.V. (%) % larvas mortas (média ± EP M) 100,0 ± 0,0 a 100,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 b 5,0 ± 5,0 b 0,0 ± 0,0 b 20,15 1/ número de larvas encontradas após 24 h para todos os inseticidas a exceção de Match®, onde o número de larvas é o número de larvas encontrado após seis dias. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste DMS (p> 0,05) mais eficientes para o controle da praga na região. Dos 50 ovos da traça-do-tomateiro coletados de cada população, nenhum parasitóide emergiu. Este resultado pode indicar a ausência de parasitóides na região ou a eliminação destes. 2. Traça-das-crucíferas: Deltametrina foi o produto menos eficiente, causando a mortalidade de menos de 6% das larvas (Tabela 3). Acefate e cartap se situaram em uma posição intermediária com uma mortalidade variando de 79 a 86% (Tabela 3).Abamectin e Bacillus thuringiensis causaram morta62 lidade superior a 96% (Tabela 3). Estes resultados indicaram uma boa eficácia dos dois inseticidas para o controle da praga. Abamectin não é registratdo para a cultura de brássicas, não tendo portanto o seu uso recomendado. Das 172 pupas de traça-dascrucíferas obtidas, apenas duas estavam parasitadas. Uma por Apanteles sp. e a outra por Oomyzus sokolowiskii. Entre as pupas 87 originaram adultos e 83 não emergiram. Esta baixa ocorrência de parasitóides pode ser atribuída ao elevado número de aplicações de inseticida e ao uso de produtos extremamente tóxicos como por exemplo metamidofós e deltametrina (Talekar & Yang, 1991; Kao & Tzeng, 1992). Este resultado difere do observado por França & Medeiros (1998) onde em uma avaliação de inseticidas em campo foi observada população alta de parasitóides (média > 4,0 adultos por planta) nas parcelas tratadas com deltametrina, indicando a sobrevivência destes no local do experimento. Como nesta área de cultivo foram utilizados diferentes tipos de inseticida, não foi possível a identificação dos produtos que mais contribuíram para a redução da população dos Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Uso de inseticidas para o controle da traça-do-tomateiro e traça-das-crucíferas: um estudo de caso. parasitóides. Estudos que visem avaliar a seletividade de alguns destes produtos se fazem necessários. É sabido que as doses recomendadas de qualquer inseticida são capazes de matar um determinado percentual da população da praga, geralmente 95%, independentemente da sua densidade populacional (Knipling, 1979). Então, quando a densidade populacional é baixa, os produtos tendem a ser mais eficientes do que quando a densidade populacional é mais elevada. No Núcleo Rural da Taquara, o sistema de produção de tomate e brassicas (plantios sucessivos e não eliminação de restos culturais) e as condições ambientais (tempo quente e seco) eram favoráveis ao crescimento descontrolado das populações de traça-das-crucíferas e traça-do-tomateiro (França et al., 1985; Haji et al., 1988; Castelo Branco, 1992). Deste modo, nenhum inseticida, mesmo os considerados eficientes em testes de laboratório, apresentaram eficiência no campo. Assim, para a viabilização de lavouras de tomate e brassicas na região e sobrevivência de parasitóides e predadores que possam auxiliar na redução das populações das pragas, são necessárias a implementação de medidas racionais de uso de inseticidas e outras práticas de manejo da cultura que visem, principalmente, reduzir as condições favoráveis ao crescimento populacional dos insetos. São recomendadas as seguintes medidas: a) pulverizações semanais de inseticidas; b) eliminação de inseticidas pertencentes a grupos químicos considerados ineficientes nos testes de laboratório; c) introdução de um esquema de rotação de inseticidas (Castelo Branco, 2.000); c) uso de irrigação por aspersão para remoção de ovos e mortalidade de larvas e pupas (Costa et al., 1998; Junqueira et al., 1998); d) destruição de restos culturais; e) não utilização de plantio seqüenciado de tomate ou brássicas. As recomendações aqui descritas foram seguidas por um agricultor do Núcleo Rural da Taquara e com isso foi recuperada uma lavoura de tomate e um plantio de couve-flor que já haviam sido considerados perdidos. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabela 3 Mortalidade de larvas de traça-das-crucíferas tratadas com diferentes inseticidas. População 3. Taquara, Embrapa Hortaliças, 1999. In seticida Testemunha Deltrametrina Acefate Cartap Abamectin Bacillus thuringiensis C.V. (%) % larvas mortas (média ± EP M) 0,0 ± 0,0 a 5,5 ± 1,7 a 79,0 ± 8,3 b 86,5 ± 4,7 bc 96,5 ± 2,2 cd 100,0 ± 0,0 d 18,93 Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste DMS (p> 0,05) AGRADECIMENTOS A Hozanan P. Chaves pelo auxílio nos trabalhos de campo e laboratório. Aos agricultores do Núcleo Rural da Taquara pelas informações prestadas. LITERATURA CITADA BAKER,G.J.; KOVALISKI, J. Detection of insecticide resistance in Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) populations in South Australian crucifer crops. Australian Journal of Entomology, v. 38, p. 132-134, 1999. CAMERON, P; WALKER, G. Warning: D.B moth resistant to pesticide. CommercialGrower. v. 53, n. 2, p. 12-13, 1998. CASTELO BRANCO, M. Flutuação populacional da traça-do-tomateiro na região do Distrito Federal. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 10, p. 33-34, 1992. CASTELO BRANCO, M. Como lidar com a resistência. Cultivar HF, v. 3, p. 25-27, 2000. CASTELO BRANCO, M.; FRANÇA, F.H. Avaliação da suscetibilidade de três populações de Scrobipalpuloides absoluta a Cartap. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 11, n. 1, p. 32-34, 1993. CASTELO BRANCO, M.; GATEHOUSE, A.G. Insecticide resistance in Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae) in the Federal District, Brazil. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, Jaboticabal, v. 26, p. 75-79, 1997. COSTA, J.S.; JUNQUEIRA, A.M.E.; SILVA, W.L.C.; FRANÇA, F.H. Impacto da irrigação via pivô-central no controle da traça-do-tomateiro. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 16, n. 1, p. 19-23, 1998. FRANÇA, F.H.; CASTELO BRANCO, M. Controle de pragas de hortaliças com produtos reguladores de crescimento de insetos. Horticultura Brasileira, Brasília, v.14, n. 1, p. 4-8, 1996. FRANÇA, F.H.; MEDEIROS, M.A. Impacto da combinação de inseticidas sobre a produção de repolho e parasitóides associados com a traça-das-crucíferas. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 16, n. 2, p. 132-135, 1998. FRANÇA, F.H.; CORDEIRO, C.M.T.; GIORDANO, L.B.; RESENDE, A.M. Controle da traça-das-crucíferas em repolho, 1984. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 3, n. 2, p.47-53, 1985. HAJI, F.N.P.; OLIVEIRA, C.A.V.; AMORIM NETO, M.S.; BATISTA, J.G.S. Flutuação populacional da traça-do-tomateiro no Submédio São Francisco. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 23, n. 1, p. 7-14, 1988. JUNQUEIRA, A.M.R.; COSTA, J.S.; CASTELO BRANCO, M. FRANÇA, F.H. Impacto de diferentes lâminas de irrigação nos danos de Plutella xylostella em plantas de repolho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 38., 1998, Petrolina. Resumos... Petrolina, SOB, 1998. Resumo 140. KAO, S.S.; TZENG, C.C. Toxicity of insecticides to Cotesis plutellae, a parasitoid of the Diamondback Moth. In: TALEKAR, N.S. (Ed.). Diamondback Moth and other crucifer pests: Proceedings of the Second International Workshop. Taiwan: AVRDC, 1992. p. 287296. KNIPLING, E.F. The basic principles of insect population suppression and management. Washington: USDA, 1979. 659 p. SIQUEIRA, H.A.A.; GUEDES, R.N.C.; PICANÇO, M.; OLIVEIRA, E.E. Cartap resistance and synergism in populations of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). In. INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21; BRAZILIAN CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 18., 2000. Foz do Iguaçu, Abstracts. Londrina: SEB/ Embrapa Soja, 2000. v. 1, p. 353. TALEKAR, N.S.; YANG, J.C. Characteristic of parasitism of diamondback moth by two larval parasites. Entomophaga, v. 36, p. 95-104, 1991. ZHAO, J.Z.; WU, S.C.; ZHU, G.R. Bioassays with recommended field concentrations of several insecticides for resistance monitoring in Plutella xylostella. Resistant Pest Management, v. 7, n. 1, p. 13-14,1995. 63 SILVA, E.C.; MIRANDA, J.R.P.; ALVARENGA, M.A.R. Concentração de nutrientes e produção do tomateiro podado e adensado em função do uso de fósforo, de gesso e de fontes de nitrogênio. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 64-69, março 2001. Concentração de nutrientes e produção do tomateiro podado e adensado em função do uso de fósforo, de gesso e de fontes de nitrogênio. Ernani C. Silva1; José R. P. Miranda2; Marco A. R. Alvarenga3 1 UFS-DEA, Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 49.100-000, São Cristóvão-SE- E-mail: [email protected]; 2UFPBCSTR-Depto.Engª. Florestal, Campus VII, 58.700-970, Patos-PB; 3UFLA-DAG, C. Postal 37, 37.200-000, Lavras-MG, E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Este trabalho foi conduzido em Lavras-MG, em 1997, para estudar a absorção de nutrientes e a produção de tomateiro no sistema podado e adensado, sob diferentes doses de gesso, P2O5 e fontes de N e de P, considerando também o sistema de produção convencional. Foram estudadas três doses de P2O5 (0,2; 0,4 e 0,6 t/ha) na forma de superfosfato triplo e quatro doses de gesso (0,3; 0,6; 0,9 e 1,2 t/ha), arranjadas como fatorial 3 x 4, no delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. Foram incluídos quatro tratamentos adicionais abrangendo espaçamentos e poda e fontes de N e P. A produção comercial cresceu linearmente com as doses de P2O5 e decresceu com o uso de gesso. As maiores produções, ao limite de 149,2 t/ha, foram obtidas com plantas podadas e adensadas. As menores produções, 91 t/ha (plantas podadas) e 63,2 t/ha (plantas não podadas), foram obtidas com o uso de N (sulfato de amônio) e P(superfosfato simples). O teor de P nas folhas decresceu linearmente com o aumento das doses de gesso e variou de 3,0 a 1,7 g/kg com o menor teor observado nos tratamentos adicionais N (sulfato de amônio) e P (superfosfato simples). O teor de Mg nas folhas foi em média 4,7 g/kg sem diferenças significativas considerando os tratamentos com gesso e P2O5, mas foram encontrados teores de Mg em torno de 3,0 g/kg no tratamento adicional N (sulfato de amônio) e P (superfosfato simples), estatisticamente diferente dos demais tratamentos. O teor de Cu (79,4 mg/kg) observado no tratamento adicional onde foi usada uréia como fonte de N e superfosfato triplo como fonte de P, foi estatisticamente diferente de 120,6 g/kg, encontrado no outro tratamento adicional. O teor de Cu elevou-se também com o aumento das doses de gesso. Conclui-se que o uso excessivo de fertilizantes cujas fórmulas contenham S pode inibir a absorção de P, assumindo maiores proporções nos plantios adensados. A redução do número de frutos por planta através da poda, quando associada com maior densidade de plantio, pode resultar em ganho altamente significativo de produtividade. Yield and nutrient concentration of tomato plants pruned and grown under high planting density according to phosphorus, gypsum and nitrogen sources. Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill, fósforo, adubação fosfatada, gessagem, sistemas de produção. This research was carried out at Lavras, Minas Gerais State (Brazil) in 1997. The objective was to study nutrient absorption by tomato plants pruned and grown under high planting density over different gypsum, P2O5 rates and different N and P sources. The yield was also analyzed, considering conventional planting systems. The experimental design was of complete randomized blocks with four replications in a factorial scheme 3 x 4 with three rates of P2O5 triple superphosphate (0.2, 0.4, and 0.6 t/ha) and four rates of gypsum (0.3, 0.6, 0.9 and 1.2 t/ha). Four additional treatments were included about planting system and soil fertilization. A linear increase was observed on the commercial tomato yield with the increasing of P2O5 rates whereas linear decreasing was observed with the increasing of gypsum rates. The production up to 149.2 t/ha was obtained with plants pruned and grown under high planting density. The lower production, 91 t/ha (pruned plants) and 63.2 t/ha (not pruned plants), was obtained using ammonium sulfate (N source) and single superphosphate (P source). Leaf P contents, with values around 3.0 a 1.7 g/kg, decreased with the increase of gypsum rates. The lower leaf P content was observed in the additional treatment with ammonium sulfate and single superphosphate. The mean value of magnesium contents was 4.7 g/kg without statistically significant differences considering gypsum and P2O5 treatments. Otherwise values of magnesium contents around 3.0 g/kg were found under additional treatments, statistically different when compared to the treatments above mentioned. The observed Cu values of 79.4 mg/kg in another additional treatment using urea as N source, and triple superphosphate as P source was statistically different with values of 120.6 g/kg, observed in the first additional treatment. Leaf Cu contents also increased with the increase of gypsum rates. Its was concluded that high levels of fertilizers with sulfur can inhibit P uptake mainly in high planting density. Reduction of number of fruits per plant by pruning associated with high planting density can increase the yield. Keywords: Lycopersicon esculentum Mill, phosphorus and gypsum fertilizers, production system. (Aceito para publicação em 12 de dezembro de 2.000) O Brasil é o nono maior produtor mundial de tomate e o décimo primeiro em termos de área plantada (Agrianual, 1999). A produção em 1998 foi de 2.615 milhões de toneladas em uma área de 59.810 ha, colocando essa espécie como a hortaliça mais impor64 tante no Brasil, incluindo os aspectos sócioeconômicos (Makishima,1991). Entretanto, a produtividade média de 43,7 t/ha é muito baixa, tendo em vista a potencialidade produtiva do tomateiro. Nos últimos anos, têm sido usadas técnicas e práticas mais sofisticadas, alia- das a sistemas de produção mais modernos e a cultivares híbridas de tomate mais produtivas, no sentido de otimizar o potencial produtivo dessa cultura. A redução do número de hastes por planta e a poda apical para um número definido de cachos nas hastes são práticas Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Concentração de nutrientes e produção do tomateiro podado e adensado em função do uso de fósforo, de gesso e de fontes de nitrogênio. alternativas de produção de tomates para consumo ao natural de modo a obteremse frutos com maior valor comercial (Oliveira et al., 1996; Silva et al., 1997; Camargos, 1998). A desbrota ou remoção de brotos axilares do tomateiro de crescimento determinado induz efeito semelhante ao observado em tomateiros de crescimento indeterminado, possibilitando maior percentagem de frutos graúdos, número e massa média de frutos produzidos precocemente (SilvaJúnior et al., 1992). A quantidade de nutrientes absorvidos pela planta de tomate e o seu particionamento, geralmente associados ao crescimento da planta, depende de fatores bióticos e abióticos, dentre eles a prática da poda (Pelúzio, 1991), sistema de plantio (Fontes & Fontes, 1991) e fontes e doses de nutrientes (Fontes & Fontes, 1992). O uso do gesso na cultura de amendoim como fornecedor de Ca e S tem dado bons resultados (Quaggio et al., 1982) assim como em soja (Mascarenhas et al., 1976) e cenoura (Castellane et al., 1983). Entretanto, apesar da importância do gesso como fonte de nutrientes, sua utilização pode prejudicar a nutrição e a produção das plantas quando empregado em doses que elevem excessivamente a disponibilidade de Ca e S (Martinez et al., 1983). Os objetivos do trabalho foram estudar o efeito de doses de gesso e doses de P2O5 e diferentes fontes de N e de P na absorção de nutrientes pelo tomateiro podado e adensado e na produção do tomateiro em dois sistemas de produção, convencional e adensado. MATERIAL E MÉTODOS O trabalho foi conduzido no campo experimental da UFLA, em Lavras (MG), durante o ano de 1997, utilizando-se tomateiro do grupo Santa Cruz, cv. Santa Clara. O solo é do tipo Latossolo Vermelho Escuro distrófico (Led) com as seguintes características: pH em água = 4,9; P = 6 mg/dm3; K = 63 mmolc/dm3; S = 37 mg/dm3; Ca = 2,5 mmolc/dm3; Mg = 0,3 mmolc/dm3; Cu = 4,3 mg/dm3; Fe = 43,5 mg/dm3; Mn = 45,0 mg/dm3; Zn = 1,8 mg/dm3; Al = 0,1 mmolc/dm3; V = 45%; M.O. = 3,0 dag/kg; areia = 22 g/kg; limo = 24 g/kg; argila = 54 g/kg. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Utilizou-se o extrator Mehlich 1 para P, K, Zn, Mn, Fe e Cu, sendo o P determinado pelo método colorimétrico; K por fotometria de chamas e os demais nutrientes por espectrofotometria de absorção atômica. O B foi extraído com água quente e determinado por processo colorimétrico. Para Ca, Mg e Al utilizou-se extrator KCl 1M com a determinação de Ca e Mg feita por titulação com EDTA e Al por titulação com NaOH. O S foi determinado por extração com fosfato monocálcico em ácido acético (método Hoeft). A propagação do tomateiro foi em bandejas de isopor, com 128 células, sob estufa de cobertura de polietileno utilizando-se substrato comercial à base de vermiculita expandida e resíduo orgânico. O transplante foi efetuado quando as mudas apresentavam quatro folhas definitivas. No campo, o arranjo das plantas foi em fileira dupla (0,8 m entre fileiras duplas x 0,4 m entre fileiras simples x 0,4 m entre plantas) com densidade de 41.500 plantas/ha, sendo uma planta por cova. As plantas foram conduzidas com uma haste e podadas após o quarto ramo floral, imediatamente acima da terceira folha. Também fezse uso do cultivo convencional em espaçamento 1,0 m x 0,50 m, densidade de 20.000 plantas/ha, onde as plantas foram mantidas com uma haste em livre crescimento. Tratos culturais e fitossanitários foram feitos de acordo com o recomendado para a cultura do tomateiro (Barbosa & França, 1980; Churata-Masca, 1980; Maffia et al., 1980; Manzan, 1980). Os tratamentos em estudo foram três doses de P2O5 na forma de superfosfato triplo (0,2; 0,4 e 0,6 t/ha) e quatro doses de gesso (0,3; 0,6; 0,9 e 1,2 t/ha), mais quatro tratamentos adicionais envolvendo fontes de nitrogênio, fontes de fósforo e formas de condução das plantas, arranjados no delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 4 + 4, com quatro repetições. Os tratamentos envolvendo adubações foram propostos com base nas recomendações para adubação do tomateiro (CFSEMG, 1989). O gesso apresentava 32,6% de CaO e 18,6% de S. Todas as parcelas receberam, por ocasião do transplantio, 180 kg/ha de K2O, na forma de KCl. Os tratamentos fatoriais receberam 120 kg/ ha de N, na forma de uréia e fósforo na forma de superfosfato triplo. Os tratamentos adicionais não receberam gesso e constaram de: a) 120 kg/ha de N na forma de uréia, 400 kg/ha de P2O5 na forma de superfosfato triplo, com plantas podadas e cultivadas em fileira dupla (0,40 x 0,40 x 0,8 m); b)120 kg/ha de N na forma de sulfato de amônio e 400 kg/ha de P 2 O 5 na forma de superfosfato simples, com plantas podadas e cultivadas em fileiras duplas (0,40 x 0,40 x 0,8 m); c) convencional - 120 kg/ha de N na forma de sulfato de amônio e 400 kg/ha de P 2O 5 na forma de superfosfato simples, com plantas cultivadas em fileiras simples (1,0 x 0,5 m) sem poda e d) 120 kg/ha de N na forma de uréia com plantas podadas e cultivadas em fileiras duplas (0,40 x 0,40 x 0,8 m), omitindo-se a adubação fosfatada. Assim, cada bloco ficou com 16 parcelas, sendo doze do fatorial e quatro dos tratamentos adicionais. As parcelas foram formadas por doze plantas úteis no tratamento convencional e por oito plantas úteis nos demais tratamentos. A adubação em cobertura consistiu da aplicação total de 120 kg/ha de N na forma de uréia parcelados em três aplicações iguais, aos 20, 40 e 60 dias após o transplantio nos tratamentos que receberam doses de gesso e doses de P2O5 e nos dois tratamentos adicionais que receberam N na forma de uréia. Nos outros dois tratamentos adicionais que receberam sulfato de amônio no transplantio, a adubação em cobertura foi feita com sulfato de amônio nas mesmas épocas e datas descritas. Todas as parcelas receberam um total de 120 kg/ha de K2O em cobertura, parcelados e aplicados da mesma forma que o nitrogênio. As adubações foram localizadas nos sulcos de plantio. Os teores de P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn nas folhas do tomateiro foram analisados segundo delineamento experimental 3 x 4 + 2, considerando os dois tratamentos adicionais onde as plantas foram podadas e receberam N e P2O5, com e sem enxofre na fórmula. As análises foram feitas em amostras das terceiras folhas a partir da extremidade, aos 100 dias após o transplantio. Os teores de K, P, S, Ca e Mg foram determinados no extrato nítrico-perclórico, utilizando-se método colorimétrico para o 65 E.C. Silva et al. Teores de P (g/kg) A y = 0,115x + 0,1923; R2 = 0,86 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 0,2 0,4 0,6 Doses de P2O5 (t/ha) B 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 y = 0,0356x + 0,2633; R2 = 0,82 0,3 0,6 0,9 1,2 Doses de gesso (t/ha) Figura 1. Teor de P na folha do tomateiro em função de doses de P2O5 (A) e doses de gesso (B). Lavras, UFLA, 1997. fósforo; fotometria de chamas para o potássio; turbidimetria para o enxofre e espectrofotometria de absorção atômica para os demais nutrientes (Malavolta et al.,1989). As colheitas iniciaram-se aos 110 dias após o semeio, quando os frutos apresentavam coloração avermelhada. Nessa época, avaliaramse produção comercial, caracterizada por frutos livres de injúrias quer provocadas por pragas ou doenças, independente do tamanho; produção de frutos graúdos (frutos > 52 mm de diâmetro); massa média de fruto e produção de frutos por planta. Para essas análises foram incluídos todos os tratamentos em esquema fatorial 3 x 4 + 4. Foi realizada análise estatística específica para o fatorial 3 x 4, considerando todas as características analisadas; uma análise específica para os dois tratamentos adicionais do esquema fatorial 3 x 4 + 2, considerando apenas os teores de nutrientes nas folhas e uma análise específica para os quatro tratamentos adicionais, considerando todas as características avaliadas. Resíduos comuns foram obtidos e usados posteriormente para a análise de variância conjunta, empregando-se o teste F, ao nível de 5%. RESULTADOS E DISCUSSÃO O teor de fósforo nas folhas dos tomateiros aumentou linearmente à medida que aumentaram as doses de P2O5, indicando não suficiência das doses 66 aplicadas e o contrário aconteceu com a aplicação de gesso (Figura 1). A resposta positiva à aplicação de P2O5, em relação ao teor de P nas folhas do tomateiro, pode estar relacionada com a grande densidade de plantio. Por outro lado, o efeito depressivo do gesso sobre a absorção do fósforo, provavelmente, seja conseqüência do aumento da disponibilidade do ânion sulfato no solo, competindo com o fosfato pelos mesmos sítios de absorção ou ainda pode ter provocado redução na translocação do P para a parte aérea, devido à habilidade de o tomateiro acumular sulfato em suas raízes (Martinez et al., 1983). Os teores de P nas folhas do tomateiro variaram de 1,7 a 3,0 g/kg o que pode indicar uma provável carência do nutriente, uma vez que Nishimoto et al. (1977) observaram que para o tomateiro atingir 95% do seu rendimento máximo, os teores de P nas folhas variaram de 3,0 a 5,0 g/kg. É importante observar que o menor teor de fósforo encontrado (1,7 g/kg), significativamente inferior ao de todos os outros tratamentos, correspondeu ao tratamento adicional onde as fontes de N e de P2O5 forneceram o equivalente a 380 kg/ha de enxofre, dose essa bem superior às aplicadas nos tratamentos fatoriais através do gesso. Não foi observado efeito significativo dos tratamentos e das possíveis interações sobre o teor de K, mostrando que as plantas acumularam esse nutriente independentemente dos tratamentos recebidos e a não ocorrência de antago- nismo entre Ca e K. Assim, os acréscimos no teor de Ca devido ao gesso e à adubação fosfatada não foram suficientes para provocar modificações significativas no padrão de absorção de K pelo tomateiro. Os teores de K encontrados no presente estudo variaram de 28 a 33 g/kg e estão dentro da faixa adequada ao tomateiro (Furlani et al., 1978). Para o teor de Ca nas folhas também não houve efeito significativo de nenhuma das fontes de variação e os teores encontrados variaram de 26 a 35 g/kg. Esta ausência de resposta deveu-se, provavelmente, à disponibilidade inicial do nutriente no solo, considerada alta. Em termos de nutrição, Takahashi (1989) observou que tomateiros com teores de Ca abaixo de 26 g/kg produziram normalmente sem apresentar sintomas de podridão apical. Em média o teor de Mg nas folhas foi de 4,7 g/kg. A análise isolada dos tratamentos que receberam doses de fósforo e gesso revelou não haver nenhum efeito significativo referente ao acúmulo de Mg nas folhas do tomateiro, o mesmo não acontecendo com os dois tratamentos adicionais e com a análise conjunta. As plantas podadas e adubadas com N (sulfato de amônio) e P 2O 5 (superfosfato simples) acumularam, significativamente, a menor quantidade de Mg (3,0 g/kg). Neste sentido, considerando-se que não foi fornecido Mg às plantas, algum fator deve ter contribuído para este resultado. Descarta-se a possibilidade de antagonismo entre Ca e Mg uma vez que, em três tratamentos que receberam doses de fósforo e gesso, foram fornecidas quantidades de Ca superiores ao tratamento em questão e, mesmo assim, as plantas apresentaram teores mais elevados de Mg. Desta forma, possivelmente, o S componente dos fertilizantes (N-sulfato de amônio e P2O5 – superfosfato simples) tenha influenciado na absorção de Mg. Diante dos prováveis acréscimos na disponibilidade de sulfato e do provável acúmulo nas raízes, a absorção de Ca pode ter sido favorecida pela formação do par iônico CaSO4, em detrimento do Mg. Entretanto, os teores de Mg encontrados neste trabalho (0,47 g/kg) podem ser considerados adequados para o tomateiro (Furlani et al., 1978). Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Concentração de nutrientes e produção do tomateiro podado e adensado em função do uso de fósforo, de gesso e de fontes de nitrogênio. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 0,2 t/ha P2 O5; y = -150,83 x2 + 243,73 x -14,225; R2 = 0,76 ...... 0,4 t/ha P2O5; y = 94,8 x + 11,3; R2 = 0,87 ----- 0,6 t/ha P 2O5; y = 43,06 x + 35,5; R2 = 0,74 Teor de Cu (mg/kg) O acúmulo de S não foi influenciado significativamente pelos tratamentos e os teores encontrados nas folhas de tomateiro neste trabalho, variando de 4,0 a 5,0 g/kg, estão dentro dos limites de exigências do tomateiro (Takahashi, 1989). Os resultados parecem indicar que a disponibilidade inicial de S no solo atendeu às exigências das plantas, não havendo portanto, resposta dos tratamentos onde foram aplicadas doses de gesso. Segundo Castellane et al. (1983), aplicações de 15 - 50 kg/ha de S, que correspondem a 100 - 300 kg/ha de gesso, são suficientes para atender às necessidades da maioria das culturas. Houve efeito significativo da interação fósforo x gesso e dos tratamentos adicionais sobre os teores foliares de Cu. Considerando apenas os tratamentos adicionais, constatou-se que o teor de Cu foi significativamente superior (120,6 mg/kg) no tratamento cujas plantas foram podadas e adubadas com sulfato de amônio e superfosfato simples, enquanto foi de 79,4 mg/kg no tratamento cujas plantas receberam uréia e superfosfato triplo. Estes dados sugerem um possível efeito do ânion sulfato no processo de absorção e/ou translocação do Cu. Por outro lado, os dados oriundos da interação fósforo x gesso (Figura 2) não apresentaram consistência de modo a indicar ou não um possível antagonismo entre P e Cu. À exceção da dose de 0,2 t/ha de P2O5, os teores de Cu na folha do tomateiro aumentaram linearmente com as doses crescentes de gesso. Não se encontrou na literatura consultada dados que confirmem ou não o efeito do gesso sobre a absorção de Cu. É importante salientar que aos 100 dias após o transplantio, foram detectados sintomas de toxicidade de Cu nas plantas do tomateiro, confirmando a excessiva absorção deste nutriente, já que o normal situa-se entre 8 e 15 mg/kg (Bataglia,1988). Os teores de Fe e Zn também não foram influenciados significativamente pelos tratamentos. Para Fe os teores variaram de 221 a 310 mg/kg e estão na faixa de suficiência para o tomateiro que compreende intervalo entre 40 - 400 mg/ kg (Bataglia, 1988). Quanto ao Zn os teores variaram de 21,4 a 29,3 mg/kg, situando-se abaixo da faixa adequada para o tomateiro que é de 60 e 70 mg/kg (Bataglia, 1988), embora não tenha sido observado sintoma de deficiência do nutriente nas plantas. Esta baixa absorção 130 110 90 70 50 30 0,3 0,6 0,9 1,2 Doses de gesso (t/ha) Figura 2. Teor de Cu na folha do tomateiro em função de doses de gesso. Lavras, UFLA, 1997. de Zn pode estar relacionada com uma possível interação entre P e Zn durante os processos de absorção e translocação e do efeito do Ca sobre a absorção do referido nutriente, pois intensas adubações fosfatadas podem induzir deficiência de Zn em plantas cultivadas em solos com baixa disponibilidade deste nutriente (Loneragan et al., 1982). Não houve efeito significativo dos tratamentos que receberam doses de gesso e doses de P2O5 no teor de Mn nas folhas do tomateiro registrando-se diferenças significativas apenas entre os tratamentos com N (uréia e amônia) e P2O5. (superfosfato simples e superfosfato triplo). Desta forma, observou-se que os teores de Mn detectados em plantas submetidas à poda e adubadas com sulfato de amônio e superfosfato simples foram significativamente inferiores aos observados nas plantas submetidas à adubação com uréia e superfosfato triplo. Do ponto de vista nutricional, os teores encontrados (253 a 384 mg/kg) não assumem importância uma vez que estão próximo do limite máximo (400 mg/kg) definido por Bataglia (1988). A produção comercial cresceu linearmente com as doses de P2O5 e decresceu com o uso de gesso (Figura 3). As menores produções, 91 t/ha (plantas podadas) e 63,2 t/ha (plantas não podadas), foram obtidas com o uso de N na forma de sulfato de amônio e P na forma de superfosfato simples além de 58,4 t/ha no tratamento com plantas podadas cuja fonte de N foi uréia, omitindo-se P. Quanto ao efeito do gesso, possivelmente o S-orgânico do solo, acrescido do S fornecido pelo gesso, superfosfato simples e sulfato de amônio tenham atingi- do teores capazes de desequilibrar a relação S/N do solo e prejudicar o rendimento da cultura. Considerando plantas podadas, a produtividade significativamente inferior em relação às maiores observadas nos tratamentos com doses de gesso e P, pode também ser conseqüência do efeito depressivo do S proveniente do sulfato de amônio e do superfosfato simples. Para as plantas não podadas, além do efeito depressivo de S, deve ser também considerado o espaçamento de 1,0 x 0,50 m com densidade de plantio de 20.000 plantas/ha, portanto, inferior ao dos demais tratamentos. A omissão de P, embora possa ter reduzido o efeito depressivo do S, provavelmente tenha contribuído para a baixa produtividade. As diferenças de produtividade entre o tratamento onde as plantas não foram podadas e os demais tratamentos cuja maior produtividade atingiu 149,2 t/ha, podem ser também atribuídas ao emprego conjunto da poda e do aumento da densidade populacional (41.500 plantas/ha). Embora possa haver efeito depressivo no peso médio do fruto em função de alta densidade de plantio (Camargos, 1998) refletindo em menor produtividade comercial, este efeito pode ser invertido através da poda apical e adubação adequada (Cochshull & Ho, 1995; Silva et al., 1997). Com base nos dados disponíveis na literatura consultada, o rendimento médio do tomateiro no Brasil é de 43,7 t/ ha (Agrianual, 1999) e considerando a dose de 400 kg/ha de P2O5 como adequada para solos deficientes em P (Comissão..., 1989), a produção alcançada 67 P rodu ª o com ercial (t/ha) E.C. Silva et al. y = 37,75x + 105,55; 135 125 R2 = 0,82 A 115 105 0,2 0,4 0,6 D oses de P 2 O 5 (kg/ha) B y = -26,157x + 140,27; R 2 = 0,96 135 125 115 105 0,3 0,6 0,9 1,2 D oses de gesso (t/ha) Figura 3. Produção comercial do tomateiro em função de doses de P2O5 (A) e doses de gesso (B). Lavras, UFLA, 1997. y = 35,55x + 99,953; R 2 = 0,76 Frutos graœdos (t/ha) 125 A 120 115 110 105 100 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 D oses de P 2 O 5 (t/ha) 135 y = -27,947x + 135,13; R 2 = 0,96 125 115 B 105 95 0,3 0,6 0,9 1,2 D oses de gesso (t/ha) Figura 4. Produção de frutos graúdos de tomate em função de doses de P2O5 (A) e doses de gesso (B). Lavras, UFLA, 1997. (Figura 3) indica que a utilização de plantio adensado, associada à prática da poda, permitiu elevar a eficiência na utilização de fertilizante fosfatado. Os dados sugerem que o emprego de 400 kg/ha de P2O5 foi vantajoso quando o rendimento foi comparado ao obtido 68 com a dose menor embora tenha havido resposta linear à aplicação de fósforo sugerindo que produtividades mais altas podem ser conseguidas com aumento da dose de P2O5. Tal como a produção comercial, a de frutos graúdos cresceu linearmente à medida que se aumentaram as doses de P2O5 e decresceu com as de gesso (Figura 4). A porcentagem média de frutos graúdos produzidos em relação à produção comercial foi de 94,56% entre os tratamentos que receberam doses de gesso e doses de P2O5 e o adicional que recebeu N (uréia), 400 kg/ha P2O5 (superfosfato triplo) e plantas podadas, não havendo diferenças estatísticas entre eles. Para os demais tratamentos adicionais, a produção média de frutos graúdos foi significativamente baixa com 86,09%. Os resultados corroboram os efeitos positivos da poda e do fósforo na produtividade do tomateiro. As massas médias de 104 g (N - sulfato de amônio, P2O5 - superfosfato simples, plantas podadas) e 107 g (N - uréia, omissão de P2O5 e plantas podadas) foram iguais estatisticamente, mas diferiram daqueles outros doze tratamentos, cujas médias variaram de 110 a 142g, consideradas iguais estatisticamente. Independente dos tratamentos, essas médias situaramse abaixo do padrão de fruto Santa Clara que, em média, atinge 200 g/fruto (Nagai, 1985). A prática da poda per se seria suficiente para manter ou elevar as massas médias obtidas neste experimento (Cochshull & Ho, 1995; Silva et al.,1997), entretanto, os efeitos negativos do gesso, sulfato de amônio e superfosfato simples provavelmente tenham superado os efeitos benéficos da poda, já que houve problemas na absorção de nutrientes indicando possível deficiência de P e Zn e excesso Cu, embora os demais nutrientes estivessem aparentemente dentro dos níveis normais. Silva et al. (1997) cultivaram tomateiro Santa Clara podado acima do quarto ramo floral, adensado, utilizando como fonte de nutrientes 600 kg/ha de P2O5 (superfosfato triplo), 100, 200, 400 e 800 kg/ha de N (nitrocálcio) e 200, 400, 800 e 1200 kg/ha de K2O (KCl) e produziram frutos com massa média de 208,63 g. A produção de frutos por planta teve influência significativa do gesso, fósforo e principalmente do sistema de condução das plantas. Foi verificado aumento linear com a adubação fosfatada, ao contrário do que aconteceu com a aplicação do gesso quando estes componentes foram analisados isoladamente (Figura 5). O efeito depressivo do gesso sobre a produção das plantas, possivelmente seja devido ao ânion sulfato concorrendo com os mesmos sítios de abHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Concentração de nutrientes e produção do tomateiro podado e adensado em função do uso de fósforo, de gesso e de fontes de nitrogênio. LITERATURA CITADA AGRIANUAL - Anuário da Agricultura Brasileira, FNP Consultoria e Comércio, São Paulo: Editora Argos. Comunicação. 521 p. 1999. BARBOSA, S.; FRANÇA, F.H. As pragas do tomateiro e seu controle. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 6, n. 66, p. 37-40,1980. BATAGLIA, O.C. Análise química de plantas para micronutrientes. In: SIMPÓSIO SOBRE MICRONUTRIENTES NA AGRICULTURA, 1988. Jaboticabal: UNESP, v. 2, p. 473-502, 1988. CAMARGOS, M.I. Produção e qualidade de tomate longa vida em estufa, em função do espaçamento e do número de cachos por planta. Viçosa: UFV, 1998, 68 p. (Tese mestrado). CHURATA-MASCA, M.G.C. Métodos de plantio na cultura do tomateiro. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 6, n. 66, p. 24-34, 1980. CASTELLANE, S.R.P.L.; CASTELLANE, P.D.; VITTI, G.C.; BARBOSA, J.C.; CHURATAMASCA, M.G.C. Efeito da aplicação do gesso associado a fontes de N e P na cultura da cenoura (Daucus carota L.) In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 3, Florianópolis, 1983. Anais. Florianópolis: UFSC, 1983, p. 125. COCKSHULL, K.L.; HO, L.C. Regulation of tomato fruit size by plant density and truss thinning. Journal of Horticultural Science, v. 70, n. 3, p. 395-407, 1995. COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 4ª aproximação. Lavras, 1989. 159 p. FONTES, P.C.R.; FONTES, R.R. Absorção de P e desenvolvimento do tomateiro rasteiro plantado em fileiras simples e duplas. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 9, n. 2, p. 77-79, 1991. FONTES, P.C.R.; FONTES, R.R. Absorção de P e crescimento do tomateiro influenciado por fontes, níveis e posicionamento do fertilizante. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 10, n. 1, p. 11-13, 1992. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 4 3,8 Produ ª o de frutos/planta (kg) sorção de fósforo. Por outro lado a produção das plantas verificada no tratamento adicional onde as mesmas não foram podadas atingiu média de 3,9 kg/planta e não diferiu estatisticamente da produção das plantas podadas que variou de 3,1 a 4,3 kg/planta. Neste caso a supressão do número de frutos ocasionada pela poda foi compensada pela maior produção de frutos graúdos, refletindo positivamente na produção por planta. Diante dos resultados encontrados, conclui-se que o uso excessivo de fertilizantes cujas fórmulas contenham S pode inibir a absorção de P, assumindo maiores proporções nos cultivos com alta densidade de plantio. No sistema de produção podado e adensado onde a redução do número de frutos/planta é associada com maior densidade de plantio, pode ocorrer aumento altamente significativo da produtividade. A y = 1,0625x + 3,15; R 2 = 0,66 3,6 3,4 3,2 3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Doses de P 2O5 (t/ha) 4,5 B y = -0,8111x + 4,1833; R 2 = 0,99 4 3,5 3 0,3 0,6 0,9 1,2 Doses de gesso (t/ha) Figura 5. Produção de frutos por planta em função de doses de P2O5 (A) e doses de gesso (B). Lavras, UFLA, 1997. FURLANI, A.M.C.; FURLANI, P.R.; BATAGLIA, O.C.; HIROCE, R.; GALLO, J.R. Composição mineral de diversas hortaliças. Bragantia, Campinas, v. 37, n. 5, p. 3344, 1978. LONERAGAN, J.F.; GRUNES, D.L.; WELCH, R.M.; ADUAYI, E.A.; TENGAH, A.; LAZAR, V.A.; CARY, E.E. Phosphorus accumulation and toxicity in relation to zinc supply. Soil Science Society of American Journal, v. 46, n. 2, p. 345-352, 1982. MAFFIA, A.L.; MARTINS, M.C.P.; MATSUOKA, K. Doenças do tomateiro. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 6, n. 66, p. 42-60,1980. MAKISHIMA, N. Situação atual da produção de tomate no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE TOMATE, 2, Jaboticabal, 1991. Anais. Jaboticabal: UNESP/FUNEP, p. 1-19. 1991. MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1989. 210 p. MANZAN, R.J. Irrigação do tomateiro. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 6, n. 66, p. 20-21,1980. MARTINEZ, V.; CERDA, A.; CARO, M.; FERNANDEZ, F.G. Desarrollo y composition mineral de las plantas de tomate (Lycopersicon esculentum, Mill.) en realacion con la concentracion de SO4= en el medio de raices. Anuals de Edofologia y Agrobiologia, v. 42, n. 7/8, p. 1255-1268, 1983. MASCARENHAS, H.A.A.; BRAGA, N.R.; TISSELI FILHO, O; MIRANDA, M.A.C.; ROSTON, A.J. Calagem e adubação da soja. Campinas: IAC, 1976. 7 p. (Circular Técnica, 51). NAGAI, H. IAC Santa Clara, nova variedade de tomate. Dirigente Rural, São Paulo, v. 24, n. 11, p. 52, 1985. NISHIMOTO, R.K.; FOX, R.L.; PARVIN, P.E. Response of vegetable crops to phosphorus concentration in soil solution. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 102, n. 6, p. 705-709, 1977. OLIVEIRA, V.R.; FONTES, P.C.R.; CAMPOS, J.P.; REIS, F.P. Qualidade no tomate afetada pelo número de ramos por planta e pela poda apical. Revista Ceres, Viçosa, v. 43, n. 247, p. 309-318, 1996. PELÚZIO, J.M. Crescimento e partição de assimilados em tomateiro (Lycopersicon esculentum, Mill.) após a poda apical. Viçosa: UFV, 1991. 49 p. (Tese mestrado). QUAGGIO, J.A.; DECHEN, A.R.; RAIJ, B. van. Efeito da aplicação de calcário e gesso sobre a produção de amendoim e lixiviação de bases no solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 6, n. 3, p. 188-194, 1982. SILVA, E.C.; ALVARENGA, M.A.R.; CARVALHO, J.G. Produção e podridão apical do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) podado e adensado sob influência da adubação nitrogenada e potássica. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 21, n. 3, p. 324-333, 1997. SILVA JÚNIOR, A.A.; MÜLLER, J.J.V.; PRANDO, H.F. Poda e alta densidade de plantio na cultura do tomate. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 5, n. 1, p. 5761, 1992. TAKAHASHI, H.W. Relação Ca:Mg:K no desenvolvimento, produção, composição mineral e distúrbios fisiológicos relacionados com o Ca em tomateiro (Lycopersicon esculentum, Mill.). Piracicaba: ESALQ, 1989. 167 p. (Tese doutorado). 69 página do horticultor OLIVEIRA, A.P; FERREIRA, D.S.; COSTA, C.C.; SILVA, A.F; ALVES, E.U. Uso de esterco bovino e húmus de minhoca na produção de repolho híbrido. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 70-73, março, 2.001. Uso de esterco bovino e húmus de minhoca na produção de repolho híbrido. Ademar P. Oliveira; Daniel S. Ferreira; Caciana C. Costa; Analice F. Silva; Edna Ursulino Alves UFPB - CCA, C. Postal 02, 58.397-000 Areia-PB. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Comparou-se a eficácia do esterco bovino e húmus de minhoca na produção de repolho, híbrido Matsukaze, em experimento realizado no Centro de Ciências Agrárias da UFPB, Areia, de 10/12/97 a 05/03/98. Os tratamentos utilizados foram 20; 30; 40; 50 e 60 t/ha de esterco bovino e 10; 15; 20; 25 e 30 t/ha de húmus de minhoca e tratamento testemunha (sem matéria orgânica). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com onze tratamentos distribuídos em esquema fatorial (5 x 2) + 1, em quatro repetições. Foram avaliados o diâmetro longitudinal, transversal, índice de formato e compacidade da cabeça, peso médio e produção total de cabeças. A dose de 46,0 t/ha de esterco bovino e 29,0 t/ha de húmus de minhoca resultaram em maiores diâmetros longitudinais na cabeça de repolho (13 e 12 cm, respectivamente). A dose de 47,0 t/ha de esterco bovino e 20,0 t/ha de humus de minhoca proporcionaram a formação de cabeças com maiores diâmetros transversais (13 e 11 cm, respectivamente). Todas as doses de esterco bovino induziram a formação de cabeças mais uniformes e compactas, enquanto a dose de 20 t/ha de húmus de minhoca propiciou a formação de cabeças desuniformes de baixa aceitação comercial. A dose de 41,0 t/ha de esterco bovino promoveu máximo peso médio (900 g) e máxima produtividade (47,0 t/ha) de cabeças, enquanto as doses de 27,0 e 29,0 t/ha de húmus foram responsáveis pelo peso médio máximo (700 g) e máxima produtividade (38,0 t/ha), respectivamente. Utilization of cattle manure and earthworm compost on hybrid cabbage production. Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata, matéria orgânica, produção. The use of bovine manure and earthworm compost were compared in cabbage production, hybrid Matsukaze, at the Federal University of Paraíba, Brazil, from December 1997 to March, 1998. The treatments consisted of 20; 30; 40; 50 and 60 t/ha of bovine manure and 10; 15; 20; 25 and 30 t/ha of earthworm compost and a treatment without organic matter (control). The experimental design was of randomized blocks, with eleven treatments arranged in a factorial scheme (5 x 2) + 1, with four replications. The longitudinal and transversal diameters, format index and head compactness, average weight and total production of heads were evaluated. The level of 46.0 t/ha of bovine manure and 29.0 t/ha of earthworm compost resulted in larger longitudinal diameters of cabbage heads (13 and 12 cm, respectively). The level of 47.0 t/ha of bovine manure and 20.0 t/ha of earthworm compost provided heads with larger transversal diameters (13 and 11 cm). All bovine manure levels induced the formation of more uniform and compact heads, while the use of 20 t/ha of earthworm compost resulted in not uniform heads with low commercial value. The level of 41.0 t/ha of bovine manure promoted maximum average head weight (900 g) and yield (47.0 t/ha), while the use of 27.0 t/ha of earthworm compost was responsible for the maximum average head weight (700 g) and yield (38.0 t/ha), respectively. Keywords: Brassica oleracea var. capitata, organic matter, yield. (Aceito para publicação em 02 de janeiro de 2.001) É reconhecida a importância e a necessidade da adubação orgânica em hortaliças, principalmente nas hortaliças folhosas, como as brássicas, visando compensar as perdas por nutrientes ocorridas durante seu cultivo (Kimoto, 1993). Em solos tropicais a mineralização de matéria orgânica é intensa, o que torna a adubação orgânica uma prática importante para compensar estas perdas (Omori & Suguimoto, 1978). O repolho encontra-se entre as hortaliças que respondem bem à adubação orgânica, principalmente em solos arenosos (Kimoto, 1993). O esterco bovino é utilizado rotineiramente em repolho, com respostas satisfatórias, em doses acima de 30 t/ha (Omori & 70 Sugimoto, 1978; Silva Junior et al., 1984; Nakagawa & Bull, 1990; Kimoto, 1993). O vermicomposto é um fertilizante orgânico produzido por processo de decomposição aeróbica, em que, numa primeira fase, estão envolvidos fungos e bactérias e, numa segunda fase, ocorre também atuação das minhocas originando um composto de melhor qualidade. Quando aplicado ao solo, o vermicomposto provoca benefícios físicos e químicos (Harris et al., 1990). Além do aspecto físico, as excreções contém nutrientes essenciais às plantas numa forma mais disponível, especialmente o nitrogênio (Sharpley & Syers, 1976). No vermicomposto a taxa de mineralização do N é maior, a liberação é mais lenta e gradual, reduzindo as perdas desse nutriente por lixiviação (Harris et al., 1990). Nos dejetos de minhocas o nitrogênio é quase cinco vezes maior que antes de passar pelo seu trato digestivo, enquanto o fósforo é sete, o potássio é onze e o magnésio é três vezes maior (Kiehl, 1985). As excreções destes vermes constituem um excelente substrato para um desenvolvimento exuberante da microfauna do solo (Longo, 1992). Entretanto, pouco se sabe sobre a quantidade de vermicomposto que deve ser aplicada ao solo, a fim de proporcionar aumentos de produtividade nas hortaliças e permitir por meio de melhoria Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Uso de esterco bovino e húmus de minhoca na produção de repolho híbrido. das condições físicas do solo, a utilização eficiente dos nutrientes pelas plantas. Em alface Ricci et al. (1994) obtiveram um adicional de 3,4 t/ha com vermicomposto em relação ao composto tradicional. Araujo (1997) observou que no cultivo de cenoura o emprego de 25 t/ ha de húmus de minhoca incrementou o desenvolvimento das plantas e promoveu ganhos na produção total e comercial de raízes. No feijão-vagem, 15 t/ha de húmus de minhoca foram responsáveis por aumento na produção de vagens (Oliveira et al., 1998). Na região de Areia (PB), tem aumentado progressivamente o número de minhocários, com produção de grandes quantidades de húmus, que podem ser utilizadas nos cultivos comerciais de hortaliças. O repolho é uma das principais hortaliças cultivadas na região, mas não há informações sobre as doses de esterco bovino e húmus de minhoca mais apropriadas para proporcionar incremento na produção de cabeças. Deste modo, o presente experimento teve como objetivo conhecer a(s) melhor(es) dose(s) de esterco bovino e de húmus de minhoca para a produção de repolho. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido na UFPB, em Areia, entre 10/12/97 e 05/ 03/98, em solo tipo Latossolo vermelho-amarelo. Os resultados da análise química de amostras do solo revelaram: PH 6,2; P disponível = 95,0 mg/dm3; K = 156,0 mg/dm3; Al trocável = 0,0 cmolc/ dm3; Ca + Mg = 4,75 cmolc/dm3 e 1,13% de matéria orgânica. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial (5 x 2) + 1, com os fatores doses e fontes de matéria orgânica (20; 30; 40; 50 e 60 t/ha de e 10; 15; 20; 25 e 30 t/ha de húmus de minhoca) e, um tratamento testemunha sem adubação orgânica, com quatro repetições, empregando-se o híbrido Matsukaze. A caracterização química do esterco bovino e do húmus de minhoca revelou, respectivamente, a seguinte composição: P = 1,84 e 5,10 g/ kg; K = 4,94 e 9,29 g/kg; N = 8,82 e 14,05 g/kg; matéria orgânica = 182,07 e 403,3 g/dm3; e relação C/N = 10/1 e 7/1. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. O húmus de minhoca utilizado foi adquirido junto a produtor comercial, originado a partir de esterco bovino e restos de culturas de milho e mandioca. Seu emprego em proporções equivalentes à metade das doses de esterco bovino seguiu recomendação de Lauro & Correa (s.d), citado por Ricci et al. (1994), que indicam para hortaliças a utilização de 20 a 40 t/ha. As parcelas mediram 6,40 m 2 compostas por 20 plantas espaçadas de 0,80 m entre linhas e 0,40 m entre plantas. O solo foi preparado mediante aração, gradagem, levantamento de leirões de aproximadamente 20 cm de altura e abertura de covas de plantio. O esterco bovino e o húmus de minhoca foram colocados nas covas, quinze dias antes do transplantio. Não foi realizada adubação química devido o solo apresentar teores elevados de fósforo e potássio e para não interferir no efeito das fontes e doses de matéria orgânica testadas. A produção de mudas foi realizada em sementeira convencional (Filgueira, 1982). Cerca de 30 dias após a semeadura, quando as plântulas apresentavam 10 -15 cm de altura e 4 - 6 folhas foram transplantadas para o local definitivo. Foram realizadas pulverizações preventivas à base de Deltametrina 2,5E, a cada quinze dias após o transplantio, visando o controle de pulgões (Brevicoryne brassicae) e da traças-das-crucíferas (Plutella xylostella). Utilizou-se irrigação por aspersão, sempre que necessário, procurando manter o nível de disponibilidade de água acima de 80% da capacidade de campo. Efetuaram-se também capinas com auxílio de enxadas, procurando-se manter a cultura livre de plantas invasoras. A colheita foi realizada aos 100 dias após o transplantio, quando as plantas apresentavam desenvolvimento máximo (Sonnenberg, 1985). Foram realizadas as seguintes avaliações: diâmetro transversal, longitudinal e índice de formato da cabeça, determinado pela relação entre o diâmetro transversal e longitudinal da cabeça (valores próximos de 1 indicam cabeças mais arredondadas), compacidade da cabeça, avaliada por notas (1 = fofa; 2 = compacidade média, 3 = firme), peso médio e produção total de cabeças. Os caracteres avaliados foram analisados por meio de análises de variâncias e de regressões lineares e quadráticas. As análises de variâncias foram complementadas pelo teste de comparação múltiplas das médias (teste de Tukey), ao nível de 5% de probabilidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO Houve efeito significativo do esterco bovino sobre o diâmetro longitudinal e transversal, peso médio e produção total de cabeças. Para o húmus de minhoca, além de se verificar efeito significativo sobre estas características, houve efeito também sobre o índice de formato de cabeças. Através das derivações das equações de regressão, o diâmetro longitudinal das cabeças de repolho, atingiu valores máximos, 13,0 cm e 12,0 cm nas doses de 46,0 t/ha de esterco bovino e de 29,0 t/ha de húmus de minhoca, enquanto as doses de 47,0 t/ha de esterco bovino e 20,0 t/ha de húmus de minhoca, foram responsáveis pelos valores máximos no diâmetro transversal (12,0 cm e 11,0 cm, respectivamente) (Figura 1). Aumentos no diâmetro das cabeça de repolho com elevação de doses de esterco bovino, também foram observados por Carneiro et al. (1987). A relação do comprimento transversal e longitudinal, que determina o índice de formato das cabeças e a sua compacidade, em função das doses de esterco bovino não apresentaram variações, demonstrando que todas as doses proporcionaram cabeças mais uniformes e compactas, de boa aceitação comercial na região de Areia, com valores para o índice de formato da cabeça, semelhantes aos indicados por Giordano (1983) e Castellane & Braz (1991), entre 0,8 e 1,00. Carneiro et al. (1987) também não detectaram variação no índice de formato de cabeça em repolho em doses de até 75 t/ha de esterco bovino. Quanto ao húmus de minhoca, 20 t/ha propiciou a produção de cabeças desuniformes e com média compacidade, de baixa aceitação comercial. Com relação às características peso e rendimento de cabeças, a resposta do repolho ao emprego de esterco bovino e húmus de minhoca é de natureza 71 A.P. Oliveira et al. y1 = 9,6793 + 0,1644x -0,0018x2 R2 = 0,85** 14 Di metro de cabe as (cm) Di metro de cabe as (cm) 16 12 10 8 y2 = 8,9154 + 0,141x - 0,0015x2 6 R2 = 0,83* 4 16 y1 = 9,5937 + 0,1703x - 0,0029x2 14 R2 = 0,53* 12 10 8 2 6 y2 = 8,7085 + 0,2589x -0,0063x2 4 R2 = 0,8363 2 0 10 20 30 40 50 60 0 5 Esterco Bovino (t/ha) 10 15 20 25 30 Hœmus de minhoca (t/ha) Figura 1. Diâmetro longitudinal (y1) e transversal (y2) de cabeças de repolho híbrido Matsukaze, em função de doses de esterco bovino e de húmus de minhoca. Areia, UFPB, 1998. Peso mØdio de cabe a (g) Peso mØdio de cabe a (g) 1200 1000 800 600 2 y = 396,15 + 24,214x - 0,2918x R2 = 0,88* 400 800 600 400 AGRADECIMENTOS y = 424,74 + 21,548x - 0,4043x2 R2 = 0,91* 200 0 200 0 10 20 30 40 50 0 60 5 10 15 20 25 30 Hœmus de minhoca (t/ha) Esterco bovino (t/ha) 45 Produtividade (t/ha) Produtividade (t/ha) Figura 2. Peso médio de cabeças de repolho híbrido Matsukaze, em função de doses de esterco bovino e de húmus de minhoca. Areia, UFPB, 1998. 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 y = 20,699 + 1,2732x - 0,0153x2 R 2 = 0,86* 40 10 20 30 40 50 60 Esterco Bovino (t/ha) LITERATURA CITADA 30 25 2 20 y = 22,321 + 1,0602x - 0,0183x 2 R = 0,91* 15 0 5 10 15 20 25 30 Hœmus de minhoca (t/ha) Figura 3. Produtividade de cabeças de repolho, híbrido Matsukaze, em função de doses de esterco bovino e de húmus de minhoca. Areia, UFPB, 1998. quadrática. Por meio das equações de regressão, calculou-se a dose de 41,0 t/ ha de esterco bovino como aquela que promoveu o máximo peso médio (900 g) e a máxima produtividade de cabeças no repolho (47,0 t/ha), e a dose de 27,0 t/ha de húmus de minhoca, como aquela responsável pelo máximo peso médio (700 g) e máxima produtividade de cabeças (38,0 t/ha) (Figuras 2 e 3). Em outros estudos, também foram verificados au72 Os autores expressam seus agradecimentos à professora Sheila Costa de Farias pela correção do Abstract e aos agentes em agropecuária José Ribeiro Dantas Filho, Francisco de Castro Azevedo, José Barbosa de Souza, Francisco Soares de Brito, Expedito de Souza Lima e Francisco Silva do Nascimento que viabilizaram a execução dos trabalhos de campo. 35 10 0 de repolho, possivelmente devido ao suprimento de nutrientes de forma equilibrada proporcionado pela aplicação do esterco bovino e do húmus de minhoca. O equilíbrio entre os elementos nutritivos proporciona maiores produtividades do que maiores quantidades de macronutrientes isoladamente (Primavesi, 1985), Ainda, ocorre melhoria da fertilidade e da estrutura do solo, e no fornecimento de água, proporcionando melhor aproveitamento dos nutrientes originalmente presentes (Peavy & Greig, 1972). Considerando que no município de Areia a aquisição de esterco bovino é mais fácil e resulta em uma maior produtividade de cabeças de repolho, seu emprego seria recomendado na adubação orgânica em repolho, nas condições edafoclimáticas deste município. mentos na produtividade de cabeças no repolho, quando se empregou o esterco bovino como fonte de matéria orgânica (Silva Junior, 1987; Nakagawa & Bull, 1990; Kimoto, 1993). As produtividades máximas de cabeças alcançadas com o emprego do esterco bovino e húmus de minhoca superaram a média nacional, em torno de 35 t/ha (Filgueira, 1982), indicando os benefícios do seu emprego na produção ARAUJO, J.S. Produção de cenoura cultivada com húmus de minhoca na presença e ausência de adubação química. Areia: UFPB, 1997. p. 33 (Monografia graduação). CARNEIRO, J.F.; ALMEIDA NETO, J.; NAVES, R.V.; CHAVES, L.J. Efeito de diferentes níveis de boro, na presença e ausência de matéria orgânica na cultura do repolho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 26, 1987, Curitiba. Resumos, Brasília: SOB, 1987. CASTELLANE, P.D.; BRAZ, L.T. Avaliação de cultivares de repolho nas condições de primavera em Jaboticabal – SP. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 9, n. 1, p. 13-14, 1991. FILGUEIRA, F.A.R. Manual de Olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. 2o ed., São Paulo: Agronômica Ceres, 1982, v. 2, p. 357. GIORDANO, L.B. Melhoramento de brássicas. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 9, p. 16-20, 1983. HARRIS, G.D.; PLATT, W.L.; PRICE, B.C. Vermicomposting in a rural community. Biocycle, v. 10, n. 2, p. 48-51, 1990. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Uso de esterco bovino e húmus de minhoca na produção de repolho híbrido. KIEHL, E.J. Fertilizantes orgânicos. Piracicaba: Agronômica Ceres. 1985. 492 p. KIMOTO, T. Nutrição e Adubação de repolho,couve-flor e brocoli. In: NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE HORTALIÇAS. Jaboticabal, 1993. Anais. Jaboticabal, UNESP. 1993. p. 149-178 LONGO, A D. Minhoca: de fertilizadora do solo a fonte alimentar. 20 edição, São Paulo, Icone, 1992, 67 p. NAKAGAWA, J.; BULL, L.T. Princípios de calagem e adubação de plantas olerícolas. Botucatú, Fundação de estudos e pequisas agícolas e florestais, 1990. 48 p. (apostila). OLIVEIRA, A.P.; OLIVEIRA, M.R.; FREITAS NETO, P.A.; SANTOS, G.M.; LIMA K.L.; SILVA, F.S. Produção de feijão vagem em função de doses e fontes de matéria orgânica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 38., 1998, Petrolina. Resumos, Brasília: SOB, 1998. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. OMORI, S.; SUGUIMOTO, M. studies on the use of large quantities of cattle and chicken manure for horticultural crops. IV. the effects of fresh manure applied year after on growing vegetables and the maximum tolerated. Horticultural Experimental Station. Tokyo. v. 25, p. 59-68, 1978 PEAVY, W.S.E.; GREIG, J.K. Organic and mineral fertilizers compared by yield, quality and composition of spinach. Journal of American Society for Horticultural Science, v. 97, p. 718 -723, 1972. PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo, editora Nobel, 1985, 541 p. RICCI, M.S.F.; CASALI, V.W.D.; CARDOSO, A.A.; RUIZ, H.A. Produção de alface adubadas com composto orgânico. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 12, n. 1, p. 56-58, 1994. SHARPLEY, A.N.; SYERS, J.K. Potencial role of eartworms cats for the phosphorus enrichment of runoff waters. Soil Biology Biochemistry. v. 8, p. 341-346, 1976. SILVA JUNIOR, A.A. Adubação mineral e orgânica em repolho II. Concentração de nutrientes nas folhas e precocidade. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 5, n. 2, p. 15 – 17, 1987. SILVA JUNIOR, A.A.; BARROS, I.B.I.; KOLLER, O.C. Adubação mineral e orgânica em repolho I. Produção total e comercial. Horticultura Brasileira, Brasília. v. 2, p. 1720, 1984. SONNENBERG, P.E. Olericultura especial. 30 ed., v. 1, Goiânia: UFG, 1985. v. 1, 188 p. 73 MEDEIROS, F.A.S.B.; BLEICHER, E.; MENEZES, J.B. Efeito do óleo mineral e do detergente neutro na eficiência de controle da mosca-branca por betacyfluthrin, dimethoato e methomyl no meloeiro. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 74-76,março 2.001. Efeito do óleo mineral e do detergente neutro na eficiência de controle da mosca-branca por betacyfluthrin, dimethoato e methomyl no meloeiro. Francisco A.S.B. Medeiros¹; Ervino Bleicher²; Josivan B. Menezes¹ ¹ ESAM, DQT, NEPC, C. Postal 137, 59.625-900 Mossoró-RN; ² Embrapa Agroindústria Tropical, C. Postal 3761, 60.511-110 FortalezaCE. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Foram realizados dois experimentos diferentes com o objetivo de avaliar o efeito de óleo mineral (experimento 1) e detergente neutro (experimento 2) na eficiência de controle da mosca-branca (Bemisia tabaci RAÇA B – Hemiptera-Homoptera: Aleyrodidae) no meloeiro (Cucurbitaceae, Cucumis melo L.- Variedade Amarelo, usando o híbrido AF 646). O delineamento experimental utilizado para cada experimento foi o de blocos casualizados com sete tratamentos e quatro repetições, onde cada parcela tinha 60 m². O óleo mineral e o detergente neutro quando associados aos inseticidas betacyfluthrin e dimethoato reduziram a população de ninfas de mosca-branca, aumentando a eficiência de controle dos inseticidas, apesar da eficiência ainda ter sido baixa (menor que 70%). O methomyl apresentou as mais baixas eficiências de controle, principalmente no experimento 2, além de não ter sido auxiliado nem pelo detergente neutro, nem pelo óleo mineral. O óleo mineral e o detergente neutro na concentração de 0,5% não causaram fitotoxidade às plantas de melão. No experimento 1 (com óleo mineral), o tratamento que se mostrou mais eficiente foi com o uso do inseticida betacyfluthrin associado ao óleo mineral, apresentando eficiência de controle de 68,57%. No experimento 2 (com detergente neutro) foi mais eficiente o uso do inseticida dimethoato com detergente neutro, apresentando eficiência de controle de 64,09%. Effect of betacyfluthrin, dimethoate and methomyl applied in mixtures with mineral oil and neutral detergent in the control efficiency of whitefly in melon plants. Palavras-chave: Cucumis melo L.; Bemisia tabaci RAÇA B; controle fitossanitário. Keywords: Cucumis melo L.; Bemisia tabaci RACE B; fitossanitary control. Two different experiments were developed to evaluate the mineral oil (experiment 1) and neutral detergent (experiment 2) effect in the control efficiency of the whitefly (Bemisia tabaci RACE B – Hemiptera-Homoptera: Aleyrodidae) by betacyfluthrin, dimethoate and methomyl in melon plants (Cucurbitaceae, Cucumis melo L. – yellow variety, using the hybrid AF 646). The experimental design applied to each experiment, was of randomized blocks with seven treatments and four replications Each experimental plot had 60 m². It was concluded that the mineral oil and neutral detergent associated to betacyfluthrin and dimethoate insecticides reduced the whiteflys nymphs population, increasing the efficiency of these insecticides, although this efficiency could be considered low (less than 70%). Methomyl presented the lowest efficiency in controlling the insect, specially in experiment 2, even when applied with mineral oil or the neutral detergent. Mineral oil and neutral detergent at the concentration of 0.5% did not cause toxic reaction in the melon plants. In experiment 1 the treatment combining mineral oil and betacyfluthrin was the most efficient in controlling the insects (control efficiency of 68.57%). In experiment 2, using neutral detergent, the most efficient treatment was dimethoate insecticide associated with the neutral detergent, (control efficiency of 64.09%). (Aceito para publicação em 01 de janeiro de 2.001) O melão é uma das espécies olerícolas de maior expressão econômica e social para a região Nordeste do Brasil, gerando cerca de vinte a trinta mil empregos diretos, sem contar com aqueles relacionados com o transporte, comercialização e vendas de insumos (Pedrosa, 1997). A raça B de mosca-branca (Bemisia tabaci) pode causar danos diretos à cultura do melão, pela sucção de seiva, provocando alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta, como também liberar substância açucarada que facilita o aparecimento de fumagina (fungo), que provoca redução no tamanho, peso e grau brix dos fru74 tos, podendo até estender o ciclo da cultura, implicando em mais despesas com tratos culturais (Lourenção & Nagai, 1994). Contudo, são mais sérios os danos indiretos, podendo ocorrer no caso de transmissão de vírus do tipo Geminivirus (López, 1995); além dos danos estéticos que também prejudicam a comercialização. Incidências constantes dessa praga, têm provocado muitos prejuízos aumentando os índices de desemprego no campo, contribuindo para o êxodo rural nas regiões produtoras de melão. Portanto, a mosca-branca é uma praga de importância sócio-econômica, justificando os estudos visando seu controle. Com a entrada da mosca-branca nas regiões produtoras de melão, o processo de implantação da cultura deve ser re-estruturado dentro de uma nova ótica, ou seja, a diminuição do ciclo da cultura, para assim diminuir o período em que o cultivo está exposto à praga. Cada semana a mais no campo representa uma ou até duas aplicações a mais de inseticidas (Bleicher et al., 1998) e o uso de medidas que venham auxiliar no manejo integrado de pragas, dentre eles o uso de óleo mineral e de detergente neutro. A adição de óleo mineral e detergente neutro vêm sendo recomendados na concentração de 0,5 a 0,8% na calda três dias após o uso de Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Efeito do óleo mineral e do detergente neutro na eficiência de controle da mosca-branca por betacyfluthrin, dimethoato e methomyl no meloeiro. agroquímicos (Kissman, 1997). A eficiência da aplicação desses produtos depende muito de uma boa cobertura de aplicação, principalmente da face inferior (abaxial) da folha (Gallo et al., 1998). A mosca-branca (biótipo B) adquire resistência aos produtos químicos com grande facilidade, sugerindo que o controle da praga seja feito com alternância de produtos de grupos químicos diferentes (razão pela qual foram escolhidos os inseticidas utilizados neste trabalho). Deve-se utilizar o mesmo produto no máximo duas vezes durante o ciclo da cultura, enquanto os inseticidas reguladores de crescimento só devem ser usados uma única vez (Sawick et al., 1989). O objetivo desta pesquisa foi verificar a eficiência do óleo mineral e do detergente neutro, na concentração de 0,5%, adicionados aos inseticidas betacyfluthrin, dimethoato e methomyl para o controle da mosca-branca (Bemisia tabaci RAÇA B) no meloeiro. MATERIAL E MÉTODOS Foram conduzidos dois experimentos na MAISA (Mossoró Agro-industrial S.A.) em Mossoró, cujas médias de temperatura e umidade relativa do ar são 27,8°C e 59,8% no mês de setembro, e 28,1°C e 61,3% para outubro, respectivamente (Chagas,1997). O plantio das sementes foi realizado no mês de agosto, porém as aplicações dos produtos e as amostragens ocorreram no período de setembro a outubro de 1998. O delineamento para cada experimento foi de blocos ao acaso com sete tratamentos e quatro repetições. Os inseticidas testados foram betacyfluthrin 50 CE (100 mL/100 L), dimethoato 400 CE (75 mL/100 L) e methomyl 215 CE (100 mL/100 L). Utilizou-se 0,5% de óleo mineral (marca comercial Assist) e de detergente neutro (marca comercial Indeba T) nos tratamentos em que foram adicionados às caldas inseticidas. A unidade experimental, com área de 60 m², foi constituída por três fileiras de 10 m de comprimento, espaçadas 2 m entre as fileiras e 1 m entre os gotejadores, sendo três plantas por gotejador, totalizando 90 plantas do híbrido AF 646 por parcela. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabela 1.Número médio de ninfas de Bemisia tabaci raça B em 10 discos de 2,8 cm² de folhas de meloeiro antes e após a aplicação de inseticidas associados a óleo mineral. Mossoró, ESAM, 1998. Tratamen tos 1. Testemunha 2. Betacyfluthrin 3. Betacyfluthrin + Óleo Mineral 4. Methomyl 5. Methomyl + Óleo Mineral 6. Dimethoato 7. Dimethoato + Óleo Mineral F C.V. (%) N° médio de n in fas/disco A n te s Ap ó s 5,03¹a² 14,15¹a² 4,48 a 9,95 b 4,43 a 7,97 b 4,57 a 10,81 b 5,04 a 10,68 b 5,15 a 10,33 b 3,58 a 8,99 b 0,66 ns 7,29** 28,93 13,76 %E Abbott -51,30 68,57 41,24 43,60 46,46 59,25 , efetuada para ¹ As médias apresentadas na tabela são produto da transformação atender o modelo estatístico. ² As médias, na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Aos 16 dias após o plantio aplicouse o inseticida imidacloprid em toda a área experimental. Os inseticidas e o óleo mineral foram aplicados aos 44; 51; 58 e 65 dias após o plantio. O detergente neutro foi aplicado aos 45; 52; 59 e 66 dias após o plantio. As amostras foram obtidas em dez folhas por parcela com o auxílio de um cartucho metálico de espingarda calibre 12, pressionando a folha por cima entre as nervuras centrais e laterais, com um papelão por baixo facilitando o corte de pequenos discos de 2,8 cm². As amostras foram colocadas em sacos plásticos e acondicionadas em caixa de isopor até a contagem. As contagens foram feitas no mesmo dia, sob lupa tipo conta fio de 6,25 cm² de base com lente de dez aumentos. As amostragens e aplicações foram feitas semanalmente, sendo feitas no total cinco amostragens aos 44; 51; 58; 65 e 72 dias após o plantio. O cálculo da percentagem de eficiência (Tabelas 1 e 2) foi feito utilizando a fórmula de Abbott (1925). , onde: T = número de insetos vivos na testemunha I = número de insetos vivos após a aplicação dos produtos Os resultados foram submetidos à análise da variância com os dados trans- formados em e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade utilizando-se o software ESTAT (Sistema Para Análises Estatísticas, versão 1.0). RESULTADOS E DISCUSSÃO No experimento 1, realizado com óleo mineral, verificou-se que não houve diferença estatística entre os tratamentos, porém, todos os tratamentos reduziram significativamente o número de ninfas de Bemisia tabaci raça B (Tabela 1). Todos os tratamentos produziram frutos aptos para a comercialização, fato que não ocorreu com a testemunha, devido ao ataque severo de mosca-branca. Observou-se tendência de aumento da eficiência de controle de todos os tratamentos associados ao óleo mineral, destacando-se os inseticidas betacyfluthrin (68,57%) e dimethoato (59,25%). Quando aplicados isoladamente a eficiência de controle foi de 51,30% e 46,46%, respectivamente. A combinação de methomyl com óleo mineral não resultou em grande acréscimo na eficiência de controle. A eficiência deste inseticida em aplicações isoladas foi de 41,24%, e quando associado ao óleo mineral, foi de 43,60%. Os resultados encontrados nesse trabalho foram um pouco melhores que os en75 F.A.S.B. Medeiros et al. Tabela 2. Número médio de ninfas de Bemisia tabaci raça B em 10 discos de 2,8 cm² de folhas de meloeiro antes e após a aplicação de inseticidas associados a detergente neutro. Mossoró, ESAM, 1998. Tratamen tos 1. Testemunha 2. Betacyfluthrin 3. Betacyfluthrin + Detergente Neutro 4. Methomyl 5. Methomyl + Detergente Neutro 6. Dimethoato 7. Dimethoato + Detergente Neutro F C.V. (%) N° médio de n in fas/disco A n te s Ap ó s 4,23¹a² 12,51¹a² 3,90 a 9,91abc 5,04 a 8,23 bc 4,60 a 11,80ab 5,33 a 8,79abc 4,05 a 9,60abc 3,82 a 7,35 c 1,00 ns 4,32** 26,40 18,49 %E Abbott -38,11 55,91 8,35 51,50 39,37 64,09 , efetuada para ¹ As médias apresentadas na tabela são produto da transformação atender o modelo estatístico. ² As médias, na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. contrados por Haji (1997), onde o dimethoato associado ao óleo mineral não diferiu estatisticamente da testemunha, mas apresentou redução na população de ninfas. Também foi observada por Gómez et al. (1997) redução em populações de ninfas quando usado o óleo mineral. Foi verificado por Hilje (1996) que o óleo vegetal de Canavalia apresentou bom efeito inseticida para ovos e adultos, e o óleo de soja apresentou efeito parcial, comparados com a testemunha e com o tratamento com o inseticida endosulfan. No experimento 2, realizado com detergente neutro, observou-se alta população de ninfas nas parcelas utilizadas como testemunha (Tabela 2). Os tratamentos betacyfluthrin e dimethoato quando associados ao detergente neutro reduziram significativamente o número de ninfas de mosca-branca quando comparados à testemunha. Os demais tratamentos não diferiram estatisticamente da testemunha. O methomyl além de apresentar uma eficiência de controle muito baixa, novamente não evidenciou diferença quanto ao número de ninfas entre o tratamento com detergente neutro (51,50%) e o tratamento sem detergente neutro (8,35%). Já os tratamentos com os inseticidas betacyfluthrin e dimethoato, associados ao detergente neutro, apresentaram eficiência de controle superiores (55,91% 76 e 64,09%, respectivamente) quando comparados a aplicações isoladas (38,11% e 39,37%, respectivamente). Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Hilje (1997), onde também se verificou uma redução na população de ninfas, quando o detergente neutro foi associado aos inseticidas acefato e lambdcyalothrin. Por meio das análises dos resultados, conclui-se que o detergente neutro e o óleo mineral auxiliaram os inseticidas betacyfluthrin e dimethoato na redução da população de ninfas de mosca-branca, aumentando a eficiência de controle dos mesmos, apesar dessa eficiência ainda ter sido baixa (menor que 70%). O inseticida methomyl apresentou a mais baixa eficiência de controle, principalmente no experimento 2, além de não ter sido auxiliado nem pelo óleo mineral, nem pelo detergente neutro. O óleo mineral e o detergente neutro na concentração de 0,5% não causaram fitotoxidade às plantas de melão. No experimento 1 o tratamento que se mostrou mais eficiente foi o do inseticida betacyfluthrin associado com o óleo mineral, apresentando eficiência de controle de 68,57%. No experimento 2 o tratamento que se mostrou mais eficiente foi o do inseticida dimethoato com o detergente neutro, apresentando eficiência de controle de 64,09%. AGRADECIMENTOS Os autores agradecem à MAISA pela disponibilidade, instalação dos experimentos e utilização dos produtos. LITERATURA CITADA ABBOTT, W.S. A method of computing the effectiveness of an inseticide. Journal of Economic Entomology, v. 18, p. 265-267, 1925. BLEICHER, E.; SILVA, P.H.S.; ALENCAR, J.A.; HAJI, F.N.P.; CARNEIRO, J.S.; ARAÚJO, L.H.A.; BARBOSA, F.R. Proposta de manejo da mosca-branca, Bemisia argentifolii Bellows & Perring, em melão. Brasília: EMBRAPA – SPI, 1998. 10 p. IN: Manejo integrado da mosca-branca, Plano emergencial para o controle da mosca-branca. (EMBRAPA – SPI). Mimeografado. CHAGAS, F.C. Normais climatológicas para Mossoró – RN (1970-1996). ESAM, Mossoró – RN, 40 p. 1997. Monografia. (Monografia graduação). GALLO, D.; NAKANO, O.; NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, G.C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B.; VENDRAMIN, J.D. Manual de entomologia agrícola. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres. 2ªed, 1998. 649 p. GÓMEZ, P.; CUBILLO, D.; MORA, G.A.; HILJE, L. Evaluacion de posibles repelentes de Bemisia tabaci: I. Productos comerciales. Turrialba. Manejo Integrado de Plagas, 46: p. 9-16. 1997. HAJI, F.N.P.; ALENCAR, J.A.; LIMA, M.F.; MATTOS, M.A.A.; HONDA, O.T.; HAJI, A.T. Avaliação de produtos para o controle da mosca-branca (Bemisia spp.) na cultura do tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) Petrolina: EMBRAPA – CPATSA, 1997. 6 p. (EMBRAPA – CPATSA. Pesquisa em andamento, 84) HILJE, L. Metodologias para el estudio y manejo de moscas blancas y geminivirus. Turrialba: CATIE. Unidad de fitoprotección, 1996. 150 p. KISSMAN, K.G. Adjuvantes para caldas de produtos fitossanitários. IN: Congresso Brasileiro da Ciência de Plantas Daninhas (21.: 1997: Caxambu, MG). Palestras e mesas redondas... Viçosa, MG: SBCPD, 1997. p. 61-77. LÓPEZ, M.A. MOSCA BLANCA: Description, Ecologia, Daños y Estrategias para el Manejo. Quito, Equador: INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), 1995. p. 2-4. LOURENÇÃO, A.L.; NAGAI, H. Surtos populacionais de Bemisia tabaci no Estado de São Paulo. Bragantia, Campinas, v. 53, n. 1, p. 53-59, 1994. PEDROSA, J.F. Cultura do melão. ESAM. Mossoró,4ª ed., 51 p. 1997. (Apostila). SAWICKI, R.M.; DENHOLM, I.; FORRESTES, N.W.; KERSHAW, C.D. Present insecticidresistance management strategies in cotton. In: GREEN, M.B.; LYON, D.S.B., eds. Pest manegement in cotton. Chichester: Ellis Horwood. 1989. p. 31-43. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. OLIVEIRA, A.P.; ESPÍNOLA, F.E.J.; ARAÚJO, J.S.; COSTA, C.C. Produção de raízes de cenoura cultivadas com húmus de minhoca e adubo mineral. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 77 - 80, março 2.001. Produção de raízes de cenoura cultivadas com húmus de minhoca e adubo mineral. Ademar P. Oliveira1; José Eduardo F. Espínola2; Jucilene S. Araújo1; Caciana C. Costa1 1 UFPB-CCA, C. Postal 02, 58.397-000 Areia-PB; 2UFPB-CFT, 58.220-000 Bananeiras-PB. e.mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Neste trabalho avaliou-se o efeito de doses de húmus de minhoca (0, 15, 20, 25 e 30 t/ha), na presença e ausência de adubo mineral, sobre a produção de raízes de cenoura, cultivar Brasília Nova Seleção. O experimento foi conduzido em Latossolo Vermelho-Amarelo, na Universidade Federal da Paraíba, em Areia, de julho a outubro de 1997. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 5 x 2. Foram avaliadas a produção total e comercial de raízes (tipos Extra-A, Extra, Especial e Primeira). A dose de 25 t/ha de húmus de minhoca foi responsável pela máxima produção total (70,1 t/ha) e comercial (31,1 t/ha) e pela mais baixa produção não-comercial de raízes (39,0 t/ ha). As produções total (79,5 t/ha) e comercial (25,5 t/ha) de raízes na presença de adubo mineral, superaram em 71,7% e 64,7%, respectivamente, as produções obtidas na ausência de adubo mineral. O adubo mineral proporcionou maior produção de raízes não-comerciais (54,0 t/ha), superando em 75,1% a produção obtida na ausência de adubo mineral. As produções de raízes do tipo Extra-A e Extra aumentaram linearmente com as doses de húmus aplicadas. Os aumentos nas produções de raízes tipos Extra-A e Extra foram de aproximadamente 0,16 t/ha e 0,15 t/ha respectivamente, para cada tonelada de húmus de minhoca adicionada ao solo. A presença do adubo mineral elevou as produções de raízes dos tipos Extra-A, Extra Especial e Primeira em 4,9; 5,6; 1,7 e em 19,4 t/ha, respectivamente, em relação à sua ausência. Carrot roots production cultivated with earthworm compost and mineral fertilizer. Palavras-chave: Daucus carota L., adubação organo-mineral, rendimento. Keywords: Daucus carota L., organic-mineral fertilizer, yield. In this work the effect of levels of earthworm compost was evaluated (0, 15, 20, 25 and 30 t/ha), in the presence and absence of mineral fertilizer, on the production of carrot roots, cv. Brasília Nova Seleção. The experiment was performed in a Red-yellow Latossolo, in the Federal University of Paraíba, in Areia, Brazil, from July to October 1997. The experimental design was randomized blocks with the treatments distributed in a factorial scheme 5 x 2. The total and commercial production of roots were evaluated (Extra A, Extra, Special and First types). The level of 25 t/ha of earthworm compost, was responsible for the maximum total (70.1 t/ha) and commercial (31.1 t/ha) yield and for the lowest non-commercial yield of roots (39.0 t/ha). The total (79.5 t/ha) and commercial (25.5 t/ha) yield of roots in the presence of mineral fertilizer, surpassed 71.7% and 64.7%, respectively, the yield obtained in the absence of mineral fertilizer. The mineral fertilizer provided higher yield of noncommercial roots (54.0 t/ha), surpassing in 75.1% the yield obtained in the absence of mineral fertilizer. Root production of Extra-A and Extra types increased linearly with the applied earthworm compost levels. Increases in the productions of root types Extra-A and Extra were of approximately, 0.6 t/ha and 0.15 t/ha, respectively, for each ton of earthworm compost added to the soil. The presence of the mineral fertilizer increased the production of Extra-A, Extra, Special and First type roots in 4.9; 5.6; 1.7 and 19.4 t/ha, respectively, in comparison to its absence. (Aceito para publicação em 17 de janeiro de 2.001) A adubação orgânica na cultura da cenoura desempenha papel fundamental no aumento da produção de raízes comerciais e na diminuição de raízes deformadas, principalmente em solos com baixo teor de matéria orgânica (Souza, 1990). Contudo, a resposta da cenoura à aplicação de fertilizantes orgânicos é muito variável, devido à diversidade na composição desses materiais. Entretanto maiores quantidades de materiais orgânicos empregadas no seu cultivo, especialmente os estercos de animais e compostos orgânicos, têm sido responsáveis por aumento de produção. Gaweda (1997) verificou elevação na produção de raízes de cenoura em solo Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. com elevado teor de matéria orgânica. Todavia Pereira et al. (1979), avaliando a eficiência do lixo industrializado, como adubo orgânico sobre a qualidade e rendimento de raízes da cenoura, constataram na análise dos dados relativos ao peso, comprimento e diâmetro, não haver diferença estatística entre as doses de 2; 4; 8 16 e 32 kg/m2. Também, Schimid et al. (1993) não verificaram aumento na produção de cenoura com o emprego de esterco bovino. O emprego do vermicomposto como fonte de matéria orgânica na produção de hortaliças vem aumentando nos últimos anos. Trata-se de um fertilizante orgânico obtido pela decomposição aeróbia controlada, produzindo um composto de boa qualidade, riquíssimo em macro e micronutrientes. Não apresenta acidez e possui elevada taxa de mineralização de N. Todavia devido à alta capacidade de troca catiônica, a liberação de N é lenta e gradual, reduzindo as perdas por lixiviação (Harris et al., 1990; Camilis Neto, 1992). Longo (1992) afirma que o húmus produzido pelas minhocas é em média 70% mais rico em nutrientes que os húmus convencionais; o nitrogênio é quase cinco vezes maior que antes de passar pelo seu trato digestivo, enquanto o fósforo é sete, o potássio é onze e o magnésio é três vezes maior. 77 A.P. Oliveira et al. Tabela 1. Produção total, comercial e não comercial de raízes de cenoura, em função de doses de húmus de minhoca. Areia, UFPB, 1998. D o s es d e h ú mu s (t/h a) 0 15 20 25 30 CV (%) P rodu ção de raízes (t/h a) Total Comercial Não-comercial 57,2 b 15,0 b 42,2 a 62,2 ab 20,1 a 42,1 a 61,3 ab 17,0 b 44,3 a 70,1 a 31,1 a 39,0 a 66,3 ab 19,1 b 44,3 a 21,5 27,6 33,6 Médias, nas colunas seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Pouco se sabe sobre a quantidade de vermicomposto que deve ser aplicada ao solo, a fim de proporcionar aumentos de produtividade nas hortaliças e permitir a utilização eficiente dos nutrientes pelas plantas, sem contudo ocasionar prejuízos às propriedades do solo e à composição vegetal. Em alface, Ricci et al. (1994) obtiveram um adicional de 3,4 t/ha com vermicomposto em relação ao composto tradicional. No feijão vagem, 15 t/ha de húmus de minhoca foi responsável por aumento na produção de vagens (Oliveira et al. 1998). Em repolho, Ferreira et al. (1998) verificaram máxima produção e peso médio de cabeças, com aplicação de 30 t/ha de húmus de minhoca. Todavia, Seno et al. (1993) verificaram pouca influencia do húmus de minhoca sobre o peso médio do bulbo na cultivar de alho Roxo Pérola de Caçador. Quanto ao efeito do húmus de minhoca associado a adubo mineral, Bithencourt et al. (1996), avaliando as combinações de fertilizantes com húmus; fertilizantes com esterco de galinha e de húmus na alface, não encontraram diferenças entre os tratamentos para o diâmetro da cabeça, peso da cabeça, altura da planta e peso verde das folhas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do húmus de minhoca, na ausência e na presença de adubo mineral, sobre a produção e qualidade de raízes de cenoura. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido na Universidade Federal da Paraíba, em Areia no período de junho a outubro de 78 1997, em Latossolo Vermelho-Amarelo. Os tratamentos consistiram da combinação dos fatores, doses de húmus de minhoca (0; 15; 20; 25 e 30 t/ha) e ausência e presença de adubo mineral, dispostos em esquema fatorial 5 x 2, no delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. Nos tratamentos que receberam adubo mineral, aplicou-se no plantio 800 kg/ ha de superfosfato simples e 136 kg/ha de cloreto de potássio e, em cobertura, 200 kg/ha de sulfato de amônio, em duas parcelas iguais aplicadas aos 30 e 60 dias após a semeadura. Também no ato da adubação de plantio, foram incorporadas nos canteiros, as doses de húmus de minhoca. O tamanho das parcelas foi de 2,0 x 1,0 m. O espaçamento utilizado foi de 25,0 x 5,0 cm, com 160 plantas, todas consideradas úteis. A cultivar empregada foi a Brasília Nova Seleção. O húmus de minhoca teve como matéria-prima o esterco bovino. A caracterização química do húmus de minhoca e o equivalente de unidade foram: P = 3,0 g/kg; K = 2,5 g/kg; N = 3,5 g/ kg; matéria orgânica = 102,1 g/dm3; e relação C/N = 17/1, enquanto que o solo apresentou as seguintes características químicas: pH H2O = 5,9; P disponível 92,4 mg/dm3; K = 67,5 mg/dm3; Al trocável = 0,0 cmolc/dm3; Ca + Mg =3,5 cmolc/dm3; e 1,2% de matéria orgânica. Após o preparo do solo e incorporação do adubo realizou-se a semeadura manualmente, em sulcos a uma profundidade de 2,0 cm. Foram realizados desbastes aos 14 e 21 dias após a emergência. Durante a condução da cultura foram realizadas capinas com auxílio de enxadas, procurando-se manter sempre a cultura livre de plantas daninhas. Utilizou-se a irrigação por aspersão, sempre que necessário, procurando manter o nível de disponibilidade de água acima de 80% da capacidade de campo. A ausência de pragas e doenças, dispensou o emprego de agrotóxicos. Foram avaliadas as produções total e comercial de raízes (tipo Extra-A, Extra, Especial e Primeira), conforme Freire et al. (1984). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Foi realizada a análise de variância da regressão polinomial para verificar os efeitos linear e quadrático das variáveis, em função de doses de húmus de minhoca, sendo selecionado para expressar o comportamento de cada característica, o modelo significativo de maior ordem e que apresentou maior coeficiente de determinação com os dados obtidos. RESULTADOS E DISCUSSÃO As produções total e comercial de raízes, foram influenciadas (P<0,01) isoladamente pelos fatores doses de húmus de minhoca e adubo mineral (Tabelas 1 e 2). A dose de 25 t/ha de húmus de minhoca, foi responsável pelas máximas produções total (70,1 t/ha) e comercial (31,1 t/ha) de raízes. Estes valores representam acréscimos de 12,9 e de 16,1 t/ha, nas produções total e comercial de raízes respectivamente, em relação à ausência de húmus de minhoca. Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre doses de húmus para a produção de raízes não-comerciais. Outros autores têm relatado efeitos positivos do emprego da matéria orgânica na elevação da produção na cenoura (Pereira et al., 1979; Párraga, 1987; Souza, 1990; Gaweda, 1997), entretanto, não mencionam efeitos do húmus de minhoca. Para hortaliças como alface (Ricci et al., 1994), feijão-vagem (Oliveira et al.,1998), repolho (Ferreira et al.,1998) e alho (Seno et al.,1993) a resposta à utilização de húmus de minhoca tem originado resultados conflitantes quanto ao rendimento. A ausência de resposta do húmus de minhoca sobre a produção de raízes nãoHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Produção de raízes de cenoura cultivadas com húmus de minhoca e adubo mineral. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabela 2. Produção total, comercial e não comercial de raízes de cenoura, em função de adubação mineral. Areia, UFPB, 1998. D o s es d e h ú mu s (t/h a) Sem mineral Com mineral CV (%) P rodu ção de raízes (t/h a) Total Comercial Não-comercial 46,3 b 15,5 b 30,8 a 79,5 a 25,5 a 54,0 a 25,0 46,5 33,6 Médias, nas colunas seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Tabela 3. Produção de raízes dos tipos Extra-A, Extra, Especial e Primeira de cenoura, em função de adubação mineral. Areia, UFPB, 1998. Ad u b aç ão Sem mineral Com mineral CV (%) P rodu ção de raízes (t/h a) Extra Especial 4,2 b 4,9 b 9,9 a 6,6 a 50,4 44,8 Extra-A 2,9 b 7,8 a 80,5 P rimeira 12,5 b 31,9 a 42,8 Médias, nas colunas seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Produ ªo de ra zes (t/ha) comerciais, assemelha-se aos resultados obtidos por Oliveira & Lima (1988) que também não observaram efeito da adubação orgânica com bagaço de cana-deaçúcar e esterco caprino sobre características produtivas da cenoura. A resposta positiva da dose de 25 t/ ha de húmus de minhoca sobre as produções total e comercial de raízes de cenoura, pode ser atribuída à composição do húmus de minhoca, alterando as características químicas do solo, promovendo suprimento eficientemente de nutrientes à cenoura. Soma-se a isso a melhoraria na estrutura física, na capacidade de troca de cátions e na retenção de água, incremento substancial nas produções de invertebrados, fungos e bactérias, promovendo condições essenciais para o solo manter-se produtivo e, neste caso, proporcionar à cultura da cenoura maior produção de raízes comerciais, consequentemente, reduzindo a produção de raízes não-comerciais (Lynch, 1986; Pereira, 1987; Souza, 1990). Quanto ao emprego do adubo mineral, as produções total (79,5 t/ha) e comercial (25,5 t/ha) de raízes na presença de adubo mineral superaram em 71,7% e 64,70%, respectivamente, as produções obtidas na ausência de adubo mineral. Este resultado expressa a exigência da cenoura em adubo mineral para obtenção de elevados rendimentos. Há consenso entre diversos autores (Camargo, 1981; Mesquita Filho et al., 1985; Foltran, 1987; Rebouças & Souza 1990) sobre a eficiência do adubo mineral na elevação da produtividade na cenoura. Verificou-se também que a adubação mineral proporcionou maior produção de raízes não-comerciais (54,0 t/ ha), superando em 75,1% aquela obtida na ausência de adubo mineral. A adubação mineral é uma das práticas de cultivo que mais influencia o resultado da produção hortícola (Filgueira, 1982). Contudo a elevada produção de raízes não-comerciais obtidas com a adubação mineral, não anula sua eficiência, fato justificável pelo efeito positivo no incremento da produção de raízes comerciais. Com relação às raízes classificadas, as produções de raízes do tipo Extra-A e Extra, aumentaram linearmente com elevação das doses de húmus, ocorrendo aumento de aproximadamente 0,16 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 y 1 = 4,1774 + 0,1479x y1 2 R = 0,82* y2 y 2 = 2,6962 + 0,1613x 2 R = 0,67* 10 15 20 25 30 Hœm us de m inhoca (t/ha) Figura 1. Produção de raízes dos tipos Extra-A (y1) e Extra (y2) em função de doses de húmus de minhoca. Areia, UFPB, 1998. t/ha e 0,15 t/ha respectivamente, para cada tonelada de húmus de minhoca adicionada ao solo (Figura 1). Todavia as produções de raízes especial e primeira, não foram influenciadas pelas doses de húmus, apresentando produções médias de 4,9 e 12,4 t/ha, respectivamente. Párraga (1987) verificou que maiores quantidades de adubos orgânicos aplicados, resultaram em produção de cenouras mais pesadas e do tipo extra. O acréscimo na produção de raízes Extra-A e Extra, deve-se possivelmente, aos fatores relacionados com o aumento da produção total e comercial de raízes. A adubação mineral incrementou (P<0,01) as produções de raízes do tipo Extra-A, Extra, Especial e Primeira (Tabela 3), em 4,9; 5,6; 1,7 e 19,6 t/ha, respectivamente, em relação à sua ausência. Estes resultados evidenciam a importância do adubo mineral na elevação da produção de raízes classificadas de cenoura, principalmente do tipo ExtraA e Extra. Aumentos de produção de raízes de cenoura classificadas, em função da aplicação de adubo mineral também foram observados por Lima et al. (1980), Castellane (1980), Camargo 79 A.P. Oliveira et al. (1981) e Rebouças & Souza (1990). Com base nos resultados apresentados e condições em que foi realizado o trabalho, o húmus de minhoca mostrou ser eficiente na produção de cenoura. O emprego de 25 t/ha associado à adubação mineral, aumentou a produção de raízes comerciais. LITERATURA CITADA BITHENCOURT, M.L.C.; CAPRONI, A.M.; SOUZA, E.A; SANTOS, A.V.; DIAS, E.G.; PAULINO, N.A. Efeito da adubação mineral e orgânica sobre características morfológicas e agronômicas em plantas de alface (Lactuca sativa L.) “Brasil 303”. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 36., 1996, Foz do Iguaçu. Resumo... Foz do Iguaçu: SOB, 1996. n. 29. CAMARGO, L.S. As hortaliças e seu cultivo. Campinas: Fundação Cargill, 1981, 289 p. CAMILIS NETO, G. Curso prático de minhocultura, Itu. 1992, 42 p. (Monografia de curso). CASTELLANE, S.R.P.L. Adubação da cultura da cenoura (Daucus carota L.). Jaboticabal: FCAV, 1980, 86 p. (Monografia graduação). FERREIRA, D.S.; OLIVEIRA, A.P.; COSTA, C.C.; SILVA, A.F. Produção de repolho em função de doses de húmus de minhoca e esterco bovino. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 38., 1998, Petrolina. Resumos...Petrolina: SOB, 1998. n. 102. FILGUEIRA, F.A.R. Manual de Olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. São Paulo: Agronômica Ceres, 1982. v. 2, 357 p. FOLTRAN, D.E. Efeitos de adubações NP e PK na cultura da cenoura em solo com fertilidade elevada. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 5, n. 1, p. 56, 1987. 80 FREIRE, F.L.B.; VIEIRA, G.S.; DUARTE, R.M.M.D. Colheita, classificação e embalagens da cenoura, mandioquinha-salsa. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 10, n. 120, p. 57-59, 1984. GAWEDA, M. The control of lead cummulation in carrot plants by some components of the substrate. Journal of applied genetics. v. 38, p. 206 -213, 1997. HARRIS, G.D.; PLATT, W.L.; PRICE, B.C. Vermicomposting in a rural community. Biocycle, v. 10, n. 2, p. 48-51, 1990. LIMA, J.A.; FONTES, R.R.; VIEIRA, J.V.; SOUZA, A.F. Efeitos da relação Ca++/Mg++ em diferentes níveis de calagem em solo de cerrado para a cultura da cenoura (Daucus carota). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 20., 1980. Brasília. Resumos... Brasília: EMBRAPA/EMBRATER/ SOB, 1980. p. 93. LONGO, A.D. Minhoca - De Fertilizadora do solo a fonte alimentar. 2. Ed. São Paulo: Ícone, 1992. p. 46 LYNCH, J.M. Biotecnologia do solo; fatores microbiológicos na produtividade agrícola. São Paulo: Ed. Manole Ltda., 1986. 209 p. MESQUITA FILHO, M.V.; CRISOSTÓMO, L.A.; SILVA T.G. Rendimento da cenoura em função da aplicação de nitrogênio e fósforo em um solo sob cerrado. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 3, n. 2, p. 39-40, 1985. OLIVEIRA, A.P.; OLIVEIRA, M.R.; FREITAS NETO, P.A.; SANTOS, G.M.; LIMA; K.L.; SILVA; F.S. Produção de feijão-vagem em função de doses e fontes de matéria orgânica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 38., 1998, Petrolina. Resumos... Petrolina: SOB, 1998. n. 221. OLIVEIRA, A.P.; LIMA, A.A. Efeitos de aplicação do bagaço da cana-se-açucar e esterco caprino no cultivo da cenoura (Daucus carota L.) no município de Areia-PB. Tecnologia e Ciência, João Pessoa, v. 2, p. 71-74, 1988. PÁRRAGA, M.S. Efeito da matéria orgânica na quantidade e qualidade de raízes de cenoura (Daucus carota L.), avaliado em 3 épocas de colheita. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 10, n. 1, p. 33, 1987. PEREIRA, E.B. Efeito da adubação orgânica com composto sobre a cultura de alho. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 5, n. 1, p. 33, 1987. PEREIRA, E.B.; SRUR, A.U.O.S.; CARVALHO, I.C. Uso do lixo industrializado como adubo na cultura da cenoura (Daucus carota L). Ciência e Cultura, São Paulo, v. 31, n. 7, p. 27-29, 1979. REBOUÇAS, T.N.H.; SOUZA, I.V.B. Efeito de diferentes níveis de fósforo em duas cultivares de cenoura (Daucus Carota L.). Horticultura Brasileira, Brasília, v. 8, n. 1, p. 62, 1990. RICCI, M.S.F.; CASALI, V.W.D.; CARDOSO, A.A.; RUIZ, H.A. Produção de alface adubadas com composto orgânico. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 12, n. 1, p. 56-58, 1994. SCHIMID, M.L.; BIASI, L.A.; EVERALDO NETO, C.L. Controle de Melodogyne arenaria (Neal,1989) Chitiwood 1949 na cultura da cenoura em estufa. Pesquisa Agropecuária, Brasileira, Brasília, v. 10, n. 10, p. 1201-1204, 1993. SENO, S.; SALIBRA, G.G.; PAULA, F.J.; ROGA, F.S. Efeito de tipos e níveis de adubo orgânico na cultura do alho (Allium sativum L.) cv. Roxo Pérola de Caçador, na região de Ilha Solteira-SP. Cultura Agronômica, Ilha Solteira, v. 2, n. 1, p. 111-118, 1993. SOUZA, A.P. Efeito de diferentes fontes de adubo orgânico sobre a produtividade de cenoura (Daucus carota L.). Areia: Universidade Federal da Paraíba -CCA/UFPB, 1990. 77 p. (Monografia graduação). Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. OLIVEIRA, A.P ; ARAÚJO, J.S.; ALVES, E.U.; NORONHA, M.A S.; CASSIMIRO, C.M.; MENDONÇA, F.G. Rendimento de feijão-caupi cultivado com esterco bovino e adubo mineral. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 81-84, março, 2.001. Rendimento de feijão-caupi cultivado com esterco bovino e adubo mineral. Ademar P. Oliveira; Jucilene S. Araújo; Edna Ursulino Alves; Michelle A. S. Noronha; Christiane M. Cassimiro; Flávia G. Mendonça UFPB-CCA, C. Postal 02, 58.397-000 Areia-PB. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT O feijão-caupi, conhecido no Nordeste Brasileiro por feijãomacassar ou feijão-de-corda é uma das principais culturas desta região, consumido sob a forma de grãos secos ou grãos verdes, tipo ervilha. Na Paraíba detém 75% das áreas de cultivo com feijão, sendo que o baixo rendimento é atribuído à falta de estudos sobre nutrição mineral. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de esterco bovino, na presença ou ausência de adubo mineral, sobre o rendimento de vagens, de grãos verdes e secos do feijão-caupi, cultivar IPA 206. O experimento foi conduzido na Universidade Federal da Paraíba, em Areia, de setembro/1998 a janeiro/1999, em delineamento experimental de blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 5 x 2, onde o primeiro fator correspondeu às doses de esterco bovino (0, 10, 20, 30 e 40 t/ha) e, o segundo fator à presença e ausência de adubo mineral, em quatro repetições. O rendimento máximo estimado de vagens (9,64 t/ha) foi obtido com 25 t/ha de esterco bovino na presença do adubo mineral, enquanto que na ausência de adubo mineral o rendimento de vagens aumentou com a elevação das doses de esterco bovino, na ordem de 49,3 kg/ha para cada tonelada de esterco bovino adicionado ao solo. O rendimento de grãos verdes na presença de adubo mineral atingiu valor máximo estimado (6,8 t/ha) na dose ótima estimada de 17 t/ha de esterco bovino. Na ausência de adubo mineral, o rendimento de grãos verdes, aumentou com a elevação das doses de esterco bovino, na ordem de 47,9 kg/ha para cada tonelada de esterco bovino adicionado ao solo. O rendimento de grãos secos na presença de adubo mineral atingiu valor máximo estimado (3,03 t/ha) na dose de 21 t/ha de esterco bovino, enquanto na ausência de adubo mineral a dose de 25 t/ha de esterco bovino foi responsável pelo rendimento máximo de grãos secos (2,00 t/ha). Yield of cowpea-beans cultivated with bovine manure and mineral fertilization. Palavras-chave: Vigna unguiculata, adubação organo-mineral, vagens, grãos verdes, grãos secos, produção. The cowpea-bean, known in the Brazilian Northeast as ‘macassar-bean’ or rope bean is one of the main crops of this region being consumed as dry beans or green beans (pods and/or immature grain). In Paraíba, it is cultivated in almost all regions, representing 75% of the area cultivated with common dry beans. The low yield is due to the lack of a program of mineral nutrition. This experiment was carried out to evaluate the effect of different levels of bovine manure in the presence or absence of mineral fertilizer on pods and green and dry grains yield of the cowpea-bean, cv. IPA 206. The experiment was performed in the Federal University of Paraíba, in Brazil, from September/1998 to January/1999, in a randomized blocks design, where the treatments were distributed in a factorial scheme 5 x 2, with the first factor corresponding to levels of bovine manure (0, 10, 20, 30 and 40 t/ha) and, the second factor, the presence or absence of mineral fertilizer, in four replications. Each plot consisted of 20 plants, spaced 0.80 x 0.40 m apart. The estimated maximum yield of pods (9.64 t/ha) was obtained with 25 t/ha of bovine manure in the presence of mineral fertilizer, while in the absence of mineral fertilizer, the yield of pods, increased with the increasing levels of bovine manure, in the order of 49.3 kg/ha to each ton of bovine manure added to the soil. The yield of green grains in the presence of mineral fertilizer reached estimated maximum value (6.8 t/ha) in the estimated optimum level of 17 t/ha of bovine manure. In the absence of mineral fertilizer, the yield of green grains, increased with the increasing of the levels of bovine manure in the order of 47.9 kg/ha to each ton of bovine manure added to soil. The yield of dry grains in the presence of mineral fertilizer reached estimated maximum value (3.03 t/ha) in the level of 21 t/ha of bovine manure. In the absence of mineral fertilizer, the level of 25 t/ha of bovine manure was responsible for the maximum yield of dry grains (2.00 t/ha). Keywords: Vigna unguiculata Walp., organic-mineral fertilization, pods, green grains, dry grains, yield. (Aceito para publicação em 24 de janeiro de 2001) O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), conhecido por feijãomacassar ou feijão-de- corda é uma fonte de renda alternativa e considerado alimento básico da população da Região Nordeste do Brasil. O consumo do mesmo pode ser na forma de grãos maduros e de grãos verdes, (“feijão-verde” com teor de umidade entre 60 e 70%). É bastante apreciado por seu sabor e cozimento mais fácil, sendo utilizado Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. como “feijão-verde”, em pratos típicos da região Nordestina (Ferreira & Silva, 1987; Oliveira & Carvalho, 1988; Silva & Oliveira, 1993). No Estado da Paraíba, é cultivado em quase todas micro-regiões, onde detém 75% das áreas de cultivo com feijão (IBGE,1996). Em algumas regiões do Estado da Paraíba níveis baixos de produtividade têm sido constatados. Sabe-se que um dos problemas associados com a baixa produtividade é o plantio de cultivares tradicionais com pouca capacidade produtiva e a falta de um programa de nutrição mineral para a cultura. O feijão-caupi pode ser cultivado em solos com regular teor de matéria orgânica e razoável fertilidade. Em solos de baixa fertilidade, necessita de aplicações de fertilizantes mineral e/ou orgânico. Contudo, o excesso de matéria orgânica pode ocasionar um desenvolvimento 81 Rendimento de vagens (t/ha) A.P Oliveira et al. 12 MATERIAL E MÉTODOS 11 10 9 8 Y = 7,874 + 0,1409x - 0,0028x 7 2 6 2 R = 0,51* 5 4 0 10 20 30 40 Esterco bovino (t/ha) Rendimento de grªos verdes (t/ha) Figura 1. Rendimento de vagens de feijão-caupi, cultivar IPA 206, em função de doses de esterco bovino na presença de adubo mineral. Areia, UFPB, 1999. 8 7 6 Y = 5,712 + 0,1289x - 0,0037x 5 2 2 R = 0,59** 4 0 10 20 30 Estrerc o bovino (t/ha) 40 Figura 2. Rendimento de grãos verdes de feijão-caupi, cultivar IPA 206, em função de doses de esterco bovino na presença de adubo mineral. Areia, UFPB, 1999. vegetativo acentuado em detrimento da produção de vagens (Oliveira, 1982). Embora o esterco bovino seja um dos resíduos orgânicos com maior potencial de uso como fertilizante, principalmente em pequenos estabelecimentos agrícolas na região Nordestina, pouco se conhece a respeito das quantidades a serem utilizar no feijão-caupi, que permitam a obtenção de rendimentos satisfatórios. Em relação à adubação mineral, a necessidade da aplicação de nitrogênio, não deve ser considerada como fator crítico de produção no feijão-caupi. Em áreas recém-trabalhadas, pode ser usada uma adubação nitrogenada em torno de 20 kg/ha de N. O fósforo é elemento importante para a cultura no processo 82 de formação de grãos. As recomendações de seu fornecimento à cultura, encontram-se na faixa de 50 a 100 kg/ha de P2O5. O potássio, como para a maioria das plantas cultivadas, não tem apresentado resultado constante e positivo no feijão-caupi. Seu emprego, entretanto, tem sido recomendado baseado no balanceamento das fórmula de adubação. O feijão-caupi pode responder até a 60 kg/ha de K20, mas as recomendações nunca devem ultrapassar a 30 kg/ ha (Oliveira, 1982). O presente trabalho foi desenvolvido visando avaliar o emprego do esterco bovino na presença e ausência de adubo mineral, sobre o rendimento de feijão-caupi. Foi instalado um experimento na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em Areia, no período de setembro de 1998 a janeiro de 1999, em Latossolo Vermelho-Amarelo, onde foram estabelecidos dez tratamentos, constituídos de cinco doses de esterco bovino na presença ou ausência de adubo mineral, distribuídos em esquema fatorial 5 x 2 em blocos casualizados com quatro repetições. A análise do solo indicou a seguinte composição: pH = 6,3; P = 93,0 mg/dm3; K = 165,0 mg/ dm3; Al+3 = 0,0 cmol/dm³; Ca+2 = 2,80 cmol/dm³; Mg+2 = 1,20 cmol/dm³ e matéria orgânica = 10,40 g/dm³. O esterco bovino apresentava as seguintes características; P = 3,6 g/kg; K = 4,1 g/kg; N = 3,8 g/kg; matéria orgânica = 182,07 g/dm3 e relação C/N = 10/1. As doses de esterco bovino empregadas (0, 10, 20, 30 e 40 t/ha) foram aplicadas juntamente com o adubo mineral sete dias antes da semeadura. A adubação mineral seguiu recomendações do Laboratório de Química e Fertilidade de Solo da UFPB e consistiu da aplicação de 500 kg/ha de superfosfato simples, 68 kg/ha de cloreto de potássio e 500 kg/ha de sulfato de amônio, aplicado em cobertura aos 30 dias após a semeadura. O preparo do solo constou de aração, gradagem e abertura de covas de plantio. As parcelas foram compostas de 20 plantas da cultivar IPA-206, espaçadas de 0,80 m entre fileiras e 0,40 m entre plantas, sendo dez plantas empregadas para avaliar o rendimento de vagens e de grãos verdes e outras dez para avaliar o rendimento de grãos secos. Durante a condução da cultura foram realizadas pulverizações à base de Deltametrina 2,5E, a cada quinze dias após a emergência, visando o controle da cigarrinha verde (Empoasca braemer). No período de ausência de chuvas foi realizada irrigação por aspersão. Efetuou-se também capinas com auxílio de enxadas, procurando-se manter a cultura livre de plantas invasoras. As colheitas, em número de cinco, foram realizadas à medida que a vagem iniciava sua maturação para obtenção do rendimento de vagens e de grãos verdes e quando secava para obtenção de grãos secos. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. RESULTADOS E DISCUSSÃO O rendimento de vagens, de grãos verdes e de grãos secos no feijão-caupi, foram influenciados (P ∠ 0,05) pelos tratamentos. Os rendimentos máximos estimados de vagens (9,64 t/ha) e de grãos verdes(6,8 t/ha), calculados pela derivação das equações descritas nas figuras 1 e 2, foram obtidos com 25 e 17 t/ha de esterco bovino, respectivamente, ambos na presença do adubo mineral. Na ausência de adubo mineral o rendimento de vagens e de grãos verdes aumentou com a elevação das doses de esterco bovino na ordem de 49,3 kg/ha de vagem e de 47,9 kg/ha de grãos verdes a cada tonelada de esterco adicionada ao solo (Figura 3). A partir das derivadas das equações de regressão (Figura 4), o rendimento de grãos secos na presença de adubo mineral, atingiu valor máximo estimado (3,03 t/ha) na dose de 21 t/ha de esterco bovino. Na ausência de adubo mineral a dose de 25 t/ha de esterco bovino foi responsável pelo rendimento máximo de grãos secos (2,00 t/ha). Os rendimentos máximos estimados de vagens (9,64 t/ha), de grãos verdes (6,8 t/ha) e de grãos secos (3,03 t/ha) obtidos pelo uso do esterco, na presença do adubo mineral e de grãos secos na sua ausência (2,00 t/ha), evidenciam uma boa produtividade do feijão-caupi, cultivar cultivar IPA 206 na micro-região de Areia- PB, superando os resultados obtidos por Silva et al. (1993), Silva & Oliveira (1993) e Silva & Freitas (1996) em cultivos convencionais. Provavelmente, durante o crescimento e desenvolvimento das plantas, as doses de esterco bovino, juntamente com os Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 9 Y 1 = 6,444 + 0,0493x 8 2 R = 0,66* 7 6 5 4 3 2 Y 2 = 3,824 + 0,0479x 1 R = 0,64* 2 0 0 10 20 30 40 Esterco bovino (t/ha) Figura 3. Rendimento de vagens (Y1) e de grãos verdes (Y2) no feijão-caupi, cultivar IPA 206, em função de doses de esterco bovino na ausência de adubo mineral. Areia, UFPB, 1999. Rendimento de grªos secos (t/ha) Os resultados obtidos foram interpretados por meio das análises de variância e de regressão. Quando possível, os modelos de regressão linear e quadrática foram utilizados para estimar as respostas das características avaliadas. Nas significâncias das análises de variância e de regressão foram considerados os níveis de probabilidade de 5% e 1% pelo teste F. O teste “t” foi utilizado para testar os coeficientes da regressão nos níveis de probabilidade de 5% e 1%. Rendimento de vagens e de grªos (t/ha) Rendimento de feijão-caupi cultivado com esterco bovino e adubo mineral. 5 Y 1 = 1,0237 + 0,1922x - 0,0046x 2 2 R = 0,58** 4 3 2 Y 2 = 0,8009 + 0,0958x - 0,0019x 1 2 2 R = 0,80** 0 0 10 20 30 40 E s terc o b ov in o (t/h a) Figura 4. Rendimento de grãos secos de feijão-caupi, cultivar IPA 206, em função de doses de esterco bovino na presença (Y1) e ausência (Y2) de adubo mineral. Areia, UFPB, 1999. nutrientes minerais adicionados ao solo, supriram de forma equilibrada as necessidades nutricionais da cultura. A aplicação adequada de esterco de boa qualidade pode suprir as necessidades das plantas em macronutrientes, devido a elevação nos teores de P e K disponível (Machado et al., 1983). Maiores produções de grãos em feijão-comum, com doses de adubos orgânicos foram relatados (Vieira, 1988; Galbiatti et al., 1996; Henriques, 1997). A estabilização e queda no rendimento de vagens e de grãos verdes e secos nas doses mais elevadas de esterco bovino na presença de adubo mineral, podem ser devidas ao excesso de nutrientes fornecidos à cultura (Malavolta, 1989; Huett, 1989; Smith & Hadley, 1989). Resultados de vários estudos têm mostrado que o nitrogênio e o potássio, são os elementos que o feijoeiro retira do solo em maiores quantidades. Fósforo, cálcio, magnésio e 83 A.P Oliveira et al. enxofre são também extraídos em quantidades consideráveis (Guedes & Junqueira Neto, 1978). Uma vez que o experimento foi instalado em solo com teores elevados de P e K, acredita-se que os benefícios do esterco bovino sobre o rendimento do feijão-caupi, na presença e ausência de adubo mineral, devam-se não somente ao suprimento de nutrientes, mas também a melhoria de outros constituintes da fertilidade do solo, no fornecimento de água, no arranjamento da sua estrutura por meio de formação de complexos húmus-argilosos e consequente aumento na CTC, (Marchesini et al., 1988; Yamada & Kamata, 1989), proporcionando melhor aproveitamento dos nutrientes originalmente presentes. Essas condições provavelmente permitiram ao feijão-caupi o seu potencial de produção de vagens e grãos verdes e secos, induzida pela sua constituição genética. AGRADECIMENTOS Os autores agradecem à professora Sheila Costa de Farias pela correção do Abstract e aos agentes em Agropecuária Francisco de Castro Azevedo, José Barbosa de Souza, Francisco Soares de Brito, Francisco Silva do Nascimento e Expedito de Souza Lima que viabilizaram a execução dos trabalhos de campo. 84 LITERATURA CITADA FERREIRA, J.M.; SILVA, P.S.L. Produtividade de “Feijão verde” e outras características de cultivares de caupí. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 22, n. 1, p. 55-58, 1987. GALBIATTI, J.A.; GARCIA, A.; SILVA, M.L.; MASTROCOLA, M.A.; CALDEIRA, D.S.A. Efeitos de diferentes doses e épocas de aplicação de efluente de biodigestor e da adubação mineral em feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) submetido a duas lâminas de água por meio de irrigação por sulco. Científica, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 63-74, 1996. GUEDES, G.A.A.; JUNQUEIRA NETO, A. Calagem e adubação. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 4, n. 46, p. 21-23, 1978. HENRIQUES, R.C. Análise da fixação de nitrogênio por bactérias do gênero Rhizobium em diferentes concentrações de fósforo e de matéria orgânica na cultura do feijão (Phaseolus vulgaris ) em Regossolo. Areia: UFPB, 1997, 37 p. (Graduação em Agronomia). HUETT, D.O. Effect of nitrogen on the yield and quality of vegetables. Acta Horticulturae. v. 247, p. 205 -209, 1989. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário estatístico. Rio de Janeiro, 1996. MACHADO, M.O.; GOMES, A.S.; TURATTI, E.A.P.; SILVEIRA JUNIOR, P. Efeito da adubação orgânica e mineral na produção do arroz irrigado e nas propriedades químicas e físicas do solo de Pelotas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 18, n. 6, p. 583-591, 1983. MALAVOLTA, E. ABC da adubação. 5. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1989. 292 p. MARCHESINI, A.; ALLIEVI, L.; COMOTTI, E.; FERRARI, A. Long-term effects of quality compost treatment on soil. Plant and Soil, v.106, p. 253-261, 1988. OLIVEIRA, A.P. Noções de solo e nutrição de caupi. In: I CURSO DE PRODUÇÃO DE CAUPI. 1982. EMBRAPA/CNPFA. 35 p. OLIVEIRA, A.P.; CARVALHO, A.M.. A cultura do caupi nas condições de clima e de solo dos trópicos úmidos de semi-árido do Brasil. In: ARAÚJO, J.P.P.; WATT, E.E. O caupi no Brasil, Brasília, EMBRAPA-CNPAF, p. 65-69, 1988. SILVA, P.S.L.; FREITAS, C.J.. Rendimento de grãos verdes de milho e caupí em cultivos puros e consorciadas. Revista Ceres, Viçosa, v. 43, n. 245, p. 28-38, 1996. SILVA, P.S.L.; MONTENEGRO, E.E.; OLIVEIRA, F. Efeito da remoção de flores e vagens sobre as características do caupi (Vigna uguiculata (L) Walp). Revista Ceres, Viçosa, v. 40, n. 231, p. 502-512, 1993. SILVA, P.S.L.; OLIVEIRA, C.N. Rendimentos de feijão verde e maduro de cultivares de caupi. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 11, n. 2, p. 133-135, 1993. SMITH, S.R.; HADLEY, P.A. Comparison of organic and inorganic nitrogen fertilizers their nitrate-N and ammonium-N release characteristics and effects on the growth response of lettuce (Lactuca sativa L. cv. Fortune). Plant and Soil, v. 115, n. 1, p. 135144, 1989. VIEIRA, L.C. Efeitos do composto orgânico sobre o consórcio do feijão com o milho. Viçosa: UFV, 1988, 67 p. (Dissertação mestrado). YAMADA, H., KAMATA, H. Agricultural technological evaluation of organic farming and gardening I. Effects of organic farming on yields of vegetables and soil physical and chemical properties. Bulletim of the Agricultural Research Institute of Kanagawa Prefecture, v. 130, p. 1-13. In: Horticultural. Abstract, v. 59, n. 10, p. 938-939, 1989. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. PEIXOTO, N.; MORAES, E.A.; MONTEIRO, J.D.; THUNG, M.D.T. Seleção de linhagens de feijão-vagem de crescimento indeterminado para cultivo no Estado de Goiás. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 85-88, março 2.001. Seleção de linhagens de feijão-vagem de crescimento indeterminado para cultivo no Estado de Goiás. Nei Peixoto1; Ednan A. Moraes1; Jair D. Monteiro2; Michael D. T. Thung3 1 3 AGENCIARURAL, EE Anápolis, C. Postal 608, 75.001-970 Anápolis-GO; 2Escola Agrotécnica Federal, 75.790-000 Urutaí-GO; Embrapa Arroz e Feijão, C. Postal 179, 75.375-000 Santo Antônio de Goiás - GO; E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Em 1994, 64 linhagens de feijão-vagem oriundas do programa de melhoramento genético do CIAT, Cali, Colômbia, foram avaliadas na Estação Experimental de Anápolis (EEA), da Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário (AGENCIARURAL), quanto às seguintes características: adaptação, resistência a doenças, potencial de produção e qualidade de vagens. As 30 linhagens que se destacaram foram avaliadas, em 1995, no mesmo local. Dentre estas foram selecionadas 20 linhagens, novamente avaliadas em 1996 nos municípios de Anápolis, Morrinhos e Urutaí no Estado de Goiás. Nestes ensaios foram utilizadas como testemunhas as cultivares Favorito Ag 480 e Preferido Ag 482. Avaliações adicionais foram conduzidas em 1997 em Anápolis, tendo-se a cultivar Favorito Ag 480 como testemunha. As linhagens Hav 13, Hav 14, Hav 22, Hav 25, Hav 27, Hav 38, Hav 40, Hav 49, Hav 53, Hav 56, Hav 64, Hav 65 e Hav 67 destacaram-se em rendimento e qualidade de vagens. Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., ciclo vegetativo, produtividade, qualidade de vagens. Selection of climbing snap bean lines in Goiás, Brazil. Sixty four snap bean lines derived from the CIAT snap bean breeding program were evaluated in 1994 at Anápolis Experiment Station in Goiás, Brazil, for the following characteristics: adaptation, disease resistance, yield potential and pod quality. The 30 outstanding lines were further evaluated during 1995 in Anápolis and, in 1996, 20 of them were evaluated in Anapális, Morrinhos and Urutai in the State of Goiás, Central Brazil. Final evaluation was carried out in 1997 in Anápolis. The standard cultivar Favorito Ag 480, was used as a check in 1996 and in 1997. Also Preferido Ag 482 cultivar was included as a second check in 1996. Breeding lines Hav 13, Hav 14, Hav 22, Hav 25, Hav 27, Hav 38, Hav 40, Hav 49, Hav 53, Hav 56, Hav 64, Hav 65 and the Hav 67 were chosen, regarding their yield and pod quality, suitable for local market, with possibility to be adopted by growers. Keywords: Phaseolus vulgaris, life cycle, yield, pod quality. (Aceito para publicação em 19 de fevereiro de 2.001) O feijão-vagem (Phaseolus vulgaris L.) tem sido uma das dez hortaliças mais cultivadas em Goiás, onde o volume anual de comercialização de vagens alcança cerca de 4.100 toneladas. O produto é comercializado o ano todo, sendo totalmente produzido no Estado (CEASA-GO, 1991) que tem um consumo per capita 1,2 kg de vagens por ano, o maior do Brasil, mas inferior, segundo CIAT (1992), ao de países como o Chile (3,2 kg/ano) e a Turquia (6,5 kg/ano). Embora não forneça teores elevados de proteínas e calorias como o feijão-seco, supre o organismo com vitaminas e sais minerais que faltam na maioria dos alimentos básicos (CIAT, 1990). Um programa de avaliação e seleção de linhagens de feijão-vagem está sendo conduzido em Goiás desde 1988, com o apoio do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). A Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado de Goiás (EMATER-GO) destacou-se numa primeira fase, com o Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. lançamento das cultivares Coralina e Turmalina, ambas de crescimento determinado (Peixoto et al., 1993; Peixoto et al., 1997, 1997a). Numa segunda fase esperam-se oferecer alternativas de cultivares de feijão-vagem de crescimento indeterminado para cultura tutorada, em sistema de rotação com outras culturas. No Brasil este é o sistema de cultivo mais adotado, por pequenos produtores, que utilizam cultivares trepadoras, em sucessão a outras hortaliças, como o tomate e o pepino, aproveitando-se, além dos tutores, os resíduos de adubação dessas culturas. Este trabalho teve como objetivo selecionar linhagens de feijão-vagem de crescimento indeterminado como opções de cultivares para o Estado de Goiás, que possibilitem oferta mais estável do produto ao longo do ano. MATERIAL E MÉTODOS Conduziu-se no Estado de Goiás, no período de 1994 a 1997, em condições de campo, em cultivo tutorado, um trabalho de avaliação e seleção de linhagens de feijão-vagem introduzidas do CIAT, Colombia. Realizaram-se as seleções iniciais na Estação Experimental de Anápolis (EEA) (latitude de 16º 19’ 48” S, longitude de 48º 58’23” WGr e altitude de 980 a 1000 m), partindo-se em 1994, de 64 linhagens que foram avaliadas quanto ao desenvolvimento vegetativo, vigor, potencial aparente de produção e qualidade de vagens, seguindo as metodologias de Silbernagel (1986) e Schoonhoven & PastorCorrales (1987). Destas, trinta linhagens foram escolhidas e avaliadas em 1995 na EEA e as 20 melhores foram avaliadas, em 1996, nos municípios de Anápolis, Morrinhos e Urutaí, das quais 15 foram, novamente avaliadas em 1997, em Anápolis. Utilizou-se como testemunha, em 1996 e 1997, a cultivar Favorito Ag 480, a mais cultivada em Goiás. Em 1996 foi incluída, como testemunha adicional, a cultivar Preferido Ag 482. Em cada ensaio foram feitas as correções da acidez e da fertilidade do solo, 85 N. Peixoto et al. Tabela 1. Número de dias da semeadura à antese das primeiras flores, produtividade, número de vagens por planta, comprimento, peso médio e nota para qualidade de vagens comerciáveis de linhagens de feijão-vagem de crescimento indeterminado. Anápolis, AGENCIARURAL, 1995. Linhagem Hav 1 Hav 2 Hav 3 Hav 4 Hav 5 Hav 6 Hav 11 Hav 13 Hav 14 Hav 21 Hav 22 Hav 25 Hav 27 Hav 28 Hav 31 Hav 36 Hav 38 Hav 40 Hav 41 Hav 42 Hav 49 Hav 53 Hav 56 Hav 61 Hav 62 Hav 63 Hav 64 Hav 65 Hav 67 Hav 68 CV% An tese (n º) 56,ab 53,ab 56,ab 50,ab 54,ab 58,a 51,ab 47, b 48, b 50,ab 52,ab 53,ab 53,ab 49,ab 51,ab 51,ab 47,ab 51,ab 48,ab 48,ab 51,ab 49,ab 51,ab 46, b 50,ab 50,ab 51,ab 50,ab 53,ab 50,ab 6,68 P rodu tividade Vagen s por (t/ha) plan ta (n º) 14,8ab 51,abcd 13,8ab 46,abcd 14,9ab 59,abcd 18,0ab 58,abcd 13,7ab 50,abcd 16,3ab 61,abc 15,5ab 43,abcd 16,2ab 40, bcd 19,4ab 65,abc 18,5ab 49,abcd 20,2a 70,a 18,5ab 66,ab 18,0ab 59,abcd 13,9ab 39, bcd 9,5 b 30, d 14,3ab 36, cd 15,6ab 44,abcd 19,3ab 51,abcd 21,1a 60,abc 15,7ab 45,abcd 18,6ab 51,abcd 19,9a 61,abc 19,8ab 52,abcd 18,6ab 48,abcd 18,0ab 53,abcd 15,2ab 46,abcd 21,3a 64,abc 18,7ab 53,abcd 20,4a 64,abc 15,7ab 44,abcd 18,94 17,80 conforme indicação da Comissão de Fertilidade de Solos de Goiás (1988), assim como os tratos culturais e fitossanitários para a cultura, incluindo irrigação por aspersão. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com três a cinco repetições. Cada parcela foi constituída por 20 plantas em cultivo tutorado, dispostas em duas fileiras, espaçadas de 1,00m x 0,20m. Dados de produtividade foram obtidos a partir do peso de vagens 86 Comprimen to de vagen s (cm) 14,5 efgh 15,7 cdefg 13,9 gh 15,2 efgh 14,9 efgh 14,1 fgh 15,3 defgh 16,1 cde 14,6 efgh 14,6 efgh 15,4 defgh 14,9 fgh 14,3 efgh 14,5 fgh 16,1 cde 17,1 bcd 15,0 efgh 18,7ab 17,3 bc 14,8 efgh 20,5a 16,0 cde 15,3 defgh 15,4 defgh 15,3 defgh 15,8 cdef 14,8 efgh 15,3 defgh 13,6 h 13,9 gh 3,80 comerciáveis colhidas por parcela. Adicionalmente foram avaliadas em 1995, em Anápolis, as seguintes características: ciclo vegetativo, também avaliado, em 1996, em Anápolis e Morrinhos e, em 1997, em Anápolis, medido pelo número de dias da semeadura à antese das primeiras flores; o número de vagens por planta e peso médio das vagens, obtidos pela média da parcela; o comprimento de vagens comerciáveis, a partir de uma amostra de 10 vagens por parcela e a qualidade das vagens, por meio de no- P eso médio de vagen s (g) 7,0 defg 7,2 cdefg 6,4 g 7,5 bcdefg 7,0 defg 6,9 efg 8,0abcde 8,5ab 7,0 defg 8,2abc 7,0 defg 6,5 g 6,5 g 7,6 bcddef 7,8 bcde 8,2abc 7,5 bcdefg 8,0abcd 7,5 bcdefg 7,7 bcde 9,1a 8,1abcd 7,9 bcde 7,7 bcde 7,2 cdefg 7,7 bcde 7,0 defg 7,6 bcdef 6,6 fg 8,2abc 4,63 Q u alidade de vagen s (n ota) 3,7abcde 4,3abc 4,3abc 4,0abcd 3,3 bcde 2,7 de 2,7 de 5,0a 4,0abcd 3,0 cde 5,0a 3, 7abcde 4,0abcd 3,0 cde 2,3 e 2,7 de 3,3 bcde 3,3 bcde 4,0abcd 3,3 bcde 4,7ab 5,0a 3,0 cde 3,0 cde 4,0abcd 3,0 cde 3,0 cde 3,7abcde 3,7abcde 3,7abcde 13,82 tas, atribuídas ao total de vagens colhidas por parcela na quarta colheita, variando de 1 (péssimo aspecto) a 5 (excelente aspecto). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO As linhagens Hav 13 e Hav 14 igualaram-se aos genótipos mais precoces, enquanto que Hav 6 e Hav 41 igualaHortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Seleção de linhagens de feijão vagem de crescimento indeterminado para cultivo no Estado de Goiás. Tabela 2. Número de dias da semeadura à antese das primeiras flores e produtividade de vagens comerciáveis de linhagens e cultivares de feijão-vagem de crescimento indeterminado. Anápolis, Morrinhos e Urutaí, AGENCIARURAL, 1996/97. Lin h agem/ Cu ltivar An tese An ápolis 1996 An ápolis 1997 Hav 2 50, cd - Hav 4 47, Hav 13 42, i 43, e Hav 14 44, ghi 43, e ef f P rodu tividade (t/h a) An ápolis Morrin h os 1996 1996 45, - An ápolis 1997 Morrin h os 1996 Uru taí 1996 - 10,45a 11,25 hi 10,34a 9,98a - 11,03a 11,58 bcde 48, fgh 12,83a 15,26ab 13,13a 15,83abcd 45, hi 11,54a 11,85ab 14,56a 14,13abcde 54,ab cd Hav 21 47, 46, bcd 52, bcde 12,83a 13,78ab 13,12a 18,13ab Hav 22 52,abcd 47,abc 52, bcde 12,28a 17,17ab 12,86a 14,32abcde Hav 25 50, 47,abc 52, bcde 13,17a 17,64a 10,92a 12,38 bcde Hav 27 52,abc - 49, 10,12a - 13,68a 15,33abcde Hav 36 51, bcd - 45, 10,09a - 12,21a 12,71 bcde Hav 38 44, 12,14a 16,77ab 14,09a 15,96abcd Hav 40 51, bcd 15,43a 14,28ab 14,40a 19,83a Hav 41 54,a 12,83a 11,46b 17,43a Hav 42 44, 11,36a - 12,20a Hav 49 52,abc 12,63a 17,31ab 13,68a Hav 53 36,abcde 47,abc 45, hi 13,04a 15,76ab 12,09a 16,13abc Hav 56 46, 45, cde 49, efg 12,61a 15,71ab 11,09a 14,88abcde Hav 64 51, bcd 47,abc 51, cde 13,96a 13,92ab 13,77a 13,38abcde Hav 65 46, 46, bcd 50, def 13,45a 14,20ab 12,62a 13,79abcde Hav 67 49, de 46, bcd 49, 12,86a 16,83ab 12,53a 13,83abcde Hav 68 49, de 46, bcd 46, 12,36a 15,25ab 13,28a Favorito Ag 480 50, cd 47,abc 53,abc 15,06a 16,30ab 16,10a Preferido Ag 482 53,ab 56,a 10,06a CV% cd hi 44, de 52, bcd 1,61 ram-se aos de ciclo mais longo. A cultivar Favorito Ag 480, por outro lado, comportou-se, ora como de ciclo médio, ora como precoce, enquanto que Preferido Ag 482 foi tardia (Tabelas 1 e 2). O ciclo vegetativo é uma característica fenológica importante para o feijãovagem, pois quanto mais precoce a cultivar, maior número de opções terá o agricultor na programação de colheitas sucessivas na mesma área, o que é comum na agricultura familiar. Os genótipos apresentaram pequenas diferenças em produtividade de vagens comerciáveis. Em Anápolis, no ano de 1995, destacaram-se as linhagens Hav 22, que apresentou também o maior número de vagens por planta, além de Hav 41, Hav 53, Hav 64 e Hav 67 que superaram apenas a linhagem Hav 31 (Tabela 1). Em 1996, não houve diferenças significativas entre os genótipos, em Anápolis e em Morrinhos. Em Urutaí sobressaiu a linhagens Hav 40, que superou inclusive a cultivar Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. def 49,a 48,ab 1,65 50, 51, bcde - fg hi 46, bcd hi fgh efg 44, 51, 1,94 i cdef efg ghi 16,07 Preferido Ag 482, seguida de Hav 21, Hav 53, Hav 13 e Hav 38. Em 1997, em Anápolis, a linhagem Hav 25 foi a mais produtiva, suplantando Hav 41. Não foi constatada relação entre o ciclo vegetativo e a produtividade (Tabela 2). Em Anápolis, em 1995, a linhagem Hav 49 foi a que apresentou vagens mais longas, igualando-se apenas a Hav 40. As linhagem Hav 49, seguida de Hav 13, Hav 21, Hav 36 e Hav 68, foram as mais pesadas, superando as de menor peso médio (Tabela 1). A nota de qualidade de vagem, critério subjetivo que engloba diversas características relativas à aparência da vagem como cor, brilho, formato, aspereza, presença de saliências em torno das sementes, é um indicador importante quanto à aceitação pelos consumidores. As linhagens Hav 13, Hav 22 e Hav 53 foram as melhores, não diferindo estatisticamente de Hav 1, Hav 2, Hav 3, Hav 4, Hav 14, Hav 25, Hav 27, Hav 41, Hav 49, Hav 62, Hav 65, Hav 67 e Hav 68 (Tabela 1). - 13,59a 13,19 22,80 9,13 e 11,38 cde 9,38 9,08 de e 14,50abcde 15,75 bcde 15,73 Considerando-se em conjunto as características avaliadas, podem ser indicadas aos produtores goianos, como alternativas às cultivares ora em uso, as linhagens Hav 13, Hav 14, Hav 22, Hav 25, Hav 27, Hav 38, Hav 40, Hav 49, Hav 53, Hav 56, Hav 64, Hav 65 e Hav 67. AGRADECIMENTOS Aos Técnicos Agrícolas Francisco da Mota Moreira, Josimar Alberto Pereira, Isaquiel Melo Peres e Adriano José Dias e aos servidores Tudes Cunha Farias, Orimar Cordeiro de Godoy, Adão da Silva e Jair dos Reis Sampaio, pelo permanente apoio na condução dos experimentos. LITERATURA CITADA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA-GO. Aspectos da oferta e comercialização de hortigranjeiros em 1991. 173 p. (CEASA-GO, Boletim Informativo, 16). 87 N. Peixoto et al. CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT 1990. Snap bean in the developing world: potential benefits of research. In: HENRY, G.; JANSSEN, W. Trends in CIAT commodities CIAT, Cali , Colombia, p. 89-115, 1990. CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT 1992. Snap bean consumption in less developed countries. In: HENRY, G; JANSSEN, W. (Technical eds.). PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SNAP BEAN IN THE DEVELOPING WORLD. CIAT, Cali, Colombia, p. 47-63., 1992. COMISSÃO DE FERTILIDADE DE SOLOS DE GOIÁS. Recomendação de corretivos e fertilizantes para Goiás; 5ª aproximação. Goiânia, UFG-EMGOPA, 1988. 101 p. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão. Instruções técnicas para o cultivo de feijão irrigado (GO, DF, MG, ES, SP, RJ). Goiânia, 1989. 35 p. (Circular Técnica, 23). PEIXOTO, N.; SILVA, L.O.; THUNG, M.D.T.; SANTOS, G. Produção de sementes de linhagens e cultivares arbustivas de feijão-vagem em Anápolis-GO. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 11, n. 2, p. 151-152, 1993. PEIXOTO, N.; THUNG, M.D.T.; SILVA, L.O.; FARIAS, J.G.; OLIVEIRA, E.B.; BARBEDO, A.S.C.; SANTOS, G. Avaliação de cultivares arbustivas de feijão-vagem, em diferentes ambientes do Estado de Goiás. Goiânia, GO: EMATER-GO, 1997. 20 p. (Boletim de Pesquisa, 01). PEIXOTO, N.; THUNG, M.D.T.; SILVA, L.O.; FARIAS, J.G.; OLIVEIRA, E.B.; BARBEDO, A.S.C. Coralina e Turmalina: variedades de feijão-vagem arbustivas. Goiânia, GO: EMATER-GO, 1997. (Folder de lançamento). SCHOONHOVEN, A. van; PASTORCORRALES, M.A. Sistema estandar para la evaluacion de germoplasma de frijol. Cali, CIAT, 1987. 56 p. SILBERNAGEL, M.J. Snap bean breeding. In: BASSET, M.F. ed. Breeding Vegetable Crops. Westport: Avi Publishing Company Inc., 1986. p.234-282. LUZ, F.J. F. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 1, p. 88-96, março 2.001. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. Francisco Joaci F. Luz Embrapa Roraima; BR. 174, km 08, Distrito Industrial, C. Postal 133, 69.301-970, Boa Vista - RR. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT Boa Vista, capital do Estado de Roraima é composta de uma população muito heterogênea, compreendida por nordestinos, sulistas e amazônidas, que apresentam o hábito da utilização de plantas medicinais em suas manifestações culturais e costumes. Apesar do uso freqüente, as plantas medicinais apresentam cultivo muito incipiente, restringindo-se a canteiros de fundo de quintal e ao cultivo de subsistência em pequenas hortas comerciais. Este trabalho objetivou levantar e identificar as plantas medicinais de uso popular utilizadas em Boa Vista, por meio de informações obtidas com raizeiros, produtores de hortaliças e participantes em curso de plantas medicinais realizado pela Prefeitura Municipal. O trabalho foi realizado de janeiro de 1995 a abril de 1997, e constou de levantamento de informações sobre as plantas e seus usos, coleta de material e sua identificação botânica. Foram identificadas 60 famílias, das quais 8 espécies foram caracterizadas a nível de gênero e 105 a nível de espécie. Dentre as plantas medicinais citadas, foram relacionadas 14 hortaliças, 19 fruteiras, 9 consideradas plantas daninhas, 4 de lavoura, 26 de uso medicinal introduzidas de outras regiões e 41 de ocorrência natural em Roraima. A combinação de plantas medicinais nativas e exóticas, hortaliças, fruteiras e outras plantas cultivadas, no elenco das plantas medicamentosas de uso popular em Boa Vista caracteriza a diversidade de costumes e cultura próprios de uma população de origens diversas, refletindo a riqueza e o potencial do conhecimento popular na solução dos problemas de saúde da população local. Palavras-chave: planta medicinal, amazonia, fitoterapia. Medicinal plants of popular use in Boa Vista, Roraima, Brazil. Boa Vista is located in the North of Amazonia, Brazil. The population of Boa Vista is heterogeneous, composed of Northeastern, Southern and Amazonian people. It has a strong tradition of using plants in popular medicine. This work aims to identify medicinal plants of popular use in Boa Vista, through information obtained from, horticulturists and participants in a medicinal plant course. The survey, made between January 1995 and April 1997, consisted of identifying plants and their use in popular medicine. Sixty families were identified of which genus and 105 by species name, were listed. Common vegetables, fruits, weed and cultivated crops were found among exotic and native medicinal plants. This combination of different species in the spectrum of medicinal plants of popular use in Boa Vista follows the diversity of habits and culture of people with different origins, with implications on the richness and potential use of popular knowledge in the cure of health problems. Keywords: Amazonia, popular medicine. (Aceito para publicação em 23 de janeiro de 2.001) A s plantas medicinais e suas formas derivadas constituíram durante séculos a base da terapêutica (Scheffer, 1992). Aos poucos, com a evolução da química, substituíram-se os compostos naturais por quimioterápicos, que têm um elevado custo até a fabricação em escala e exigem um alto nível 88 tecnológico para sua produção. Atualmente, as plantas medicinais passaram a ser cogitadas como recurso terapêutico viável, devido aos altos preços e à falta de acesso aos quimioterápicos por grande parcela da população. No Nordeste brasileiro, cerca de 500 espécies vegetais, cuja maioria está cons- tituída de plantas silvestres, são usadas como medicinais, especialmente pela população do meio rural e da periferia urbana (Matos & Bezerra, 1993). Boa Vista, capital do Estado de Roraima localiza-se na parte Norte do Estado, apresenta vegetação de savana (Brasil, 1975), com fisionomia típica de Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. cerrado. A população da cidade, em torno de 150.000 habitantes, é bastante heterogênea, sendo compreendida essencialmente de roraimenses, incluindo índios e descendentes dos pioneiros da colonização do Estado, sulistas, nordestinos e nortistas em menor número. Essa heterogeneidade se reflete na diversidade das manifestações culturais e dos costumes da população boavistense. Dentre esses costumes, destaca-se o uso popular de plantas na cura das diversas enfermidades que atingem a população. Raizeiros e curandeiros, que trazem sua experiência na bagagem quando migram, e populações autóctones ainda mantêm o uso de plantas medicinais como alternativa fitoterápica, tal qual seus ancestrais. O cultivo de plantas medicinais em Boa Vista é muito incipiente, restringindose a canteiros de fundo de quintal e ao cultivo de subsistência em pequenas hortas comerciais, que produzem olerícolas de consumo popular. Muitas plantas medicinais são extraídas diretamente da natureza. Correia Júnior et al. (1994) ressaltaram que, na medicina, produtos originários de plantas ocupam um espaço cada vez maior na terapêutica. No entanto, a coleta desenfreada de plantas nativas pode levar à extinção de espécies importantes. A identificação e as informação obtidas sobre o uso de plantas medicinais podem ser utilizadas para orientar pesquisas com a finalidade de refinar ou otimizar os usos populares correntes, desenvolvendo preparados terapêuticos de baixo custo, ou isolar substâncias ativas passíveis de síntese pela indústria farmacêutica (Amorozo, 1996). Este trabalho objetivou levantar e identificar as plantas medicinais de uso popular utilizadas em Boa Vista. MATERIAL E MÉTODOS O trabalho foi realizado na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, de janeiro de 1995 a abril de 1997. O mesmo constou de três fases, compreendendo levantamento e coleta de informações sobre as plantas e seu uso, coleta de material e identificação botânica. O levantamento de plantas medicinais de uso popular em Boa Vista foi realizado Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. por meio de questionário simplificado, constando o nome popular da planta, a parte utilizada, o uso e a condição de cultivo (subsistência ou comercial). Foram aplicados três questionários em duas feiras populares da cidade, a feira do produtor e o feirão dos garimpeiros, contemplando dois raizeiros, e em duas pequenas hortas comerciais da periferia da cidade. Ainda foram obtidos dados com quinze integrantes de um curso sobre plantas medicinais promovido pela Prefeitura Municipal de Boa Vista. A coleta de material vegetal para identificação foi realizada em visitas a hortas e pomares caseiros. A identificação botânica foi feita na Embrapa Roraima. Foi realizada revisão bibliográfica para auxiliar na identificação botânica, sendo utilizadas as seguintes referências: Cruz, 1979; Lorenzi, 1991; Berg, 1993; Corrêa Júnior et al., 1994; Milliken, 1995; Carriconde et al., 1996; Mattos, 1996. Algumas plantas de difícil identificação a nível de espécie foram acondicionadas em excicatas, catalogadas e remetidas para identificação nos herbários da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e do Museu Integrado de Roraima (MIRR). RESULTADOS E DISCUSSÃO Em relação às plantas coletadas, foram listadas 60 famílias, com 8 plantas identificadas a nível de gênero e 105 a nível de espécie. Os nomes científicos e populares, a parte da planta usada, a forma e as indicações de uso, estão relacionados na Tabela 1. Dentre as plantas citadas, foram relacionadas 14 hortaliças, 19 fruteiras, 9 plantas consideradas ervas daninhas de plantas cultivadas (Lorenzi, 1991), 4 plantas de lavoura (arroz, milho, algodão e cana-de-açúcar), 26 plantas de uso medicinal introduzidas de outras regiões e 41 plantas de ocorrência natural em Roraima (Tabela 1). Essa diversidade na origem das plantas é fruto da heterogeneidade da população boavistense, composta de muitos migrantes, especialmente nordestinos. O grande número de plantas de ocorrência natural, decorre em parte da cultura indígena roraimense, com forte influência na cidade, onde existem bairros criados por índios que migraram para a cidade, assim como da influência dos amazônidas no uso de plantas da região. Dentre as plantas medicinais introduzidas muitas são de uso comum no Nordeste (mastruço, coirama, hortelã, malvariço, quebra-pedra, cidreira, romã, etc), segundo Matos & Bezerra (1993). Foram citados mais de 70 tipos de doenças no levantamento. Os mais citados foram inflamações, gripe, diarréia, anemia, malária, diabete, doenças hepáticas e verminoses. Algumas doenças citadas são muito comuns em Boa Vista. Dentre as transmissíveis notificadas na cidade no ano de 1996, a malária destacou-se com 90% das ocorrências. Boa Vista também deteve 80,6% dos casos de diarréia notificados no Estado em 1996 (Pithan, 1996). Os dois raizeiros consultados não residem em Boa Vista e adquirem seus produtos no interior do Estado. Um deles retira os mesmos diretamente da mata ou de uma pequena horta de plantas medicinais, trazendo mudas e cascas para comercializar. O outro especializou-se na venda de pequenos frascos de óleo de copaíba (Copaifera officinalis) e de andiroba (Carapa guianensis), retirados diretamente de árvores nativas da região do Quitauaú, em município vizinho a Boa Vista. As hortas amostradas têm as plantas medicinais como complemento de renda das olerícolas ou mantêm o seu cultivo para uso próprio ou da comunidade próxima. O cultivo comercial nas hortas visitadas foi verificado apenas com a hortelã miúda (Mentha x villosa L.) que é comercializada para remédio e para condimento. No curso de plantas medicinais patrocinado pela Prefeitura de Boa Vista foi relatado pelos participantes que o uso medicinal das plantas tinha origem na tradição familiar, passada por pais e avós. Não foi mencionado o cultivo comercial das plantas. Pequenas hortas de quintal e o cultivo em vasos mantinham o fornecimento de plantas para fins medicinais. Algumas plantas nativas, como caimbé (Curatella americana), mirixi (Byrsonima spp.), sucuba (Himathanthus articulatus), cajuí (Anacardium giganteum) e caçari (Myrciaria dubia) são exploradas diretamente da natureza, o que demonstra preocupação mencionada por Corrêa Júnior et al. (1994), quanto ao perigo da exploração desenfreada e à extinção de espécies ainda não cultivadas. 89 F.J. Luz. Tabela 1. Plantas medicinais de uso popular no município de Boa Vista, Roraima. Boa Vista, Embrapa Roraima, 1997. F amília/Nome cien tífico Nome popu lar Alliaceae Allium cepa L. Cebola Allium sativum L. Alho Alismataceae Echinodorus grandiflorus Chapéu-de-couro Mitch. Amaran th aceae Gomphrena globosa L. Perpétua; Perpetinha An acardiaceae Anacardium occidentale L. Caju Cajuí P arte e forma de u so bulbo (xarope) bulbilhos (chá) gripe; asma; expectorante vermífugo; gripe; inflamação na garganta folhas (chá) tônico; antitussígeno flores (chá) coração casca (infusão) pseudofruto (suco) casca (infusão) folhas (chá) antiinflamatório; cicatrizante; antidiarréico queimadura antiinflamatório antitussígeno; gripe inflamação na garganta antidiarréico antiinflamatório; cicatrizante; antidiarréico antiinflamatório; asma Anacardium giganteum Hancock ex Engler Mangifera indica L. Manga Spondias mombin L. Taperebá; Cajá fruta verde (xarope) entre casca (chá) folhas (chá) casca (chá) fruto (suco) Astronium ulei Mattick A n n o n a c ea e Anona muricata L. Aroeira casca (chá) Graviola folhas (chá) Anona squamosa L. Ata folha (chá) semente moída A p o c y n a c ea e Himathanthus articulatus (Vahl) Woodson Aspidosperma nitidum Benth. Bign on iaceae Adenocalymna aliaceum Mart. Arrabidea chica (H.B.K .) Verlot Tabebuia serratifolia (Vahl) Nich. Bixaceae Bixa orellana L. Boragin aceae Symphytum officinale L. Borragin aceae Heliotropium indicum L. 90 Sucuba, Pau-de-leite Uso medicin al diurético; digestivo; obesidade fígado; rins; antidiarréico; digestivo vermífugo Carapanauba casca (chá) entrecasca (infusão) latex casca (chá) malária; antiinflamatório; inflamação ginecológica leucemia antiinflamatório; fígado; malária; contraceptivo Cipó alho folhas (infusão) Crajiru folhas (chá) Pau d'arco amarelo; Ipê amarelo casca pó da madeira (chá) gripe; banho infantil; banho espiritual anemia; antiinflamatório; cicatrizante gastrite; úlcera anemia; câncer Urucum sementes trituradas; raíz (chá) vitiligo malária Confrei folhas (chá) cicatrizante; câncer Crista-de-galo flor (infusão) hipertensão Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. Tabela 1. (Continuação) F amília/Nome cien tífico Nome popu lar Brassicaceae Nasturtium officinale R. Br. Agrião Brassica oleraceae L. Couve Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Meer. Abacaxi Cactaceae Cereus sp. Mandacaru Caesalpin aceae Caesalpinia ferrea Mart. Ex Jucá Tul. P arte e forma de u so Uso medicin al folhas e flor (xarope) folhas (suco) antitussígeno; gripe gastrite; anemia fruto (suco) diurético caule (infusão) caule (chá) diabete tuberculose; coqueluche; pneumonia vagem (chá); semente (infusão) antiinflamatório; rins; tuberculose; reumatismo; limpeza de pele anemia reumatismo antiinflamatório; cicatrizante; infecção na garganta analgésico Copaifera officinalis Willd. Copaiba casca (infusão) entre casca (infusão) óleo Bauhinia rutilans Spruce ex Benth. Bauhinia macrostachya Benth. Senna ocidentalis (L.) Link Hymenaea courbaril L. Escada-de-jaboti; Escada- rama (chá) de-macaco Pata-de-vaca folhas (chá) Fedegoso Jatobá Cassia spruceana Benth. Mari-mari Caparidaceae Tamarindus indica L. diabete; colesterol raíz (chá) folha (chá) fruto com semente (macerado) casca (chá) entrecasca (chá) folhas novas (infusão em álcool) folhas (suco) hepatite; malária; diabete gripe; hemorróida; diurético tosse tuberculose anemia; gripe manchas da pele antimicótico Tamarindo frutos e folhas (chá) antiinflamatório; diabete; colesterol; antidiarréico; obesidade Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Caricaceae Carica papaya L. Sabugueiro folhas e flor (chá) sarampo; cachumba Mamão folhas (xarope) flor (chá) fruto (in natura ou suco) gripe; antitussígeno digestivo laxante Celastraceae Maytenus ilicifolia Reiss. Espinheira santa folhas (suco) gastrite; fígado; pedra nos rins Beterraba Mastruço folhas e raíz (suco) folhas, flores e frutos (suco) anemia gripe; vermífugo; cicatrizante; tônico; antiinflamatório; vermífugo; tuberculose; pneumonia Ch en opodiaceae Beta vulgaris L. Chenopodium ambrosioides L. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. 91 F.J. Luz. Tabela 1. (Continuação) F amília/Nome cien tífico Nome popu lar Cich oriaceae Lactuca sativa L. Alface Compositae Artemisia spp. Ageratum conyzoides L. Bidens pilosa L. Helianthus annus L. Spilanthes oleracea (L.) Jacq. Con volvu laceae Operculina alata (Ham.) Urb. Costaceae Costus spp. Artemísia; Cibalena Mentastro; Erva-de-São João Picão preto Girassol P arte e forma de u so Uso medicin al folha (in natura); raíz (chá) calmante; digestivo; insônia folhas (chá e banho) folhas; planta inteira antitérmico gripe raíz (chá) semente triturada Jambu malária; hepatite sinusite; epilepsia; meningite folhas, flor e raíz (xarope) antitussígeno; gripe Batata-de-purga raíz depurativa do sangue; laxante; antiinflamatório; vermífugo Canafístula; cana-demacaco ramos (chá) diurético Língua de Pirarucu; folha santa; coirama folhas (suco) antiinflamatório; dor de ouvido Melancia Maxixe Abóbora Cabacinha semente (chá) fruto in natura semente fruto(chá) diurético diabete vermífuga sinusite; dor de cabeça (inalação); abortivo antimicótico Crassu laceae Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Cu cu rbitaceae Citrullus vulgaris Schrad. Cucumis anguria L. Cucurbita pepo L. Luffa operculata (L.) Cogn. In Mart. Momordica charantia L. D illen iaceae Curatella americana L. Melão-São-Caetano folhas e ramos (suco) Caimbé entre casca (infusão) inflamação ginecológica; diabete; câncer Eu ph orbiaceae Croton cajucara Benth. Sacaca folhas e casca (chá) Jatropha gossypifolia L. Pinhão roxo Phyllanthus spp. Quebra-pedra Ricinus comunis L. F a b a c ea e Cajanus flavus De Candolle Desmodium adscendens (Sw.) DC. Mamona folhas (infusão) folhas seiva + água folhas, raíz e sementes (chá) Semente (óleo) malária; hepatite; ressaca; fígado antitérmico verruga; aftas laxante diurético; cálculos renais cicatrizante; purgativo feijão andu; Guandu folhas sinusite; dor de cabeça Carrapicho-beiço-de-boi toda a planta doença venérea; asseio vaginal 92 Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. Tabela 1. (Continuação) F amília/Nome cien tífico Nome popu lar Gramin ae Cymbopogon citratus D.C. Capim santo Stapf. Oriza sativa L. Arroz Saccarum officinale L. Cana-de-açúcar Zea mays L. Milho Iridaceae Eleutheriine bulbosa (Mill.) Coquinho; Marupazinho Urban P arte e forma de u so folhas(chá) grão, casca e farelo (caldo) folhas (chá) cabelo e palha (chá) rizoma (infusão) rizoma (chá) Labiatae Mentha pulegium L. Mentha x villosa L. Poejo Hortelã miúda Ocimum spp. Alfavaca Oncimum minimum L. Manjericão Plectranthus amboinicus (Lour.) Spr. Hortelã-da-folha-grossa; malvarisco Lecy th idaceae Bertoletia excelsa H.&.B. Liliaceae Aloe vera L. Malpigh iaceae Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K . Byrsonima verbascifolia (L.) Rich Malpighia glabra L. analgésico; calmante; antitérmico antidiarréico antihemorrágico catapora; sarampo antidiarréico; cólicas; hemorróidas inflamação na garganta folhas (infusão) folhas (macerado) folhas (chá) folhas (suco) folhas (xarope) gripe verme; gripe; cólicas; sinusite; antitérmico gripe; sinusite; catapora; sarampo banho dor de cabeça diarréia dor de ouvido gripe folhas (suco) folhas (infusão) vermífugo fígado; digestivo; ressaca folhas e raíz (chá); folhas, raíz, fruto e semente (infusão) anemia; malária; fígado rins; antiinflamatório Castanha do Brasil amêndoa (óleo) hemorragia (uso externo) Babosa folhas (chá) folhas (suco) digestivo; fígado cicatrizante; antimicótico; asma; queda de cabelo; tumores; hemorróidas; queimaduras Murici entre casca (chá) Murici de raposa; Orelha de burro Acerola raíz (chá) antidiarréico; antinflamatório; malária antinflamatório; fígado fruto (suco) gripe; anemia Plectranthus barbatus Boldo Andr. Lau raceae Persea gratissima Gaertn. Abacate Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. folhas e ramas (chá) folhas e ramos (chá, xarope) folhas (infusão) Uso medicin al 93 F.J. Luz. Tabela 1. (Continuação) F amília/Nome cien tífico Nome popu lar Malvaceae Abelmoschus esculentum L. Quiabo Gossypium barbadense L. Algodão Hibiscus sabdariffa L. Meliaceae Carapa guianensis Aubl. Mimosaceae Piptadenia peregrina (L.) Benth. Mimosa pudica L. M u s a c ea e Musa spp. P arte e forma de u so Vinagreira semente (pó) cansaço; asma folhas e botão floral (chá) antiinflamatório; antitussígeno folhas (cataplasma) antimicótico Andiroba sementes (óleo) antiinflamatório; cicatrizante Angico entre casca (chá) asma; tosse Sensitiva; Dormideira; Malícia toda a planta insônia Bananeira fruto (casca in natura) pseudocaule (suco) cicatrizante antidiarréico; antihemorrágico; tônico; tratamento capilar antidiarréico fruto verde (in natura) My rtaceae Eucaliptus spp. Uso medicin al Eucalipto folhas (xarope) Myrciaria dubia (H.B.K .) McVaugh Psidium guajava L. Caçari; Camu-camu frutos (suco) Goiaba Punica granatum L. Romã folhas novas e brotos (chá) polpa do fruto (infusão) casca do fruto (infusão) Ny ctagin aceae Boerhavia difusa L. Pega-pinto folhas (chá) gripe; antitussígeno; asma anemia; tônico antidiarréico; cólicas diabete inflamação na garganta; antiinflamatório raíz (chá) malária; antinflamatório; febre infecção urinária O xalidaceae Averrhoa carambola L. Carambola folhas (chá) fruto (suco) analgésico colesterol e pressão alta P almae Cocus nucifera L. Coco Açaí entre casca (chá) fibra do fruto seco (chá) casca do fruto (chá) raíz (chá) antidiarréico; malária hepatite anemia anemia Maracujá folhas (chá) calmante; pressão alta; fígado vermífugo coração Euterpe oleracea Mart. P assifloraceae Passiflora edulis Sims. semente (moída) flor (chá) 94 Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. Tabela 1. (Continuação) F amília/Nome cien tífico Nome popu lar P edaliaceae Sesamum orientale L. Gergelim semente (sumo) antiinflamatório; pneumonia; meningite; epilepsia P h y tolaccaceae Petiveria alliaceae L. Tipi; Guiné folhas dor de cabeça; dor de dente; picada de cobra; reumatismo Trançagem folhas (suco) úlcera Amor crescido folhas e raíz (suco) antiinflamatório; cicatrizante; ouvido; antimicótico laxante queda de cabelo; fígado; abortivo P lan tagin aceae Plantago major L. P ortu lacaceae Portulaca pilosa L. P arte e forma de u so folhas (chá) folhas e ramos P roteaceae Roupala montana Aubl. Rh amn aceae Ampelozizyphus amazonicus Ducke Rosaceae Fragaria vesca L. Malus domestica Ru biaceae Genipa americana L. Ru taceae Citrus limonum L. Congonha entre casca (chá) antinflamatório Saracura-mirá ramo (chá) malária Morango Maçã fruto in natura fruta in natura diabete diarréia Jenipapo folhas (chá) fruto in natura anemia diabete; antitussígeno Limão fruto (suco) gripe; gastrite; colesterol; obesidade gripe; gastrite; aperitivo digestivo calmante diabete gastrite; cólica menstrual; dor; abortivo Citrus sinensis L. Osbeck Laranja Ruta graveolens L. S apotaceae Manilkara sp. S croph u lariaceae Scoparia dulcis L. Uso medicin al Arruda frutos (suco) casca do fruto folhas (chá) semente folhas (suco, infusão) Massaranduba casca (chá) pneumonia vassourinha folhas (chá) raíz (chá) diabete infecção urinária casca (chá ou infusão) malária; abortivo; contraceptivo malária; leucemia S imarou baceae Geissospermum sericeum Quina-quina (Sagot) Benth. & Hook. Simarouba amara Aubl. Marupá Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. macerado da madeira (infusão) 95 F.J. Luz. Tabela 1. (Continuação) F amília/Nome cien tífico Nome popu lar S olan aceae Solanum tuberosum L. Batata inglesa batata (suco) úlcera; vermífugo (suco com casca) Umbelliferae Daucus carota L. raíz pele; cabelo; melhorar a visão icterícia Cenoura P arte e forma de u so Petroselinum crispum L. Salsa Verben aceae Lippia microphylla Cham. Salva do campo raíz (chá) Lippia alba N.E.Br. Erva cidreira folhas (chá) Z in giberaceae Curcuma longa L. Açafroa rizoma (chá) Zingiber officinale Rosc. Gengibre; Mangarataia rizoma (xarope) Esse trabalho demonstrou a importância do uso das plantas medicinais no tratamento das diversas doenças da população da cidade de Boa Vista. A combinação de plantas nativas com plantas introduzidas, hortaliças, fruteiras e outras plantas cultivadas acompanha a diversidade de costumes e cultura próprios de uma população de origem diversa, refletindo a riqueza e o potencial do conhecimento popular na cura de muitas enfermidades prevalentes na cidade de Boa Vista. LITERATURA CITADA AMOROZO, M.C.M. A abordagem etnobotânica na pesquisa de plantas medicinais. In: Di STASI, L.C. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo: Editora da UNESP, 1996. p. 47 - 68. 96 folhas e ramos (chá) BERG, M.E. van den. Plantas medicinais na Amazônia: contribuição ao seu conhecimento sistemático. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1993. 206 p. BRASIL, Departamento Nacional de Produção Mineral. Projeto RADAM BRASIL. Levantamento de recursos naturais. Rio de Janeiro, 1975. v. 8, 428 p. CARRICONDE, C.; MORES, D.; FRITSCHEN, M. von; CARDOZO JÚNIOR, E.L. Plantas medicinais e plantas alimentícias. Olinda. Centro Nordestino de Medicina Popular: Universidade Federal de Pernambuco, 1996. 153 p. CORREIA JÚNIOR, C.; MING, L.C.; SCHEFFER, M.C. Cultivo de plantas medicinais, condimentares e aromáticas. 2 ed. Jaboticabal: FUNEP, 1994. 162 p. CRUZ, G.L. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 599 p. Uso medicin al gripe; anemia; malária; pneumonia; antiinflamatório calmante; vesícula; antidiarréico sarampo; catapora; varíola gripe LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestre, aquáticas, parasitas, tóxicas e medicinais. 2 ed. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 1991. 440 p. MATOS, F.J.A.; BEZERRA, A.M.E. Plantas medicinais no Ceará - situação e perspectivas. SOB INFORMA, Curitiba,. v. XI, n. 2, v. XII, n. 1, p. 21 – 22, 1993. MATTOS, J.K.A. Plantas medicinais - aspectos agronômicos. Brasília, DF., 1996, 52 p. MILLIKEN, W. Algumas plantas usadas no tratamento de malária em Roraima. Relatório preliminar. Kew: Royal Botanical Garden, 1995. 67 p. PITHAN, O.A. Relatório Anual de Epidemiologia – 1996. Roraima: Centro de Epidemiologia de Roraima. SESAU/FNS/SEMSA, 1996. 90 p. SCHEFFER, M.C. Roteiro para estudo de aspectos agronômicos das plantas medicinais selecionadas pela fitoterapia do SUS-PR/ CEMEPAR. SOB INFORMA, v. x, n. 2, v. XI, n. 1. Curitiba, p. 29 – 31, 1992. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. insumos e cultivares em teste CASTELO BRANCO, M.; PONTES, L.A. Eficiência de tiacloprid para o controle de mosca-branca. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 01, p. 97-101, março 2.001. Eficiência de tiacloprid para o controle de mosca-branca. Marina Castelo Branco; Ludmilla A. Pontes Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70.359-970 Brasília – DF. E-mail: [email protected] RESUMO ABSTRACT O impacto de tiacloprid sobre a mortalidade de adultos, fertilidade de fêmeas, viabilidade de ovos e desenvolvimento de ninfas de Bemisia argentifolii foi determinado em quatro experimentos. No primeiro experimento, para avaliar a eficácia de tiacloprid em causar a mortalidade de adultos, foram utilizadas folhas de repolho tratadas com tiacloprid (96 g i.a./ha), imidacloprid (14 g i.a./ha), acefato (750 g i.a./ha), deltametrina (6 g i.a./ha) e água e adultos liberados nas gaiolas contendo as folhas tratadas. A mortalidade de adultos foi avaliada após 72 h. No segundo experimento, para avaliar o impacto de tiacloprid sobre a fertilidade das fêmeas, utilizou folhas de repolho tratadas com o inseticida ou água colocadas nas gaiolas, seguida da liberação de 50 adultos por 24 h. Transcorrido este tempo, os adultos foram transferidos para uma outra gaiola contendo folhas de repolho sem tratamento com inseticida por mais 24 h, quando foram então removidos. O número de ovos sobre cada folha foi determinado e as folhas foram colocadas em uma câmara por dez dias, quando o número de ninfas foi determinado. No terceiro experimento, para avaliar o impacto de tiacloprid na eclosão de ninfas utilizou ovos de mosca-branca com idades de um e cinco dias tratados com tiacloprid ou água e, após 10 dias, foi avaliado o número de ninfas de primeiro estádio em cada tratamento. No quarto experimento avaliou-se o impacto de tiacloprid no desenvolvimento de ninfas. Estas foram tratadas com o inseticida ou água e após cinco dias foi feita a contagem do número de ninfas de terceiro estádio. Tiacloprid e imidacloprid causaram a mortalidade de 99% dos adultos enquanto acefato e deltametrina causaram menos de 32% de mortalidade. O resultado indicou uma boa eficiência de tiacloprid para o controle de adultos. A viabilidade dos ovos não foi afetada pela exposição das fêmeas ao inseticida, já que mais de 97% destes se desenvolveram. Mais de 97% dos ovos tratados com tiacloprid com idades de um e cinco dias não se desenvolveram indicando que o inseticida causa a inibição do desenvolvimento dos ovos independentemente da idade destes. Apenas 1,2% das ninfas de segundo estádio tratadas com tiacloprid alcançaram o terceiro estádio, indicando que o inseticida afeta o desenvolvimento das ninfas. Efficiency of tiacloprid in controlling whiteflies. Effects of thiacloprid on adults, female fertility, egg hatch and nymph development of Bemisia argentifolii were determined in Brasília, Brazil. The first experiment was to evaluate the efficacy of tiacloprid in causing adult mortality. Cabbage leaves were treated with thiacloprid (96 g.a.i./ha), imidacloprid (14 g.a.i./ha), acephate (750 g.a.i./ha), deltamethrin (6 g.a.i./ha) and water. Adult whiteflies were released in cages containing the treated leaf. Adult mortality was evaluated after 72 h. The second experiment was to evaluate the impact of tiacloprid on female fertility. Cabbage leaves were treated with thiacloprid or water and put into the cage. About 50 adults were released into the cage for 24 h. After that time adults from each cage were transferred to a new cage containing a leaf free from insecticide treatment. Females were allowed to oviposit for 24 h. Then whiteflies were removed from the cage and the number of eggs on each leaf was counted. After counting, the leaves were transferred to a chamber and 10 days later the number of first instar nymphs was recorded. The third experiment evaluated the impact of tiacloprid on egg hatch. Whitefly eggs which were one and fiveday-old were treated with thiacloprid or water. After 10 days the number of first instar nymphs was determined. The fourth experiment evaluated the impact of tiacloprid on nymphs development. Second instar nymphs were treated with thiacloprid or water. After five days the number of third instar nymphs was determined. Thiacloprid and imidacloprid caused 99% adult mortality whereas acephate and deltamethrin caused less than 32% adult mortality. The results indicated that thiacloprid had good effect on adults. Egg viability was not affected when females had contact with leaves treated with the insecticide as more than 97% of the eggs hatched. More than 97% of the eggs treated with thiacloprid did not hatch, indicating that inhibition of egg hatch caused by tiacloprid has no connection with egg age. Thiacloprid affected nymph development. Only 1.2% of the second instar nymphs treated with the insecticide developed to the third stage. Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata, Bemisia argentifolii, controle químico, mosca-branca, tiacloprid, deltametrina, acefato, imidacloprid. Keywords: Brassica oleracea var. capitata, Bemisia argentifolii, thiacloprid, deltamethrin, acephate, imidacloprid, chemical control, whiteflies. (Aceito para publicação em 05 de fevereiro de 2.001). A mosca-branca, Bemisia argentifolii, foi observada no Brasil pela primeira vez em São Paulo, no início da década de 90 (Lourenção et al., 1999); no Distrito Federal foi encontrada em 1993, associada a cultivos de tomate e repolho (França et al., 1996); em 1996 o Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. inseto foi o principal problema em cultivos de tomate do Vale do São Francisco (Lima & Haji, 1998); no ano 2000 causou sérios problemas aos produtores de feijão-vagem e tomate na Serra Gaúcha. Em lavouras de tomate, a moscabranca ao se alimentar das plantas cau- sa queda de frutos e folhas e amadurecimento irregular dos frutos. A maturação irregular inviabiliza o uso dos frutos para processamento industrial ou consumo in natura. O inseto é também vetor de geminivírus e quando contamina as plantas no início do cultivo, as 97 M. Castelo Branco & L.A. Pontes. perdas podem ser totais (Villas Bôas et al., 1997). Para o controle desse inseto são recomendadas uma série de medidas culturais como o uso de mudas sadias, manutenção do cultivo no limpo, plantio de milho ou mandioca para a redução da população (Villas Bôas et al., 1997; Villas Bôas, 2000); cobertura do solo com plástico para repelir o inseto (Cubillo et al., 1999) e aplicações de inseticidas. Diversos produtos são recomendados para o controle da mosca-branca, sendo que novos inseticidas estão sendo constantemente lançados no mercado. O inseticida tiacloprid, pertencente ao grupo químico dos neonicotinóides foi avaliado para o controle da moscabranca em lavouras de pimentão e berinjela (Ferreira et al., 1999; Gitirana Neto et al., 1999) e lançado oficialmente no mercado no ano 2000. Ainda que este inseticida tenha sido eficiente para o controle da praga, o impacto do produto sobre os diferentes estágios de mosca-branca não foi ainda relatado. Assim sendo, este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto de tiacloprid sobre adultos, ovos e ninfas de mosca-branca e sobre a fertilidade de fêmeas da praga. MATERIAL E MÉTODOS Origem da população de moscabranca utilizada nos experimentos: A população utilizada foi proveniente do município de Holambra (SP) e mantida em casa-de-vegetação sobre plantas de bico-de-papagaio de outubro de 1995 a junho de 1999. Nenhuma pulverização de inseticida foi realizada na casa-devegetação durante este período. Descrição dos ensaios: Os quatro experimentos foram realizados utilizando-se folhas destacadas de plantas de repolho, cv. Kenzan, com cerca de 30 dias de idade e livres de infestação de mosca-branca. Em todos os experimentos, as folhas foram imersas em água ou na solução do inseticida por 10 segundos e, posteriormente, deixadas para secar ao ambiente por duas horas. As folhas foram colocadas em vidros com água (12 mL de capacidade) para a manutenção da turgidez. Todos os ensaios 98 foram realizados em câmara climatizada a 25 ± 1°C, fotofase de 13 h e umidade de 70%. Nos experimentos onde foram utilizados adultos, os vidros contendo as folhas foram colocados individualmente dentro de gaiolas de plástico (10 cm de diâmetro X 10 cm de altura). Os adultos foram coletados com um aspirador sobre plantas de bico-de-papagaio e em seguida liberados no interior das gaiolas. Nos experimentos onde foram utilizados ovos ou ninfas de segundo estádio, as folhas de repolho foram colocadas em vidro e mantidas por 24 h em casa-de-vegetação contendo adultos de mosca-branca, para a realização da oviposição. Após este período os adultos foram eliminados das folhas e estas transferidas para a câmara climatizada onde foram mantidas durante todo o ensaio. Todas as diluições de inseticidas foram feitas assumindo-se um volume de calda de 400 litros/ha. Foi acrescentado o espalhante adesivo alquil-fenolpoliglicoeter, na concentração de 62,5 g i.a./ha, a todas as soluções. A testemunha foi tratada com água mais espalhante. Avaliação da mortalidade de adultos de mosca-branca ocasionada por tiacloprid: Foi realizado um ensaio preliminar para a determinação do período ideal para avaliação da mortalidade de adultos causada por tiacloprid. Quatro folhas de repolho foram imersas por 10 segundos em uma solução do inseticida tiacloprid (96 g i.a./ha) e quatro em água (testemunha), sendo colocadas individualmente em gaiolas. Em seguida, adultos de mosca-branca (média de 14 adultos/ gaiola) foram liberados no interior das mesmas. A mortalidade foi avaliada 24; 48 e 72 h após a liberação. Os dados da mortalidade foram corrigidos pela fórmula de Abbott (1925). Para comparar a eficiência de tiacloprid com outros inseticidas usados no controle de mosca-branca, seis folhas de repolho/tratamento foram imersas por 10 segundos em água ou nas soluções das doses comerciais dos seguintes inseticidas: tiacloprid (96 g i.a./ ha), imidacloprid (14 g i.a./ha), deltametrina (6 g i.a./ha) e acefato (750 g i.a./ha). As folhas depois de secas à temperatura ambiente foram transferidas para gaiolas e uma média de 107 adultos de mosca-branca foi liberada em cada gaiola. A mortalidade de adultos foi avaliada 72 h após a liberação dos adultos nas gaiolas. O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado, com cinco tratamentos e seis repetições. Os dados da percentagem de mortalidade de adultos foram submetidos à análise de variância e foi utilizado o teste da diferença mínima significativa (DMS) (P< 0,05) para a separação de médias. Impacto de tiacloprid sobre a fertilidade de fêmeas de mosca-branca: Onze folhas de repolho foram tratadas com tiacloprid (96 g i.a./ha) e onze com água (testemunha) e em seguida transferidas individualmente para gaiolas. Quando as folhas estavam enxutas, cerca de 50 adultos de mosca-branca foram liberados no interior das gaiolas. Após 24 h os insetos foram retirados e transferidos por outras 24 h para outras gaiolas contendo folhas de repolho não tratadas para a obtenção de ovos de mosca-branca. Transcorridas as 24 h. os adultos foram retirados das gaiolas e o número de ovos sobre cada folha determinado. Dez dias após a oviposição foi realizada a contagem do número de ninfas de primeiro estádio presentes sobre as folhas. O delineamento experimental foi completamente casualizado e foram utilizadas onze repetições por tratamento. Os dados da percentagem de eclosão de ninfas foram submetidos à análise de variância e foi utilizado o teste de t (P< 0,05) para a separação de médias. Viabilidade de ovos de moscabranca tratados com tiacloprid: Folhas de repolho contendo ovos de mosca-branca com idades de um e cinco dias foram tratadas com tiacloprid (96 g.i.a./ ha) ou água. Para cada idade de ovos e cada tratamento foram utilizadas onze folhas. Dez dias após a oviposição foi realizada a contagem do número de ninfas de primeiro estádio sobre cada folha de cada tratamento e em seguida determinada a percentagem de ovos inviáveis. O delineamento experimental foi completamente casualizado com onze repetições e dois tratamento. Os dados Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Eficiência de tiacloprid para o controle de mosca-branca. da percentagem de ovos inviáveis com idades de um e cinco dias foram corrigidos pela fórmula de Abbott (Abbott, 1925) e submetidos à análise de variância. Foi utilizado o teste de t (P< 0,05) para a separação de médias. Desenvolvimento de ninfas de segundo estádio de mosca-branca tratadas com tiacloprid: Vinte e duas folhas de repolho contendo ovos de mosca-branca foram mantidas em câmara climatizada por 15 dias até que as ninfas atingissem o segundo estádio. Posteriormente as folhas foram divididas aleatoriamente em dois grupos de onze folhas cada (representando o tratamento tiacloprid e o tratamento testemunha) e o número de ninfas sobre cada folha foi determinado. Em seguida, as folhas foram imersas na solução do inseticida ou água, deixadas secar à temperatura ambiente e em seguida levadas à câmara. Cinco dias após, foi realizada a contagem do número de ninfas de terceiro estádio. O delineamento experimental foi completamente casualizado e foram utilizadas onze repetições por tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância e foi utilizado o teste de t (P< 0,05) para a separação de médias. RESULTADOS E DISCUSSÃO Avaliação da mortalidade de adultos de mosca-branca ocasionada por tiacloprid: O ensaio preliminar para avaliação da mortalidade de adultos causada pela dose comercial do inseticida tiacloprid mostrou aumento da mortalidade com o passar do tempo. Nas primeiras 24 h apenas 33% dos adultos haviam morrido; com 48 h a mortalidade aumentou para 81% e, com 72 h, a mortalidade foi de 100%. Com isso, foi definido que o tempo ideal para avaliação da mortalidade de adultos causada por tiacloprid é de 72 h, avaliação utilizada em experimento posterior. Futuras avaliações deverão distinguir populações de mosca-branca resistentes e suscetíveis ao inseticida. A comparação da eficiência de tiacloprid com outros inseticidas indicou que a dose comercial desse produto e do inseticida imidacloprid (produto pertencente ao mesmo grupo químico do tiacloprid, neonicotinóides), foram as Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Tabela 1. Mortalidade de adultos de mosca-branca 72 h após o tratamento com inseticidas ou água à temperatura de 25 ± 1°C, fotofase de 13 h e umidade de 70%. Brasília, Embrapa Hortaliças, 1999. Tratamen to Tiacloprid Imidacloprid Acefate Deltametrina Testemunha C.V. (%) D ose (g i. a. /h a) 96 14 750 6 -- % mortalidade de adu ltos1 (Média ± EP M) 99,1 ± 0,3 a 99,0 ± 0,5 a 31,8 ± 6,6 b 20,9 ± 6,3 bc 10,6 ± 2,3 c 16,19 1/ Para efeito de análise os dados foram transformados em arc sen raíz quadrada da percentagem Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste DMS (P>0,05). Tabela 2. Percentagem de eclosão de ninfas de mosca-branca quando adultos mantiveram contato por 24 h com folhas de repolho tratadas com tiacloprid (96 g i.a./ha) ou água e foram em seguida transferidos por 24 h para folhas de repolho não tratadas com inseticida. Brasília, Embrapa Hortaliças, 1999. Tratamen to Tiacloprid Testemunha C.V. (%) Nú mero total de ovos 813 2845 % n in fas eclodidas (Média ± EP M) 97,2 ± 1,2 a 98,6 ± 0,4 a 7,5 Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de t (P>0,05). que causaram maior mortalidade de adultos (99%) após 72 h (Tabela 1). Este resultado indica que doses comerciais destes inseticidas são eficientes para o controle de adultos desta população. Acefato e deltametrina ocasionaram percentagem de mortalidade semelhantes, abaixo de 32%, e foram significativamente diferentes de tiacloprid (Tabela 1), sugerindo que a dose comercial dos inseticidas não foi eficiente para causar a mortalidade de adultos da população. Impacto de tiacloprid sobre a fertilidade de fêmeas de mosca-branca: O tratamento de adultos de mosca-branca por apenas 24 h com a dosagem comercial de tiacloprid (96 g.i.a./ha) permitiu a sobrevivência de algumas fêmeas da população tratada, as quais foram capazes de depositar ovos em folhas de repolho não tratadas com inseticida. O confinamento das fêmeas por 24 h sobre folhas de repolho tratadas com tiacloprid não afetou a fertilidade destas, já que mais de 97% dos ovos depositados originaram ninfas (Tabela 2). Tiacloprid apresentou um impacto so- bre a fertilidade das fêmeas diferente dos inseticidas pyriproxyfen, pertencente ao grupo químico piridil eter e buprofezin, pertencente ao grupo químico das tiadiazinas. Estes dois últimos inseticidas reduziram a eclosão de ninfas de mosca-branca quando as fêmeas tiveram contato com plantas tratadas com os produtos (Ishaaya et al., 1988; Ishaaya et al., 1994). Stansly (1996) observou que a mosca-branca, B. argentifolii, é capaz de se dispersar entre áreas de cultivo e Byrne et al. (1999) constataram que a moscabranca, B. tabaci, pode se dispersar por mais de 2 km. O fato de tiacloprid não afetar a fertilidade dos ovos de moscabranca sugere que fêmeas que migrem de cultivos tratados com o tiacloprid para cultivos não tratados com o inseticida, são capazes de infesta-los, ao contrário do que pode ocorrer com as fêmeas provenientes de áreas tratadas com pyriproxyfen ou buprofezin. Viabilidade de ovos de moscabranca tratados com tiacloprid: O tratamento de ovos de mosca-branca com tiacloprid nas idades de um e cinco dias 99 M. Castelo Branco & L.A. Pontes. Tabela 3. Percentagem de ovos inviáveis de mosca-branca, com um e cinco dias tratados com tiacloprid (96 g i.a./ha). Brasília, Embrapa Hortaliças, 1999. Idade dos ovos (dias) 1 5 C.V. (%) Nú mero total de ovos tratados 1486 1279 % de ovos in viáveis (Média ± EP M) 99,0 ± 0,7 a 97,6 ± 1,2 a 7,4 Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de t (P>0,05). Tabela 4. Percentagem de sobrevivência de ninfas de terceiro estádio de mosca-branca cinco dias após o tratamento de ninfas de segundo estádio com tiacloprid. Brasília, Embrapa Hortaliças, 1999. Tratamen to Tiacloprid Testemunha C.V. (%) Nú mero de n in fas de segu n do estádio 440 472 % n in fas terceiro estádio1 (Média ± EP M) 1,2 ± 0,6 a 80,0 ± 5,0 b 30,1 1/ Para efeito de análise os dados foram transformados em arc sen raíz quadrada da percentagem Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de t (P>0,05). causou a inviabilidade de mais de 97% dos ovos, independentemente da idade destes. Este resultado indica que o inseticida possui uma boa atividade ovicida (Tabela 3). Ainda que ovos de moscabranca tratados com tiacloprid com idades de um e cinco dias não tenham apresentado diferença significativa na inviabilidade, esta não é uma regra geral para os inseticidas utilizados para o controle de mosca-branca. Ishaaya et al. (1994) por exemplo, observaram um maior número de ovos inviáveis de mosca-branca quando estes foram tratados com pyriproxyfen com idades entre um e três dias do que quando tratados com idade de cinco dias. Desenvolvimento de ninfas de segundo estádio de mosca-branca tratadas com tiacloprid: Apenas 1,2% das ninfas de segundo estádio de moscabranca tratadas com tiacloprid alcançaram o terceiro estádio, ao contrário da testemunha, onde 80% das ninfas se desenvolveram (Tabela 4). Tal observação indica que o inseticida é eficaz para reduzir a sobrevivência de ninfas. O mesmo impacto de inseticidas sobre ninfas foi observado por Stansly et al. (1998) e Ishaaya et al. (1994) quando ninfas de mosca-branca foram tratadas com imidacloprid ou pyriproxyfen, respectivamente. 100 A mortalidade de adultos, a inviabilidade de ovos e mortalidade de ninfas de mosca-branca, quando tratadas com tiacloprid, são fatores que devem contribuir para a redução das populações de mosca-branca em áreas de cultivo, principalmente em áreas protegidas. No entanto, ainda que o inseticida tenha se mostrado eficiente para o controle de diversas fases da praga, ele deve ser utilizado de forma criteriosa para evitar a seleção de populações resistentes. Não existem relatos sobre resistência a tiacloprid; contudo, populações de B. argentifolii resistentes a imidacloprid já foram observadas (Prabhaker et al., 1997). AGRADECIMENTOS Aos Drs. Félix H. França e Geni L. Villas Bôas e ao Comitê de Publicações da Embrapa Hortaliças pela revisão do manuscrito. A Adiel L. dos Santos e Hozanan P. Chaves pelo auxílio nos trabalhos de laboratório. LITERATURA CITADA ABBOTT, W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, v. 18, p. 265-267, 1925. BYRNE, D.N.; AYLOR, D.E.; IRWIN, M.E. Migration and dispersal by the sweet potato whitefly, Bemisia tabaci. Agricultural and Forest Meteorology, v. 97, p. 309-316, 1999. CUBILLO, D.; SANABRIA, G.; HILJE, L. Eficacia de coberturas vivas para el manejo de Bemisia tabaci como vector de geminivirus en tomate. Manejo Integrado de Plagas, v. 51, p. 10-20, 1999. FERREIRA, A.J.; ALVARENGA, M.A.; GITIRANA NETO, J.; SALGADO, L.O.; SILVA, A.C. Performance do produto Thiacloprid 480 SC, Imidacloprid 700 GRDA e 200 SC, no controle da praga Bemisia argentifolii na cultura do pimentão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 39., 1998, Tubarão. Resumos... Tubarão, SC., SOB, 1999. Resumo 104. FRANÇA, F.H.; VILLAS BÔAS, G.L.; CASTELO BRANCO, M. Ocorrência de Bemisia argentifolii Bellows & Perring (Homoptera: Aleyrodidae) no Distrito Federal. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, Jaboticabal, v. 25, p. 369-372, 1996. GITIRANA NETO, J.; SILVA, A.C.; SALGADO, L.O.; FERREIRA, A.J.; ALVARENGA, M.A. Eficiência e praticabilidade agronômica do produto Thiacloprid 480 SC, Imidacloprid 700 GRDA e 200 SC, no controle da praga Bemisia argentifolii na cultura da berinjela. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 39., 1998, Tubarão. Resumos... Tubarão, SC., SOB, 1999. Resumo 120. ISHAAYA, I.; MENDELSON, Z.; MELAMEDMADJAR, V. Effect of buprofezin on embryogenesis and progeny formation of sweetpotato whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, v. 81, p. 781-784. 1988. ISHAAYA, I.; DE COCK, A.; DEGHEELE, D. Pyriproxyfen, a potent supressor of egg hatch and adult formation of the greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, v. 87, p. 1185-1189, 1994. LIMA, M.F.; HAJI, F.N.P. Mosca-branca x geminivírus em tomate no Submédio do Vale do Rio São Francisco. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 16, 1998. Reportagem de capa. LOURENÇÃO, A.L.; YUKI, V.A.; ALVES, S.B. Epizootia de Aschersonia cf. goldiana em Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) biotipo B no Estado de São Paulo. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, v. 28, p. 343-345, 1999. PRABHAKER, N.; TOSCANO, N.C.; CASTLE, S.J.; HENNEBERRY, T.J. Selection for imidacloprid resistance in silverleaf whiteflies from the Imperial Valley and development of a hydroponic bioassay for resistance monitoring. Pesticide Science, v. 51, p. 419428, 1997. STANSLY, P.A. Seasonal abundance of silverleaf whitefly in southwest Florida vegetable fields. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, v. 108, p. 234-242, 1996. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Eficiência de tiacloprid para o controle de mosca-branca. STANSLY, P.; LIU, T.X.; VAVRINA, C.S. Response of Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae) under greenhouse, field and laboratory conditions. Journal of Economic Entomology, v. 91, p. 686-692, 1998. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. VILLAS BÔAS, G.L. Caracterização molecular da mosca-branca Bemisia argentifolii e determinação do potencial biótico às plantas hospedeiras: abobrinha (Cucurbita pepo); feijão (Phaseolus vulgaris); mandioca (Manihot esculenta); milho (Zea mays); poinsétia (Euphorbia pulcherrima); repolho (Brassica oleracea) e tomate (Lycopersicon esculentum). São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2000. 170 p. (Tese doutorado). VILLAS BÔAS, G.L.; FRANÇA, F.H.; ÁVILA, A.C.; BEZERRA, I.C. Manejo integrado da mosca-branca Bemisia argentifolii. Brasília: Embrapa Hortaliças, 1997. (Embrapa Hortaliças. Circular Técnica da Embrapa Hortaliças, 9). 101 normas NORMAS PARA PUBLICAÇÃO Escopo do Periódico O periódico, Horticultura Brasileira (HB), aceita artigos técnico-científicos, escritos em português, inglês ou espanhol. É composto das seguintes seções: 1. Artigo Convidado; 2. Carta ao Editor; 3. Pesquisa; 4. Economia e Extensão Rural; 5. Página do Horticultor; 6. Insumos e Cultivares em Teste; 7. Nova Cultivar; e 8. Comunicações. 1. ARTIGO CONVIDADO: tópico de interesse atual, a convite da Comissão Editorial; 2. CARTA AO EDITOR: assunto de interesse geral. Será publicada a critério da Comissão Editorial; 3. PESQUISA: artigo relatando um trabalho original, referente a resultados de pesquisa cuja reprodução é claramente demonstrada; 4. ECONOMIA E EXTENSÃO RURAL: trabalho na área de economia aplicada ou extensão rural; 5. PÁGINA DO HORTICULTOR: comunicação ou nota científica contendo dados e/ou informações passíveis de utilização imediata pelo horticultor; 6. INSUMOS E CULTIVARES EM TESTE: comunicação ou nota científica relatando ensaio com agrotóxicos, fertilizantes ou cultivares; 7. NOVA CULTIVAR: manuscrito relatando o registro de novas cultivares e germoplasmas, a disponibilidade dos mesmos, e apresentando dados comparativos envolvendo estes novos germoplasmas; 8. COMUNICAÇÕES: seção destinada à comunicação entre leitores e a Comissão Editorial e vice-versa, na forma de breves avisos, sugestões e críticas. O texto não deve exceder 300 palavras, ou 1.200 caracteres, e deve ser enviado em duas cópias devidamente assinadas, acompanhadas de disquete e indicação de que o texto se destina à seção Comunicações. Por questões de espaço, nem todas as notas recebidas poderão ser publicadas e algumas poderão ser publicadas apenas parcialmente. O periódico HB é publicado a cada quatro meses, de acordo com a quantidade de trabalhos aceitos. Os trabalhos enviados para a HB devem ser originais, ainda não relatados ou submetidos simultaneamente à publicação em outro periódico ou veículo de divulgação. Está também implícito que, no desenvolvimento do trabalho, os aspectos éticos e respeito à legislação vigente do copyright foram também observados. Manuscritos submetidos em desacordo com as normas não serão considerados. Após aceitação do manuscrito para publicação, a HB adquire o direito exclusivo de copyright para todas as línguas e países. Não é permitida a reprodução parcial ou total dos trabalhos publicados sem a devida autorização por escrito da Comissão Editorial da Horticultura Brasileira. Para publicar na HB, é necessário que pelo menos um dos autores do trabalho seja membro da Sociedade de Olericultura do Brasil e esteja em dia com o pagamento da anuidade. Cada artigo submetido deverá ser acompanhado da anuência à pu102 GUIDELINES FOR THE PREPARATION AND SUBMISSION OF MANUSCRIPTS Subject Matter Horticultura Brasileira (HB) is dedicated to publishing technical and scientific articles written in Portuguese, English or Spanish. HB has the following sections: 1. Invited Article; 2. Letter to the Editor; 3. Research; 4. Economy and Rural Extension; 5. Grower’s Page; 6. Pesticides and Fertilizers in Test; 7. New Cultivar; and 8. Communications. 1. INVITED ARTICLE: deals with topics that arouse interest. Only invited articles are accepted in this section; 2. LETTER TO THE EDITOR: a subject of general interest. It will be accepted for publication after being submitted to a preliminary evaluation by the Editorial Board; 3. RESEARCH: manuscript describing a complete and original study in which the replication of the results has clearly been established; 4. ECONOMY AND RURAL EXTENSION: manuscript dealing with applied economy and rural extension; 5. GROWER’S PAGE: communications or short notes with information that could be quickly usable by farmers; 6. PESTICIDES AND FERTILIZERS IN TEST: communications or scientific notes describing tests with pesticides, fertilizers and cultivars; 7. NEW CULTIVAR: this section contains recent releases of new cultivars and germplasm and includes information on origin, description, avaliability, and comparative data; 8. COMMUNICATIONS: these have the objective of promoting communication among readers and the Editorial Board as short communications, suggestions and criticism, in a more informal way. They should be concise, not exceeding 300 words or 1,200 characters. These should be signed by author(s) and submitted in duplicate (original and one copy), along with a diskette that contains a copy of the text. The journal HB is issued every four months, depending on the amount of material accepted for publication. HB publishes original manuscripts that have not been submitted elsewhere. With the acceptance of a manuscript for publication, the publishers acquire full and exclusive copyright for all languages and countries. Unless special permission has been granted by the publishers, no photographic reproductions, microform and other reproduction of a similar nature may be made of the journal, of individual contributions contained therein or of extracts therefrom. Membership in the Sociedade de Olericultura do Brasil is required for publication. For the paper to be eligible for publication at least one of the authors must be a Society member and the manuscripts should be accompanied by the Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. blicação de todos ao autores, e será avaliado pela Comissão Editorial, Editores Associados e/ou Assessores ad hoc, de acordo com a seção a que se destina. Submissão dos trabalhos Os originais deverão ser submetidos em três vias, em programa Word 6.0 ou versão superior, em espaço dois, fonte arial tamanho doze. O disquete contendo o arquivo deverá ser incluído. Todas as cópias de figuras e fotos deverão ser de boa qualidade. Os artigos serão iniciados com o título do trabalho, que não deve incluir nomes científicos, a menos que não haja nome comum no idioma em que foi redigido. Ao título deve seguir o nome, endereço postal e eletrônico completo dos autores (veja padrão de apresentação nos artigos publicados nos últimos volumes da Horticultura Brasileira). A estrutura dos artigos obedecerá ao seguinte roteiro: 1. Resumo em português ou espanhol, com palavras-chave ao final. As palavras-chave devem ser sempre iniciadas com o(s) nome(s) científico(s) da(s) espécie(s) em questão e nunca devem repetir termos para indexação que já estejam no título; 2. Abstract, em inglês, acompanhado de título e keywords. O abstract, o título em inglês e keywords devem ser versões perfeitas de seus similares em português ou espanhol; 3. Introdução; 4. Material e Métodos; 5. Resultados e Discussão; 6. Agradecimentos; 7. Literatura Citada; 8. Figuras e Tabelas. Este roteiro deverá ser utilizado para a seção Pesquisa. Para as demais seções veja padrão de apresentação nos artigos publicados nos últimos volumes da Horticultura Brasileira. Para maior detalhamento consultar a home page da HB: www.hortbras.com.br Referências à literatura no texto deverão ser feitas conforme os exemplos: Esaú & Hoeffert (1970) ou (Esaú & Hoeffert, 1970). Quando houver mais de dois autores, utilize a expressão latina et alli, de forma abreviada (et al.), sempre em itálico, como segue: De Duve et al. (1951) ou (De Duve et al., 1951). Quando houver mais de um artigo do(s) mesmo(s) autor(es), no mesmo ano, indicar por uma letra minúscula, logo após a data de publicação do trabalho, como segue: 1997a, 1997b. Na seção de Literatura Citada deverão ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Trabalhos com dois ou mais autores devem ser listados na ordem cronológica, depois de todos os trabalhos do primeiro autor. A ordem dos itens em cada referência deverá obedecer as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Exemplos: a) Periódico: VAN DER BERG, L.; LENTZ, C.P. Respiratory heat production of vegetables during refrigerated storage. Journal of the American Society for Horticulture Science, v. 97, n. 3, p. 431-432, Mar.1972. b) Livro: ALEXOPOULOS, C.J. Introductory mycology. 3. ed. New York: John Willey, 1979. 632 p. c) Capítulo de livro: ULLSTRUP, A.J. Diseases of corn. In: SPRAGUE, G.F., ed. Corn and corn improvement. New York: Academic Press, 1955. p. 465-536. Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. agreement for publication signed by the authors. All manuscripts will be evaluated by the Editorial Board, Associated Editors and/or ad hoc consultants in accordance with their respective sections. Manuscript submission Manuscripts should be submitted in triplicate (original and two copies) typed double-spaced (everything must be double spaced) and printed. Use of the “Arial” font, size 12, is required. Include a copy of the manuscript on computer diskette at submission. The Editorial Board will only accept 3.5 inch diskette which have the files copied on them using the program Word 6.0 or superior. The title page should include: title of the paper (scientific names should be avoided); name(s) of author(s) and address(es). Please refer to a recent issue of HB for format. The structure of the manuscript should include: 1. Abstract and Keywords. Keywords should start with scientific names and it should not repeat words that are already in the title; 2. Summary in Portuguese (a translation of the abstract will be provided by the Journal for non-Portuguese-speaking authors) and Keywords (Palavras-chave). 3.Introduction; 4. Material and Methods; 5. Results and Discussion; 6.Acknowledgements; 7. Cited Literature and 8. Figures and Tables. This structure will be used for the Research section. For other sections please refer to a recent issue of HB for format. Bibliographic references within the text should have the following format: Esaú & Hoeffert (1970) or (Esaú & Hoeffert, 1970). When there are more than two authors, use a reduced form, like the following: De Duve et al. (1951) or (De Duve et al., 1951). References to studies done by the same author in the same year should be noted in the text and in the list of the Cited Literature by the letters a, b, c, etc., as follows: 1997a, 1997b. In the Cited Literature, references from the text should be listed in alphabetical order by last name, without numbering them. Papers that have two or more authors should be listed in chronological order, following all the papers of the first author, second author and so on. Please refer to a recent issue of HB for more details. The order of items in each bibliography should follow the examples (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT): a) Journal: VAN DER BERG, L.; LENTZ, C.P. Respiratory heat production of vegetables during refrigerated storage. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 97, n. 3, p. 431-432, Mar. 1972. b) Book: ALEXOPOULOS, C.J. Introductory mycology. 3. ed. New York: John Willey, 1979. 632 p. c) Chapter: ULLSTRUP, A.J. Disease of corn. In: SPRAGUE, G.J., ed. Corn and corn improvement. New York: Academic Press, 1955. p. 465-536. 103 d) Tese: SILVA, C. Herança da resistência à murcha de Phytophthora em pimentão na fase juvenil. Piracicaba: ESALQ, 1992. 72 p. Tese mestrado. e) Trabalhos apresentados em congressos (quando não incluídos em periódicos): HIROCE, R.; CARVALHO, A.M.; BATAGLIA, O.C.; FURLANI, P.R.; FURLANI, A.M.C.; SANTOS, R.R.; GALLO, J.R. Composição mineral de frutos tropicais na colheita. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 4., 1977, Salvador. Anais... Salvador: SBF, 1977. p. 357-364. Para a citação de artigos ou informações da Internet (URL, FTP) ou publicações em CD-ROM, consultar as instruções para publicação disponíveis na home page da HB (www.hortbras.com.br) ou diretamente com a Comissão Editorial. Uma cópia da prova tipográfica do manuscrito será enviada eletronicamente para o autor principal, que deverá fazer as possíveis e necessárias correções e devolvê-la em 48 horas. Correções extensivas do texto do manuscrito, cujo formato e conteúdo já foram aprovados para publicação, não são aceitáveis. Alterações, adições, deleções e edições implicarão novo exame do manuscrito pela Comissão Editorial. Erros e omissões presentes no texto da prova tipográfica corrigido e devolvido à Comissão Editorial são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). Em caso de dúvidas, consulte a Comissão Editorial ou verifique os padrões de publicação dos últimos volumes da Horticultura Brasileira. Os originais devem ser enviados para: Horticultura Brasileira C. Postal 190 70.359-970 Brasília – DF Tel.: (0xx61) 385 9051 / 385 9073 / 385 9000 Fax: (0xx61) 556 5744 E-mail: [email protected] Assuntos relacionados a mudanças de endereço, filiação à Sociedade de Olericultura do Brasil, pagamento de anuidade, devem ser encaminhados à Diretoria da Sociedade de Olericultura, no seguinte endereço: Sociedade de Olericultura do Brasil UNESP – FCA C. Postal 237 18.603-970 Botucatu – SP Tel.: (0xx14) 6802 7172 / 6802 7203 Fax: (0xx14) 6802 3438 E-mail: [email protected] 104 d) Thesis: SILVA, C. Herança da resistência à murcha de Phytophthora em pimentão na fase juvenil. Piracicaba: ESALQ, 1992. 72 p. Tese mestrado. e) Articles from Scientific Events (when not published in journals): HIROCE, R; CARVALHO, A.M.; BATAGLIA, O.C.; FURLANI, P.R.; FURLANI, A.M.C.; SANTOS, R.R.; GALLO, J.R. Composição mineral de frutos tropicais na colheita. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 4., 1977, Salvador. Anais... Salvador: SBF, 1977. p. 357-364. For examples of cited literature from Internet (URL, FTP) or CD – ROM, please consult the HB home page (www.hortbras.com.br) or the Editorial Board. A copy of the galley proof of the manuscript will be sent to the first author who should make any necessary corrections and send it back within 48 hours. Extensive corrections of the text of the manuscript, whose format and content have already been approved for publication, will not be accepted. Alterations, additions, deletions and editing implies that a new examination of the manuscript must be made by the Editorial Board. Errors and omissions which are present in the text of the corrected galley proof that has been returned to the Editorial Board are entirely the responsability of the author. Orientation about any situations not foreseen in this list will be given by the Editorial Board or refer to a recent issue of Hoticultura Brasileira. Manuscripts should be addressed to: Horticultura Brasileira C. Postal 190 70.359-970 Brasília – DF Tel.: (0xx61) 385 9051 / 385 9073 / 385 9000 Fax: (0xx61) 556 5744 E-mail: [email protected] Change in address, membership in the Society and payment of fees should be addressed to: Sociedade de Olericultura do Brasil UNESP – FCA C. Postal 237 18.603-970 Botucatu – SP Tel.: (0xx14) 6802 7172 / 6802 7203 Fax: (0xx14) 6802 3438 E-mail: [email protected] Hortic. bras., v. 19, n. 1, mar. 2001. Pranchas com pinturas de hortaliças A idéia desta capa surgiu na exposição Hortaliças & Arte, realizada no estande do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), durante o 40o CBO, realizado no ano passado em São Pedro, SP. As pesquisas com hortaliças no IAC tiveram início, oficialmente, em 1937, com a implantação da antiga Seção de Olericultura e Floricultura, sob a Chefia do Dr. Olímpio de Toledo Prado. A documentação visual das hortaliças pesquisadas era feita por meio de pinturas em pranchas e/ou modelagem em gesso, em escala real, pois não se dispunha das facilidades de hoje (câmeras sofisticadas, lentes e filmes especiais, câmeras digitais). Além disso, fotografia colorida era um recurso caro e, portanto, de uso limitado na documentação da pesquisa científica, sendo substituída pelo trabalho de ilustradores botânicos. Entre muitos profissionais anônimos (cerca de 40), o IAC contou com verdadeiros artistas, como José de Castro Mendes, Maria de Lourdes Sabóia e José Ferraz Pompeu. Esses profissionais foram contratados graças ao empenho do então Diretor do IAC, Dr. Theodureto de Almeida Camargo. Segundo o Dr. Armando José Conagin, pesquisador aposentado do IAC, ao voltar de um período de especialização na Alemanha, o Dr. Theodureto convenceu o governador do Estado da importância dessa atividade para o registro visual da pesquisa agronômica. A história do caminho percorrido por esse precioso acervo é, no entanto, triste. Por volta de 1990, foi criado o Museu IAC, numa tentativa de preservar a história da instituição. As peças em gesso que, até então, estiveram sob a guarda da antiga Seção de Horta- liças, foram transferidas para o museu. Após alguns anos, o museu foi extinto e, durante a “volta para casa”, algumas peças se quebraram e outras se deterioraram. Quanto às ilustrações, algumas das quais foram selecionadas para compor a capa desta edição, estavam guardadas há décadas no almoxarifado da antiga Seção de Hortaliças, sem nenhum cuidado especial, resultando no desgaste da maior parte delas. O sentimento de quem se depara com tais obras é um misto de encantamento, por sua beleza e, ao mesmo tempo, de tristeza devido ao mau estado das ilustrações e peças em gesso. Trata-se de um acervo documental de grande valor histórico e científico retratando com precisão e realismo a tipologia das hortaliças que eram objeto de pesquisa nas décadas de 40 e 50 no âmbito da pesquisa com olerícolas no IAC. As cultivares ilustradas nessas obras resgatam o aspecto das hortaliças paulistas da época da II Guerra Mundial e primeira fase do pós-guerra. Vale a pena ressaltar que, para algumas delas, essa é a única documentação disponível, especialmente em se tratando de registro colorido e em escala real. O melhor exemplo é a existência das ilustrações das cultivares de tomate ‘Rei Humberto’ e ‘Redondo Japonês’, tidos como prováveis parentais da consagrada cultivar Santa Cruz, também retratada em dimensão real. Quem tem a oportunidade de apreciar esse acervo, é levado ao deslumbramento pela sua beleza plástica, onde as hortaliças pesquisadas ficaram registradas com extrema fidelidade de cores e demais detalhes morfoanatômicos conferindo-lhes um aspecto real de frescor, de vida, ao olhar do espectador. Sem dúvida, um material como esse resulta da combinação de conhecimento técnico e alta sensibilidade. As ilustrações selecionadas e editadas nesta capa, constituem parte de um material de inestimável valor para a olericultura brasileira. O que restou desse acervo está sob a guarda do Centro de Horticultura do IAC, em Campinas, e disponível à visitação. Esperamos que esse precioso material possa, algum dia, ser devidamente restaurado. Dessa forma, resgataremos nosso débito com os artistas que contribuíram para enriquecer a memória da olericultura paulista e brasileira. (Drs. Arlete Marchi Tavares de Melo e Francisco Antonio Passos, Pesquisadores Científicos do Centro de Horticultura do IAC, Campinas, SP). A revista Horticultura Brasileira é indexada pelo CAB, AGROBASE, AGRIS/FAO, TROPAG e sumários eletrônicos/IBICT. Programa de apoio a publicações científicas Horticultura Brasileira, v. 1 nº1, 1983 - Brasília, Sociedade de Olericultura do Brasil, 1983 Quadrimestral Títulos anteriores: V. 1-3, 1961-1963, Olericultura. V. 4-18, 1964-1981, Revista de Olericultura. Não foram publicados os v. 5, 1965; 7-9, 1967-1969. Periodicidade até 1981: Anual. de 1982 a 1998: Semestral a partir de 1999: Quadrimestral 1. Horticultura - Periódicos. 2. Olericultura - Periódicos. I. Sociedade de Olericultura do Brasil. CDD 635.05 Tiragem: 1.000 exemplares
Download