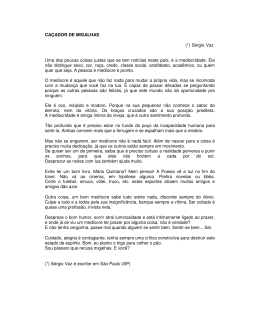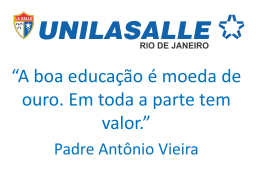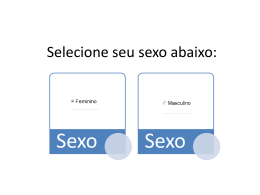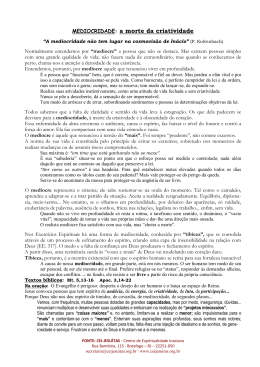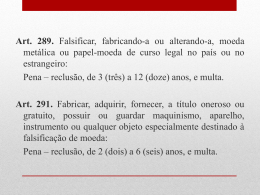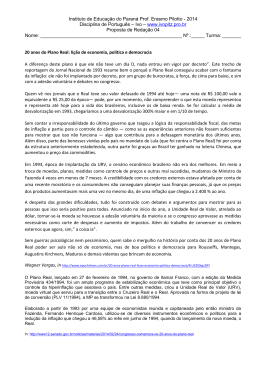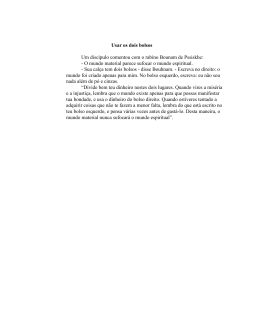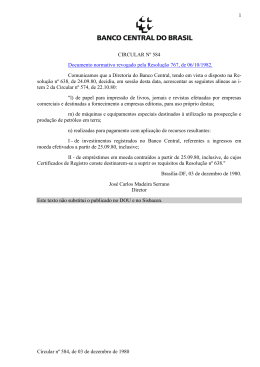TEXTO SEM ESPERANÇA Por Tassos LYCURGO www.lycurgo.org Conta a boa lenda — a qual não deixa de ter um ou mesmo dois quês de verdade — que o filósofo Schopenhauer teve direito ao seu experimento com a humanidade: todas as manhãs, durante certo período de sua vida, acordava e, logo depois, saía de casa e ia ao mesmo mercadinho, tomar o seu desjejum. Lá, invariavelmente, colocava uma moeda sobre a mesa antes de fazer o pedido. Semanas depois, perguntado sobre o porquê daquele ato, respondeu que era uma aposta que fazia consigo mesmo: se os cavalheiros da mesa vizinha falassem sobre algo minimamente profundo ou interessante, ele daria a moeda para o primeiro pedinte que encontrasse; caso contrário, voltaria a guardá-la para o próximo dia. Diz-se que passou meses com ela no bolso. Definitivamente, não é meu intuito criticar o colóquio fútil, frívolo, mesquinho, mas, pelo contrário, gostaria de sublinhá-lo como sendo o ponto em que todos os homens se encontram, tornam-se um só e, portanto, justificam a identidade no que é humano. Como diz Goethe na Trilogie der Leidenschaft, os homens não são iguais, mas também não são totalmente diferentes. Assim, se há algo igual nesta diferença que reside em cada um de nós é o fato de nos encontramos em algum momento pensando ou falando sobre o que é medíocre. Dizem que os homens são como os animais de rapina: uns dão vôos muito altos, outros, nem tanto; mas todos, invariavelmente, encontram-se e igualam-se no chão, para saborear a carcaça, a carne putrefeita. Conversas superficiais, portanto, são como os restos mortais e é lá onde toda a humanidade se iguala, torna-se uma só. É lá onde os prosadores encontram a interseção dos interesses humanos; é lá onde há a possibilidade da comunicação geral, coletiva: explica-se, aí, a qualidade do conteúdo do rádio, da tevê, da mídia em geral, mesmo da literatura e da arte cotidianas. Quase toda a produção cultural do homem intenta a mesmice, a pasmaceira, a monotonia. Eis, enfim, a infausta democratização do espírito humano, da qual Nietzsche tanto fugia e que os homens livres tanto detestam e repudiam, mesmo que esses homens livres vejam-se a si mesmos (muita vez, surpreendam-se a si mesmos) habitando o infausto, a banalidade, elogiando tudo o que parece mediocrismo. Deste ambiente de banalidades, não sei se há saída convencional. Mesmo com os homens mais experimentados, cujas velhices já os consomem, não é diferente: seus pensamentos — maduros e elaborados — povoam os mais difíceis espaços, mas também, de surpresa, são encontrados no vil sítio da frivolidade. Inevitável é o vazio que há no que é fútil e medíocre. Parece que a alma é sugada, sutilmente, para tudo o que é baixo e vão. Demonstra-se, assim, certa homogeneidade não apenas da perspectiva temporal, mas também espacial: todos se igualam no banal, em qualquer época, em qualquer lugar. O frívolo austríaco é similar ao brasileiro; o fútil do séc. XVIII é similar ao de hoje. Schopenhauer, aqui em Natal, talvez tivesse resultados semelhantes em seu experimento. Isso, é claro, se não lhe furtassem a moeda do bolso, ao distrair-se com a conversa superficial de algum bêbado, balbuciando no botequim da esquina o que há de mais oco, pois, em uma variação da máxima de Quintiliano, da humanidade não se pode exigir fazer o que lhe parece impossível. E, como se disse de várias formas, no que concerne ao humano, o possível coincide com o medíocre.
Baixar