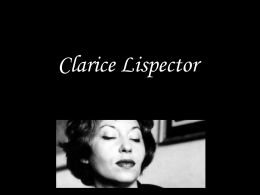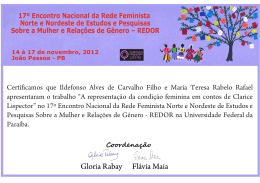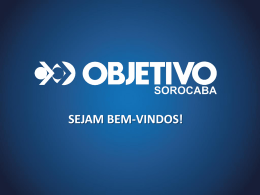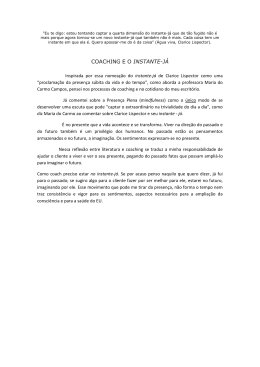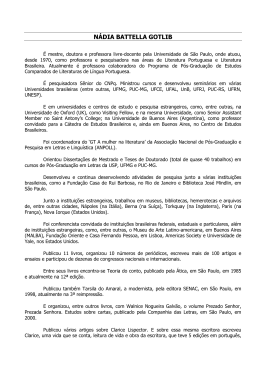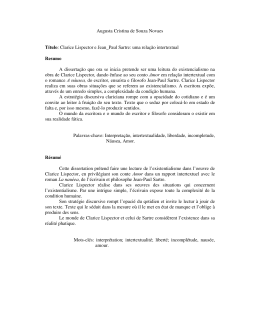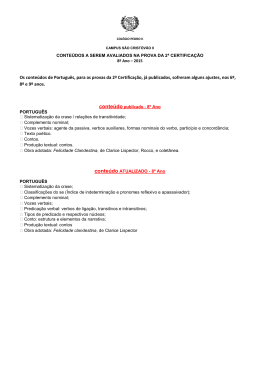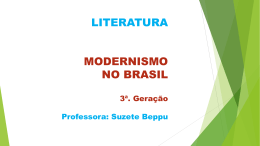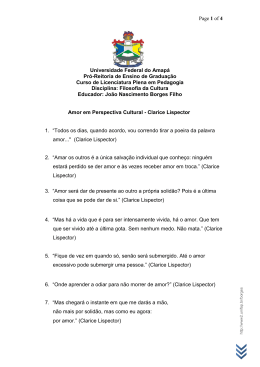UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ROUPAS, OBJETOS E ESPAÇOS
A cultural material em Clarice Lispector
CLARISSE FUKELMAN
Rio de Janeiro
Janeiro 2015
ROUPAS, OBJETOS E ESPAÇOS
A cultural material em Clarice Lispector
CLARISSE FUKELMAN
Tese depositada no Departamento de Letras Vernáculas, exigido
para obtenção do grau de Doutor em Letras Vernáculas
(Programa de Literatura Brasileira).
Orientação: Professor Doutor Antonio Carlos Secchin
Rio de Janeiro
Janeiro 2015
F961
Fukelman, Clarisse.
Objetos: cultura material em Clarice Lispector / Clarisse Fukelmann. – Rio
de Janeiro: UFRJ, 2015.
viii, 215 f. : il.
Orientador: Antonio Carlos Secchin.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Faculdade
de Letras, Programa
de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, 2015.
Bibliografia: f. 216-236.
1. Literatura brasileira – História e crítica. 2. Clarice Lispector – Crítica e
interpretação. 3. Cultura material. I. Secchin, Antonio Carlos. II. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Letras.
Dedico a Mariana e a Joana,
filha e neta, meus afetos incondicionais.
AGRADECIMENTOS
A meus pais, Fernando e Feiga, pelo amor e pela lição de vida no
enfrentamento de tantas adversidades e na vibração com as conquistas.
Ao Professor Doutor Antonio Carlos Secchin, pela acolhida em ser meu
orientador, e pelo apoio no desenvolvimento da tese.
À professora Marlene de Castro Correia, que me abriu as portas para a
palavra poética e me ensinou a paixão como método de ensino.
A Claudia Fernanda Chigres, Gustavo Chatagnier e Lygia Baptista Pereira
Segala Pauletto, pelo incentivo e pela leitura de partes do trabalho na reta
final da tese, dando sugestões essenciais.
A Alessandra de Jesus Lemos e
a Caique Bellatto, pela ajuda na
conferência das notas e da bibliografia.
A Luciana d’Araújo e a João Mello, que se formaram pela Faculdade de
Letras da UFRJ, pela ajuda nas traduções do francês, e, mais uma vez, a
Mariana Grojsgold, pelas traduções do inglês.
Ao Conselho Nacional de Pesquisa, CAPES, pela bolsa que auxiliou na
realização da tese.
Aos funcionários da Pós-graduação, pelo atendimento atencioso.
RESUMO
Resumo da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras
Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Literatura Brasileira.
FUKELMAN, Clarisse. ROUPAS, OBJETOS E ESPAÇOS: A cultural material em Clarice
Lispector. Rio de Janeiro, 2015.
Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
A proposta da tese é desenvolver uma leitura da obra de Clarice Lispector,
considerando o objeto e o espaço ficcionais, conceitos estabelecidos a partir do diálogo com a
antropologia, as artes Visuais e a comunicação Social. Na antropologia, o objeto e o espaço
visível e tangível são concebidos como campos de mediação em que se desenvolvem
experiências sociais, culturais, sensoriais e afetivas. As artes visuais oferecem parte
substantiva do referencial teórico sobre espaço e objeto, desde a inserção do objeto cotidiano
nas obras até as buscas de novas formas de interatividade no processo criativo. Teorias da
comunicação desenvolvidas por expoentes da Teoria Crítica (especialmente Walter
Benjamin), dão subsídios para observar a forma pela qual a autora discute o homem moderno
e pós-moderno – a fratura na comunicação, a memória, a mercantilização de valores, a
infância, a velhice e a subjugação da mulher. A convocação de operadores de leitura de
outros domínios valoriza a arquitetura fluida do texto e os movimentos andarilhos dos
personagens claricianos - o que pede, a nosso ver, um tratamento prismático.
São estudados diversos tipos de texto da escritora (contos, cartas, romances, crônicas,
entrevistas) em que objetos e espaços ficcionais expressam e elaboram subjetividades
(individuais e coletivas) em momentos de crise, reflexão ou ruptura com o tempo cotidiano
e/ou com laços afetivos.
RESUMÉE
Resumée da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras
Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Literatura Brasileira.
FUKELMAN, Clarisse. VÊTEMENTS, OBJECTS ET ESPACES: A cultural material em
Clarice Lispector. Rio de Janeiro, 2015.
Thèse (Doctorat en Littérature Brésilienne) – Faculdade de Letras, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
La thèse se propose de développer une lecture de l´oeuvre de Clarice Lispector, en
considérant l´objet et l´espace fictionnels, concepts établis à partir d´un dialogue avec
l´anthropologie, les arts visuels et la communication sociale. En anthropologie, l´objet et
l´espace visuel ou tangible sont conçus comme des terrains de médiation où se développent
des expériences sociales, culturelles, sensorielles et affectives. Les arts visuels offrent une part
substantielle du référentiel théorique sur l´espace et l´objet, depuis l´insertion de l´objet
quotidien dans l´oeuvre d´art jusqu´aux nouvelles formes d´interactivité dans le processus de
création.
Les théories de la communication développées par les initiateurs de la Théorie
Critique (spécialement Walter Benjamin) donnent des éléments pour observer la façon dont
l´auteure s´interroge sur l´homme moderne et post-moderne - la fracture dans la
communication, la mémoire, la mercantilisation des valeurs, l´enfance, la vieillesse et la
soumission de la femme.
L´appel à différentes techniques narratives (ou dans un jargon universitaire
"méthodologies narratologiques") valorise l´architecture fluide du texte et les mouvements
déambulatoires des personnages "clariciens", ce qui demande, selon notre vision, un
traitement prismatique. Sont étudiés divers genres de textes de l´écrivaine (contes, lettres,
romans, chroniques, entrevues - ou "interviewes"), dans des moments de crise, de réflexion ou
de rupture avec le temps quotidien et/ou les liens affectifs.
9
SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO.....................................................................................................11
2. OBJETOS EM SITUAÇÃO.................................................................24
2.1. OBJETOS NA ANTROPOLOGIA E NAS ARTES VISUAIS .........................24
2.2. O CORAÇÃO DO TIJOLO: UM TROPEÇO NA FILOSOFIA........................30
2.3. FORA DAQUI: A EXPULSÃO DOS OBJETOS..............................................34
2.4. O AMULETO E A CRÍTICA: OBJETO NA LITERATURA BRASILEIRA...42
3. O LÁPIS, O RELÓGIO E O PESCOÇO DO GUINDASTE....................................52
3.1. RELATÓRIO DAS COISAS..............................................................................61
3.2. A HORA DA ESTRELA E A SUCATA............................................................79
3.3. A CADEIRA E O ARMÁRIO: A INSURGÊNCIA DO OBJETO.....................82
4. INTERMEZZO: COISAS DE QUE GOSTO, MAS VOCÊ NÃO.............................87
5. A SEGUNDA PELE: QUANDO AS ROUPAS FALAM ......................................103
5.1. A ITALIANA TROCA DE ROUPA: OBJETO E MEMÓRIA........................114
5.2. CADÊ O MEU CHAPÉU?................................................................................125
5.3. DEIXANDO O CHAPÉU DE LADO, MAS NÃO TANTO............................132
5.4. A ROUPA E OS ESPAÇOS..............................................................................143
5.5. VOCÊ PRA LÁ, EU PRA CÁ: COISAS DE HOMEM....................................147
6. DIVAGAÇÕES SOBRE G.H...................................................................................152
6.1. O INVENTO......................................................................................................159
6.2. A CRIAÇÃO .....................................................................................................163
6.3. DESVIO PARA DENTRO................................................................................168
6.4. A NARRADORA: TROPEÇOS NA PALAVRA
.........................................175
6.5. AS GAVETAS E O VIDRO..............................................................................182
6.6. DE VOLTA, SEM TER SAÍDO: ENSAIOS NO TEXTO................................184
7. TOPOGRAFIAS......................................................................................................190
7.1. O MENINO E O MURO...................................................................................191
7.2. RA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE PEDRAS: CIDADE SITIADA.......196
10
7.3. MONUMENTOS FORA DE HORA: MODERNIZAÇÃO E MEMÓRIA .....200
7.4. OS MAPAS........................................................................................................207
7.5. PALAVRA FAZ MESMO FALTA? ................................................................213
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................216
ABREVIAÇÕES
A bela e a fera - BF
A cidade sitiada - CS
A descoberta do mundo - DM
A hora da estrela - HE
A legião estrangeira - LE
Alguns Contos - AL
A paixão segundo G.H.1 - GH1
A paixão segundo G.H. - GH
A via crucis - VC
Água viva - AV
Cartas Perto do Coração - CPC
Correio Feminino - CF
De corpo inteiro - CI
Felicidade clandestina - FC
Laços de família - LF
Onde estivesse de noite - OEN
Outros escritos - OE
Para não esquecer - PNE
Perto do coração selvagem - CS
Quase Verdade - QV
Um sopro de vida - SV
Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres - UAP ou OLP
Visão do esplendor - VE
11
1. APRESENTAÇÃO
O objeto – a coisa – sempre me fascinou e de algum modo me destruiu.
(Um Sopro de vida: 104,105)
Ela, que sempre quisera as verdadeiras coisas, madeira, ferro, casa,
bibelô. (A Cidade Sitiada: 127)
Clarice Lispector já foi virada ao avesso e analisada com inteligência em
perspectivas muito diversas e em obras de caráter ensaístico, teses e artigos. Os pontos
de vista, ora convergentes, ora complementares e até opostos, ensinam a entender a
autora e a dimensionar a riqueza de sua literatura. As publicações têm se intensificado
em grande escala nas duas últimas décadas, especialmente devido à projeção
internacional1 e à escuta mais preparada para a recepção de escritos que estavam à
frente de seu tempo e inauguravam uma nova dicção na literatura nacional. Sua obra
está incluída no rol dos clássicos, seja na acepção de Italo Calvino (1993)2, pelo
renovado impacto que provoca em seus leitores a cada leitura; seja na visão de Antonio
Cândido, que ressalta na obra prima “a verdadeira exploração vocabular e a verdadeira
aventura da expressão” (1970:126)3; seja, ainda, na acepção contemporânea de cânone,
que leva em conta a historicidade, sem abandonar aspectos formais - isto é, assimilar
critérios culturalistas, sem se limitar a eles.4
A profusão de abordagens não desanima o intérprete; ao contrário, incentiva a
retomada da autora, seguindo um rumo diferenciado. Aqui se discutem o papel e os
significados do que, genericamente, a antropologia entende por “cultura material”, e
com que intenções ela é ficcionalizada na obra clariciana. Trata-se de um recorte feito
até agora apenas circunstancialmente e que, a nosso ver, ainda não recebeu o
aprofundamento que merece.
1
Notadamente a difusão na França, através de Hélène Cixous e da Éditions des Femmes, e a biografia em
inglês escrita pelo norte-americano Benjamin Moser.
2
CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cultrix, 1993.
3
CANDIDO, Antonio. No raiar de Clarice Lispector. In: Vários escritos. 1970. p.126.
4
KLEIN, Kelvin Falcão. Cânone e exclusão. BH v. 19n. 2 ago-out. 2013 p. 111-121
12
Em “cultura material”, expressão cunhada no âmbito da etnografia intensiva5 e
da museografia, incluo o objeto e o espaço visível e tangível, atualizado nas edificações
e seus entornos. Ora, o espaço, um dos tópicos de iniciação aos estudos literários6, e o
objeto, muito pouco estudado, a não ser circunstancialmente7, ao invés de serem
observados aqui a partir de esquemas classificatórios, funcionais ou históricos,
abordagem perfeitamente legítima8, serão concebidos como campo de mediações, em
que são vivenciadas e elaboradas experiências sociais, culturais, sensoriais.
A
paisagem, por sua vez, tornou-se há um pouco mais de quatro décadas categoria
epistemológica para as ciências sociais e para as ciências humanas. Espaço construído,
desdobrado como paisagem imaginada. Por esta dimensão, procuro entender, na obra
de Clarice Lispector9, de que modo objetos e espaços ficcionais, investidos de valores
(morais, políticos, de rememoração10, de gênero etc.), expressam e elaboram
subjetividades (individuais e coletivas) em momentos de crise, reflexão ou ruptura com
o tempo cotidiano e/ou com laços afetivos.
Para facilitar a leitura, passo a chamá-los de forma resumida de objeto e espaço.
Espero, através deles, apontar nexos menos estabelecidos que contribuam para o
entendimento da produção literária da autora. Antes, porém, compartilho o que me
mobilizou para tomar esse rumo de pesquisa.
5
Marcel Mauss em seu Manual de Etnografia, obra clássica que orientou a pesquisa etnológica francesa,
sublinha, a propósito do colecionismo e da classificação de objetos no trabalho de campo, que, “em
muitos casos o objeto é melhor prova de um fato social”. MAUSS, M. Introducción a la Etnografia.
Madrid: Ediciones Istmo, 1971 p.15 [tradução nossa]. Por esta mesma lógica, a museografia desenvolve o
conceito de objeto-testemunho, objeto-memória, indício e materialização de uma história coletiva Ver a
propósito BONNOT, T. Itinéraire biographique d’une bouteille de cidre. L’Homme, n.170, 2004/2, pp.
139-163.
6
FORSTER, E. M. Aspectos do romance. Porto Alegre: Editora Globo, 1969; MENDILOW, A. A. O
tempo e o romance. Porto Alegre: Editora Globo, 1972; MUIR, Edwin. Estrutura do romance. Porto
Alegre: Editora Globo, 1975; GENETTE, Gérard. Figures II. Paris: Seuil/ Points, 1969.
7
Exceção feita à literatura realista.
8
DIMAS, Antonio. Espaço e romance. São Paulo: Ática, 1985. (Col. Princípios); BORGES FILHO,
Ozíris. Espaço e literatura: introdução à topoanálise. Franca: Ribeirão Gráfica e Editora, 2007; e
especialmente GAMA-KHALIL, Marisa. O lugar teórico do espaço ficcional nos estudos literários.
Revista ANPOLL, América do Norte, Vol. 1, n.28, 07/2010. A autora apresenta boa síntese crítica sobre
diferentes conceituações da categoria literária posta em segundo plano mesmo em obras realistas. A
tendência é tomá-la por “temática vazia” cabendo ao escritor, com esforço, transformá-la em temática
“plena”.
9
Foucault defende, já na década de 60, que, se no século XIX a mania foi a história (temas do movimento
e da estagnação, da crise e do ciclo, da acumulação do passado), a “época atual seria talvez de preferência
a época do espaço.” FOUCAULT, Michel. In: Manoel B. da Motta (org.) Michel Foucault. Estética:
literatura e pintura, música e cinema. Coleção Ditos & Escritos III, Tradução de Inês A. D. Barbosa, Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 411-422. p. 411
10
Cf. RIEGL, A. Le Culte Moderne des Monuments. Paris: Éditions du Seuil, 1984 (1903), 2o. capítulo.
Para o autor, o valor de rememoração compreende o valor de ancianidade, o valor histórico e o valor de
rememoração intencional.
13
O interesse pelo tema é de diferentes ordens. Enumero alguns deles, sem me ater
à prevalência de um sobre o outro. De pronto, destaco as reflexões sobre trabalhos
profissionais desenvolvidos como consultora de projetos que envolveram a transposição
da obra clariciana para exposição e teatro: a cenografia de Daniela Thomas, na
exposição A hora da estrela, para o Museu da Língua Portuguesa (inaugurada em
24/04/2007); e o figurino de Beth Filipecki, na peça Simplesmente Clarice, com Beth
Goulart (estreia em 2009). O processo envolvia colocar à disposição de outro
profissional algo mais do que informações sobre o texto clariciano: era necessário
pensar a tridimensionalidade; destacar relevos; indicar fios condutores a serem
convertidos numa configuração espacial calcada na síntese; e vislumbrar a ocupação de
espaço, em seu espectro plástico e no possível efeito sobre o público. Estava por vir
uma prospecção conceitual sensível, por parte da cenógrafa e da figurinista, e estes itens
tinham de ser considerados. Uma síntese que ao mesmo tempo contivesse um potencial
de expansão – muito afinado, inclusive, com o universo clariciano.
Um fator que impulsionou a pesquisa derivou do exercício da atividade de
consultoria acima descrita; foram acionadas memórias de leituras feitas desde a
adolescência. Ao longo de anos, dentre imagens mentais que arquivei, destacavam-se as
que envolviam objetos, trajes e lugares. Assim, além do olhar, tão destacado nas
interpretações de sua obra, sobressaía o que o movia ou o estagnava, desde aquilo que
se olha, ao como e ao porquê; a tridimensionalidade; e as demarcações espaciais que
orientam ou bloqueiam a (des)atenção dos olhos.
De A cidade sitiada, por exemplo, guardava a cena fantasmagórica e popularesca
de abertura, em que avultam, furando o embaçamento do ambiente, o relógio da igreja,
os estandartes, a roda-gigante, numa paisagem aérea tomando conta da noite. Atmosfera
mágica para o leitor e para os personagens imersos na comemoração do santo, no
subúrbio, com foco no casal de namorados que nos guia através da festa.
Outra cena do mesmo livro, quase na contramão da ambiência da abertura e
verticalização, era o acúmulo de bibelôs de Lucrécia na estante, instalando uma
fantasmagoria de outra ordem, porque não se tratava agora da captação de edificações
relacionadas à amplificação do espaço, mas da contenção. Acúmulo de tralhas e excesso
da miudez, que tem a ver dessa vez com a miopia da personagem que capta o mundo de
modo limitado, melhor dizendo delimitado e sem ambiguidade. Como o realismo tosco
em que vive, e o projeto cegamente orientado para um só objetivo: casar com homem
que lhe desse amparo financeiro e a tirasse do subúrbio.
14
Dos trajes, fixo a imagem de Laura (“A imitação da rosa”), compactada no
vestido marrom, golinha de renda, e assim a coloco na cena final, contemplando o vaso
que contempla a emersão de sua loucura. E também flagro a própria autora, sempre
elegante, sempre se construindo bela, misteriosa e esfíngica para o clique fotográfico.
Matérias e materiais - exterioridades - criavam a ambientação; encarnavam o
contexto sociocultural; reiteravam a importância do espaço e, em geral, o
constrangimento das edificações; sugeriam semiocultos sentidos, lembranças, desejos;
sinalizavam remota, direta ou indiretamente, a discussão das formas, da beleza, da
feiura, da regularidade e da anomalia.
Um apelo adicional em direção ao objeto e ao espaço edificado foi observar a
“fisicalidade”11 (associada a propriedades do objeto e dos espaços construídos) criada
por operações metafóricas. Novamente, a escritora conhecida pelo olhar epifânico
parecia romper com o código estritamente visual e trazer o táctil, o gustativo, o sonoro.
A rede imagística construía a circulação entre o interno e externo, traduzindo, com força
e sutileza, emoções, afetos, marcas de gênero: a rapariga encarna-se nos objetos de uso
pessoal, seja no momento de escovar os cabelos (“o pente trabalhava meditativo”), seja
quando “colérica, fechou-se dura como um leque”.
Os objetos e seus pesos, volumes, densidades e solidez foram dispostos nas
cenas, tornando-se ora pontos de apoio, ora sínteses de um estado de espírito, ora
cúmplices e motivadores de ações e revoluções internas dos personagens. A instância
narrativa é permanentemente movida pela “desorganização profunda”. A mesma que faz
G.H. tentar reaver a terceira perna imaginária. Perna e tripé: os dispositivos internos
apresentam tal densidade que parecem sólidos, têm força e peso. A personagem se vê
“esmagada pelo acaso”. O esforço de uma vida para “caber num sistema” se confronta
com o “inesperado tremor de linhas”. A ida ao quarto de empregada, um “império”,
desmonta “todo um sistema de bom” e a deixa livre para “a falta de estética” e
abandono da segurança simbolizada em objeto pessoal que ostenta propriedade: “no
couro de minhas valises as iniciais G.H., e eis-me”.
Na ficção clariciana, portanto, a seleção e alocação dos objetos e a configuração
do espaço físico participam da trama e suportam, muitas vezes, como os fios
11
Fisicalidade: aspecto físico, corporalidade. A fisicalidade implica o corpo, compreendido como forma
sensível, que age, reage e atua; ser espacial, que reclama um campo de ação.
15
empalidecidos de um tear, o desenvolvimento dos temas segundo parâmetros muito
próprios. São “presenças”, no sentido que lhes atribui Gumbrecht:
A palavra ‘presença’ não se refere (pelo menos, não principalmente) a
uma relação temporal. Antes, refere-se a uma relação espacial com o
mundo e seus objetos. Uma coisa ‘presente’ deve ser tangível por mãos
humanas – o que implica, inversamente, que pode ter impacto imediato
em corpos humanos. Assim, uso ‘produção’ no sentido da sua raiz
etimológica (do latim producere), que se refere ao ato de ‘trazer para
diante’ um objeto no espaço.12 (GUMBRECHT, 2010:13)
A “produção de presença” envolve eventos e processos nos quais “se inicia ou se
intensifica o impacto dos objetos ‘presentes’ sobre corpos humanos.” (p.13) Quando
surge uma fricção ou um estranhamento resulta uma experiência (no sentido
benjaminiano13) fascinante e aterrorizadora: mostra-o a contemplação do caroçocérebro, para Ana, extasiada no Jardim Botânico. Objetos que habitam um lar habitam
as pessoas e repentinamente provocam. Do mesmo modo, espaços edificados e entornos
se definem como corpos, e podem se alargar em paisagens14.
O último fator que animou a decisão de tomar a materialidade como guia
interpretativo tem a ver com o conceito de punctum – a possibilidade de fixar algum
ponto inadvertido, no caso, os objetos, e torná-lo alvo de uma visada diferente. O
semiólogo Roland Barthes (1980)15 identifica dois modos de recepção da fotografia.
Studium – grosso modo, estudo – refere-se ao interesse geral do leitor/ espectador, seu
conhecimento adquirido, de ordem mental. O punctum, a ele complementar, é da ordem
inconsciente, subjetiva, emocional. É o que o Spectator acrescenta “à foto o que, no
12
GUMBRECHT, Hans. Produção de Presença. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC. Rio de Janeiro,
2010.
13
“Na verdade, experiência é matéria da tradição, tanto na vida privada quanto na coletiva. Forma-se
menos com dados isolados e rigorosamente fixados na memória, do que com dados acumulados, e com
frequência inconscientes, que afluem à memória”. Já a vivência (Erlebnis) se constitui de “dados
isolados” “rigorosamente fixados na memória.” BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no
auge do capitalismo. Tradução Alves Baptista, H. In: Obras escolhidas III. São Paulo: Brasiliense,
1994.p. 105.
14
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o Invisível. São Paulo, Perspectiva, 1984. Entre sujeito e
objeto um terceiro elemento, resultante da correlação de ambos, dinâmico e tenso. Alarga-se o campo de
visibilidade, ao mesmo tempo “visível e tangível”: “os corpos pertencem à ordem das coisas assim como
o mundo é a carne universal” (p.134;33). “A Carne do Mundo é o entrecruzamento do visível e invisível,
dizível e indizível, pensável e impensável; não é um pleno maciço, mas paradoxalmente poroso, “fissura
que se preenche ao cavar-se e que se cava ao preencher-se.” CHAUÍ, Marilena. Merleau-Ponty: a obra
fecunda.
In:
Revista
Cult.
123,
Abril/2008.
Disponível
em:
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/merleau-ponty-a-obra-fecunda/
15
BARTHES, Roland. Câmara Clara. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. Ele parte da tríade fotógrafo
(Operador), espectador (Spectator) e fotografado (Spectrum).
16
entanto, já está lá” (p.32); “essas marcas, essas feridas são como pontos”, o que “me
punge (mas também me mortifica, me fere).” Inesperadamente.
E aqui retomo Candido, para quem a marca “dos anos 60 e sobretudo 70 foram
as contribuições de linha experimental e renovadora, refletindo de maneira crispada, na
técnica e na concepção da narrativa, esses anos de vanguarda estética e amargura
política”16. Ele se detém em Clarice Lispector:
Ela é provavelmente a origem das tendências desestruturantes, que
dissolvem o enredo na descrição e praticam esta com o gosto pelos
contornos fugidios. Decorre a perda da visão de conjunto devido ao
meticuloso acúmulo de pormenores, que um crítico17 atribuiu com
argúcia à visão feminina, presa ao miúdo concreto. (1987:210) [grifos
nossos]
“Pormenores”. “Miúdo concreto”. Na ficção, o trabalho da escrita cria
estratégias de disfarces e apagamentos. Assim como o personagem, o objeto é entidade
fictícia e, no universo clariciano, não se mostrará de corpo inteiro, não dirá de pronto a
que veio. Aos poucos o leitor, orientado pela rede discursiva e por sua bagagem pessoal,
perceberá os objetos postos em cena e as demarcações espaciais “como que” por acaso.
De súbito se projeta o espaço construído, constituído e visível, tornado transparente pelo
costume, tal qual o grão que adere à pele. Aparentemente do nada, as paredes da casa
desmoronam ou mostram na janela um buraco em ruína. O movimento entre o concreto
e o subjetivo fica exposto. Esta compreensão ou este insight, sim, pode se dar de relance
durante a leitura.
Os pesos e as dilatações (apequenar-se /comprimir-se ou hiperbolizar-se) passa a
ganhar um sentido específico neste trabalho. O mundo ficcional tem leis próprias,
internas às coordenadas estabelecidas pelo autor, ou seja, “só há um tipo de personagem
eficaz, a inventada”
18
(CANDIDO, 1972:69). E o objeto romanesco faz parte desse
jogo, promovendo encenações mais - ou menos - visíveis. Não por acaso ela dera o
nome de Objetos gritantes ao livro que acabou se chamando Água Viva.
Esse conjunto de evocações me pareceu suficiente para aceitar a pertinência de
uma leitura pelo prisma escolhido e prosseguir.
16
CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática. 1987.
Cândido se refere, provavelmente, a Gilda de Mello e Souza, que interpretou, numa perspectiva
sociocultural, a perspicácia da escritora para detalhes ínfimos como um tipo de percepção da realidade
relacionada a gênero, ou seja, a observação a curta distância da dona de casa, condicionada pelo espaço.
18
CANDIDO, Antonio. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972.
17
17
1.2. OLHOS QUE SE EMPRESTAM E LIVROS QUE ME OLHAM
Setenta anos passados desde o primeiro romance publicado por Clarice Lispector
acumulam extensa quantidade de estudos sobre a escritora, com espectro plural e
abordagens de muita qualidade. Prevalecem discussões sobre a linguagem inovadora, as
dimensões filosófica, psicológica, biográfica, mística, étnica (judaica), e a questão do
feminino. Em cada abordagem intervêm a bagagem do intérprete, as perspectivas e
condições de produção do texto crítico e a compreensão do que seja literatura.
Qualquer fortuna crítica sobre um escritor será provisória, terá uma historicidade
e uma marca autoral. Conforme o responsável por constituí-la (seu ponto de vista, sua
meta, o contexto histórico e suas perspectivas de leitura) variam os critérios de seleção e
ordenação. Por isso mesmo, no momento de estabelecer quais seriam as interlocuções
mais proveitosas num estudo com o recorte aqui proposto, foi necessário recuar e fazer
um balanço prévio de outros autores e obras que contribuíram para o meu modo de ler.
Um miniconto de Eduardo Galeano deve esclarecer melhor o que proponho:
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff, levou-o
para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar,
estava do outro lado das dunas altas, esperando.
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de
areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus
olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o
menino ficou mudo de beleza.
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando,
pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar! (p.15)19
Há vários modos de tomar emprestados os olhos de alguém. Creio mesmo que
toda a literatura é isso. Creio mesmo que todo aprendizado é isso. Tomo o verbo
“emprestar”20 como dádiva, cessão de algo por algum tempo, sem quaisquer ônus. A
passagem do olhar para o ver é mais do que um suplemento técnico. Especialmente para
quem lida com a literatura e as artes, a condição a princípio provisória do empréstimo
torna-se permanente, porque impulsiona sucessivos movimentos interpretativos. Novos
empréstimos, novas construções.
Alguns dos autores que estarão presentes ao longo deste estudo pelo modo como
entendem e interpretam o texto literário são Antonio Candido, Mikhail Bakhtin, Roland
19
GALEANO, Eduardo. “A função da arte/ 1”. In: O livro dos abraços. Tradução de Eric Nepomuceno.
Porto Alegre: L&PM, 2000. p.15
20
Do latim praestare, “estar na frente de, abrigar, garantir”, de prae-, “à frente”, mais stare, “ficar de pé”.
18
Barthes, Walter Benjamin e Silviano Santiago. Em comum, todos transitam em mais de
uma área de conhecimento e todos escreveram sobre literatura e cultura.
Noções
fixadas por eles indicam diretrizes na interpretação dos textos da escritora, à luz dos
objetos e do espaço edificado: o elemento social e a historicidade, observados como
parte da construção artística;
o discurso como mosaico de citações; as diferentes
instâncias ocupadas por um “eu” multiplicado; a aliança entre “história” e “crítica”,
“corpo”, “desejo” e “prazer”.
Esse chão teórico abre um espaço confortável para convocar a antropologia, os
estudos de comunicação e as artes visuais, interlocuções mais recentes com a literatura
e, por isso, menos estabelecidas e reconhecidas. Trata-se de diálogo: em primeiro plano
está a literatura; longe qualquer lastro positivista, não se toma o projeto criativo como
documento testemunhal, algo que, já se sabe, não valeria nem mesmo para uma matéria
científica. Os objetos e espaços edificados são em primeiro lugar ficcionais; através
deles a autora discute o homem moderno e pós-moderno – a fratura na comunicação, a
mercantilização de valores, a subjugação da mulher, a infância e a velhice. O objeto,
mesmo em dispersão, se expõe em articulações com o corpo e o espaço, nos gestos, nas
ações dos personagens, sugerindo uma forma de observar a construção do universo
ficcional.
A escolha desses nomes (há muitos outros) indica, antes de mais nada, uma
postura do leitor em relação ao texto. O modo de apropriação da obra, por cada crítico, é
uma bússola para balizar seus modos de ler. A título de exemplo, cabe situar a
divergência entre as perspectivas de Luiz Costa Lima, que não está na lista, e de
Candido. Este último, como já visto, identificou de pronto o aporte da escritora para a
literatura brasileira. Tanto em “No raiar de Clarice Lispector” (1943), quanto na
releitura feita meio século depois, refere-se ao novo equilíbrio estabelecido por ela entre
tema e palavra:
Naquele momento, 1943, alguns perceberam que Clarice Lispector
estava trazendo uma posição nova, diferente do sólido naturalismo
ainda reinante. Diferente, também, do romance psicológico e, ainda da
prosa experimental dos modernistas. A jovem romancista ainda
adolescente estava mostrando à narrativa predominante em seu país que
o mundo da palavra é uma possibilidade infinita de aventura, e que
19
antes de ser coisa narrada a narrativa é forma que narra. (apud. NUNES,
21
1988: XIX).
Já Costa Lima (1968; 1970), que tanto vem contribuindo para o refinamento
teórico do conceito de ficção, demonstrou em relação a Clarice uma perspectiva similar
à que adotou para Mario de Andrade22, em Lira e Antilira (1968): cobra de ambos o
fato de não se encaixarem em modelos prévios do que ele entende por romance ou
poesia, criando uma camisa-de-força. Uma vez que Lispector não corresponde ao
paradigma por ele propugnado, a desarticulação do real resulta-lhe inverossímil, fruto
de excessiva subjetividade: “obra de pouco fôlego por efeito da sua desarticulação com
a totalidade de realidade e termina por esmagar personagens e matéria novelesca”
(1986:533). Regina Pontieri faz uma boa avaliação sobre a abordagem de Lima:
o crítico via mais uma contista do que um romancista, pois nessa
qualidade ela incorreria em erros básicos, comprometendo toda a
estrutura novelesca: a redução da realidade à subjetividade
intelectualizada, a última tentando preencher a falta da primeira. E a
consequente desarticulação entre a vivência subjetiva e o mundo. Disso
decorreriam o emprego frequente do jargão filosofante, de tipo
existencialista; um abstracionismo corrosivo; além da dificuldade de
apreensão mais ampla da historicidade.(PONTIERI:2001:57)23
Parece alocar o parâmetro de real em critérios externos à obra, senão conforme a
modelagem realista, pela forma que espera que o real seja posto. Partindo dessa
perspectiva, ficaria mesmo difícil considerar a “cultura material”, que ficaria como
adendo, não parte constituinte.
Seu parecer pouco se modifica quando faz a releitura da obra. O que ele tem por
negativamente subjetivo é visto de outro modo por Rosenfeld (1985), para quem esta
21
CANDIDO, Antonio. No começo era de fato o verbo. In: LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo
G.H. Edição crítica. Benedito Nunes (coordenador). Madrid, Paris, México, Buenos Aires, São Paulo,
Lima, Guatemala, São José da Costa Rica, Santiago de Chile: ALLCA XX/Scipione cultural, 1997.
22
Ler a propósito LAFETÁ, João Luiz. Figuração da intimidade: imagens na poesia de Mário de
Andrade. São Paulo: Martins Fontes, 1986. Cito um trecho, sobre o mesmo Lira e Antilira: “Um crítico
tão arguto como Luiz Costa Lima, por exemplo, deixa escapar aquilo que sem dúvida é o melhor de
Mário: ao centrar sua leitura no ponto-de-vista da linguagem poética referencial e anti-acariciante de João
Cabral de Mello Neto, toma como critério de valor uma suposta contundência que Mário não teria
conseguido sempre, devido aos resquícios de subjetivismo romântico que permanecem na sua poesia.
Ora, essa poética do referente parece apertada demais para medir a inquietude do modernista Mário de
Andrade (...)”. p.3. Ou ainda: CICERO, Antonio. Poesia e paisagens urbanas. In: Finalidades sem fim:
Ensaios de poesia e arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. pp. 14-30 “Aprendemos, de uma vez
por todas, não ser possível determinar nem a necessidade nem a impossibilidade –em princípio –de que a
poesia empregue qualquer forma concebível. Abriu-se para ela a perspectiva de uma infinidade de
caminhos possíveis, porém contingentes. O ‘gênero’ artístico revelou-se como apenas um conjunto
contingente de formas entre outros e perdeu toda a importância. O poema não se vale de direitos
hereditários ou prerrogativas de família.” p. 27.
23
PONTIERI, Regina. Clarice Lispector: uma poética do olhar. São Paulo, Ateliê Editorial, 2001.
20
técnica narrativa desmascara as coordenadas de espaço, tempo e causalidade, e por
Benedito Nunes, que a vê pertinente já que o “centro mimético é a consciência
individual enquanto corrente de estados ou de vivências.” 24(1995:13).
No âmbito dos estudos claricianos, se fixaram (na ordem alfabética) os nomes de
Antonio Candido, Benedito Nunes, Gilda de Mello e Souza, José Americo Motta
Pessanha, Lucia Helena e Roberto Corrêa dos Santos, além das três biografias sobre a
escritora, por Teresa Cristina Montero Ferreira (1999), Nádia Gotlib (2004) e Benjamin
Moser (2009), fontes inestimáveis, pela massa documental.
Evidentemente não foram estes os únicos interlocutores no desenvolvimento da
tese. Em relação a um ou outro aspecto específico, ou a determinada obra, dialogo com
Regina Pontieri (sobre Cidade Sitiada); Edgar Nolasco (sobre a reescrita dos textos e a
ficcionalização do biográfico) ou Berta Waldman (sobre judaísmo).
Não se fará, portanto, um balanço histórico de tudo o que se escreveu sobre a
autora, nem mesmo sobre os nomes destacados aqui. Eles serão invocados na hora
apropriada, ao longo do desenvolvimento do texto; inclusive, alguns já foram citados.
No decurso das interpretações, voltarão, e um ou outro autor não citado até agora será
chamado à discussão.
À título de
O conceito de interpretação postulado por Roland Barthes prevê um
entendimento dos princípios de organização do discurso como não linear, fragmentário
e aproximativo; diverso, portanto, do discurso pautado pelas noção de completude. Só
assim é possível postar-se diante de uma proposta como a que encaminho – atentar para
o “extremo/ ínfimo pormenor”
25
, tomado como eixo estimulador, que só faz sentido
articulado a outros segmentos textuais. Objetos fazem parte de escolhas feitas pela
autora, conscientemente ou não (pouco importa), e através deles instaura uma
possibilidade de diálogo com outros autores e artistas, alavancando temas ligados à
sociedade e cultura brasileiras e a modos de percepção e de expressão de afetos não
circunscritos ao olhar.
24
NUNES, Benedito. O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Editora Ática,
1995.
25
Expressão barthesiana, em S/Z.
21
Seria contrário à construção imaginária clariciana lê-la como se houvesse dois
mundos paralelos: o da ordem do abstrato e o do concreto; o da sensibilidade e das
emoções versus o das mentalidades e do intelecto, o aberto e o fechado. Uma
segmentação desse tipo vem associada a um sistema hierárquico e binário que redunda
no esvaziamento de valores simbólicos e afetivos do artefato26, e não o faz
necessariamente por achar pequeno, por exemplo, tomá-lo como uma crítica ao
consumo ou algo que o valha, mas por conceber idealmente uma subjetividade imune às
contingências e limitações materiais. Ela até opera com opostos, mas sempre
tensionados.
Objetos, em sua força simbólica acumulada e prospectiva, em sua proposta
artística ou em sua dimensão psíquica, (des)organizam o cotidiano de qualquer
indivíduo, seja ele miserável, burguês ou pequeno burguês; mulher ou homem; adulto,
idoso ou criança. Obliterar ou diminuir esses “detritos” como se fossem dejetos que
repugnam ou não merecem crédito em uma autora “refinada”, sofisticada, sutil, é como
roubar-lhe o direito à poeira, é mitificá-la e, sobretudo, ignorar que Clarice encampa o
sujo, o seco, o putrefato, o sórdido, o expelido, o nauseante. Ela não os teme. Similar
movimento ao de Walter Benjamin, que encontra em Baudelaire, pela alegoria, a
possibilidade de chegar ao rosto das coisas através de fragmentos, miniaturas do mundo.
Benjamin usou o residual, a sobra da história oficial para constituir outra imagem da
Europa do século XIX. História a partir do lixo da história.
A obra clariciana, por essa inscrição, estelar coloca a possibilidade de entender
seu (outro) jeito de fazer crítica social e cultural. Numa sociedade de poses, a obesidade
caricaturada na roupa grotesca choca o leitor pudico; numa cultura do dispêndio de
falação que mal encobre o vazio (“Feliz aniversário”), o lacônico e o silencioso se
convertem em contestação, e fazem desmoronar o aparato festivo. Os signos
comemorativos são preparativos para a ruptura que se dá, com a facada derradeira no
bolo de aniversário. Como não considerar, então, a circularidade entre sujeito e objeto
como um dos recursos de expressão para a experiência identitária, tema candente da
autora?
26
O “artefato” pressupõe a manufatura pela mão humana. Entretanto, quando utilizo o termo não distingo
o fato de ser ou não obra resultante de um trabalho humano. Na perspectiva de uma relação subjetiva do
indivíduo com as coisas, artefato equivale, neste trabalho, a “objeto”: um mineral ou uma concha, por
exemplo, levados para casa como adorno ou oferecidos como lembrança ou souvenir igualam-se ao
artefato, de acordo com a ótica da presente interpretação.
22
O rumo da investigação é a interpretação textual multidisciplinar; no caso,
estudos literários, antropologia, artes visuais e comunicação.
Estão incorporados
ensinamentos de Bakhtin, para quem o discurso é um espaço dialógico e o texto, uma
construção: sua “verdade” não deve ser buscada em referentes externos e inexiste o
sujeito cartesiano idêntico a si mesmo. Conforme propõe Roberto Corrêa dos Santos,
interpretação é “jogo de superfícies, transdisciplinar e solicitador.” (1989:7).
Para interpretar esses elementos, não excluo a dimensão biográfica na obra27,
que “se encontra com a verdade à medida que questiona as práticas da verdade”.
(LIMA, 1991:51). A obra ficcional se desenvolve através da persona desviando-se
sempre dela, possibilitando uma visão à distância, noutro espaço.
Com isso não
buscamos o ser biográfico da autora e, sim, o sujeito ficcional, sem, entretanto, abdicar
de uma perspectiva intertextual entre a produção ficcional e a não ficcional, agregando
cartas e colunas sociais femininas publicadas na imprensa nos anos 50 e 6028. Na vasta
epistolografia estimulada pela vida no exterior, a autora se abre com amigos e parentes
sobre questões pessoais, alegrias e aborrecimentos cotidianos; angústias relacionadas à
produção criativa e ao trabalho, em seu escopo mais imediato e prático - como regras de
sociabilidade; apreço por conforto; aquisição de bens, de mobília a livros por razões
muito pessoais; paramentos ligados a beleza, como roupa e maquiagem para uso
próprio ou para doação ou cuidados com a imagem externa.
Abordar a literatura em suas conexões sociais, culturais e artísticas, a partir de
bens físicos materiais e a partir de aportes teóricos de outros campos, não é apenas um
dizer a mais, já que a literatura não precisa de outras áreas para legitimá-la. Por esse
deslocamento, ou descolamento do terreno estritamente literário, se valoriza a própria
proposta de criação da escritora, com a convocação de operadores de leitura das artes
visuais, dos estudos de comunicação e da antropologia, acompanhando a arquitetura
fluida do texto e em movimentos andarilhos de seus personagens - o que pede, a nosso
ver, um tratamento prismático.
Tendo por foco o objeto e o espaço, a tese se organiza em sete capítulos.
Após a apresentação inicial, conceituo “objeto” e “espaço” na antropologia e nas
artes visuais e defino o modo como os termos serão operados na interpretação. Dada a
27
LIMA, Luiz Costa. “Pensamento nos trópicos”. In: Dispersa demanda II. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
p. 40-56.
28
Textos sob pseudônimo: Tereza Quadros, nos anos 1950, para a coluna "Entre mulheres", página inteira
do jornal Comício; e Helen Palmer, duas vezes por semana (1959 a 1961) no segundo caderno do Correio
da Manhã . Nos anos 60, ghost-writer da modelo Ilka Soares na coluna de moda do Diário da Noite.
23
exclusão do objeto ficcional como tópico de investigação durante o século XX, no
capítulo dois faço um apanhado histórico através da produção romanesca desde o século
XIX, tomando como referência a literatura francesa; apresento considerações históricas
sobre o objeto ficcional na literatura; e sigo rastreando o objeto na fortuna crítica sobre
a autora no Brasil, eximindo-me de fazer um trabalho enciclopédico, focando apenas
nos autores com quem estabeleço diálogo.
Nos capítulo três e cinco, detenho-me na observação dos objetos ficcionais, a
partir da divisão, proposta por Violette Morin, entre funcionais e biográficos,
sucessivamente. Dentre os objetos ditos funcionais privilegio refletir sobre aqueles
ligados a novas técnicas e tecnologias; dentre os biográficos, focalizo especialmente a
indumentária, e mais especificamente os usos do adereço chapéu pela idosa.
No
capítulo quarto, a que chamo de “Intermezzo”, trato da questão da dádiva.
No sexto capítulo, interpreto A paixão segundo G.H., em diálogo com o teatro, a
performance e a instalação. No sétimo e último capítulo trato do objeto do ponto de
vista da estrutura narrativa e do espaço, tomando por base o romance A cidade sitiada, e
encerro com algumas observações sobre objeto e coisa.
A releitura da obra confirmou a linha assumida e a hipótese de que o objeto ter
sido injustamente minimizado nos estudos sobre Clarice Lispector, o que deu abertura
para descobrir nexos menos estabelecidos que contribuam para o entendimento da
produção literária da autora.
Creio que o tópico objeto foi subestimado pela crítica ou alvo de pouca atenção
dos intérpretes de sua obra pelo fato de que, efetivamente, o objeto clariciano realmente
se apaga quando se tomam, como esquema de leitura, os parâmetros da literatura do
século XIX, época que consolidou o gênero romance, e com ele a abundância de
elementos decorativos e as descrições minuciosas de ambientes e roupas.
Espero que, ao final da leitura, o leitor se sinta motivado a observar a obra de
Clarice Lispector pelo prisma aqui proposto e perceba que a “cultura material” não
constitui um décor; em verdade move, mobiliza, demarca etapas narrativas, evoca e
participa das histórias. O processo de investigação levou a diferentes possibilidades de
abordagem, descortinando pertencimentos, filiações e associações inicialmente não
previstas.
24
2. OBJETOS EM SITUAÇÃO
2.1 OBJETOS NA ANTROPOLOGIA E NAS ARTES VISUAIS
Antes de interpretar textos da escritora, observando pontualmente como o objeto
opera em sua obra, faço alguns esclarecimentos iniciais para quem agora me lê e que se
referem à delimitação dos conceitos objeto e espaço, formulados mediante diálogo com
outros campos teóricos; ao motivo de não haver trabalhos críticos voltados para este
foco específico; ao modo pelo qual o aporte cultural, mediado pelo objeto, pode se
articular a interpretações sobre a escritora, já consolidadas, mas fundadas em outras
perspectivas.
Para delimitar conceitualmente o objeto tomo emprestadas reflexões que têm
sido desenvolvidas principalmente fora do campo literário, já que parte substantiva dos
estudos a respeito está concentrada nas artes visuais, pela quebra de paradigma
inaugurada com dadaístas, cubistas e surrealistas; e, na antropologia, por vertentes que
vêm se firmando desde o final do século XX, notadamente estudos dedicados ao
consumo, às emoções e a questões decorrentes da patrimonialização e salvaguarda de
bens materiais e imateriais.
Antropologia
O antropólogo José Reginaldo Santos Gonçalves ressalta que os objetos
constituem “sensivelmente formas específicas de subjetividade individual e coletiva”.29
Integram o cotidiano, a gestualidade, o ambiente público e doméstico. Ao comentar
critérios e modelos classificatórios no âmbito museográfico, indica o quanto seria
limitador e inexato tomá-los apenas como técnica de fabricação, invenção e
empréstimo; com vida social, seus significados ultrapassam o registro monetário: têm o
poder de “tornar visíveis e estabilizar determinadas categorias socioculturais,
demarcando fronteiras entre estas.” (2007:15). Além de marcadores de identidades
individuais e coletivas, contribuem decisivamente para a constituição e percepção
subjetivas.
Reconhecer esse fato traz novas perspectivas para a compreensão de
29
GONÇALVES, Reginaldo Santos. Teorias Antropológicas e Objetos Materiais. In: Antropologia dos
objetos: coleções, museus e patrimônios. Coleção Museu, memória e cidadania. Ministério da Cultura,
Rio de Janeiro, 2007.
25
processos pelos quais ficcionalizam-se memórias e identidades. Ele cita, através de Roy
Wagner, a percepção de Rainer Maria Rilke (em Elegias do Duíno): “os objetos nos
inventam”, assim como brinquedos “brincam” com crianças (2007:29).
Entendo, com o antropólogo indiano Arjun Appadurai30, que a cultura material
absorve a biografia social e cultural das coisas. E, com Anstett e Gélard31, que os usos
sociais dos objetos ultrapassam as condições físicas e técnicas, abrangendo o
econômico, o religioso, o político e o simbólico – historiam percursos, indicam
trajetórias, marcam diferenciações de gênero e de personalidade; instrumentalizam
modos de relacionamento e formas de expressão dos indivíduos. Como exemplo, o
vaso sem as pequenas rosas na casa de Laura e sua impossibilidade subjetiva em
transformar em dádiva as flores miúdas. Ao presentear a dona da casa que os receberá,
a ela e ao marido, para um jantar, a jovem senhora abdica de parte de si mesma. Seu
estado mental a impede de compartilhar as regras do sistema do dom, prática social de
cortesia. O vaso, em que se espelha, é erigido em monumento e ela, em estátua.
As atribuições de gênero aos objetos funcionam como sentidos
imanentes. Tais objetos se tornam emblematicamente sexualizados. Tal
imanência, no entanto, deve ser entendida como um resultado da prática
social, cotidianamente reiterada pela prática social, momento em que se
atribui o gênero aos objetos.32 (CARVALHO: 2008:44)
Para a antropóloga Véronique Dassié, em Objetos de Afeição: uma etnologia do
íntimo33, os “objetos lembrança” constituem uma ligação com o passado pela
“densificação” das emoções. Guardados em armários, cofres ou gavetas, às vezes
expostos em estantes ou sobre móveis, pertencem ao espaço doméstico e constituem um
hábito desvinculado da função prática, de qualidades estéticas ou ainda de mercado.
Não importa o material de que são feitos. É a espessura afetiva que conta e, através dela,
o indivíduo cria sua “epifania doméstica” (2010:6). O escritor francês Georges Perec,
que também trouxe para a literatura a discussão sobre o objeto, dá um depoimento de
caráter autobiográfico sobre o potencial da inscrição memorialística, a que ela se refere:
30
APPADURAI, A. A vida social das coisas: a mercadoria sob uma perspectiva cultural. Niterói :
EduFF, 2008.
31
ANSTETT, Elisabeth; L. GÉLARD, M. Les Objets ont-ils un genre ? Culture matérielle et production
sociale des identités sexuées, Paris : Armand Colin, 2012. collection « Recherche ».
32
CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura
material. São Paulo: Editora da USP/ Fapesp, 2008.
33
DASSIÉ Véronique. Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime. Paris : Éditions du Comité des
travaux historiques et scientifiques, 2010. É doutora pela École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS) e pesquisadora associada no Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la
culture.
26
O tempo que passa (minha História) deposita resíduos que se
amontoam: fotos, desenhos, corpos de canetas de feltro há muito tempo
ressecadas, pastas, garrafas descartáveis e garrafas retornáveis,
embalagens de charutos, caixas, borrachas, cartões postais, livros,
poeira e bibelôs: é o que chamo de meu tesouro.34 (PEREC, 1974:51).
Essa perspectiva descarta a dicotomia sujeito e objeto enquanto exterioridades,
domínios separados, a favor da interiorização do objeto pelo sujeito; a partir daí se forja
uma relação mutuamente constitutiva, que engendra uma ação silenciosa35. Através do
objeto, pensamento e memória corporais se associam a condutas motoras, podendo criar
estereótipos gestuais e motrizes que compactam, simplificam e rotulam experiências
acumuladas – um ponto a ressaltar “no amplo e heterogêneo debate interdisciplinar que
o campo da cultura material nos oferece”.36 (CARVALHO:2011)
Numa via de mão dupla, recentes práticas antropológicas ligadas ao processo de
inventário do patrimônio imaterial possibilitam a fabricação de um ‘corpo’ (de textos e
imagens) e a delimitação de ‘lugares’ (de memória) a partir dos quais os referentes
culturais ditos "imateriais" vêm se inscrever, ou seja, cria um campo material correlato,
como dois lados da mesma moeda. A “cultura material” resulta de um processo de
formação de diversas modalidades de autoconsciência, individual ou coletiva
(GONÇALVES, 2007:8) na interação da pessoa com o entorno, o que convoca a
abordagem interdisciplinar.
Artes visuais
A obra de Lispector abre possibilidades de diálogo com diversas manifestações
artísticas: o teatro que suspende o olhar contemplativo pacífico ou que amplia a
perspectiva, em escala e dimensão (“Temos que nos exercitar para um ato visual
34
PEREC, Georges. Espèces d'espace.Paris: Galilée, 1974. «Le temps qui passe (mon Histoire)
dépose des résidus qui s’empilent: des photos, des dessins, des corps de stylos-feutre depuis
longtemps desséchés, des chemises, verres perdus et des verres consignés, desemballages de
cigares, des boîtes, des gommes, des cartes postales, des livres, de la poussière et des bibelots:
c’est ce que j’appelle ma fortune.»
35
Daniel MILLER (Apud CARVALHO: 2011) chama de “humildade dos objetos” a propriedade de
serem muitas vezes quase invisíveis, pelo alto grau de sua incorporação na vida do individuo, ao ponto de
passar a funcionar como molduras normativas silenciosas.
36
CARVALHO, Vânia Carneiro de. Cultura material, espaço doméstico e musealização. Varia hist.,
Belo
Horizonte,
v.
27, n.
46, Dez.
2011.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752011000200003&lng=en&nrm=iso>.
Access on 9 Mar. 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-87752011000200003.
27
complexo”, conforme propôs Brecht37) e a música dodecafônica (em A hora da estrela
ela cita nominalmente Schönberg38, que rompe com os intervalos usuais das escalas e
com as divisões temporais formadoras do ritmo) são algumas delas. Escolho conversar
com as artes visuais e performáticas, por situarem de forma imediata objeto e espaço
num campo relacional e pelo aproveitamento e inserção do objeto cotidiano em suas
obras. Importante sublinhar de antemão (e aproveito o comentário de Roberto Corrêa
dos Santos sobre cinema e literatura) que literatura e artes visuais consistem em
linguagens diferentes: “As coincidências entre os dois processos são, em verdade, muito
mais de intenção (ambos os discursos pretendem mostrar) que de recursos, já que
cinema e literatura trabalham com diferentes modos de linguagem.” (SANTOS,
1986:49). Por outro lado, a diferença não impossibilita que o leitor ative conexões.
Ainda com Santos, a propósito da leitura intertextual: “toda escritura é leitura de outras
escrituras: das escrituras que formam uma literatura, das escrituras que formam uma
cultura. A cultura já é por si um choque de textos e de leituras.” (idem:84,85)
Do ponto de vista histórico, Clarice Lispector esteve em sintonia com debates
emergenciais sobre a representação e sobre a função do artista na sociedade, envolvendo
muitos amigos que integravam o circuito que frequentava. Empenhavam-se em refutar
a mimese realista e propunham o envolvimento integral, e não só dos olhos, no processo
de criação e na interlocução do espectador com a obra. Lygia Clark, por exemplo,
dedicou-se ao estudo do espaço e da materialidade do ritmo, libertando a pintura da
moldura, ampliando a extensão do espaço pictórico e mesmo contestando o suporte
tradicional. Com a série “Bichos” (1960) e uso de dobradiças permitindo diferentes
possibilidades formais, convidava o público a ser cocriador.
Atenta à conexão entre arte e vida, ao preço que fosse, diversas vezes Lispector
contestou a sacralização da Arte e da Literatura, com maiúsculas. Não obedeceu a
receitas, aceitou desafiar cânones e convenções, assim como invocou a legitimidade de
sujar as mãos praticando a antiliteratura.39 Foi uma preocupação constante da escritora,
37
BRECHT, Bertolt. Os Títulos e as Telas. In: Estudos sobre o Teatro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1978. p. 26.
38
Arnold F. W. Schönberg (Viena, 1874; Los Angeles, 1951): compositor e pintor, criador do
dodecafonismo, estilo que revolucionou a música e o método composicional no século 20.
39
Antiliteratura: termo proposto pelo surrealista David Gascoyne em 1935 para descrever a literatura que
assumidamente transgride convenções. A noção aparece também ligada ao nouveau roman de Alain
Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute e Michel Butor, na década de 1950, referindo-se à literatura
inconformista em todas as formas particulares de expressão (anti-teatro/anti-drama, anti-poesia ou anti 28
não só em suas últimas obras, como a conhecida frase de Onde estivestes de noite: “Meu
jogo é aberto: digo logo o que tenho a dizer sem literatura. Este relatório é a
antiliteratura da coisa” (1974:80). Em 1957, elogia o romance O encontro marcado, de
Fernando Sabino nos seguintes termos: ''O livro todo parece filmado em luz de rua, sem
maquillage. Por isso, dá às vezes a impressão desconcertante de falta absoluta de
‘literatura’ - e então se sente que este é o modo até sofisticado (sofisticado como
contrário de naïve [sic]) de literatura.” (Lispector; Sabino, 2001:188)40. O encanto – e a
defesa – do livro segue uma lógica parecida à que pautou o ready-made: ganha valor
aquilo a que em geral não se atribui valor nenhum.
O assunto em pauta nos anos 60 eram práticas artísticas que levassem o
espectador/leitor a sair da impassibilidade; segundo Sueli Rolnik:
Libertar o objeto de arte de sua inércia formalista e sua aura
mitificadora, criando “objetos vivos”, nos quais se entrevê as forças, a
processualidade incessante, a potência vital que tudo agita. Misturar
materiais, imagens ou mesmo objetos extraídos do cotidiano aos
materiais supostamente nobres da arte. Libertar o espectador de sua
inércia anestesiadora, seja através de sua participação ativa na recepção
ou na própria realização da obra, seja através da intensificação de suas
faculdades de percepção e cognição. Libertar o sistema da arte da
inércia instaurada por seu elitismo mundano ou sua redução à lógica
mercantilista, expondo ou criando em espaços públicos, ou abrindo seus
próprios espaços a outros públicos41. (ROLNIK, 1999:2)
Escolhas formais e textos que Lispector dedicou a artistas a ela contemporâneos
revelam afinidades que ajudam a entender fundamentos de sua construção ficcional e
seu empreendimento criativo: a contestação da crença na apreensão fidedigna do real, a
desconfiança quanto à soberania da voz autoral a subversão nas relações com o espaço
edificado. Fixo-me neste último ponto – o espaço e seu entorno – que será
especialmente estudado adiante na obra A paixão segundo G.H., do ponto de vista das
provocações suscitadas pelas instalações nos anos sessenta, enquanto expressão
tridimensional que demanda, entre outros, o deslocamento e uma nova percepção dos
objetos cotidianos. Pode-se antecipar a cena de isolamento de G.H., que se converte em
romance). Apud: CEIA, Carlos: Anti-literatura. In: E-Dicionário de Termos Literários (EDTL). Coord. de
Carlos Ceia. Disponível em: http://www.edtl.com.pt>, consultado em 17 de dezembro de 2014.
40
SABINO, Fernando, LISPECTOR, Clarice. Cartas perto do coração. Rio de Janeiro: Record, 2001.
41
ROLNIK, Sueli. Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia Clark. In: The
Experimental Exercise of Freedom: Lygia Clark, Gego, Mathias Goeritz, Hélio Oiticica and Mira
Schendel. The Museum of Contemporary Art. Los Angeles, 1999.
29
solidão de G.H., desatando uma febril releitura da geografia de seu apartamento e de
objetos cujo único sentido é a exibição social da autoimagem. Memórias imaginadas
materializadas na edificação são abaladas quando G.H. re-vê a construção e localização
do quarto de empregada:
O quarto divergia tanto do resto do apartamento que para entrar nele era
como se eu antes tivesse saído de minha casa e batido a porta. O quarto
era o oposto do que eu criara em minha casa, o oposto da suave beleza
que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de viver, o
oposto de minha ironia serena, de minha doce e isenta ironia: era uma
violentação das minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação
de mim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. (1974:48)
Por enquanto, entretanto, fixo apenas as imagens da compressão e de dilatação
espacial, como uma sanfona apertando e expandindo os pulmões, afetando o indivíduo
“por dentro” - é um recurso ficcional recorrente na escritora, que costuma fazer com que
a personagem, em geral alguém habituado à rotina, tenha abalada a montagem espacial
em que vive ou por onde transita. A rigidez das rotas e cenários funciona como uma
espécie de túnel de via única, um segundo corpo superposto, uma armadura contra
surpresas, impulsos, desejos íntimos e vocações internas. Do mesmo modo, fará com
que algum elemento adquira função inesperada, atropele, e, ao interferir na concepção
do espaço, roube a bússola diária e instale o caos. Como a cortina acomodada à janela
que, ao balançar, traz uma provocação à parede vazada; provocação que se desdobrará
no saco de tricô rompido e no grito da personagem Ana, do conto “Amor”, de Laços de
Família. Como a casca quebrada de um ovo ainda com vida.
A suspensão de delimitações físicas e psíquicas acaba colocando a
espacialização, mais do que o espaço, no centro do processo criativo clariciano. Em
momentos de crise, o espaço desventra a “paisagem imaginada” que carrega dentro de
si, em latência. São abaladas as fronteiras demarcatórias que tentam impedir qualquer
instabilidade. Esta ação de mudança afeta o corpo a ponto de imobilizá-lo muitas vezes:
será o momento em que veias e órgãos e pele são captados como matéria consistente. O
fenômeno se dá também na relação do escritor com seu espaço de escrita, em seu desejo
de exceder e transformar, desde a colocação de palavras sobre o papel (ela inicia A
paixão segundo G.H. gaguejando com travessões); as mudanças nos textos de acordo
com o veículo de comunicação (retrabalha-os conforme saem na imprensa ou em forma
de livro); o recurso a elementos gráficos e a ideia de vazio textual.
30
Esse estágio de experimentação e de confronto do espaço como lugar de
memória, receptáculo do esquecimento, não aponta necessariamente para a redenção ou
mudança na estrutura social ou nos esquemas domesticados de sobrevivência. A
propósito, uma fábula de Kafka, autor que também fez das paredes uma discussão sobre
a condição humana:
Ah, disse o rato, “o mundo torna-se cada vez mais estreito. A princípio
era tão vasto que me dava medo, eu continuava correndo e me sentia
feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita, à esquerda,
as paredes, mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para
a outra, que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a
qual eu corro”. – “Você só precisa mudar de direção”, disse o gato, e
devorou-o.42 (2002:34)
Se outros personagens do escritor tcheco sentem o peso da ordem social
encarnado em paredes que se transmutam em paredões (o homem-inseto de
Metamorfose; o Joseph K. diante do processo-labirinto), os de Clarice também se veem
encolhidos ou perdidos nos aposentos domésticos ou na largueza das avenidas.
2.2 O CORAÇÃO DO TIJOLO: UM TROPEÇO NA FILOSOFIA
A certa altura da pesquisa me deparei com um texto da poeta Marly de Oliveira,
que, além de amiga da autora, foi por muitos considerada sua primeira grande
intérprete43:
No cotidiano como no sem tempo da criação, Clarice pensava de forma
concreta. Uma coisa era sempre como outra, jamais uma abstração. A
singularidade de sua expressão corresponde, a meu ver, à singularidade
de sua visão do mundo, que persegue uma obscura forma de
conhecimento, que a liga mais às coisas que aos demais homens. Como
numa grande sinfonia os temas fundamentais se anunciam desde o
primeiro livro: a solidão condição do homem, que podemos considerar
sob dois aspectos, a condição pela dificuldade de comunicação com o
42
KAFKA, Franz. A pequena fábula. In CARONE, Modesto. Narrativas do espólio. São Paulo: Cia. das
Letras, 2002.
43
Clarice, junto com Manuel Bandeira, foi madrinha de casamento do embaixador Lauro Moreira com
Marly de Oliveira. Diz o diplomata: “Segundo relato da própria Clarice, seu amigo e escritor Otto Lara
Rezende telefonou-lhe então para dizer-lhe que ela havia finalmente encontrado sua intérprete, sua
exegeta…”. Ainda segundo ele, nos fins de semana passados com ela em Petrópolis e Teresópolis, viu
“nascer literalmente as primeiras passagens de A Paixão segundo G.H., ditadas pela autora a sua amiga
querida
e
grande
poeta
Marly
de
Oliveira.”
Disponível
em:
http://quincasblog.wordpress.com/2012/06/06/clarice-14-2. Acessado em 10 dez. de 2013
31
outro e a solidão pelo fato de se saber um e uno na essência.44[grifos
nossos](apud MOREIRA, Lauro: 2003)
A concretude, portanto, fazia parte do movimento de “aspiração à inconsciência”
(expressão de Marly de Oliveira), mola propulsora da escrita de Clarice, que encontra
diferentes formas de exprimi-la. Se assim é, por que não através do diálogo ou da
dinâmica do sujeito com o objeto e seu espaço, com coisas que se ignora ou a que se
apega para sobreviver, mas em qualquer caso não deixa de estar ali, murmurando?
Lembro-me, a propósito, do inesquecível documentário Murs Murs (em francês
sonoramente lido também como “murmures”, murmúrios), da realizadora Agnès Varda.
Dezenas de murais de Los Angeles filmados por uma francesa encantada com a cultura
visual da Califórnia, entremeados por depoimentos de artistas sobre suas pinturas.
Numa das tomadas, jovens dançam tendo por cenário as paredes pintadas, apresentando
ao espectador outra faceta da capital do cinema, mais chão a chão, mais colorida,
diversa, plural. Cidade contada pela transformação e pela apropriação do espaço público
urbano. As paredes, mais do que um suporte, dizem “com” o ruído dos carros e
passantes. Os artistas-cidadãos trabalham, livremente, as reentrâncias e as dimensões de
uma edificação pública provisoriamente deles, mas logo entregues à ação do tempo
(muitas não existem mais) e aos olhares itinerantes. Um estilo de vida, uma ética
coletiva e uma linha melódica das imagens, acentuada pelo ritmo da edição. O
documentário abraça uma manifestação artística com coordenadas culturais e sociais
específicas, e com ela traz temas existencialmente dramáticos e muito (claricianamente)
atuais, como o perecível, o vital, o fluxo, as ruínas, as memórias, o indizível.
De modo similar, a ebulição mística e a inquietação filosófica em Clarice
Lispector não dispensam os veículos pelos quais os personagens comunicam e se
comunicam, nem o contexto histórico, cultural e social em que vivem. Aliás - seriam
“apenas” meios o pires oferecido ao gato; a penteadeira que decora o quarto feminino;
as toalhas de mesa que se riscam com os dedos em momentos de tensão; a coleção de
bibelôs na estante; e os guarda-roupas sisudos, surreais? Mais que isso; desde que, como
quer a retórica, se tome médium ao mesmo tempo como modo, manifestação e veículo,
intermediação integrada à coisa, ao próprio processo cognitivo e perceptivo. Por vezes
44
OLIVEIRA, Marly. Perto de Clarice vinte e cinco anos depois. In: Moreira, Lauro. Sempre Clarice.
Disponível
em:
http://quincasblog.wordpress.com/2013/10/14/sempreclarice/.http://www.aresemares.com/index.php/materias‐especiais/sempre‐clarice‐de‐lauro‐
moreira‐embaixador‐brasileiro/ Acessado em 10 dez. de 2013.
32
esfumaçados ou postos na sombra, os objetos-presença têm peso emocional. Era essa a
ideia: uma poética das coisas na obra da escritora Clarice Lispector, que intui - e integra
a seu projeto criativo – o fato de que
cada indivíduo, cada grupo social veicula seu próprio sistema de
modelização da subjetividade, quer dizer, uma certa cartografia feita de
demarcações
cognitivas,
mas
também
místicas,
rituais,
sintomatológicas, a partir da qual ela se posiciona em relação aos seus
afetos, suas angústias e tenta gerir suas inibições e suas pulsões.45
(GUATTARI, 1992:21)
O objeto, portanto, pode estar ali a propósito de indicar o dilema da
comunicação; expressar a condensação e o deslocamento de “biografemas”46 da
personagem depositados nos subterrâneos do inconsciente (a ponto de emergir); revelarse agente e depositário de memória, entre outros. Complementando Pierre Nora47, para
quem “a atomização de uma memória geral em memória privada dá à lei da lembrança
uma intensa potência de coerção interior”, proponho que a memória pode eleger
depositar-se em artefatos, de forma aparentemente aleatória. (NORA, 1997:94)
Eis que a escritora dos estados mentais, do sensorial, da incerteza e da
inquietação sobre o ser captava-me a atenção pela via do “concreto”, da modelagem e
dos contornos que preservavam, continuavam, intensificavam ou mesmo antecipavam
as questões existenciais, além de constituírem elementos da construção ficcional – o
material não expulsava o sensível e eu queria entender como. Mais do que isso: de que
modo estabelecer uma trama relacional entre a lógica sensível e provocadora dos
objetos e os embates filosóficos, psicológicos ou místicos apontados pela crítica
(conceitos de má-fé, epifania, etc.)?
Sobre Perto do Coração Selvagem, Antonio Candido, em “O papel do Brasil na
nova narrativa”, afirma que a autora “mostrava que a realidade social ou pessoal (que
fornece o tema) e o instrumento verbal (que institui a linguagem) se justificam, antes de
45
GUATARRI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético.Tradução Ana Lúcia de Oliveira e Ana
Cláudia Leão. Rio de Janeiro: Editora 34: 1992.
46
Ao se imaginar escritor e morto, Roland Barthes (Sade, Fourier, Loyola. Lisboa: Edições 70, 1979) cria
o neologismo “biografema”. Queria que sua vida “se reduzisse, pelos cuidados de um amigável e
desenvolto biógrafo, a alguns pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: ‘biografemas’,
em que a distinção e a mobilidade poderiam deambular fora de qualquer destino e virem contagiar, como
átomos voluptuosos, algum corpo futuro, destinado à mesma dispersão!: em suma, uma vida com espaços
vazios [...].”(14,15) Em Câmara Clara refere-se ao biografema como “traço biográfico”. Ou conforme
Carlos Ceia: biografema é o “significante que, tomando um fato da vida civil do biografado, corpus da
pesquisa ou do texto literário, transforma-o em signo, fecundo em significações, e reconstitui o gênero
autobiográfico através de um conceito construtor da imagem fragmentária do sujeito, impossível de ser
capturado pelo estereótipo de uma totalidade”.
47
NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris, Gallimard, 1997.
33
mais nada, pelo
fato
de
produzirem
uma
realidade
própria,
com
a
sua
inteligibilidade específica”.
Este fato é requisito em qualquer obra, obviamente; mas se o autor
assume maior consciência dele, mudam as maneiras de escrever e a
crítica sente necessidade de reconsiderar os seus pontos de vista,
inclusive a atitude disjuntiva (tema a ou tema b; direita ou esquerda;
psicológico ou social). Isto porque, assim como os próprios escritores, a
crítica verá que a força própria da ficção provém, antes de tudo, da
convenção que permite elaborar os “mundos imaginários” (CANDIDO,
1987:206).48
Diante de obras desse vulto, a crítica é levada a “reconsiderar os seus pontos de
vista, inclusive a atitude disjuntiva (tema a ou tema b; direita ou esquerda; psicológico
ou social)”; por isso, não abdiquei de minhas impressões iniciais. A indagação que se
seguiu foi: por que segmentar o universo da escritora entre “o que interessa”, o sentido
“profundo” (em geral de teor filosófico ou psicanalítico) e as coordenadas
“superficiais”, relacionadas ao meio ambiente em que transitam ou vivem as
personagens e ao cotidiano delas?
A própria autora de certo modo satiriza essa polaridade ao questionar a divisão
de sua obra segundo o critério em nobre e não nobre:
Por que publicar o que não presta? Porque o que presta também não
presta. Além do mais, o que obviamente não presta sempre me
interessou muito. Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do
malfeito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno voo e cai sem
graça no chão.49 (1977: 127)
Do ponto estrito da crítica literária é fundamental contornar esta dicotomia. A
densidade espiritual e existencial da obra da escritora incentivou análises de matiz
místico-religioso ou filosófico (sobretudo Heidegger e Sartre), em interpretações de
José Américo Pessanha e Benedito Nunes. Mas este fato não implica excluir, a priori, a
materialidade, nos termos aqui definidos. Mesmo considerando que conceitos como
“matéria” e “forma” recebem tratamentos bem diversos no campo da Filosofia, há uma
questão anterior: trata-se da interpretação de uma narrativa ficcional e os objetos que
compõem o tecido textual são objetos significantes50, investidos de sentido simbólico.
48
CANDIDO, Antonio. A Educação Pela Noite & Outros Ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. São Paulo: Ática, 1977. P.127.
50
Metafísica entendida aqui conforme Gumbrecht: “uma atitude, quer cotidiana, quer acadêmica, que
atribui ao sentido dos fenômenos um valor mais elevado do que à sua presença material; a palavra aponta,
por isso, para uma perspectiva do mundo que pretende sempre ‘ir além’ (ou ‘ficar aquém’) daquilo que é
‘físico’”. GUMBRECHT, Hans. Op. Cit., 2010 p.14.
49
34
Parafraseando Roland Barthes (1987), quando afirma que “a cidade é um
discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala aos seus
habitantes, nós falamos a nossa cidade”51, os objetos também são discurso e esse
discurso é verdadeiramente uma linguagem. Daí a importância, ao propor um recorte
específico, como o que aqui se apresenta, não perder de vista a possibilidade de ser
articulado a questões pertinentes ao campo da Filosofia, Psicanálise etc.. Se tomo como
fio condutor o objeto, há soma, não descarte.
Avançarei um pouco, mas à distância, na seara filosófica ao esboçar algumas
reflexões sobre objeto e coisa. Mas não irei enveredar por um mergulho em Kant ou
Heidegger, que estão fora da minha alçada – parto de indicações internas aos textos
ficcionais, daquilo que designam por “coisa”, para explorar outras possibilidades de
interpretação do objeto, especialmente a indagação sobre a materialidade fora do objeto
e sobre a linguagem como materialidade, através de atos de nomeação. De forma
dramática, tem a ver com o peso do silêncio ou a neutralidade de uma barata; a
vocalização; a cogitação de uma memória sem linguagem, como o ritual de G.H.
incorporando a barata (o indiferenciado): “nem mesmo sei se vi, já que meus olhos
terminaram não se diferenciando da coisa vista”. A instância narrativa é movida pela
“desorganização profunda” que a faz buscar a terceira perna imaginária até o desenlace.
2.3 FORA DAQUI: A EXPULSÃO DOS OBJETOS
Certas realidades, corporificadas em coisas, sentem e querem, por efeito
da ilusão patética que anima os seres inanimados. Na guerra das coisas
está o conflito dos homens, simbolizados, materializados e objetivados
(...) o mundo exterior se realiza e se desenvolve fora do homem, como
se suas peças macaqueassem o homem, para o efeito de espancar o
subjetivismo. Objetiva-se o mundo, nas dobras do objetivismo, infiltrase e escorrega a ação humana, colada às próprias coisas, como
manifestações destas, friamente. (FAORO, 1974:41)52.
A MAQUINA DO PAI batia tac-tac… tac-tac… O relógio acordou em
tin-dlen sem poeira. O silêncio arrastou-se ZZZZZZ. O guarda-roupa
dizia o que ? roupa-roupa-roupa. (LISPECTOR, 1972:09)
51
BARTHES, Roland. Semiologia e urbanismo. In: A Aventura Semiológica. Tradução de Maria de Sta.
Cruz. Lisboa: Ed. 70, 1987.
52
FAORO, Raymundo. Machado da Assis: a pirâmide e o trapézio. São Paulo: Cia. Editora Nacional,
1974. p. 41.
35
Anos atrás me deparei com um artigo aparentemente despretensioso de Eduardo
Neiva53 (1997), a respeito de um estudo de Jean-Pierre Richard, chamado Proust et le
monde sensible54. Gostei e acabei adquirindo o livro, em que o autor analisa o modo de
percepção do escritor francês, em mais de um sentido assemelhado à sensibilidade
clariciana: “organização sensorial” e operação analógica que aproxima os campos
biológicos, zoológicos, físicos, estéticos, sociais, políticos e financeiros. Há um
comentário ao final do texto do articulista que interessa salientar, pois ajuda a costurar
alguns aspectos que interessam à tese. A título de conclusão, ele remete ao volume final
de Em busca do tempo perdido, quando o narrador contempla o calçamento de pedras
irregulares, para deduzir que o leitor seria encaminhado ao episódio inicial da
Madalena, fazendo “com que o tempo, os eventos, o toque dos sinos numa igreja
paroquial, os jardins, as casas, as cidades e as personagens desfeitas surgissem de sua
xícara de chá”55.
Mais do que a volta ao começo, e a propósito de Clarice Lispector, acrescento
que tal “magia” instala uma referência espiralada, ou em forma de teia. Não é cíclica,
não se trata de retorno mítico ao começo. Por efeito de caixa de ressonância, se
acumulam, em acorde, o repertório de signos da sociedade francesa finissecular. O
mineral inerte ao chão traz à baila múltiplas conexões com a geografia social e a cultura
da época; integra o ato de finalização da obra; e, ainda, remete ao espaço como lugar em
que histórias se constroem.
A evocação e a conjunção de tempos e espaços têm como veículo uma pedra,
que integra a formação de um piso, sendo, portanto, parte de uma construção humana.
Este procedimento romanesco acontece reiteradamente na obra. A reminiscência
53
NEIVA, Eduardo. Ler Proust. Fragmentos: Revista de Língua e Literatura Estrangeira da Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis. v,6, n.2, 1997, p.197-203. Disponível em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos/article/view/5915/5461
54
RICHARD, Jean- Pierre. Proust et le Monde sensible. Seuil, coll. "Poétique", 1974; "Points Essais"
no 208, 1990.
55
Original: « (...) je posai mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon
découragement s’évanouit devant la même félicité qu’à diverses époques de ma vie m’avaient donnée la
vue d’arbres que j’avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec, la vue des
clochers de Martinville, la saveur d’une madeleine trempée dans une infusion, tant d’autres sensations
dont j’ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m’avaient paru synthétiser. Comme au moment où
je goûtais la madeleine, toute inquiétude sur l’avenir, tout doute intellectuel étaient dissipés.(...) La
félicité que je venais d’éprouver était bien, en effet, la même que celle que j’avais éprouvée en mangeant
la madeleine et dont j’avais alors ajourné de rechercher les causes profondes. La différence, purement
matérielle, était dans les images évoquées. (PROUST, Marcel ProusT. À la recherche du temps perdu
XV Le temps retrouvé (Deuxième partie) Deuxième Parter, Chapitre Trois, page 5 La Bibliothèque
électronique du QuébecCollection
À tous les vents Volume 553: version 1.03
http://beq.ebooksgratuits.com/vents/Proust_A_la_recherche_du_temps_perdu_15.pdf
36
provoca indagações: por que o piso é o desencadeador? Por que a irregularidade? Por
que a sequência de eventos citados alinhava lugares e coisas? Uma pedra depositária de
significados pode ser base de uma edificação, mas não é “a” edificação. Para o narrador,
consiste em foco de armazenamento e propagação, podendo trazer de volta coisas,
pessoas e sensações. Além do mais, são muitas, irregulares, sobre o chão, indistintas
umas das outras. Até que, por um ato voluntário ou não, concentre e opere uma difusão
de todo o percurso de leitura até chegar a essa pedra fundante e fundadora.
Com este relato, e de forma transversal, inicio um breve histórico sobre o objeto
romanesco: a encarnação na linguagem literária de suportes fisicamente materiais, os
quais, mais do que objetos “cenográficos”, alinhavam conexões intertextuais, despertam
memórias e orientam a estrutura de uma obra. Por exemplo, a mesa-tribunal em que os
membros da família são colocados diariamente, como bonecos (possível cena de uma
pintura da canadense Marianna Gartner), sacudidos eventualmente por jovens que
tentam negociar a própria independência:
Ao redor da mesa, por um instante imobilizados, achavam-se o pai, a
mãe, a avó, três crianças e uma mocinha magra de dezenove anos. (...)
Nada havia de especial na reunião: acabara-se de jantar e conversava-se
ao redor da mesa, os mosquitos em torno da luz. O que tornava
particularmente abastada a cena, e tão desabrochado o rosto de cada
pessoa, é que depois de muitos anos quase se apalpava afinal o
progresso nessa família (...) (“Mistério em São Cristóvão”, in: LF,
1979:131)
- Ora a senhora diz que na mesa não se fala, ora quer que eu fale, ora
diz que não se fala de boca cheia, ora... (“Começos de uma fortuna”.
Idem, 1979:121)
Os objetos ficcionais podem se apresentar nas imagens sólidas e orgânicas dando
concretude a sentimentos e pensamentos (“quase se apalpava afinal o progresso dessa
família”); podem ser também a transmutação de um elemento da natureza em artefato,
pela ação humana e gestos a ele associados (como a pedra “do antes do aparecimento do
homem na terra”, que Clarice ganha de presente e passa a ser enfeite em sua casa56).
Isso tudo que, em suma, tem a ver com o próprio existir: “cada vida é uma enciclopédia,
uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode
56
LISPECTOR, Clarice. Descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1999, p.344. Publicada no
Jornal do Brasil em 22 de maio de 1971.
37
ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis”57.
(CALVINO, 1990:138) Interpenetram-se “o socius, as atividades materiais e os modos
de semiotização”.58
A história literária atesta a renitente vocação do objeto romanesco de ser
percebido em sua relação visceral com o real: ele instala confiança; cria um pacto com o
leitor, “associado na cultura e na linguagem à noção de objetividade, e, portanto, à
verdade das coisas”.59 (LEPALUDIER, 2004:13). Esta aliança salta aos olhos, já numa
primeira leitura, em narrativas folclóricas de substrato mágico. Ou naquelas orientadas
pelo padrão ficcional realista, que dá destaque imediato ao objeto. Balzac é o primeiro a
lhe conferir um papel quase igual ao dos personagens. Utiliza-o para manipulações;
captação do meio burguês; construção do universo referencial; meio de representação de
personagens, situando-lhes posição social e econômica, traços de caráter; jogo dos
desejos. Retratos físicos, descrições de vestimentas e do conjunto mobiliário tendem,
com o prolífico escritor e seus sucessores realistas, “a revelar, e ao mesmo tempo
justificar, a psicologia das personagens, da qual, às vezes, são signos, causa e efeito”.60
Também histórias infantis assimilam com facilidade a personificação de portas,
gavetas e pedras, que viram gente, conversam, tornam-se heróis, confidentes ou vilões
(Walter Benjamin, lembrando-se da infância: “A criança que se posta atrás do reposteiro
se transforma em algo flutuante e branco, num espectro. A mesa sob a qual se acocora é
transformada no ídolo de madeira do tempo [...]” 61); no realismo, objetos constituem
ingredientes essenciais à verossimilhança da trama e os autores se esmeram em detalhar
fisionomias, caracterizar espaços e sugerir pistas para, aos poucos, dali surgir o retrato
vivo, pulsante, de uma sociedade, uma época, um grupo social; no ramo do fantástico,
emanações do inexplicável aderidas a objetos aterrorizam e desequilibram a ordem
57
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Tradução Ivo Barroso. São Paulo:
Companhia das Letras:1990, p.138.
58
GUATARRI, Felix. Caosmose. Rio de Janeiro: Editora 34: 2006, p.127.
59
LEPALUDIER, Laurent. L'Objet et le récit de fiction. PU Rennes (Interférences), 2004 p.179-188
60
GENETTE, Gérard. Figures II. Paris: Seuil/ Points, 1969, p. 59: «à révéler et en même temps à justifier
la psychologie des personnages, dont ils sont à la fois signe, cause et effet» ; « Les portaits physiques, les
descriptions d’habillements et d’ameublements tendent, chez Balzac et ses successeurs réalistes, à révéler
et en même temps à justifier la psychologie des personnages, dont ils sont à la fois signe, cause et
effet».(p.157)
61
BENJAMIN, Walter. Esconderijos. In: Rua de Mão Única: Obras escolhidas. Tradução de R.
Rodrigues Torres Filho e J. C. Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010. p.91
38
aparentemente natural das coisas; no realismo mágico ou maravilho62 (como de certo
modo na ficção científica) “as coisas têm vida própria (...) tudo é questão de despertarlhes a alma”, diz o cigano Melquíades, em Cem Anos de Solidão.63 A narrativa
fantástica o utiliza como veículo de adesão automática do leitor a fenômenos
inexplicáveis, como se a simples menção ou a breve descrição de objetos, mesmo os
menos verossímeis, garantisse o elo com o real, podendo fazê-los se passar por
autênticos.
Não para aí.
Na literatura e no teatro do absurdo, a subversão dos usos rotineiros e das formas
dos objetos propõe a quebra da lógica e o elogio do inconsciente (objetos articulados
aos gestos unem-se à linguagem rarefeita, desestruturada, ou ao silêncio, como em As
cadeiras, de Ionesco, ou em Esperando Godot, de Beckett); no Nouveau Roman, a
neutralidade da voz narrativa e o controle da expressão subjetiva, numa perspectiva de
crítica social, destacam a degradação do utilitário na sociedade consumista e
acumulativa. Com o homem se tornando ele próprio objeto, destituído de sua
humanidade, fracassa a comunicação, apenas circulam informações. Pode estar
ironicamente denegado, “à revelia”, mas o objeto permanece ali (de imediato me ocorre
o conto “Circuito fechado”, de Ricardo Ramos, cuja temporalidade e coesão textual se
constroem pela sequência ininterrupta de objetos, que transformam o indivíduo numa
ilha entulhada de coisas).64 Mesmo invisível, empoeirado, inerte, pode se tornar pulsante
conforme o estado de espírito de quem o vê, sente ou toca. Daí a importância de
observar e entender o objeto eleito pelo autor, em cada obra.
62
Lembrando que Álvaro Lins classifica Perto do Coração Selvagem, “moderno romance lírico”, de
“realismo mágico”- “nas fronteiras entre o que existiu de fato e o que existiu na imaginação” (LINS,
Álvaro, Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1963 [1944]. p.188.
63
MARQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. Tradução Eliane Zagury. Rio de Janeiro: O Globo,
2003. p. 7. Original: “Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó
al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la
desesperación de los clavos y tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía
mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta
detrás de los fierros mágicos de Melquíades. “Las cosas tienen vida propia -pregonaba el gitano con
áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima.”
64
RAMOS, Ricardo. Circuito fechado. In: Circuito fechado. Rio de Janeiro: Record, 1978. O texto
começa assim: “Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma,
creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme
para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone, agenda, copo com lápis,
caneta, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis,
cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas,
vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio.”(pág. 9)
39
Prossigo, retomando o caso do surrealismo, que não o extinguiu, apenas
exacerbou a tendência iniciada no século XIX de estabelecer um laço profundo entre
objeto e personagem, e agregou contribuições da psicanálise, sobretudo a freudiana. O
objeto se insere no espírito apregoado pelo movimento já no primeiro manifesto: o
propósito de criar uma arte antirracionalista, libertária, motivada por pulsões
subconscientes.
No âmbito engajado do existencialismo, o objeto associa-se à coisificação.
Confrontam-se as ideias de liberdade de escolha, que seria própria ao ser humano, e de
objeto concebido para determinado fim e sem vontade própria. A existência,
contingente, poria o homem diante de possibilidades de mudança; já a essência, a ela
contraposta, equivaleria à morte. Tomar a consciência, ou a si próprio, como objeto,
fazer da contingência um “em si” resulta em má fé, pois não é fruto de escolha, já que o
objeto, este, sim, não tem e não pode ter consciência. O confronto com o outro, por sua
vez, é uma permanente ameaça à liberdade. Na visão sartriana, o cerne da luta é ir além
de olhar o outro como objeto, desmontar o sistema egocêntrico.
Daí os objetos
existencialistas serem investidos de conotação negativa, bestificadas; como em A
náusea, em que são larvas esbranquiçadas.
Quanto ao Nouveau Roman, cuja diversidade de manifestações torna a
designação vaga, destaco a observação de Barthes sobre o objeto “neorromanesco” de
um de seus ícones, Robbe-Grillet65:
O objeto de Robbe-Grillet não é composto em profundidade; ele não
protege um coração sob sua superfície (e o papel tradicional do literato
foi até agora ver, atrás da superfície, o segredo dos objetos); não, aqui o
objeto não existe além de seu fenômeno; ele não é duplo, alegórico; não
se pode mesmo dizer que seja opaco, pois seria encontrar uma natureza
dualista.66
65
BARTHES,
Roland,
Essais
critiques,
Paris,
Seuil,
1964,
p.33
http://www.ae‐
lib.org.ua/texts/barthes__essais_critiques__fr.htm
66
Em depoimento à Tel Quel, em 1961, mesmo livro: « En dépit du sentiment que l'on peut avoir d'une
certaine affinité entre les œuvres du Nouveau Roman, par exemple, et dont j'ai fait état ici même à propos
de la vision romanesque, on peut hésiter à voir dans le Nouveau Roman autre chose qu'un phénomène
sociologique, un mythe littéraire dont les sources et la fonction peuvent être aisément situées; une
communauté d'amitiés, de voies de diffusion et de tables rondes ne suffit pas à autoriser une synthèse
véritable des œuvres. Cette synthèse est-elle possible? elle le sera peut-être un jour, mais tout bien pesé, il
paraît aujourd'hui plus juste et plus fructueux de s'interroger sur chaque œuvre en particulier, de la
considérer précisément comme une œuvre solitaire, c'est-à-dire comme un objet qui n'a pas réduit la
tension entre le sujet et l'histoire et qui est même, en tant qu'oeuvre achevée et cependant inclassable,
constitué par cette tension. Bref, il vaudrait mieux s'interroger sur le sens de l'œuvre de Robbe-Grillet ou
de Butor, que sur le sens du « Nouveau Roman »; en expliquant le Nouveau Roman, tel qu'il se donne,
40
Não se aboliu o objeto da ficção, nem do imaginário. Ele acompanhou e
provocou mudanças históricas e artísticas. Foi e continua sendo ressignificado por cada
autor, cada obra, cada leitor67. O fato de não “estar a serviço” da descrição68 não
significa que não mais signifique.
“Adotar” objetos como bússola não é tampouco ignorar, como argumenta
Rosenfeld, “o fenômeno da ‘desrealização’ no campo da arte, que “deixou de ser
mimética, recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica,
sensível”(p.76), como se vê na pintura abstrata ou não-figurativa e na escultura. Todo
um contexto social, cultural, político e econômico afetou a humanidade e influiu nas
concepções formais: o objeto aparece dissociado ou ‘reduzido’ no cubismo; deformado
no expressionismo; ou eliminado no não-figurativismo. O retrato desapareceu69. A
realidade empírica,
no expressionismo, é apenas “usada” para facilitar a expressão de
emoções e visões subjetivas que lhe deformam a aparência; no
surrealismo, fornece apenas elementos isolados, em contexto insólito,
para apresentar a imagem onírica de um mundo dissociado e absurdo;
no cubismo, é apenas ponto de partida de uma redução a suas
configurações geométricas subjacentes. (ROSENFELD, 1976:76)
No século XX, procedimentos artísticos reunidos sob o nome de vanguarda se
apropriam de objetos para compor colagens e esculturas: os “objects trouvés” (objetos
encontrados), retirados do contexto habitual, são incorporados na criação de arte. É o
caso dos ready-made citados anteriormente: os elementos rearranjados dão origem a
uma obra que afeta o entendimento da arte, não mais vinculada a um procedimento
vous pouvez expliquer une petite fraction de notre société; mais en expliquant Robbe-Grillet, ou Butor
tels qu'ils se font, vous avez peut-être chance, par-delà votre propre opacité historique, d'atteindre quelque
chose de l'histoire profonde de votre temps : la littérature n'est-elle pas ce langage particulier qui fait du «
sujet » le signe de l'histoire ? »
67
Se tomo a literatura contemporânea brasileira, as narrativas não recorrem tanto ao expediente do
descritivo, mas não abolem coordenadas e simbolizações trazidas pela cultura material, o que se dá a ver
pelo viés etnográfico da obra (Nove luas de Bernardo de Carvalho); pela preocupação com a imagem na
sociedade contemporânea (o conto“O importando vermelho de Noé”, de André Sant’Anna, 1999); pela
assimilação da tecnologia (autoficcionalização blogueira de Cuenca); pela crítica à percepção naturalizada
nos quadros da modernização burguesa capitalista; pelo “retorno ao real” etc. Em Clarice, ele se exprime
em objetos e no espaço, através de breves apontamentos ou metonimicamente, como agente catalisador de
sentidos ou propulsor das ações internas e externas.
68
A descrição guarda até hoje a pecha negativa por influência da visão marxista de Lukács, pela qual a
narração induziria a um engajamento do leitor, ao contrário da descrição, que o destinaria a ser mero
observador.
69
ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o romance moderno. In: Texto e contexto. São Paulo:
Perspectiva, 1976.
41
técnico, mas a um pensamento, a uma atitude, a outro modo de produção e a uma
proposta interativa renovada.70
Especificamente em relação a Clarice, há um modo de operação ficcional que incita a
atenção do
leitor. Prestar atenção no insignificante, em superfícies, objetos que
circundam, pertencem ou referem a personagens é proceder a uma “leitura míope”,
tomando emprestada a sugestão de Gilda Mello e Souza (1963/1980)71 quando
caracteriza “a vocação da minúcia e o apego ao detalhe sensível na transcrição do real”
como próprias do olhar feminino, numa ordem social que reserva à mulher o território
da casa e da proximidade, fazendo com que coisas muito próximas adquiram “uma
luminosa nitidez de contornos”. Coisas no mais das vezes circunstanciais são unidades
significativas reveladoras da importância da “cultura material” na construção das
histórias.
Ligada aos objetos e deles dependendo, presa ao tempo, em cujo ritmo
se sabe fisiologicamente inscrita, a mulher desenvolve um
temperamento concreto e terreno, movendo-se como coisa num
universo de coisas, como fração de tempo num universo temporal. A
sua é uma vida refletida, sem valores, sem iniciativa, sem
acontecimentos de relevo, e os episódios insignificantes que a
compõem, de certo modo só ganham sentido no passado, quando a
memória, selecionando o que o presente agrupou sem escolha, fixa dois
ou três momentos que se destacam em primeiro plano. [grifos nossos]
(SOUZA, 1980:79)
Esse microscópio leva aos bastidores da questão de gênero. O repetitivo
cotidiano do lar tornaria a visão estreita, conforme modelo nuclear, patriarcal e burguês,
tornando a mulher ela mesma “coisa no universo das coisas”; mas, ao mesmo tempo, há
um aprendizado nessa lente de aumento, bem retratada no conto “Colheita”, de Nélida
Piñon72.
Conclui-se que, apesar de objeto e espaço desempenharem papel importante na
arquitetura da narrativa, em diversas modalidades de escrita e com diferentes intenções,
70
Como em “A noiva despida pelos seus celibatários, mesmo ou O grande vidro” que, segundo Octavio
Paz, é um enigma e, como tal, não é algo que se contempla, mas se decifra. Duas lâminas de vidro, uma
sobre a outra. Na parte superior, a figura abstrata da “noiva” e na parte de baixo outras figuras formadas
com cabides, tecidos, etc., e uma engrenagem. PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou Castelo da Pureza.
São Paulo: Perspectiva, 1997 p. 19.
71
SOUZA, Gilda de Mello e. O Vertiginoso Relance. In: Exercícios de Leitura. São Paulo: Liv. Duas
Cidades, 1980. O texto trata de um romance de Clarice Lispector e foi originalmente publicado em 1963.
p. 79.
72
PIÑON, Nélida. “Colheita”. In. Sala de armas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p.131-142 Ao
retornar da viagem pelo mundo, quem toma a palavra é a mulher que fica em casa esperando. Ela tem a
sua experiência em profundidade a relatar.
42
ambos tem sido relegados a um segundo plano - exceto quando se trata da literatura do
século XIX, que passou a constituir ao mesmo tempo referência e alvo de ataque por
parte de escritores e teóricos. Assim se deu com porta-vozes do Nouveau Roman73, que
confrontaram o lugar soberano do objeto na perpetuação do modelo realista de ficção.
Ora, malgrado as sucessivas reviravoltas na forma de conceber os objetos em
suas conexões espaciais, por que o discurso teórico sobre o objeto ficcional não fez mais
do que assegurar-lhe depreciações, ao longo do século vinte?
Olivier Leplatre74
relaciona este processo às grandes ideologias críticas, que teriam participado do
desmantelamento ou obscurecimento intelectual do objeto e não se abriram para a
escuta de sua peculiar discursividade. Nos termos do professor da universidade de
Lyon 3, o objeto, em teses de linha marxista, é reduzido a
mercadoria (com um interesse sustentado pelos romances do século
XIX), pôs-se a funcionar no estruturalismo que o ultrapassou a si
mesmo, transformando em objeto tudo o que pode, numa narrativa,
afetar um ato de desejo ; tomado e fetichizado ainda pela psicanálise nas
raias da relação de objeto e de seu espectro pulsional, o objeto literário
está nisso, sem estar totalmente.75
Confirma esse ponto de vista Lygia Chiapini, para quem muitos comentaristas dos
anos 60 "caíram num formalismo estreito, reduzindo tudo à linguagem, e ela própria a
uma espécie de forma vazia de conteúdo, contexto e história".76
2.4. O AMULETO E A CRÍTICA: OBJETO NA LITERATURA BRASILEIRA
Não cabe historiar na literatura brasileira operações ficcionais envolvendo
objetos. Mas dou três exemplos. A trama de A Moreninha77, de Joaquim Manoel
Macedo, marco inaugural do movimento romântico em território nacional, é movida por
um camafeu, que sela o pacto de amor, exercendo a função recorrente de instalar um
segredo e provocar uma expectativa ao longo do livro para desvendar como se dará o
73
BARTHES, Roland. (1964), op. cit, sobre Robbe–Grillet ; Michel Butor em Répertoires etc.
LEPLATRE, Olivier. “L’objet manquant de la critique”. Acta fabula, vol. 5, n° 3, Automne 2004,
Disponível em: http://www.fabula.org/acta/document626.php, page consultée le 08 septembre 2013.
75
Original : « Marchandise (avec un intérêt soutenu pour les romans du XIXe siècle), mis en fonction
dans le structuralisme qui l’a débordé de lui-même en changeant en objet tout ce que peut, dans un récit,
affecter un acte de désir; pris et fétichisé encore par la psychanalyse dans les rets de la relation d’objet et
de son spectre pulsionnel, l’objet littéraire est là, sans y être tout à fait. »
76
CHIAPPINI, Lígia. Pelas ruas da cidade uma mulher precisa andar. In: Literatura e sociedade. Revista
do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, n.1, 1996. p. 60.
77
“A Moreninha” traz o tema da fidelidade ao amor de infância, crítica social ao casamento arranjado,
negócio armado pelos adultos, referência ao trabalho escravo e a castigos corporais.
74
43
reconhecimento final e o encontro entre os bons. Na saga modernista de Macunaíma, o
muiraquitã, artefato feito em pedra, de tradição indígena, ressurge no livro de Mario de
Andrade78, dotado de poderes sobrenaturais e acompanha o périplo do herói sem
nenhum caráter. Drummond, em “O Caso do vestido” dá ao traje foros de personagem.
A peça de roupa orquestra o drama familiar, com seus conflitos entre amor, paixão e
sexualidade; simboliza o triângulo amoroso através da forma de o corpo se expor; e
denuncia o esvaziamento de laços familiares.
Um dos textos pioneiros no Brasil sobre a leitura do objeto ficcional adota o
ponto de vista social e histórico. Trata-se de um artigo de Cassiana Lacerda Carollo
(1975)79, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Paraná. Ela
deslinda em Machado de Assis o tratamento e o grau de funcionalidade do espaço e
objetos enquanto categorias mediadoras nas relações humanas, destacando na obra o
investimento dado ao patrimônio pessoal como ostentação. Para a sociedade burguesa
emergente, “o nível na escala social tem como pressuposto um inventário de objetos
cuja falsidade ou distorção de funcionalidade faz com que tomem a dimensão de
kitsch”:
Os bailes, as decorações casas sustentadas pelo critério de não
identificação com o dono, mas pelo inventário de objetos para serem
olhados como matérias de preço, situam-se na mesma isotopia do
espaço exterior privilegiado em detrimento da intimidade. (CAROLLO,
1975:59). 80
Ainda no âmbito da literatura nacional, Armando Gens mostra que Alencar, em
Lucíola (1872), “trouxe para a engrenagem de suas narrativas temas-tabu referentes à
sexualidade e ao erotismo”, e à prostituição. Em A pata da gazela (1870), por sua vez,
tirou “partido do fetichismo para reafirmar o amor romântico como modelo para as
relações burguesas. Ao dinamizar leão, gazela, pés, botas, almofada, pantufos e altar
como símbolos e signos”, encarregou-se da educação erótica burguesa.
78
As índias icamiabas, sociedade matriarcal do Amazonas, ofertavam o muiraquitã aos índios da tribo dos
guacaris, depois do acasalamento, na Festa de Jaci, divindade-mãe do muiraquitã, encorajando a
fidelidade.
79
CAROLLO, Cassiana Lacerda. O espaço e os objetos em Quincas Borba. In: Revista Letras, Curitiba,
(23): 13-31, jun. 1975.
80
Têm aparecido, talvez inspirados no livro de Barthes sobre vestuário (“Sistemas da moda”), alguns
trabalhos no Brasil, além da obra pioneira de Gilda de Mello e Souza, como o texto “Botas, casaco, luvas,
peruca, A retomada dos estudos sobre o objeto apoia-se muitas vezes em outros campos, notadamente a
antropologia, arte e estudos de comunicação. sapatos: fetichismo e questões de gênero”, de Armando
Gens.
44
Quando Leplatre destaca a importância de restituir aos objetos sua espessura
sígnica, “seu ser-aí verbal” e de “formular, mais perto da carne do sensível, as reservas
do imaginário e as « irrupções de linguagem» de que são encarnações81, em verdade
defende que já é tempo de tomar partido do objeto e de fazer escutar o seu discurso, a
sua discursividade.
feita de irrupções de sentidos, de tudo que envolve o texto em sua
relação com o real, em sua corrida por dizê-lo e por desdizê-lo. Se
certas noções, como as de efeito de real ou de pormenor, inauguraram a
tropologia ficcional do objeto, seu sucesso unânime, até sua
obnubilação, suspendeu seu desenvolvimento. 82
De imediato, desenvolvo breve argumento preliminar sobre a relevância do
social e do cultural na obra de Clarice Lispector, que irá se desenhar com clareza ao
longo do trabalho pelo viés dos objetos e espaços edificados. A construção narrativa,
observada a partir (ainda próximos da correlação fundada no realismo) da tríade objeto,
espaço e personagem, revela que a obra clariciana pertence a uma linhagem de
discussão de problemas nacionais relacionados ao impacto de ações modernizadoras. Só
que a autora o faz a seu modo, através de um trabalho de linguagem e cruzando, na
captação das subjetividades, dimensões filosóficas, psicológicas e sociais diversas das
que norteiam os romances realistas. Clarice Lispector vincula corpo, coordenadas
espaciais e discussão sobre linguagem. Em A cidade sitiada, por exemplo, o ritual diário
de Lucrecia de rebatizar as coisas que a cercam anuncia um dos topoi na obra da
escritora: a tensão entre forma e nome.
Neste sentido, proponho um confronto radical. Se O Cortiço denuncia a violência
das transformações impostas pelo poder político, pela ideologia pós-colonialista,
discriminatória e racista, Cidade Sitiada e A hora da estrela evidenciam, décadas
depois, a fratura provocada por reformas urbanísticas desprovidas de projetos sociais de
emancipação; o descompasso entre a política de embelezamento das áreas nobres e
comerciais da cidade e a cultura local; o desequilíbrio socioeconômico entre o norte e o
sul do país, a marginalidade de bairros do subúrbio, a falta de infraestrutura para atender
a bairros e o respeito à cultura local.
81
No original : « leur être-là verbal et de formuler au plus près de la chair du sensible les réserves
d’imaginaire et les ‘ bouffées de langage ‘ dont ils sont les incarnations.»
82
No original : « faite de poussées de sens, de tout ce qui engage le texte dans son rapport au réel, dans sa
course à le dire et à le dédire. Si certaines notions, comme celles d’effet de réel ou de détail, ont inauguré
la tropologie fictionnelle de l’objet, leur succès critique voire leur obnubilation en a suspendu
l’élaboration ».
45
O romance de Aluísio Azevedo confronta a prataria e a meia voz do sobrado com o
burburinho da habitação coletiva popular da capital da República e o som das bacias e
cantorias. A ação de A cidade sitiada transcorre na fase inicial da transformação urbana
que toma o país. A chegada abrupta da indústria impacta toda a ecologia do subúrbio de
São Geraldo, que assiste ao avassalador processo de modernização. Vão desaparecendo
os seixos, os mofos, as pedrinhas perto do córrego até chegar à demolição do antigo
edifício dos Correios e Telégrafos, ícone da cidade. Assustam-se cavalos e moradores83.
A circunscrição social da obra clariciana tem tido a atenção de alguns críticos. A
relação com a tradição regionalista é sugerida por Eduardo Portella, no prefácio à
primeira edição do livro, ao se perguntar: “Devemos falar de uma nova Clarice
Lispector, ‘exterior e explícita’, o coração selvagem comprometido nordestinamente
com o projeto brasileiro?”. E ele mesmo responde:
É não porque Clarice sempre foi uma escritora brasileira, capaz de
transpor o simplesmente figurativo ou o apenas folclórico, e pedir como diriam os espanhóis – um Brasil “desde dentro”. É sim, porque
esta narrativa de agora se amplia numa alegoria regional, que é também
a alegoria da esperança possível. (1978:9)
Solange Ribeiro de Oliveira e Lucia Helena desenvolvem o tópico. Oliveira avalia a
obra da autora em conjunto com a ficção brasileira, marcada pela “oposição
privação/opulência, no sentido literal e metafórico”, no “contraste sul/norte do país”. A
"transubstanciação" do regionalismo em Clarice estaria na “paródia do romance
tradicional”, na “recusa às formas convencionais da narrativa” (A hora da estrela) e na
mescla do regional, metafísico e epistemológico84.
Lucia Helena (2006) também, a partir do trato e fatura da linguagem, distingue
Macabéas e Fabianos (Graciliano Ramos) como representantes dos que “trazem no
corpo as marcas de um viver à margem, seja dos códigos instituídos, que não dominam,
seja pela destituição das condições básicas de sobrevivência e de cidadania.” E situa
historicamente a obra:
83
“Mas a Comissão de Urbanismo teve ultimamente a infeliz ideia de demolir o antigo edifício dos
Correios e Telégrafos, ideia essa que faz estremecerem de indignação as pedras de nossas ruas. Inútil
dizer que o povo de S. Geraldo aguarda explicações”. (CS:104).
84
OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. A barata e a crisálida: o romance de Clarice Lispector. Rio de
Janeiro: José Olympio; Brasília: INL, 1985. Ela divide os romances em dois grupos, “correndo o risco da
excessiva simplificação”. “O primeiro incluiria O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro e A
Paixão Segundo G.H., onde a configuração norte/sul, equivalente a província/metrópole, estaria associada
à problemática existencial”. Em oposição, A Hora da Estrela, pela preocupação estética explícita,
associada à problemática social, resumida na oposição nordestina/abundância do sul. Entre os dois
grupos, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, excluindo-se pois entre os romances Perto do
Coração Selvagem e Agua Viva.
46
Produzida na fronteira da década de 1970 para a de 1980, Macabea é de
um tempo em que a estrutura do capitalismo há muito deixou seu
estágio primitivo e agora dá as cartas de modo bem mais sofisticado,
apenas deixando à cartomante a tarefa dos vaticínios. (HELENA,
2006:142).
Da pequena revolução industrial afetando uma cidade do interior no início do século
vinte, registrada em A cidade sitiada, Lispector passa pelo impacto da reclusão e da
rotina no ambiente doméstico remediado (a maioria dos contos de Laços de família) ao
espaço da classe média alta (A paixão segundo G.H.), até adentrar frontalmente nas
classes populares, na forma de uma novela. Embora os pobres apareçam em criações
anteriores, com Macabéa cria como protagonista uma miserável. E faz a denúncia a
perversidade da publicidade sobre grupos sociais desinformados e mais vulneráveis na
venda de falsas utopias de felicidade através da aquisição de bens. Objetos que não se
circunscrevem ao realismo fotográfico, nem ao mítico, mas atuam por deslocamentos
significativos. A dimensão sociocultural se desenha no acúmulo em A Cidade Sitiada
em Lucrécia metida em suas bijuterias e a mãe dela guardando objetos mortos no
armário; em G.H e sua consciência das marcas ostentatórias de seu grupo social; e em
Macabéa com sua leitura limitada do imaginário vendido em outdoors. São
consequências da política econômica brasileira que consolidou o abismo social,
polarizado no contraste entre centro e periferia, norte e o sul, riqueza e pobreza.
É licito assinalar em sua obra ficcional relativa economia de registros
“objetivos”, concretos, de bens materiais. Por isso mesmo, há por parte da escritora
criteriosa seleção quanto aos elementos com que matiza os seres que cria e dá
andamento à trama ou enunciação. A própria exiguidade pede que se apure o significado
de registros aparentemente “inúteis” ou dispersos, numa rede significativa.
A questão do objeto é pressentida e por vezes sutilmente apontada por Lucia
Helena , desde o momento em que define a “natureza deslocada” do texto de Clarice:
85
ao mesmo tempo metafísico e antimetafísico, “ao apoiar-se no aqui e agora de seu
‘instante-já’” (p.20). Mas é decisiva, sobretudo, uma analogia que faz no capítulo “A
leitura (in)fiel”. A teórica refere-se à ficção clariciana “como se fosse o Francis Ponge
de João Cabral de Melo Neto”. O poeta francês, de que Cabral extrai versos para
85
HELENA, Lucia. Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice Lispector. Niterói:
EDUFF, 2006.
47
epígrafe de seu Museu de Tudo (“Est-ce la poésie? Je n’en sais rien, et peu importe”)86,
reinventou a linguagem poética a partir do cotidiano, já na publicação de O partido das
coisas, em 194287.
A propósito, torno ao texto “A forma do mundo”88, em que Ponge declara
querer dar forma às coisas que vê ou que concebe através da visão, não do modo como a
maioria dos filósofos faz. Ou seja, ele não busca “a forma de uma grande esfera, de uma
grande pérola, mole e nebulosa, como que brumosa, ou, ao contrário, cristalina e
límpida”; “nem tampouco a de uma ‘geometria no espaço’”; “e nem mesmo a de um
imenso corpo da mesma natureza que o corpo humano, do mesmo modo que o
poderíamos imaginar, considerando-se os sistemas planetários como equivalentes aos
sistemas moleculares, e aproximando-se o telescópico do microscópico”. Ponge “quer o
terreno”89,
a forma das coisas mais particulares, as mais assimétricas e de
reputação contingente (e não apenas a forma, mas todas as
características, as particularidades de cores, de perfumes), como, por
exemplo, um ramo de lilases, um camarão no aquário natural de rochas
no molhe de Grau-du-Roi, uma esponja na minha banheira, um buraco
de fechadura com uma chave dentro. [grifos nossos] (PONGE, 1948).
Só que, lido transversalmente, percebe-se haver no texto uma denegação (na
acepção freudiana), já que, embora refute a envergadura pretendida pela “maioria dos
filósofos”, acaba criando um território misto. Em sua divagação sobre o não filosófico,
empenha tal profusão poética e tal grau de desenvolvimento reflexivo em suas
associações imagéticas, que mescla o que diz valorizar - o objeto cotidiano e as coisas
“de reputação contingente” - a questões filosóficas.
Continuo com Lucia Helena, quando, em desdobramento à associação feita com
Ponge, chega ao banal, ao lugar-comum e ao kitsch em Clarice e à “implicação
constante entre ideia e fenômeno”, como propõe Walter Benjamin, autor com que se
estabelecerá neste trabalho intenso diálogo, embora a ênfase seja em outros textos do
crítico frankfurtiano (em particular, operações de resgate de memória a partir de
86
NETO, João Cabral de Melo. Museu de tudo e depois. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p.11.
A associação vale também pelo processo de reescrita dos textos, pela reflexão sobre a linguagem e pelo
interesse pelas artes plásticas, comuns a ambos.
88
PONGE , Francis. La forme du monde. Do original Proêmes. Gallimard, 1948. Tradução de Adalberto
Muller. Disponível em: http://revistamododeusar.blogspot.com.br/2012/06/francis-ponge.html
89
Referência à frase com que Lispector encerra o texto “Mineirinho”: “O que eu quero é muito mais
áspero e difícil: quero o terreno”. In: Para não esquecer. São Paulo: Ática. 1979. p. 101-103.
87
48
fragmentos com e nos objetos que a escritora deposita em suas histórias, eventualmente
sob a clivagem da paródia).
Clarice e Benjamin têm em comum “a investigação das relações de poder na
sociedade; o tratamento das inter-relações entre objetividade e subjetividade, para além
da dicotomia opositiva usual” (HELENA, 2006:26) “elos entre a figuração literária do
sujeito (...) e o campo mais amplo das práticas sociais”, sem a estética do reflexo. É por
esse modo de interlocução que tomamos o objeto: “resgate das relações entre arte e
sociedade, entre texto e contexto, entre autoria e criação, por meio de uma teoria de
feição sociológica que nem se confie no determinismo, nem separe forma de conteúdo.”
– de novo a ressonância fixada inicialmente por Antonio Candido, que sedimentou no
Brasil as bases de interlocução da literatura com outros campos disciplinares, livre de
grilhões deterministas e ao mesmo tempo preservando sua especificidade como
modalidade expressiva e de linguagem90. O elemento social é para ser levado em conta
não “como enquadramento, que permite situá-lo historicamente; mas como fator da
própria construção artística, estudado no nível explicativo e não ilustrativo”.
Uma crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente
sociológica, psicológica ou linguística, para utilizar livremente os
elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Mas
nada impede que cada crítico ressalte o elemento da sua preferência,
desde que o utilize como componente da estruturação da obra.
91
(CANDIDO, 1976:7)
Outra aproximação com o objeto na obra clariciana é também pressentida e feita
com perspicácia por Roberto Corrêa dos Santos, que interpreta com primor,
sensibilidade e rigor metodológico cinco contos de Laços de Família92. Antes de iniciar
sua primeira leitura, ele tece considerações sobre a condução de seu processo
interpretativo, que é complementado por indicações que constam de um glossário.
90
Os procedimentos e conceitos basilares para a análise e compreensão do fenômeno literário, tornaramno precursor do que veio a se constituir como Literatura Comparada e referência para intérpretes da
literatura brasileira e para o desenvolvimento do campo comparatista, que aos poucos foi assumindo uma
direção teórica que estimulou o interesse pelas imbricações entre a série literária e as demais séries
culturais. Na releitura de alguns de seus textos, expressões hoje consideradas anacrônicas, como
“camadas mais fundas da análise”, não chegam a incomodar, face ao alcance analítico e teórico do autor.
91
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1976. Ao eleger o artefato como eixo de observação, se assumem trocas
com as ciências sociais e teorias das artes. São “formas carregadas de história, elas mesmas históricas,
porque estão na história, contém a história e fazem história”. A propósito: CHIAPPINI, Lígia. Os
Equívocos da Crítica à Formação. In: Dentro do texto, dentro da vida Ensaios sobre Antonio Candido.
Ed. Maria Angela D’Incao e Eloísa Faria Scarabôtolo. São Paulo: Cia. das Letras & Instituto Moreira
Salles, 1992. 170-180.
92
SANTOS, Roberto Corrêa dos. Clarice Lispector. São Paulo, Atual, 1986. Encerra o livro com um
capítulo sobre a escritora, glossário e bibliografia comentada.
49
Começo por aí, destacando pontos pertinentes à proposta de estudos da “cultura
material”. Entrecruzo, em algumas ocasiões, com trechos de Para uma teoria da
interpretação93, publicado por ele três anos depois do anterior.
O semiólogo de pronto remete a Roland Barthes, que consta do meu elenco de
“orientadores de leitura”. Cita especialmente a obra S/Z, em que o teórico francês
rompeu com o modelo de análise estruturalista, em favor de uma interpretação por
fragmentos – ou seja, em abertura, dando empoderamento ao leitor (na confluência do
que a Estética da Recepção veio a propugnar). Corrêa põe em prática de forma muito
pessoal essa liberdade de operar com uma obra polissêmica. Não prescreve um modelo,
mas sugere um método, adaptável a cada leitor e a cada texto. A “significação resulta,
assim, do processo de armação dos próprios dados presentes e aparentes”. (SANTOS,
1986:4)
Em “Preciosidade” e “Feliz Aniversário”, por exemplo, o crítico apreende no
trabalho ficcional a atualização do sistema do rito de passagem, cuja descrição foi
estabelecida inicialmente pela antropologia94. O processo ritualístico circula no
arcabouço da história e mesmo orienta o seu movimento e a sua estruturação: “A estória
narrada do rito de passagem consiste no fio que liga o movimento, as escolhas e as
ações da personagem, formando a trama que ordena as situações do texto.” (SANTOS,
1986:5).
No outro conto, melhor seria dizer, tomando por base a natureza de cerimônias
ritualísticas, há um contra-movimento do rito, pois o leitor é levado a acompanhar o
rompimento da carcaça de algo esvaziado de significado e cumprido maquinalmente.
“Celebra-se”, ao invés da vida, a morte. Sabendo-se do teor e dos procedimentos de
eventos desse gênero (como a comemoração de um aniversário), a sequência dos
acontecimentos acentua o caráter de falsete que a voz narrativa orquestra com a finura
de um exímio marionetista. Santos alerta como, já no primeiro contato com o texto, se
faz “a desmontagem de cunho crítico-social das diversas situações nele apresentadas
através da ‘festa”. (1986:58). E adiante pontua que “a divisão do texto nesses dois
espaços (social e existencial) não pretende efetivar uma separação real entre duas
93
Idem. Para uma teoria da interpretação: semiologia, literatura e interdisciplinaridade. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1989.
94
GENNEP, A. V. Os ritos de passagem. Trad. Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes, 2011, 2. ed.. O autor
foi pioneiro em análises de cerimonias, ritos e espetáculos que integram eventos constituintes do processo
de pertencimento ao grupo social.
50
possíveis categorias, já que a questão tida como existencial não se dá fora da rubrica do
social.”. (1968:65) Observação crucial em um trabalho que considera a materialidade
circunstanciada social e culturalmente, sem pretender que não se está discutindo
questões existenciais.
Outro aspecto importante do livro de Santos é não abjurar do estruturalismo “em
bloco”. A reintrodução do sujeito intérprete não significa abolir o exame detido do
texto ou observar a sua estruturação – significa apenas não se contentar e parar por aí. E
aqui vale registrar algo mais, na apropriação particular feita por Santos da proposta
barthesiana. Barthes, homem de letras no sentido pleno, pela afeição à palavra e pela
conexão com a cultura e a política, não é compartimentável. Conforme expõe Leyla Perrone‐Moisés, ele conservou as lições das fases abandonadas, experiências
corporificadas numa linguagem sensível, “marcada pelo humor e pelo afeto”:
Mesmo sendo cada vez mais avesso ao dogmatismo marxista, a
fundamentação principal de sua teoria será sempre ética e politicamente
de esquerda. E, apesar de ter abandonado os esquemas rígidos do
estruturalismo, suas análises aproveitarão sempre, numa primeira
abordagem dos textos, os princípios ordenadores da análise estrutural.
Presenças constantes em seus textos, dos primeiros até os últimos, são
as palavras “história” e “crítica”, que ele tentará, incansavelmente, aliar
às palavras “corpo”, “desejo” e “prazer”95. (PERRONE-MOISÉS, 2010)
Em afinidade com Santos, rastreio nos objetos “traços, comprimidos pela força
do recalque”, que “trabalham no escuro e produzem significações pela repetição, em
posterioridade”. “O inconsciente é dado, pois, [pelo traço] como uma máquina escritural
ativa.” (1989:141-142). Assim deslocam-se objetos de uma narrativa para outra; assim
objetos imperceptíveis ferem a escuta. Interessante o modo como Santos radicaliza a
experiência desses vasos comunicantes trazendo-os para a própria escrita, ao utilizar a
técnica do leixa-pren96, na passagem de um capítulo a outro, em ressonância com o
encadeamento dos capítulos em A paixão segundo G.H.
É possível que o tópico objeto tenha recebido pouca atenção da maioria dos
intérpretes da obra de Clarice pelo fato de o modelo realista ainda exercer uma sombra
sobre possíveis interpretações de autores que fogem a essa linha narrativa. Mas a
própria ficção do oitocentos confere diferentes graus de inflexão aos objetos. Pelo
95
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Roland Barthes e o prazer da palavra. In: Revista Cult. Edição 100.
Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/roland-barthes-e-o-prazer-da-palavra/
96
Antigo artifício poético, que consiste em começar uma estrofe pela palavra ou frase, em que terminou a
estrofe anterior.
51
paradigma romanesco realista, eles se articulam numa rede significante que preenche
duas funções interdependentes. Em um nível, participam da afiliação do texto
romanesco ao real – o “efeito de real” (Barthes) mediante uma função explicativa do
mundo representado. Noutro nível, entram na mecânica romanesca interagindo com os
personagens e desta maneira ultrapassam seu papel utilitário; a função referencial se
reduplica em função narrativa.
Estes objetos servem como suportes significantes para os personagens e
para a ação; desdobram interpretações que servem para tecer a trama
romanesca no que ela tem de essencial. Trata-se de objetos dos quais os
leitores se lembrarão; os únicos a que se atribuirá espontaneamente o
nome de objetos romanescos. (CARAION) 97
Assim como o espaço urbano e a cidade polifônica continuam a motivar ótimos
trabalhos literários, invoco para o objeto o mesmo olhar que toma a cidade como “lugar
privilegiado de intercâmbio material e simbólico do habitante98”. Afinal, invertendo a
fórmula, o espaço é indissociável do objeto.
97
“Ces objets servent de supports signifiants pour les personnages et à l’action, ils déploient des
interprétations qui servent à tisser la trame romanesque dans ce qu'elle a d'essentiel. Ce sont là les objets
dont, en tant que lecteur, on se souvient, les seuls auxquels on accordera spontanément le nom d'objets
romanesques. »
98
GOMES, Renato Cordeiro. Cidade Moderna e suas derivas Pós-Modernas. In: Revista Semear 04. Rio
de
Janeiro,
2000.
Ed.
PUC-Rio.
P.01-04.
Disponível
em:
http://www.letras.pucrio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/4Sem_03.html
52
3. O LÁPIS, O RELÓGIO E O PESCOÇO DO GUINDASTE
Pense nisto: quando dão a você de presente um relógio, estão dando um
pequeno inferno enfeitado. Uma corrente de rosas. Um calabouço de ar.
Cortázar99
Relógio: O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede:
conheço um que já devorou três gerações da minha família.
Mario Quintana100
Tirando a necessidade de ir direto a um assunto ou obter a visão geral de uma
obra, ler índices não tem graça. Entretanto, se tomo índice no sentido semiótico de
“pista”, começa a ficar mais interessante, assim como a acepção que lhe é dada pela
biblioteconomia: roteiro ordenado de itens de uma coleção ou do conteúdo de um
documento, acompanhado de referências que facilitam a identificação e a localização
(armazenagem, pesquisa e recuperação de informação).
Mesmo assim, continua a incomodar o grande esforço do índice em apagar
marcas de subjetividade, por mais que se saiba que a neutralidade inexiste. Posso
reabilitar então, em índice, o “paradigma indiciário” de Ginzburg, que reintroduz menos
o sujeito que organiza, e mais aquele que busca um fio condutor em informações
aparentemente desconexas. O historiador italiano propõe, com esta categoria, o método
de construção discursiva em que signos com valor de índice articulam uma narrativa101.
Com esta perspectiva, transcrevo abaixo o índice de um livro de Walter
Benjamin, da década de 1920. O leitor há de ter cautela para não ficar tonto,
entorpecido ou bêbado de sinais. Conformar-se-á, talvez, sabendo que a velocidade e
mistura de informações foi também percebida, com inquietude, pelo filósofo alemão, e
o levou a pensar em saídas para os novos dilemas que surgiam:
Posto de gasolina11 ▪ Sala de desjejum 11 ▪ Nº 113 12 ▪ Para homens 14 ▪
Relógio normal 14 ▪ Volte para casa! Tudo perdoado! 14 ▪ Casa mobiliada ▪
Principesca ▪ Dez cômodos 14 ▪ Porcelanas da China 15 ▪ Luvas 16 ▪
Embaixada mexicana 17 ▪ Estas plantas são recomendadas à proteção do
99
CORTÁZAR, Julio. Preâmbulo às instruções para dar corda no relógio. In: Histórias de cronópios e de
famas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973, p. 20.
100
QUINTANA, Mario. Do Caderno H. Porto Alegre: Editora Globo, 1994 [1973], p.37.
101
GINZBURG, Carlo. Sinais, raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais. São
Paulo: Companhia das Letras, 1990. Para o autor, como numa operação de detetive, através de efeitos
observáveis se tentaria compreender determinado fenômeno. Contempla textos de diferentes tipos
(historiográficos, psicanalíticos), e não só literários, embora estes tenham oferecido um repertório ímpar,
em sua diversidade de formas, para o referido modelo. De “indexar”, “organizar em forma de índice”, do
latim index, “dedo indicador, apontador, lista”, que gerou indicare, “apontar”.
53
público 17 ▪ Canteiro de obras 18 ▪ Ministério do interior 19 ▪ Bandeira ... 19
▪... A meio pau 20 ▪ Panorama imperial 20 ▪ Trabalhos de subsolo 26▪
Cabeleireiro para damas difíceis 26▪ Atenção: degraus! 27▪ Guarda-livros
juramento 27▪ Material escolar 29▪ Alemão bebe cerveja alemã! 30 ▪ Proibido
colar cartazes! 30▪Nº13 33▪ Armas e munição 34▪ Primeiros socorros 35 ▪
Arquitetura interna 35 ▪ Artigos de papelaria 35▪ Artigos de fantasia 36▪
Ampliações 37▪ Antiguidades 40▪ Relógios e ourivesaria 42▪ Lâmpada de arco
42▪ Loggia 43▪ Guichê de achados e perdidos 43▪ Parada para não mais de três
carruagens 44▪ Monumento ao guerreiro 44▪ Alarme de incêndio 45▪
Lembranças de viagem 46▪ Oculista 48▪ Brinquedos 49▪ Policlínica 54▪ Estas
áreas são para alugar 54▪ Artigos de escritório 55▪ Fardos: expedição e
empacotamento 56▪ Fechado para reforma!56▪ Restaurante automático “augias”
56▪ Comercio de selos 57▪ Si parla italiano 60▪ Primeiros socorros 60▪
Quinquilharias 61▪ Conselho fiscal 61▪ Assistência judiciária para indigentes
62▪ Sineta noturna para médico 63▪ Madame Ariane, segundo pátio à esquerda
63▪ Vestiário de máscaras 65▪ Agência de apostas 66▪ Cervejaria 66▪ Mendigos
e ambulantes proibidos! 67▪ A caminho do planetário 68▪102
Não há uma diretriz clara nessa via que acabamos de percorrer. O posto de
gasolina compartilha a mesma página da sala de desjejum, que prossegue no nº 113 e
deságua num espaço para homens, onde se ouve uma conversa desencontrada (tudo no
espaço-quadrado-página14). O diálogo improvável talvez seja: - Relógio normal - Volte
para casa! Tudo perdoado! - Casa mobiliada. Principesca. Dez cômodos. Quando
parece que algo afinal pode fazer sentido, chegam as porcelanas da China, que ficam ali
algum tempo (toda a página 15); depois as luvas repousam na 16 e não se sabe por que
este trecho encerra na embaixada mexicana, onde estas plantas são recomendadas à
proteção do público.
O caos textual não por acaso termina “a caminho do planetário”, prevendo um
novo modelo de conexão entre as pessoas e os países, baseado na ampla e atordoante
circulação de informação. Rua de mão única foi escrito durante a República de Weimar,
em plena de crise do Estado e no momento em que intelectuais e artistas se
movimentavam em busca de uma ação política em relação às condições de vida e de
liberdade.
O livro, composto de sessenta aforismas, discorre sobre assuntos diversos,
compondo um mosaico de objetos, cenários e imagens que invadiram o cotidiano da
metrópole e que o cidadão leva para casa e para o sonho. Benjamin está impactado com
o que observa ao redor. Em seu exercício de distanciamento crítico (mas não imparcial)
102
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II: Rua de Mão Única. Trad. R. Rodrigues Torres Filho e J. C.
Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010. V. 2.
54
e em diálogo com a produção artística de seu tempo, identifica no olhar mercantil da
publicidade um grande entrave à emancipação dos indivíduos, ao desmantelar a
contemplação:
A “imparcialidade”, o “olhar livre” são mentiras quando não são a
expressão totalmente ingênua de chã incompetência. O olhar mais
essencial hoje, o olhar mercantil que penetra no coração das coisas,
chama-se reclame. Ele desmantela o livre espaço de jogo da
contemplação e desloca as coisas para tão perigosamente perto da nossa
cara quanto da tela de cinema, um automóvel, crescendo
gigantescamente, vibra em nossa direção. (...) Para o homem da rua,
porém, é o dinheiro que aproxima dele as coisas dessa forma, que
estabelece o contato conclusivo com elas. (BENJAMIN, 2010:54-55)
Para ele, há uma forma possível de (re)ação pela linguagem, anunciada em carta
a Hugo von Hofmannstahl. Quando determinadas palavras cristalizadas nos conceitos se
libertam
sob o efeito da força magnética do pensar, para revelar as formas de
uma vida da linguagem que nelas se achavam fechadas. Para o escritor
[...] essa relação significa a felicidade de poder dispor na linguagem,
que assim se desdobra diante dos seus olhos, da pedra de toque que lhe
confirma a força do pensamento.103 (BENJAMIN, 2012:47)
A escrita ruidosa e a estrutura da obra em fragmentos anunciadas no índice
refletem o impacto da viagem que Benjamin havia feito naquele período a Paris - em
que conhece de perto Giraudoux, Aragon e o movimento surrealista - e são sua opção
para interpelar os que olham, mas não veem. Os títulos de cada texto burlam o leitor
que busca a fidelidade entre texto e real. Propõem, à moda do belga René Magritte –
“isso não é um cachimbo” –, que, da renovação da linguagem, surja uma compreensão
mais lúcida dos fenômenos sociais e haja outra qualidade de subjetividade, com base na
experiência104.
Recordo aqui o efeito da precipitação de palavras criado por Carlos Drummond
de Andrade, no poema Isto é aquilo, que, segundo Marlene de Castro Correia,
(...) cria em seu espaço relações equívocas entre as palavras, incitando o
leitor à aventura de reconstituir os nexos das equações surpreendentes e
103
BENJAMIN, Walter. Destino e caráter. In: O anjo da história. Organização e tradução de João
Barrento. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2012. p. 47.
104
Adorno fala em subjetividade danificada – aprisionamento nas grades do sistema identitário.
ADORNO, T. W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida lesada. Tradução de G. Cohn. Rio de
Janeiro: Beco do Azougue, 2008. Mas o mais apropriado talvez seja a ideia de subjetividade
“descentrada”, aberta ao acaso, Mesmo havendo uma história singular, não repousa em um centro, numa
racionalidade originária ou estrutura fundante: é subjetividade descentrada. FOUCAULT, Michel. A
palavra e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.
55
estimulando-lhe o seu próprio processo de associação. É ilimitada a
plurivalência do texto, que se afigura a um peculiar jogo de enigma, por
abrir-se em múltiplas e livres possibilidades de resposta. (CORREIA,
2002:154)105
Ora, uma das questões centrais da poética clariciana é a linguagem, não apenas
enquanto território de criação, mas como tema que se mantém, renitente, desde o
primeiro romance. O coração selvagem da palavra não consegue atingir o neutro, que
idealmente seria - talvez - a única maneira de chegar ao coração selvagem da vida. Mas
a palavra está sempre no quase, no tangencial, sem zona de conforto. Existir fora dos
limites da palavra é algo que foi suprimido aos humanos considerados “normais” e à
maioria de seus personagens, que flagra em momentos de crise.
Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver
não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim,
mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a
realidade. (GH:20)
Em luta permanente com o congelamento da palavra no conceito, Clarice
Lispector busca-lhe o ruído, e o faz desestruturando formas narrativas. Toda essa
cogitação será particularmente estimulada pelo confronto do sujeito e seu corpo com
objetos e espaços que sugerem compressão, ou, mais raramente, dispersão. Ao comentar
alguns de seus escritos, revela o estranhamento que lhe causam certos objetos,
sobretudo no espaço privado, e o desconforto com peças práticas, em geral até úteis,
mas que produzem, em latência, um mal estar, chegando a conotar algo de aterrorizador.
O objeto – a coisa – sempre me fascinou e de algum modo me destruiu.
No meu livro “A Cidade Sitiada” eu falo indiretamente do mistério da
coisa. Coisa é bicho especializado e imobilizado. Há anos também
descrevi um guarda-roupa. Depois veio a descrição de um imemorável
relógio chamado Svéglia: relógio eletrônico que me assombrou e
assombraria qualquer pessoa viva no mundo. Depois veio a vez do
telefone. No “Ovo e a Galinha” falo no guindaste. É uma aproximação
tímida minha da subversão do mundo vivo e do mundo morto
ameaçador. [grifos nossos] (SV:104-105)106
Além de nominar o guarda-roupa, o relógio eletrônico, o telefone e o guindaste,
a autora se refere ao romance A cidade sitiada, pelo acúmulo de dejetos na rua, alguns
105
CORREIA, Marlene de Castro. Drummond, a magia lúcida. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
LISPECTOR, Clarice. Um sopro de vida - pulsações, livro póstumo da escritora, escrito num
momento em que enfrentava um câncer. Composto de fragmentos escritos (em talões de cheques,
guardanapos etc.) entre 1974 e 1977, ano da morte da escritora, e organizados por Olga Borelli.
106
56
atirados ao lixo e outros guardados em armários (bibelôs) ou expostos na vitrine do
brechó (com objetos velhos e empoeirados), todos inanimados e inativos, como a pedir
um nome ou um toque que lhes devolva a carga simbólica.
Quando se localizam os objetos de sua lista nos respectivos textos ficcionais vêse que evocam destruição e engano. Salvaguardadas as peculiaridades de cada um deles,
vistos em conjunto e considerando o mal estar que lhe causam, polarizam o que é da
ordem da vida e o que é da ordem da morte. É como se conjugassem, em atrito, a ideia
de paralização ou do estático; de trabalho especializado, técnico, instrumental (tools),
automático; e de perda da potência vital que há no “bicho”, no animal não domesticado.
Funções distorcidas pelas próprias condições vida e pelo domínio dos objetos sobre o
homem, como se verá.
A angústia que a escritora brasileira expressa em suas obras sobre novos hábitos
sociais relacionados ao consumo, à mecanização e à estandardização do cotidiano é
partilhada por seus contemporâneos dentro e fora do Brasil, na produção literária e na
crítica cultural desenvolvidas por semiólogos, arquitetos, designers, artistas visuais,
antropólogos e sociólogos. Lispector está no centro existencial de um questionamento
que só vem se agravando: o debate hoje alcança as mídias digitais, que trouxeram
questões novas - a autora não teve oportunidade de observar o novo fenômeno.107
A utilidade dos objetos enumerados naquele parágrafo é ensombrecida pela
inércia, próxima da “não vida”. Em sua eficiência, corporificam a falta de contingência,
de vulnerabilidade e de inconstância do ser vivo (“É uma aproximação tímida minha da
subversão do mundo vivo e do mundo morto ameaçador”). Ligam-se ao campo
semântico da paralisação, do estático, do tempo domado. A máquina tecnicamente
especializada adultera a dinâmica temporal entre homem e natureza, instintiva e
necessária (bicho, selvagem). As ferramentas (tools) pertencem a um domínio que
escapa a quem os manipula e são o inverso da “vida primitiva animálica”.
Na construção do paradoxo (por si mesmo, recusa do discurso linear) “bicho
especializado e imobilizado” invoca a conhecida empatia da autora em relação a bichos
(tanto quanto as crianças, instinto em estado bruto, inclusive para a crueldade - Joana,
107
Os gadgets já incorporam elementos da realidade virtual, interações sociais em rede (celulares, MP3,
arquitetura desconstrutiva, performances desportivas e artísticas ligadas a esses instrumentos) efeitos na
sociedade eletronicamente mediada. PERNIOLA, Mario. O Sex appeal do inorgânico. Tradução Nilson
Moulin. Coleção Atopos. São Paulo: Studio Nobel, 2005.
57
Sofia). Bichos e crianças são tidos por José Américo Pessanha108 como arautos de sua
obra, criaturas que convidam à
desintelectualização, caminho de retorno à realidade viva e autêntica109 do
homem. Em convite ao Eu profundo. Porque não penetraram na idade da razão,
não têm ainda adestrados os instrumentos racionais de defesa. E são muito
mais espontaneidade e quase só estesia: olhos espantados a olhar o mundo-aí.
Descobrindo, des-cortinando. (1989:187).
Apesar de certa idealização do mundo animal, o filósofo invoca um eixo
fundamental na obra de Clarice: animais, como o homem, têm seus instintos, mas neles
são “livres e indomáveis” (AV:122).
Esse amor declarado constrói na ficção clariciana um verdadeiro bestiário: a
doce e doente macaca Lisette; o autossuficiente cão basset por quem se encanta a
adolescente igualmente ruiva que tenta estabelecer um jogo de sedução, mas o vê
passar, indiferente; os iguais mulher e búfalo no zoológico; os cavalos trotando, em
majestade.
Mesmo revelando asco e até medo ancestral pela barata (“A quinta
história”) e pelo rato (“Perdoando Deus”)110, e, ainda, espanto com a “burrice” do
coelho, não se refere ao animal como um ser objetivamente ameaçador ou como
metáfora de embrutecimento humano. Não o utiliza a serviço da arena maniqueísta de
cultura versus barbárie, no sentido que lhe deu Freud: “o império da busca sem barreiras
pela satisfação do prazer é o da barbárie.”111 Ela afirma, em “Bichos (conclusão)”: “Não
ter nascido bicho parece ser uma de minhas secretas nostalgias.” (DM:263)
108
PESSANHA, José Américo Motta. Clarice Lispector: o itinerário da paixão. In: Remate de Males/
Revista do Departamento de Teoria Literária. Campinas: UNICAMP, 1989. p.187.
109
O temo “autêntico” é controverso, seja na leitura que Lucien Goldmann faz de Lukács, seja no
emprego que lhe dá Merleau-Ponty, em texto de 1952, sentido mais próximo do que lhe atribui Pessanha.
Merleau-Ponty opõe a linguagem empírica, signo estabelecido, em relação à linguagem criadora ou
autêntica, Na primeira não haveria “silêncio falante”; a segunda sacode “o aparelho da linguagem ou da
narrativa para arrancar-lhe um som novo”. In: MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as
vozes do silêncio. In: O olho e o espírito. Tradução: Maria Ermantina Pereira, Paulo Neves. São Paulo:
Cosac & Naify, 2004. p.73. De todo modo, não entro na discussão sobre a inautenticidade do termo
“autêntico” enquanto matriz originária. A respeito, o ótimo (e divertido) texto de Celso Frederico sobre
Adorno, Luckács e Goldmann, “Cotidiano e arte em Lukács”. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000300022
110
“(...)terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não
queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras: um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os
pés esmagados, e morto, quieto, ruivo. O meu medo desmesurado de ratos.” Perdoando Deus In:
DM:312. Foi publicado originalmente no Jornal do Brasil em 19/9/1970.
111
FREUD, Sigmund. O Futuro de uma Ilusão, o Mal Estar na Civilização. São Paulo: Cia. das Letras,
2011. “A exacerbação do individualismo contemporâneo, aliada à busca incessante, sempre relançada,
por satisfações prazerosas, está se mostrando ameaçadora. Há que haver uma sintonia entre o interesse
individual e o interesse coletivo, e tudo indica que estamos nos tornando inaptos para discernir este
último. Em resumo: o império da busca sem barreiras pela satisfação do prazer é o da barbárie.” (p.17)
Difere do emprego do termo por Walter Benjamin, “Experiência e pobreza”, como perda da experiência e
de um tipo de narratividade, como se verá adiante.
58
John Berger, em Sobre o olhar112, identifica a ancestralidade do vínculo dos
seres humanos com animais desde o homem das cavernas, como atestam as pinturas
remanescentes e as fábulas que os têm por intermediadores de mensagens. No século
XIX teve início o rompimento desse estreito laço, intensificado pelo capitalismo
corporativo. Seguiu-se o adestramento, a submissão (circos, zoológicos, casas) e o
aproveitamento comercial do animal para o consumo.
Na expressão “bicho especializado e imobilizado”, a autora emprega adjetivos
que vão na contramão da natureza-bicho. O automatismo dos objetos a que se refere tem
por característica a indiferença em relação aos que os criaram - movem-se por si
próprios, através do mecânico ou do eletrônico, constituindo uma espécie de
“antinatureza” (não como oposição à cultura, mas, sim, espaço que nega a natureza,
calcado na busca técnica por efeitos). Entretanto, se mantém uma reserva bicho, e o
observador atento poderá expor a memória histórica não apagada, memória do projeto
que está na base da construção de cada um deles: nos termos de Benjamin, o fóssil
tensiona o arcaico e o moderno113. Há, na expressão criada pela autora, uma indagação a
respeito do porquê, por quem e para quê esses tipos de objetos foram criados (o que se
articula às inquietações sobre a criação e a existência) e a sugestão de que trazer para a
ficção essa discussão é jogar alguma luz sobre escolhas feitas pelo ser humano.
Esta zona intermediária e indefinida se fixa de forma especialmente apropriada
no objeto. Recorro à etimologia do termo: “objeto” significa atirar contra, o que está do
lado oposto, fora, ou que resiste ao sujeito. Segundo o filósofo tcheco Vilém Flüsser,
“objeto” é algo a meio caminho (em latim, ob-jectum; em grego, problema), ou seja,
pode indicar mediação ou extensão do eu, e também obstáculo.
Um objeto de uso é um objeto de que se necessita e que se utiliza para
afastar outros objetos do caminho. Há nessa definição uma contradição: um
obstáculo que serve para remover obstáculos? Essa contradição consiste na
chamada “dialética interna da cultura” (se por cultura entendermos a
totalidade dos objetos de uso). Essa dialética pode ser resumida assim: eu
topo com obstáculos em meu caminho (topo com o mundo objetivo,
objetal, problemático), venço alguns desses obstáculos (transformo-os em
objetos de uso, em cultura), com o objetivo de continuar seguindo, e esses
objetos vencidos mostram-se eles mesmos como obstáculos. (FLÜSSER,
2007:194)114
112
BERGER, John. Por que olhar os animais? In: Sobre o olhar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980.
Como se vê em Cidade Sitiada, tanto quanto os objetos, as modernas construções urbanas erigidas no
subúrbio não apagam o passado sob a fachada. Resistem na forma de fantasmas, ruínas fantasmais. Ver:
BENJAMIN, Walter. Espelhos. In: Passagens. Belo Horizonte: UFMG, 2006. p. 582.
114
FLÜSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. Organizado
por Rafael Cardoso, tradução de Raquel abi-Sâmara. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
113
59
Arremata afirmando que, quanto mais longe se vai, mais os objetos de uso
bloqueiam a passagem, na forma de carros e de instrumentos administrativos,
duplamente: [primeiro] “porque necessito deles para prosseguir, e, segundo, porque
estão sempre no meio do meu caminho. Em outras palavras: quanto mais prossigo, mais
a cultura se torna objetiva, objetal e problemática” (p.194). As “máquinas, por mais
estúpidas que sejam, contra-atacam, revidam nossas investidas. Como vão golpear
quando se tornarem mais espertas?” (p.48-49). Para ele, é uma ilusão o indivíduo se
sentir livre, já que não alcança a engenharia dos aparelhos que determinam as suas
ações: “Esse é um belo caldeirão de bruxas: cozinhamos mundos com as formas que
quisermos e o fazemos ao menos tão bem como o fez o Criador no decorrer dos
famosos seis dias.”, ironiza. (p.79) 115
A desconfiança da escritora e do filósofo já se tecia desde os frankfurtianos, e
veio a se amplificar, pela maior circulação da Teoria Crítica e pelos debates que
animaram os anos 1960, a ponto de levar a importante publicação Communications a
lançar, em 1969, um número especial com o tema “Objetos”. Nesta edição, Violette
Morin116 propõe uma tipologia que, como ela mesma afirma, não se pretende exaustiva
ou totalizadora; utilizo-a para situar o objeto ficcional em Clarice Lispector e para
entender o incômodo que certas modalidades de artefatos causam na brasileira.
A filósofa distingue o objeto biocêntrico ou biográfico, do objeto protocolar. O
biográfico, seja ele funcional, cultural e/ou decorativo117, integra não só ambiente, mas a
intimidade do usuário no cotidiano. Independentemente de modismos, sujeito e objeto
se utilizam mutualmente. As atividades diárias lhes alteram as formas; eles passam a
adquirir vida própria, deformam–se, têm ciclo vital. Tanto que chega a parecer uma
indiscrição mexer neles; seria “no limite, tão indiscreto quanto fuçar seus bolsos”.
Indicam a experiência do dono, pois fazem parte de sua vida. Ela chega a afirmar que
observar numa casa esses índices pode indicar “aventuras profissionais, mentais ou
afetivas do ocupante”.
Já o objeto protocolar ou cosmocentrado é da ordem, mais do que do mecânico,
do mecanizado; não por acaso Lispector utiliza o termo coringa “coisa”, que acumula
115
SHAVIRO, Steven. The Universe of Things. Texto retirado de seu blog, disponível em:
http://www.shaviro.com/Blog/?p=893. Acessado em 26 de janeiro de 2014. A partir de obra de ficção
científica homônima, de Gwyneth Jones, reflete sobre a relação entre homens e objetos.
116
Violette Naville-Morin, professora de filosofia e socióloga renomada, atua na École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS), em Paris, membro fundadora da revista Communications.
117
Exemplifica com o pêndulo de família, a medalha para o desportista, a máscara egípcia do etnólogo, o
mapa mundi para o viajante.
60
também as noções de enigmático e instante, enquanto impasse do ato nomeador face ao
não nomeável. Esse tipo de objeto, desde a concepção, prima pela operacionalidade e
funcionalidade; a neutralidade constitui a sua meta. É o que Roland Barthes, em
Mitologias118, critica no aburguesamento dos brinquedos, pelas formas pragmáticas
(modelados para repetir funções de gênero, por exemplo, dividindo os destinados às
meninas e os destinados aos meninos) e pela substância. São feitos de “matéria ingrata,
produtos de uma química; matéria plástica que, com “aparência simultaneamente
grosseira e higiênica, mata o prazer, a suavidade, a humanidade do tato”. Já com a
madeira, substância familiar e poética, com sua firmeza, brandura e calor do contato se
faz “objetos de sempre”. Quando cai, não vibra nem range, apenas produz um som
simultaneamente surdo e nítido, “a madeira elimina, qualquer que seja a forma que
sustente, o golpe de ângulos demasiado vivos, e o frio químico do metal”; ela “não
magoa” e “pode durar muito tempo,
modificar pouco a pouco as relações entre o objeto e a mão ; se morre, é
diminuindo, e não inchando com esses brinquedos mecânicos que
desaparecem sob a hérnia de uma mola quebrada. (...) O brinquedo é
doravante químico, de substância e de cor; a própria matéria- prima de
que é construído leva a uma cenestesia da utilização e não do prazer.
Estes brinquedos morrem, aliás, rapidamente, e, uma vez mortos, não
têm para a criança nenhuma vida póstuma. (BARTHES, 1942:42).
Comandado pelo progresso científico de um mundo cada vez mais acelerado, o
objeto protolocar abole a sincronia entre o objeto e o usuário; este último não tem
acesso à engenharia que há por trás do artefato (artifício), mitificando-o. E, do ponto de
vista da comunicação, as coisas passam a falar, no lugar dos proprietários e usuários.
A perspectiva que identifico em Lispector confronta a tese utópica e otimista de
Marshall McLuhan de que os meios de comunicação seriam extensões protéticas e
redentoras dos indivíduos119. Entretanto, considerando outra faceta no pensamento do
teórico canadense, apontada por Michael MacDonald120, apesar de o comunicólogo ter
apostado que as máquinas midiáticas trariam harmonia cósmica, transcendendo espaço e
tempo, ele teria afinal endossado a perspectiva de Heidegger de que a essência da
118
BARTHES, Roland. Brinquedos. In: Mitologias. São Paulo: Diefel,1982.
FILHO, Wilson Oliveira. Desconstruindo McLuhan: O homem como (possível) extensão dos meios.
Rio de Janeiro: E-papers, 2009.
120
Formado em Literatura inglesa, desenvolveu pela UC Berkeley dissertação sobre Derrida, Paul de Man,
Emmanuel Lévinas e Foucault. Leciona na Universidade de Waterloo, onde pesquisa história e teoria da
retórica; estúdios da mídia; retórica e filosofia., e a contribuição decisiva da visão mais sombria da mídia
de massa exposta por McLuhan em estudos de Virilio, Kittler e Baudrillard.
119
61
tecnologia não é tecnológica. As novas mídias – seja o gramofone, a câmara, a máquina
de escrever ou o telefone – mais do que objetos mecânicos, seriam “respostas humanas
à diminuição sensitiva, desmembramento, luto e morte.”121
3.1 O RELATÓRIO DA COISA
Um percurso pelas inserções, em crônicas, contos e romances, dos objetos que a
autora destaca em seu texto, a maioria deles mecânicos ou por ela associados em algum
nível a uma ordem do universo que está fora da compreensão humana, indica a
persistência do tema em sua obra e o modo como os objetos, enquanto construções
sociais, articulam-se a questões filosóficas.
Começo com “O relatório da coisa”, texto sincopado, que versa sobre o mistério
e sobre o tempo mecânico que sufoca o tempo interior. O protagonista é um relógio que
tem um nome. Chama-se Svéglia (em italiano, acorde). Ele é eletrônico e programável à
sua moda – não faz a pessoa dormir; apenas a tira do sono brutalmente, com alarme
estridente que invade, rasga o fluxo do tempo; o proprietário não teria controle sobre
ele. “Parece que seu eletrônico-Deus se comunica com o nosso cérebro eletrônico-Deus:
o som é macio, sem a menor estridência”.
O narrador encadeia vários comentários sobre o aparelho, ao mesmo tempo em
que, de forma aleatória, incrusta pequenas crônicas dramáticas do cotidiano, todas se
referindo a casos milagrosos envolvendo a morte. Como se os fatos da vida se
rebelassem contra a eufórica regulação proposta pela máquina e, ao mesmo tempo, o
narrador ironizasse milagres atribuíveis pela intervenção mágica do objeto:
Chamou-se o médico que disse talvez ser caso de catalepsia. O marido
não se conformou. Descobriu-lhe a barriga e fez sobre ela movimentos
simples — como ele mesmo os fizera quando Svéglia parara —
movimentos que ele não sabia explicar. A mulher abriu os olhos. Estava
em saúde perfeita. E está viva, que Deus a guarde. Isso tem a ver com
Svéglia. Não sei como. Mas que tem, tem. [grifo nosso].
A enunciação projeta a fala desconcatenada. Embora recorra à linguagem
autoritária, imperativa e direta da publicidade, com frases curtas e coordenadas
121
MACDONALD, Michael. Império e Comunicação: a guerra da mídia de Marshall MacLuhan.
Tradução de Rui Gomes de Mattos de Mesquita. Revisão da tradução: Aécio Amaral. In: POLÍTICA &
TRABALHO: Revista de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade
Federal da Paraíba. n. 26 Abril de 2007 - p. 9-26. Disponível em:
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6765
62
(“Insista. Não desanime”), o resultado tem efeito caótico, criando um descompasso
entre a regularidade e euforia do Svéglia e as limitações do cotidiano. Procedimento
similar ao citado Rua de Mão Única, em que Benjamin observa a transformação e o
empobrecimento da escrita devido à invasão de anúncios publicitários na cidade e
sugere que uma das formas de resistir ao fenômeno avassalador é dentro da própria
linguagem. Discursos produzidos mediante o método da colagem desordenam o tempo,
implodem a coerência e linearidade previsíveis dos ponteiros. O drama existencial
humano do tempo fatiado é um modo de controlar o excesso, a angústia, como diversas
vezes expressa a personagem G.H.:
Uma forma contorna o caos, uma forma dá construção à substância
amorfa - a visão de uma carne infinita é a visão dos loucos, mas se eu
cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes então ela não será mais a perdição e a loucura: será de novo a vida
humanizada. (GH:11) [grifo nosso].
Minha vida fora tão contínua quanto a morte. A vida é tão contínua que
nós a dividimos em etapas, e a uma delas chamamos de morte. Eu
sempre estivera em vida, pouco importa que não eu propriamente dita,
não isso a que convencionei chamar de eu. Sempre estive em vida.
(GH:76) [grifo nosso].
Em “O Relatório da coisa”, a angústia e a perda da linguagem articulada são
contingenciadas pelo sistema de valores em curso: as anunciadas vantagens de produtos
devido às novas tecnologias (“o meu que é de pulso, é antichoque, pode-se molhar à
vontade”); a valorização do importado (“você veio da Europa e precisa um mínimo de
tempo para se aclimatar, não é?); a força anônima de grandes indústrias e marcas (“E na
verdade Svéglia não tem nome íntimo: conserva o anonimato”); a disputa de mercado
(“E, por incrível que pareça, Coca-cola é, enquanto Pepsi-cola nunca foi. Estou fazendo
propaganda de graça? Isto está errado, ouviu, Coca-cola?”); a falta de autonomia.(“ Mas
é você que faz acontecerem as coisas. Me aconteça, Svéglia, me aconteça.”); a falta de
consciência em relação aos próprios atos (“Esse relógio não é meu. Mas apossei-me de
sua infernal alma tranquila.”).
O relógio impera até mesmo em (por causa de) sua forma minúscula,
independente, humanizada (“Não é de pulso: é solto, portanto. Tem dois centímetros e
fica de pé na superfície da mesa”). Os objetos técnicos para uso doméstico não são
apenas produtos da sociedade, mas também a produzem. As “máquinas, por mais
63
estúpidas que sejam, contra-atacam, revidam nossas investidas. Como vão golpear
quando se tornarem mais espertas?” (FLÜSSER, 2007:48-49).
Todos esses apelos, na forma de cacos, arranham a escuta. A corrosão discursiva
irrompe em uma produção escrita que se autodenomina relatório, gênero discursivo cuja
eficácia e objetividade é a antípoda, por seu regramento e logicidade, da fala literária. A
gagueira do texto simula uma contraofensiva do apagamento da voz e alerta quanto a
critérios formais rígidos de classificação de uma obra. A proposta é produzir “a
antiliteratura da coisa”.
As mídias estão disponíveis ao uso e a arte é uma delas, só que uma obra
artística é um medium-de-reflexão, ou seja, mídia ou meio que conduz ao conhecimento
crítico, expressão usada por românticos alemães e retomada por Benjamin.122 A rebeldia
e a angústia associadas à pressa do relógio tecnológico (que não acompanha o ritmo das
estações, compasso evocado em tantas histórias de Lispector e sempre associado ao
ritmo interno da personagem) prepara-se na construção da história e na linguagem
criativa, processo inaugurado com o romance moderno e que sofreu “uma modificação
análoga à da pintura moderna”. Diz Anatol Rosenfeld123:
À eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no
romance a da sucessão temporal. A cronologia, a continuidade temporal
foram abaladas, “os relógios foram destruídos”. O romance moderno
nasceu no momento em que Proust, Joyce, Gide, Faulkner começa a
desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, presente e futuro.
(1976:80)
O aspecto aterrador do relógio, em seu desenvolvimento moderno, foi iniciado,
segundo McLuhan, nos mosteiros medievais, atendendo à necessidade de criar regras
sincronizadas para a vida comunal. Obra de tecnologia, produz segundos, minutos e
horas em linha de montagem:
Processado desta forma uniforme, o tempo se vê separado dos ritmos da
experiência humana. Em suma, o relógio mecânico contribui para criar
a imagem de um universo numericamente quantificado e
mecanicamente acionado. (...) O tempo medido, não segundo a
singularidade da experiência privada, mas segundo unidades abstratas e
uniformes, gradualmente foi penetrando no sentido da vida, tal como
122
BOLLE, Willi. A Metrópole como Medium-de-reflexão. In: Leituras de Walter Benjamin. Org.
Marcio Seligmann-Silva. São Paulo: FAPESP: Annablume, 1999.
123
ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o romance moderno. In: Texto/contexto. São Paulo:
Perspectiva,1976.
64
sucedeu com as tecnologias da escrita e da imprensa. (MCLUHAN,
2005:168-169)124
Esse histórico demonstra o sistema de controle pelo qual trabalhar, comer e
dormir se acomodaram “mais ao relógio do que às necessidades orgânicas”. Por essa
perspectiva contextualizada vê-se como Clarice, ao inserir objetos no cotidiano dos
personagens, com conotação inquietante, agrega o contexto sociocultural a questões de
ordem filosófico-existencial, e amplia o raio interpretativo. A inquietação sobre a
origem e sobre o tempo, devido à distância abissal dos começos das coisas (embora “o
início” se manifeste em cada ser que nasce) e esse mistério não estar decifrado, se repete
no convívio diário com materiais que martelam a submissão do homem a uma ordem
superior incontrolável não apenas pelo estar no mundo, mas por contingências
históricas.
Passo agora a outro elemento citado pela autora. O guindaste, máquina elevadora
medieval, espécie de braço anatômico com força e peso desproporcionais, recria a figura
de animal pré-histórico, só que revestido de novas e assépticas montagens, membros
mecânicos agigantados, pássaro plantado no chão. A presença ostensiva e volumosa
dessa prótese faz o ser humano se sentir mais potente, como dotado de mais um braço,
potência que se cola ao agir maquínico, cérebro do comando fora do corpo. É
assombroso o efeito do autômato anônimo, sem memória da engenharia desenvolvida
na Idade Média, que o inventou para ajudar nas grandes edificações; ele ganha imagem
aterrorizadora.125
Em “O ovo e a galinha”, reflexão sobre as origens da vida e sobre o alcance do
olhar, o equipamento é invocado para contrapor o tempo humano e imemorial e o tempo
dos inventos de automação. O ovo, mesmo domesticado e posto sobre a mesa,
desgarra-se da cena prosaica doméstica da casa para ser fecundado na palavra de quem
tenta dizê-lo, decifrar o enigma. O fato de ter sido disposto na cozinha já o faz ocupar
um lugar ambíguo de preservação da vida e de devoração. Inverte-se a perspectiva
onírica bachelardiana da casa como intimidade protegida126; ela se projeta (como em
124
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Editora
Cultrix, 2005.
125
“As máquinas são simulações dos órgãos do corpo humano. A alavanca, por exemplo, é um braço
prolongado. Potencializa a capacidade que tem o braço de erguer coisas e descarta todas as suas outras
funções. É ‘mais estúpida’ que o braço, mas em troca chega mais longe e pode levantar cargas mais
pesadas”. (FLUSSER: 2007:46)
126
Bachelard: à primeira vista, a casa é “um objeto rigidamente geométrico. Somos tentados a analisá–la
racionalmente. Sua realidade inicial é visível e tangível. é feita de sólidos bem talhados, de vigas bem
65
outras obras de Clarice) como lugar opressor e a cozinha se transforma em uma legião
estrangeira, cena de assassinatos.
Ver o ovo é impossível: o ovo é supervisível como há sons
supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as
máquinas vêm o ovo. O guindaste vê o ovo. – Quando eu era antiga um
ovo pousou no meu ombro. [grifo nosso] (LE:49)
O enigma e o poder do Ovo-Deus-Origem se expressa na afirmação irônica e
paradoxal de que ele só pode ser visto justamente por máquinas não dotadas de visão e
de emoção, como o inerte guindaste. A prova de sua existência é dada a partir da
analogia com o som supersônico, tecnologia de ponta na época, esforço humano em
superar os limites da natureza.127 Na referência ao guindaste, acaba equivalendo
máquina e Deus, como poderes impostos ou herdados, sem explicação e invisíveis. Do
mesmo modo, o ovo tem lugar garantido na casa, mas como um monumento
improvável; pouco importa se é outro ovo substituindo o ovo anterior: “ver um ovo
nunca se mantém no presente”. Ele propõe o ciclo eterno de vida e morte. Ou a
permanente devoração como condição de vida, que assume faceta especialmente
violenta quando são quebradas as regras básicas de civilidade que garantem a todos o
direito à vida. É o que a escritora
dirá no texto “Mineirinho”, em que fala do
assassinato do bandido pela polícia:
Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que
eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor,
guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter
esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa
poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos
salvamos.128
A desconstrução do guindaste se propaga na escrita literária, que segue o
princípio da colagem; mescla o alto e o baixo; emprega linguagem rudimentar, com
sintaxe e vocabulário de cartilha didática, enquanto assume grandes e radicais temas
“sérios”.
Levando em conta o procedimento da autora de fazer reiteradamente
encaixadas. A linha reta predomina. O fio de prumo deixou–lhe a marca de sua sabedoria, de seu
equilíbrio. Tal objeto geométrico deveria resistir a metáforas que acolhem o corpo humano, a alma
humana. Mas a transposição para o humano ocorre de imediato, assim que encaramos a casa como um
espaço de conforto e intimidade, como um espaço que deve condensar e defender a intimidade. Abre–se
então, fora de toda racionalidade, o campo do onirismo”. (Bachelard, 1957:64)
127
Foi na Segunda Guerra que se tentou vencer o desafio de quebrar a barreira do som e a autora
certamente leu sobre o primeiro voo reconhecido superior à velocidade do som em 1947, projeto de
pesquisa norte-americano. O primeiro avião de produção a romper a barreira do som foi um F-86 Sabre
Canadair, pilotado por Jacqueline Cochran, primeira mulher piloto “supersônica”.
128
LISPECTOR, Clarice. Mineirinho. In: Para não esquecer. São Paulo: Ática. 1979. p. 101-103.
66
remissões literárias (mais ou menos ocultas)129, é pertinente a associação dessa técnica
da escrita ao procedimento dramatúrgico do deus ex machina. A expressão latina faz
referência à intromissão inesperada e inexplicável de personagem, artefato ou evento
para concluir e dar sentido à trama. No teatro grego, em que o dispositivo surgiu, um
guindaste colocava no palco a figura de um deus que, com sua fala, conectava as partes
da história, dando-lhe sentido coeso. A ironia de novo se impõe neste texto meditativo,
sem trama e sem progressão dramática, fora das convenções de logicidade de narrativas
tradicionais130. A remissão ao guindaste evoca a dificuldade de explicar logicamente o
inexplicável e demanda ao leitor um esforço para acompanhar a rede associativa, que
segue livre de constrangimentos. Enquanto um ser indeterminado, manipula os desejos e
estabelece valor monetário para as ações humanas, diante da racionalidade do mundo
moderno o artista é reduzido a uma função instrumental.
Liberdade ou estou sendo mandada? Minha revolta é que para eles eu
não sou nada, sou apenas preciosa. [...] Com o dinheiro que me dão
ando ultimamente bebendo. [...] Nem meu espelho reflete mais um rosto
que seja meu. Ou sou agente ou traição mesmo. (FC:57)
[...] sou instrumento do trabalho deles. Mas de qualquer modo era só
instrumento que eu poderia ser, pois o trabalho não poderia ser mesmo
meu. Já experimentei me estabelecer por conta própria e não deu certo;
ficou-me até hoje essa mão trêmula. (FC:58) [grifos nossos]
Guindaste, agora na forma de imagem, metaforiza o constrangimento, o aperto
do vestido-objeto que modela em sacrifício o corpo de Joana em Perto do Coração
Selvagem, sinalizando o incômodo da roupa, enquanto desenvolve uma memória onírica
e improvável de seu casamento: “Desceu pela escadaria de mármore, sentindo na planta
dos pés aquele medo frio de escorregar, nas mãos um suor cálido, na cintura uma fita
apertando, puxando-a como um leve guindaste para cima. (…)”. (CS:101)
O mesmo engenho volta em A Paixão Segundo GH reportando a um imaginário
assombroso significando a força anônima, hiperbólica e avassaladora (no plural:
129
Em “Restos de ficção: a criação biográfico-literária”, Edgar Nolasco apresenta ótimo estudo sobre o
veio biográfico-literário na escritora.
130
Na arte da modernidade o ponto focal é a “interação do texto com as normas históricas e sociais do seu
[texto] ambiente, de um lado, e, de outro, a disposição potencial do leitor”. Daí Iser diferenciar a
interação da integração. Por esta, entrariam o self do autor e o do leitor; por aquela, o contato do leitor (e
sua história) com o texto se confronta com as coordenadas do literário. “The act of Reading” e “O que é
fictício no texto ficcional”. In: COSTA LIMA, Luis (org.). Teoria da Literatura em suas fontes. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
67
escadas, guindastes, homens, contruções) do progresso.
Por enquanto, hoje, eu vivia no silêncio daquilo que daí a três milênios,
depois de erosado e de novo erguido, seria de novo escadas, guindastes,
homens e construções. Eu estava vivendo a pré-história de um futuro.
Como uma mulher que nunca teve filhos mas os terá daí a três milênios,
eu já vivia hoje do petróleo que em três milênios ia jorrar. [grifos
nossos] (GH:127-128).
Nesta altura, vale trazer outro texto da autora, povoado de aparatos técnicos, e
que permite avançar sobre como, na obra dela, as novas formas comunicacionais
evidenciam a crise profunda de diálogo e a perda de contato entre as pessoas e expressa
uma deturpação de valores como solidariedade e liberdade; a questão já havia sido
sintetizada por Benjamin:
A liberdade do diálogo está se perdendo. Se antes, entre seres humanos
em diálogo, a consideração pelo parceiro era natural, ela é agora
substituída pela pergunta sobre o preço de seus sapatos ou de seu
guarda-chuva. Fatalmente impõe-se, em toda conversação em
sociedades, o tema das condições de vida, do dinheiro. No caso, trata-se
não tanto das preocupações e dos sofrimentos dos indivíduos, nos quais
talvez pudessem ajudar um ao outro, quanto da consideração do todo. É
como se se estivesse aprisionado em um teatro e se fosse obrigado a
seguir a peça que está no palco, queira-se ou não, obrigado a fazer dela
sempre de novo, queira-se ou não, objeto do pensamento e da fala.
(2010:23)131
O telefone, cuja função seria aproximar, facilitar e tornar prática a interlocução,
no fim das contas oblitera o corpo como um todo e deixa apenas, como fragmento ou
resíduo, a voz. O “outro” fica à distância, mediado pela técnica.
O aparelho soa e emudece em várias histórias de A via crucis do corpo. Os
diálogos por seu intermédio tendem ao desastre. “Por enquanto”, de cunho
autobiográfico, expressa a solidão da protagonista narradora. As coisas que mobíliam e
decoram a casa menos ajudam e mais dramatizam o seu caos interior132.
É um texto sem esperança, cadenciado pelo ritmo penoso do trabalho (“trabalhei
sozinha o dia inteiro”); pela falta de apetite; pela comida sem gosto. Ela vai-se
esvaziando, à medida que as horas passam, ficando reduzida às necessidades básicas da
sobrevivência (“fazer pipi”). A personagem está numa ilha-apartamento repleta de
131
BENJAMIN, Walter. Viagem através da inflação alemã. In: Obras escolhidas II: Rua de Mão Única.
Trad. R. Rodrigues Torres Filho e J. C. Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010. V. 2. p. 23.
132
Estas cogitações reaparecerão noutros textos de Clarice Lispector. Em A Hora da Estrela são as
marcas e o questionamento ao consumo no que se refere à crise existencial do escritor (e alguns de seus
instrumentos de ofício, os dedos e a máquina de escrever).
68
recursos comunicativos eletrônicos e mecânicos que, criam uma falsa utopia de
suprimento prático e emocional e não atendem àquilo a que simulam estar destinados.
Enquanto todo o farnel de equipamentos hiperboliza-se, apequena-se a pessoa que está
precisando de um elo verdadeiro, uma conexão, o corpo em presença.
Um dos mais importantes teóricos do designer, o já citado Flüsser,
contemporâneo da autora, aloca os artefatos como parte integrante da existência
contemporânea. Desenvolveu uma teoria especificamente sobre “O gesto de telefonar”,
texto incluído em seu livro Os gestos133. Interessado no impacto da tecnologia sobre a
comunicação e as relações entre as pessoas, constata que, no telefone, o corpo se
separava da voz e esta da imagem do corpo. Além do mais, cria uma gangorra entre
quem toma a iniciativa de ligar e quem recebe a ligação, alternando um lugar ativo ou
passivo134. O dilema está posto em “Por enquanto”135.
O texto novamente se estrutura por frases encavaladas que mal se encadeiam somam-se instantes e obstáculos. A história se monta por acúmulos e remendos. Os
objetos na casa, concretamente presentes e destinados a abrir canais, não colaboram
para que laços afetivos se efetivem. O compromisso de sair à noite com amigos se torna
uma meta (esperança de salvação), controlada o dia inteiro pela atenção ao telefone
inerte, mudo, incomunicável, materializando o peso do passar das horas. Telefone
bomba relógio que, quando se manifesta, é para invadi-la com a morte: “Hoje me
telefonou uma moça chorando, dizendo que seu pai morrera. É assim: sem mais nem
menos.” (VC: 59). A notícia agrava e confirma o desamparo que a atravessa.
Eis outra característica apontada por Flüsser: o telefone consubstancia o
expectar. O aparelho está ali para confortar o ser humano numa de suas determinações
ontoteológicas essenciais. Descreve quatro tipos de espera, que equivalem a posturas
existenciais e que determinam o modo com que se responde à chamada (“appel” –
apelo, em francês) do outro. A primeira é da ordem da dependência: traz uma tensão
entre esperança e fé no que acontecerá. “O telefone mudo forma o centro do universo
vital”, como se viu na expectativa da narradora, como se o signo externo redentor
aliviasse a crise.
133
FLÜSSER, Vilem. Le geste de téléphoner. In : Les gestes. Paris: Editions Hors Commerce-D’ARTS,
1999. p.151-160.
134
POITEVIN, Jean-Louis. Éditions TK-21 LaRevue, n° 30. Jan, 2007. Disponível em : http://www.tk21.com/Seminaire-2006-2007-IV-Le-geste-de .
135
LISPECTOR, Clarice. Por enquanto. In: A via crucis do corpo. Rio de Janeiro: Artenova, 1974.
69
Outras duas situações referem-se a esperas não ativas. Acontece quando se está
dormindo ou se é pego de surpresa. A ligação soa como agressão: irrupção do público,
do “de fora”, no privado, no mundo íntimo, “como uma facada no ventre”, pela abolição
de fronteiras. A pessoa que chama se apresenta de forma perniciosa – através da voz,
presença ao mesmo tempo real e fantasmática. Em “Dia após dia”, outro texto do
mesmo livro, entra em ação o potencial invasivo do mesmo aparelho, que irrompe na
casa, inesperadamente, trazendo manifestações de rancor e raiva. Ela recebe uma
ligação ameaçadora, sobre sua decisão de escrever por encomenda A via crucis do
corpo, com textos eróticos: “pense bem antes de escrever um livro pornográfico, pense
se isto vai acrescentar alguma coisa à sua obra.”. E adiante: “Mas a pessoa que me
telefonou zangou-se, eu me zanguei, ela desligou o telefone, eu liguei de novo, ela não
quis falar e desligou de novo.” (VC:64).
A presença física do artefato espelha a falsa ideia da comunicação fácil e a
panaceia da tecnologia como meio de contato. Ao contrário, arranha todas as ausências
- de toque e do toque. “O telefone não toca. Estou sozinha. Sozinha no mundo e no
espaço. E quando telefono, o telefone chama e ninguém atende. Ou dizem: está
dormindo”. O telefone volta ao texto diversas vezes, apitando o compasso arrastado do
dia monótono, infernal, tempo de espera. A técnica disponível não facilita a
aproximação; ao contrário, cria vazios, intervalos entre o nada e o nada.
Quando a gente começa a se perguntar: para quê? então as coisas não
vão bem. E eu estou me perguntando para quê. Mas bem sei que é
apenas "por enquanto". (VC:61).
Nesse intervalo dei um telefonema e, para o meu gáudio, já são dez para
as sete. (VC:62).
O telefone agiliza o contato, mas define um modelo de comunicação com um
padrão de conversação próprio pelo qual a voz faz presença, mas são abstraídos outros
recursos expressivos corporais. A interação é dificultada. O telefone metaforiza o
conflito entre supressão e desejo de afeto.
Que faço? telefono a mim mesma? Vai dar um triste sinal de ocupado,
eu sei, uma vez já liguei distraída para o meu próprio número. Como
acordo quem está dormindo? como chamo quem eu quero chamar? o
que fazer? Nada: porque é domingo e até Deus descansou. Mas eu
trabalhei sozinha o dia inteiro.
Mas agora quem estava dormindo já acordou e vem me ver às oito
horas. São seis e cinco. (VC: 60).
70
A sensação de que o espaço fica subitamente apertado, sufocante, pode ser
descrita a partir de David Harvey, que propõe a expressão “compressão do tempoespaço” para “os processos que revolucionam as qualidades objetivas do espaço e do
tempo, a ponto de nos forçarem a alterar, às vezes radicalmente, o modo como
representamos o mundo para nós mesmos”136. (1993:219) No caso da personagem de
Clarice, o enclausuramento no apartamento cria a sensação de um presente contínuo.
Entregue às suas patéticas vinte e quatro horas, a narradora é atirada a uma
solidão involuntária. Corpo recluso, esbarra em contatos sem contato. O texto de
Lispector dramatiza o fracasso da utopia de dois inventores: Thomas Edison,137 ao
projetar o fonógrafo, pretendia preservar as últimas palavras dos moribundos; em suma,
a imortalidade; e Graham Bell almejava que o telefone se convertesse numa resposta à
morte e ao luto, espécie de canal alternativo de espiritualismo.
Em sociedades industrializadas, conforme o antropólogo Daniel Miller (“Behind
Closed Doors”), o que mais interessa às pessoas ocorre atrás das portas, na esfera
privada. Daí a atenção na relação com a própria casa - estrutura, decoração, mobília e
objetos que preenchem os espaços.
A casa propriamente dita se tornou o lugar de suas relações e de sua
solidão; o lugar de seus encontros mais amplos com o mundo através da
televisão e da internet, mas também o lugar onde refletem sobre e
encaram a si mesmos longe dos outros (…).
É a cultura material em nossos lares que aparece como uma apropriação
de um mundo mais amplo e frequentemente como uma representação
deste mundo em nosso domínio privado. E ainda precisamente porque é
uma esfera privada, um estudo que investigue tal relação íntima, um
compartilhamento que pode apenas ocorrer se formos nós mesmos.
(2001:1)138
136
HARVEY, David. Condição Pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da Mudança Cultural.
Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1993.
137
A que ela se refere em “Onde estiveste de noite”, num contexto também assustador.
138
MILLER, Daniel. Home Possessions: Material Culture Behind Closed Doors (Materializing Culture)
Paperback – October 1, 2001. No original: The home itself has become the site of their relationships and
their loneliness: the site of their broadest encounters with the world through television and the Internet,
but also the place where they reflect upon and face up to themselves away from others (…). Acessado em
: https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic_staff/d_miller/mil-32
It is the material culture within our home that appears as both our appropriation of the larger world and
often as the representation of that world within our private domain.
71
A respeito dos sentidos de proximidade na comunicação humana (olfato,
paladar, tato), o antropólogo e anatomista inglês Ashley Montagu139 avalia que as
tendências da moderna comunicação estão cada vez mais baseadas nos sentidos de
distância (audição e visão). O tátil fica circunscrito a áreas de refúgio, desenvolvidas
apenas quando falta a visão, “espécie de "remédio", e não como parte de um complexo
sistema comunicativo. Bloqueiam-se a proximidade e o contato corporal, em especial o
toque e a carícia.
O escritor e crítico de arte Jean-Louis Poitevin, comentando Flüsser, acentua a
discussão filosófica subjacente “entre a chamada e a escuta, entre o entender e o falar,
entre o receber e o dar, entre a voz e o sentido”. A estranheza começa no fato de que sua
existência supõe dois pontos de vista, ou duas entidades (a que fala, a fonte; e a que
escuta, capta, analisa, transcreve). Mas não só: o aparelho não é de todo submisso à
vontade do utilizador (como um rádio que, salvo em regimes ditatoriais, se liga e se
desliga quando e como se quer). Toca como se ordenasse, e mesmo contra a vontade de
quem o tem - e isso é uma de suas características fundamentais. A situação dialógica e a
dinâmica entre atividade/passividade expressam o alcance e o limite da escuta, bem
como a ressonância de vozes interiores e exteriores. O telefone “faz de cada um de nós
um tipo esquizoide ou, para ser mais exato, faz de nós pessoas confrontadas
permanentemente com uma estrutura psicótica”.140
A relação a dois, através do aparelho, obriga, ainda, o uso de código linear não
redundante, protótipo da ordem cibernética – não pode haver erro. Eis o ponto de
inflexão pelo qual se passa da função dialógica à de vigilância e controle, tornando-o
precursor da ambiguidade dos aparelhos de comunicação. Aproxima ao mesmo tempo
em que ordena. Na forma de prece ou de ordem, a voz na outra ponta da linha é
impositiva. Um neutro em ato. Como um “imperativo categórico”141 - uma ordem.
Alguém à sua porta, sem avisar, apertando a campainha. Daí, para Flüsser, o telefone
ser “um apelo idiota ao qual não se pode subtrair”.
139
MONTAGU, Ashley. Tocar: o significado humano da pele. Tradução M. Silvia Mourão Nett. São
Paulo: Summus, 1971.
140
POITEVIN, Jean-Louis. Éditions TK-21 LaRevue, n° 30. Jan, 2007. « Fait de chacun de nous une
sorte de schizo ou, pour être plus exact, fait de nous des gens qui sont confrontés en permanence à une
structure psychotique ». Disponível em : http://www.tk-21.com/Seminaire-2006-2007-IV-Le-geste-de.
141
Usado aqui metaforicamente. Kant o define como o princípio que determina a passagem de uma ação
contingente a uma ação necessária incondicional, passível de repetição ou universalidade, posto que
guiada pela moral
72
Mas, claro, há momentos em que a chamada integra um espaço orgânico, uma
disposição para a resposta. A função dialógica não é a dimensão primeira ou essencial
do telefone. Depende de decisões da pessoa em relação ao aparelho.
Walter Benjamin também registrou memórias assustadoras com relação ao
aparelho, em texto de mesmo nome142. Naqueles dias o telefone pendia, contorcido e isolado, na parede entre o
baú de roupa suja e o medidor de gás, num canto do corredor dos
fundos, donde seus ruídos só fazer aumentar os sobressaltos nos lares de
Berlim. Quando, depois do longo apalpar naquele tubo escuro, já quase
a perder o domínio da consciência, chegava até ele para acabar com a
balbúrdia, arrancando os dois auscultadores, que tinham o peso de
halteres, e espremendo a cabeça entre eles, eu ficava impiedosamente
entregue à voz que ali falava. Nada havia que abrandasse o poder
sinistro com que me invadia. Impotente, eu sofria, pois me roubava a
noção do tempo e do dever e de meus propósitos, e, igual ao médium,
que segue a voz vinda de longe que dele se apodera, eu me rendia à
primeira proposta que me chegava através do telefone. (2010:80)
A localização do aparelho num “canto do corredor dos fundos” prenuncia um
estágio entre morto e vivo, o que torna a sua presença, semioculta, mais poderosa. Ele
não toca, faz ruídos. Camuflado “num canto do corredor dos fundos”, cercado de roupa
suja e próximo ao medidor de gás, é a própria imagem da desolação, como um
enforcado: “pendia, contorcido e isolado”. Fica oculto e, ao se manifestar, é como um
grito no escuro. Os verbos “arrancar” e “espremer” e os adjetivos “impotente” e
“escuro” acentuam a atmosfera lúgubre.
Retomando o rol de “bichos especializados” feito pela autora, há ainda o
armário, de que trataremos depois, explicando por que foi deslocado para o final;
prossigo com o que talvez surpreenda o leitor de Clarice: a máquina de escrever e a
televisão.
Por mais espantoso que pareça, outro obstáculo no território doméstico é a
mecânica máquina de escrever, instrumento de trabalho da narradora, meio de
comunicação à sua disposição e que neste dia materialmente lhe resiste, há um bloqueio
entre a ponta de seus dedos e o texto que não evolui.
Para uma escritora que se sustenta com a produção escrita e que nutre um
convívio diário com este objeto biográfico vital – inúmeras fotografias testemunham sua
142
BENJAMIN, Walter. O telefone. In: Infância em Berlim por volta de 1900. In: Obras escolhidas: Rua
de Mão Única. Trad. R. Rodrigues Torres Filho e J. C. Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010. p.
71.
73
presença sobre o colo da escritora, extensão de si mesma -, nesse contexto se mostra
como entrave mecânico, a fazer um ruído sem linguagem. Não expressa relação de
prazer, mas de uso, meio de sobrevivência que lhe machuca as mãos. Conforme
Violette Morin, um objeto industrializado (protocolar) pode se transformar em
biográfico, conforme a mudança de relação que entretém com quem o possui ou o
maneja, e vice-versa. Mais do que os traços funcionais e a durabilidade, é o tipo de
vinculo que se cria entre sujeito e objeto que conta.
Por outros motivos, em A Hora de Estrela a máquina de escrever permite
sobrevida a Macabéa, mas é mediação comunicacional parcamente operante; no fundo,
um equívoco, uma enganação. De que lhe serve, se não a domina, ou melhor, se não
domina a linguagem, pois não é a parte estritamente motora que está em jogo? O
diploma que conseguiu quando ainda morava no Nordeste, com um cursinho de
datilografia pago pela tia, é retrato de seu fracasso. A máquina é falso signo de
superação de sua condição social. A nordestina é vítima de uma ilusão quanto à sua
formação técnica. A máquina não emancipa.
Em “Por enquanto” outros meios de comunicação elétricos e eletrônicos não
respondem às demandas afetivas internas. O rádio oferece o que está previamente
programado, e o que ouve não coincide com seu estado de espírito, não sintoniza o seu
tempo interior. Sem escolha, a expansão pretendida é frustrada, falta o corpo. Num
lamento adorniano diz: “Liguei meu rádio de pilha. Para a Ministério de Educação. Mas
que música triste”. Em seguida se anima, com a perspectiva de um convívio corpo a
corpo: “Vou convidar Chico Buarque, Tom Jobim e Caetano Veloso e que cada um
traga a sua viola”.
Outro eletrônico doméstico que se expande nos anos 60 e aparece numa rara
cena, para reiterar a sua inutilidade no preenchimento da falta, é a televisão, que ela
interpreta à moda brasileira como espaço de sociabilidade, convívio e trocas, através de
comentários sem a sanção erudita, no desenrolar da programação:
São cinco para as sete. Se me descuido, morro. É muito fácil. É uma
questão do relógio parar. Faltam três minutos para as sete. Ligo ou não
ligo a televisão? Mas é que é tão chato ver televisão sozinha. Mas
finalmente resolvi e vou ligar a televisão. A gente morre às vezes.
(VC:62).
Falham os meios de comunicação disponíveis na casa que não se revela um lar,
exceto pelos cuidados que a empregada tem com ela, e mesmo assim a narradora aborta
o gesto de demonstrar gratidão.
74
A crônica “Cérebro eletrônico: o que sei é que é tão pouco” (publicada no Jornal
do Brasil em 13/07/1968) traz o tema computador, que, em menos de dez anos, passaria
a entrar nas casas de famílias de maior posse, tendo em seguida, com preço mais
acessível, a adesão da classe média.
A autora não escapa ao solo romântico, no confronto entre sentimento (amor) e
técnica (morte).143 Efetivamente, o cenário político mundial, com a guerra fria,
estimulava a desconfiança quanto ao destino da humanidade. As grandes potências se
desafiavam através da ciência, do aparato bélico e da tecnologia: guerra espacial entre
soviéticos e norte-americanos, de um lado, e megacomputadores acumulando e
concentrando informações, de outro. As pesquisas geraram aparelhos de uso cotidiano,
causando impacto no imaginário da época; artistas e intelectuais, apreensivos com o
aumento do consumismo e com as politicas neocolonialistas, desencadearam
movimentos como a Contracultura e o Tropicalismo.
A perspectiva do texto de Clarice indica uma reação a esse quadro geral; sua
perspectiva está em sintonia com a do cantor e compositor Gilberto Gil, em dois
momentos; na mesma época em que publicou a crônica, ele lança duas composições
com abordagens similares à dela. Em “Lunik 9” (referindo-se à nave espacial
homônima), de 1966, ele exprime um misto de espanto, preocupação e maravilhamento
com a chegada do homem à Lua (“O que será do verso sem luar?/ O que será do mar, da
flor, do violão?”).
Os dois artistas evocam, com nostalgia antecipada, um futuro que se planta no
presente, ao mesmo tempo em que perfilam de toques irônicos a apreensão com os usos
de pesquisas voltadas para o desenvolvimento científico-tecnológico. Ambos temem o
adestramento e a subjugação tanto individuais quanto coletivos. Gil pontualmente se
refere a novos modelos bélicos (“guerras de astronautas/ nos espaços siderais”), como
desdobramento da guerra fria. Ela é mais cética, já que o compositor evoca a esperança;
ela, não.
Mais longe ainda irá o questionamento do poeta Carlos Drummond de
Andrade, em seu “O homem, as viagens”, pois amplia a discussão do colonialismo pelas
143
Aspectos românticos na obra de Lispector, a partir dos místicos e de filósofos alemães foram objeto de
um trabalho final que desenvolvi para o final do curso “O Romantismo, nosso contemporâneo”,
ministrado por Antonio Cândido, na PUC-Rio, em 1988.
75
então chamadas primeiras potências, e evoca questões ambientais discutidas na
Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972)144.
A narradora de “Cérebro eletrônico” replica no texto a máquina automática,
parodiando fórmulas retóricas pré-moldadas e diretivas como a dos manuais de
instruções, de redação oficial e de publicidade: “Peço a quem de direito que me escreva
explicando melhor o cérebro eletrônico em funcionamento”. Reiteradamente aciona os
termos “função” e “funcionamento”. E faz humor irreverente ao flexionar no feminino o
adjetivo em “máquina computadora”. Assim sabota a venda fraudulenta de um produto
que se arvora com capacidade - sobretudo com um tipo - de memória que não tem.
Como em “Relatório da coisa”, em que “O Svéglia é de Deus. Foram usados cérebros
humanos divinos para captar o que devia ser este relógio”.
Benjamin, tratando da “transformação da escrita pela publicidade”, sugere, em
“Guarda-livros juramentado”, que os experimentos de Mallarmé e dos dadaístas
deveriam ser entendidos a partir do emprego das “tensões gráficas do reclame na
configuração da escrita.” Na propaganda, a escrita é arrastada para as ruas e “submetida
às brutais heteronomias do caos econômico”, que deslocam as coisas “perigosamente
perto de nossa cara”, e pela destruição da distância necessária ao jogo da
contemplação”. É contra essa escrita que as vanguardas estariam reagindo145.
(BENJAMIN, 2010:27-28).
Além de máquina para “conjurar palavras de ilusão”, a mídia impõe uma nova
linguagem com poder único de expressão e faz emergir um modo de persuasão que
recruta todos os recursos da retórica clássica. Roland Barthes também vê surgir uma
espécie de “máquina cibernética” – formando um supergênero retórico ou um hiperretórico146.
A outra música de Gil é “Cérebro eletrônico” (1969) e saiu apenas três anos
depois de “Lunik 9”. A evocação da necessidade de expressão dos afetos e de cogitação
sobre a existência reintroduz a inflexão romântica: “Só eu posso pensar se Deus existe/
Só eu/ Só eu posso chorar quando estou triste”. E Lispector: “Mas o amor é mais
144
ANDRADE, Carlos Drummond de. “O homem, as viagens”. In: As impurezas do branco. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1974. p. 27. “Restam outros sistemas fora/ do solar a colonizar./ Ao acabarem
todos/ só resta ao homem/ (estará equipado?)/ a dificílima dangerosíssima viagem/ de si a si mesmo:/ pôr
o pé no chão/ do seu coração/experimentar/colonizar/civilizar/humanizar/o homem/ descobrindo em suas
próprias/inexploradas entranhas/a perene, insuspeitada alegria/ de conviver.”
145
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II: Rua de Mão Única. Trad. R. Rodrigues Torres Filho e J. C.
Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010. v.2.
146
BARTHES, Roland. A aventura semiológica. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p.8.
76
misterioso do que o cérebro eletrônico e no entanto já ousei falar de amor. É
timidamente, é audaciosamente, que ouso falar sobre o mundo.” A questão preocupava,
estava no ar. Drummond, novamente, publica “Ao Deus Kom unik assão”, satirizando a
visão utópica de McLuhan e a perda de identidade entre os apelos voláteis de uma
comunicação vazia147.
O agente externo com capacidade de tudo solucionar de forma simples, rápida e
eficaz se duplica, conforme o mesmo texto de Clarice, no sonífero, um produto da
indústria farmacêutica que apresenta aumento significativo de consumo desde os anos
60148. Debocha do medicamento que apregoa curar o esquecimento: “Tudo isso vem a
propósito de eu simplesmente não me lembrar quem me explicou sobre o cérebro
eletrônico.” A solução mágica soa-lhe pouco crível (e não por acaso repete no mesmo
parágrafo a expressão “falta de memória”, como um cacoete)149.
Partindo deste princípio, chegamos ao definidor eletrônico: a partir de
um desenho feito num papel magnético a máquina (ou o cérebro) pode
reproduzir em matéria o desenho. Isto é: entra o desenho e sai o objeto
(cibernética, etc.) Há a experiência plástica, visual e também literária da
reprodução (número e qualidade). A sensação é de apoio para o homem.
Compensação do erro. Há possibilidade de você lidar com uma máquina
e seus sensores como a gente gostaria de lidar com o nosso cérebro (e
nossos sensores), fora da gente mesmo e numa função perfeita.
(DM:115) [grifos nossos]
Não há magia para a incapacidade mnemônica150. Ela desacredita dos milagres
ofertados na forma de pílulas, assim como expõe as curas milagrosas Svéglia.
Decididamente estou precisando ir ao médico e pedir um remédio
contra a falta de memória. Ou melhor, uma amiga já me deu dois vidros
de umas pílulas vermelhas contra a falta de memória, mas exatamente é
147
ANDRADE, Carlos Drummond de. [1973]. Se komuniko /que amorico/me centimultiplico /scotch no
bico/ paparico/ rio rico/ salpico /de prazer meu penico/ em vosso honor, ó Deus komunikão./ Farto de
komunikar /Na pequenina taba/ subo ao céu em foguete/ até a prima solidão/ levando o som /a cor, o
pavilhão da komunikânsia/ interplanetária interpatetal./ Convoco os astros/para o coquetel/os mundos
esparsos/ para a convenção/ a inocência das galáxias/ para a notícia. p14
148
Há outros fatos por trás disso. Além da disseminação do uso de drogas ilícitas na emergência do
movimento hippie, houve crescente otimismo em relação a psicofarmacoterapia nos anos 50 e 60, pela
introdução de novos grupos de psicofármacos. A popularidade de substâncias psicoativas contou com a
ação inédita de marketing de medicamentos de uso psiquiátrico. Apud: BERNIK, Márcio Antonini (org).
Benzodiazepínicos: Quatro Décadas de Experiência. São Paulo: Roche Edusp. p. 212.
149
Em “A farmácia de Platão”. Derrida invalida o argumento do filósofo grego sobre a predominância da
fala sobre a escrita. Abordando o tema linguagem e memória, remete à etimologia de fármaco, ao mesmo
tempo remédio e veneno.
150
Cabe um dado trazido por Lucia Helena, também em nota de pé de página, sobre a reação de Clarice a
uma matéria que saiu sobre ela na imprensa, em que contesta ter afirmado que quando escreve cai “em
transe ou coisa semelhante. Eu não disse isso simplesmente porque não é verdade. Jamais caí em transe
na minha vida. Não psicografo nem baixa em mim nenhum pai-de-santo. Sou como qualquer outro
escritor”. (in: HELENA, Lucia, 2006:28).
77
minha falta de memória que me faz esquecer de tomá-las. Isso parece
velha anedota, mas é a verdade. (DM:115)
A objetificação da memória em material perecível, compacto e padronizado
torna toda a situação que descreve como conto da carochinha, mas a simulação de um
texto explicativo e infantilizado, desmonta qualquer possibilidade de dar crédito a uma
máquina que equivalha à memória humana. Ela subverte a retórica desde seu interior, na
própria associação que faz entre mídia e medicamento.
MacDonald parte da afirmação de Nietzsche, em A Vontade de Poder, de que a
história moderna europeia é a história de seus ‘narcóticos’, para identificar na
emergência da mídia industrial de massa, em fins do século XIX, o entorpecimento
permanente “em nossos corações, mentes e corpos”.
Desde as fascinantes palavras do sofista Gorgias, que relaciona o poder
das palavras sobre o espírito ao poder das ‘drogas’ (pharmakoi) sobre o
corpo, até a ‘exorbitante eloquência’ da televisão, que induz a um tipo
de transe militar espartano na consciência coletiva, a história da mídia é
inseparável da história da narcose, da intoxicação e das experiências
psicodélicas. (MACDONALD, 2007:11).
O ludibrio do acessório fabricado pela indústria farmacêutica para curar males
afetivos não tampona forças desmedidas como o amor e o desejo. Do mesmo modo,
entre as paredes fechadas do apartamento e as possibilidades que os meios eletrônicos
oferecem para acolher a intimidade, acercar-se de si e de outro se revelam enganosos,
inoperantes, Martin Heidegger ao refletir sobre “a coisa”, a partir de coordenadas de
uma época em que já se desenhava o avanço industrial e tecnológico, com impacto
imediato no encurtamento das distâncias (inventos como o rádio, o automóvel, o avião,
a bomba atômica), avalia as correlações entre proximidade, distância e vazio. O menor
afastamento não teria por consequência a proximidade: “pequeno distanciamento ainda
não é proximidade, como um grande afastamento ainda não é distância”.
(HEIDEGGER, 2002:143)151.
Portanto, a mudança nas condições e no aparato físico, material, não teria reflexo
direto e imediato na experiência existencial. O som de um rádio está simultaneamente
perto e longe; ou uma bomba atômica pode ser ativada de longe, sem que se esteja
próximo o alvo. Suprimir a distância não equivale a aproximar-se das coisas. Nessas
151
HEIDEGGER, Martin. A coisa. In: Ensaios e conferências. Trad. Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan
Fogel, Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2002.
78
condições, o filósofo indaga: “como alcançar o que está próximo? como experimentar a
essência da proximidade?”. Também a cronista mensura a patética e banal
materialização da memória eletrônica, contrastando pelo diminutivo “buraquinhos” a
ideia de exatidão ali prometida.
tenho em mãos agora mesmo uma fita de papel cheia de buraquinhos
retangulares e essa fita é exatamente a da memória do cérebro
eletrônico. Cérebro eletrônico: a máquina computadora poupa gente. Os
dados da pessoa ou do fato são registrados na linguagem do computador
(furos em cartões ou fitas). Daí vão para a memória: que é outro órgão
computador (outra máquina) onde os dados ficam guardados até serem
pedidos. [grifos nosso] (DM:115)
Na crônica “Tempestade de almas”152 voltam o tema e o ritmo do mecânico, em
contexto similar ao da crise de criação presente em “Por enquanto”. A partir dos
objetos, delata a falibilidade do equipamento que parece perfeito (“A eletrola está
quebrada e não viver com música é trair a condição humana que é cercada de música”);
introduz a memória como fator essencial de vínculo com os objetos; enaltece a zona
obscura do pensamento humano, lugar de resistência para a ação tecnológica (“O futuro
da tecnologia ameaça destruir tudo o que é humano no homem, mas a tecnologia não
atinge a loucura; e nela então o humano do homem se refugia”); fixa como critério de
gosto a simplicidade (“Vejo as flores na jarra: são flores do campo, nascidas sem se
plantar, são lindas e amarelas. Mas minha cozinheira disse: mas que flores feias. Só
porque é difícil compreender e amar o que é espontâneo e franciscano.”); toma a
natureza como baliza para demandas contraditórias do ser humano (“Não há lógica, se
se for pensar um pouco, na ilogicidade perfeitamente equilibrada da natureza. Da
natureza humana também. O que seria do mundo, do cosmos, se o homem não
existisse.”).
152
LISPECTOR, Clarice. Onde Estivestes de Noite. Rio de Janeiro: Artenova, 1974 p.123.
79
3.2 A HORA DA ESTRELA E A SUCATA
Os objetos de uso diário repelem de si o homem, suave, mas
persistentemente. Em suma, ele tem de desempenhar, dia após dia, para
a superação das resistências secretas – e não apenas das abertas – que se
opõem a ele, um trabalho descomunal. Precisa compensar a frieza delas
com o próprio calor, para não congelar com elas, e empunhar com
infinita habilidade os seus espinhos, para não sangrar neles. Dos
homens a seu lado, não espere ele nenhuma ajuda. Administrador,
funcionário, trabalhador manual e vendedor – todos eles se sentem
como representantes de uma matéria rebelde, cuja periculosidade se
esforçam para trazer à luz através da própria brutalidade. (BENJAMIN,
2010:24).
A inquietação relacionada a consumo, humanidade e abismo social é despejada
em A hora da estrela, narrativa que aborda dolorosamente a miséria e a marginalização
do imigrante nordestino e incorpora à trama a influência dos veículos de comunicação
como elementos eficazes para acentuar o desamparo social e econômico, que redunda
no desamparo humano. A crítica à desigualdade social e à sociedade de consumo
deságua, se é possível dizer assim, em uma discussão da ética da solidão, já que o
isolamento se torna condição existencial imposta por imperativos socioeconômicos.
A limitação acentuada dos recursos da linguagem oral e escrita e a precariedade
de repertório na gestualidade corporal levam Macabéa a se apegar a objetos a seu
alcance, que só reiteram sua exclusão. O pequeno rádio de pilha, um dos poucos bens
que a protagonista possui, oferece-lhe um programa diário, a que acompanha como a
uma novela sem enredo. Seu interlocutor monológico é a Rádio Relógio, emissora
fundada em 1956, a que as pessoas recorriam para saber a hora certa, tendo por fundo
sonoro o gotejar dos minutos e, por sobre eles, a voz de um locutor dizendo
curiosidades extraordinárias anunciadas pelo bordão “Você sabia?”. À noite,
acompanha, hipnotizada, as informações enciclopédicas, sem nenhum vínculo com a
vida prática e sem conexão entre si, exceto pelo fato de serem inúteis e de se referirem a
coisas exóticas e inapreensíveis. Sem poder aquisitivo e sem amigos para desfrutar do
tempo livre e buscar algum lazer na metrópole, preenche sua vida com aquele programa
rebarbativo, companheiro fiel. Quando consegue um namorado torna-se replicante do
que escuta, tentativa de preencher os vazios da interlocução.
Ela configura a vítima ideal da cultura de massa, que tira proveito da
vulnerabilidade, alvo do apelo-despejo de objetos de consumo e da informação
publicitária, segmento do quarto poder, matéria imaginária a ser consumida sem limites.
80
Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um
livro chamado “Alice no País das Maravilhas” e que era também um
matemático? Falaram também em “élgebra”. O que é que quer dizer
“élgebra?” (HE:66).
Foi assim que aprendeu que o Imperador Carlos Magno era na terra dele
chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa
informação (HE:46).
Pela ação comunicativa se podem avaliar tipos de dominação entre indivíduos.
Habermas defende que, para manter uma relação intersubjetiva, participar de uma ação
comunicativa, os atores recorrem a interpretações transmitidas culturalmente e se
referem a algo simultaneamente da ordem do objetivo, do mundo social comum, e seu
próprio mundo subjetivo153. Só se estabelecem planos com vistas a ações pela via do
entendimento quando o sujeito é capaz de falar e agir, o que se complica na sociedade
moderna, orientada para o sucesso, dinheiro e poder (econômico e político),
congestionada por meios não linguísticos de comunicação desligados dos contextos da
vida, do entendimento mútuo154.
O sistema de opinião pública, aparelhado pela concentração dos meios de
comunicação, dificulta as possibilidades de emancipação individual e coletiva.
O
narrador-escritor e a anti-heroína Macabéa, cada um a seu modo, são vítimas do
mecanismo de exclusão, falta de voz e poder. A narradora entrelaça roupa, gesto e
linguagem como marcas de sua condição, embora consciente dos amplos recursos de
que dispõe para sobrevivência, em comparação com a sua criatura inventada.
Macabéa é destituída de conhecimento acumulado, daí a patética leitura de
classificados de jornais como se fosse uma narrativa. Deslumbra-se com a vida de
artistas. Já em 1957, Edgar Morin analisa o impacto do star system na vida e as relações
complexas entre ídolos e fãs na construção das respectivas subjetividades. A retórica
fílmica e a ação midiática estimulam a identificação do público com a imagem das
153
HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. Tradução Astor Soethe. São Paulo: Martins
Fontes, 2012. Instrumentalizado pela linguística, o filósofo analisa a competência comunicativa com base
no mundo objetivo (pretensão de verdade); no mundo social (pretensão de justiça); e no mundo subjetivo
(pretensão de veracidade – a que só o falante tem acesso).
154
HABERMAS, Jürgen. idem. Segue: “Assim como a esfera privada é solapada e erodida pelo sistema
econômico, também a esfera pública o é pelo sistema administrativo. O esvaziamento burocrático dos
processos de opinião espontâneos e de formação da vontade abre caminho para a manipulação da lealdade
das massas e torna fácil o desatrelamento entre as tomadas de decisão políticas e os contextos de vida
concretos e formadores de identidade”. p. 365.
81
estrelas. A imagem percebida renasce em forma de recordação, imagem de imagem.155
“É enquanto representação de representação viva que o cinema nos convida a refletir
sobre o imaginário da realidade e sobre a realidade do imaginário”. (MORIN,1989:11).
A nordestina comprará esmalte e batom para se construir à semelhança dos ícones do
cinema. Mas o modo tosco de se pintar cria um efeito grotesco, desengonçado. A ironia
amarga do final, seu atropelamento pela Mercedez Benz logo após a cartomante
prognosticar um belo futuro, se condensa na estrela-marca do carro. Apaga-se de vez o
sonho de simulação de vida feliz156.
Com o automóvel, o livro retoma o tópico do deus ex-machina mecânico. O
operador de guindaste se torna mais potente e com velocidade. A anomia do condutor já
se estabelece no terceiro romance da autora.
Carros, de condutores invisíveis, deslizavam nágua e de súbito
mudavam de direção, não se sabia por quê. S. Geraldo perdera os
motivos e agora funcionava sozinho. Bondes nos trilhos abafavam
outros ruídos, e certas coisas pareciam mover-se inteiramente
silenciosas — um carro elegante apareceu tranquilo e desapareceu. Em
S. Geraldo nascera uma vida diária que nenhum forasteiro perceberia.
Chovia e os tempos eram maus, estava-se em plena crise. Grifos nossos
(CS:134).
A vulnerabilidade diante da investida do marketing, em A hora da estrela, se
identifica no acúmulo de produtos salpicados nas páginas, lixo industrial do consumo
desordenado: aspirina, creme, sabão, batom, Mercedes Benz, Coca-cola (beba, babe,
caco, cola, cloaca – associações pertinentes de Décio Pignatari, em 1957). A falsidade
das fábulas de príncipes encantados e das cartomantes salvadoras de almas se esgarça
com ironia, junto com o sonho de “Maio, o mês das borboletas noivas flutuando em
branco”, como a noiva esvoaçante de Chagall. Não por acaso a amargura expressa no
155
MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Tradução de Luciano Trigo. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1989.
156
A morte pelo carro também pode ser lida com o apoio de Mc Luhan: “psicanalistas vienenses, que
viram o carro como objeto sexual, (...) chamaram a atenção para o fato de que — como as abelhas no
mundo vegetal — os homens sempre foram os órgãos sexuais do mundo tecnológico. O carro não é mais,
ou menos, objeto sexual do que a roda ou o martelo. Onde as pesquisas motivacionais falharam
inteiramente foi no fato de que o sentido da forma espacial dos americanos mudou muito desde o advento
do rádio, e drasticamente desde o advento da TV. Embora inofensivo, é incorreto tentar identificar esta
mudança com um homem de meia-idade em busca da sílfide Lolita. (...) Foi a TV que vibrou o maior
golpe no carro americano. O carro e a linha de montagem se haviam tornado a última expressão da
tecnologia de Gutenberg; ou seja, da tecnologia de processos uniformes e repetitivos aplicados a todos os
aspectos do trabalho e da vida. A TV pôs em questão todos os pressupostos mecânicos sobre a
uniformidade e a padronização, bem como sobre todos os valores do consumidor”. MCLUHAN,
Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Editora Cultrix, 2005. p.249.
82
parágrafo que se segue àquele em que enumera os bichos especializados: “Não, a vida
não é uma opereta. É uma trágica ópera em que num balé fantástico se cruzam ovos,
relógios, telefones, patinadores do gelo e o retrato de um desconhecido morto no ano de
1920”. (SV:108).
3.3. A CADEIRA E O ARMÁRIO: A INSURGÊNCIA DO OBJETO
O texto Braim Storm (DM), escrito por associação livre, ao menos simulada, já
se sabendo do trabalho artesanal de reescritura da autora. A narradora explora o
automatismo psíquico (diverso do mecânico) que leva à desconstrução da lógica
discursiva (pela sequência das frases); da seriedade (ironia e autoironia); do consenso
sobre o que seria lugar comum e loucura. Em dado momento do texto é inserida uma
cadeira próxima a ela e o tópico vai sendo retomado progressivamente, embora não de
forma contínua, já que o processo de escrita não obedece a um encadeamento temático
evidente.
Engulo a loucura porque ela me alucina calmamente. O anel que tu me
deste era de vidro e se quebrou e o amor não acabou, mas em lugar de, o
ódio dos que amam. A cadeira me é um objeto. Inútil enquanto a olho.
Diga-me por favor que horas são para eu saber que estou vivendo nesta
hora. A criatividade é desencadeada por um germe e eu não tenho hoje
esse germe mas tenho incipiente a loucura que em si é criação válida.
Nada mais tenho a ver com a validez das coisas. [grifos nossos] (p.244)
Primeiro, parece distinguir sujeito e objeto, à moda existencialista (“A cadeira
me é um objeto”); mas, ao empregar o adjetivo “inútil” no final da frase, confere ao
comentário um tom corriqueiro que mostra não estar se referindo à diferença entre
existência e essência; seu foco é o componente de utilidade, pragmático - ao fato de
que, sentada sobre a cadeira, não pode olhá-la: “a cadeira me é um objeto. Inútil
enquanto a olho”. Por outro lado, desenvolvendo o tema da crise de criação e da
loucura, o que prevalece não é o valor funcional:
O objeto cadeira sempre me interessou. Olho esta que é antiga,
comprada num antiquário em Berna, e estilo império: não se poderia
imaginar maior simplicidade de linhas, contrastando com o assento de
feltro vermelho. Eu amo os objetos na medida em que eles não me
amam. (DM:245)
83
Já aqui a cadeira é apresentada como objeto biográfico (no sentido que lhe dá
Morin, e também em relação à cidade de Berna, onde a escritora viveu nos anos
quarenta). Ela é fonte de memória afetiva, expressa no apreço pela relíquia, com valor
agregado de ter sido adquirida em um antiquário suíço, além de ter um estilo que ela
associa à beleza. Essa dimensão é reiterada adiante, embora o faça mediante uma lógica
do absurdo: “Olho a cadeira estilo império e dessa vez foi como se ela também me
tivesse olhado e visto.”
Baudrillard retrata o desconforto da pessoa em um meio funcional, que se
reporta sempre ao atual, diferentemente do objeto antigo, que atua como reorganizador
do mundo. É como um talismã que guarda a sabedoria dos anciãos. Combinar móveis
antigos e modernos é uma tentativa de construir como que uma esfera transcendente.
“Colecionamos sempre a nós mesmos”, dirá o autor.
Para a narradora, observar a forma do objeto é uma das maneiras de preservá-lo
na memória. Quando não, esta se apaga e o objeto perde seu significado. Os "objetos
nunca se esgotam naquilo para que servem, e é nesse excesso de presença que ganham a
sua significação de prestígio, que 'designam' não já o mundo, mas o ser e a categoria
social de seu possuidor." (Baudrillard: 1972:14)
Quem terá inventado a cadeira? Alguém com amor por si mesmo.
Inventou então um maior conforto para o seu corpo. Depois os séculos
se seguiram e nunca mais ninguém prestou realmente atenção a uma
cadeira, pois usá-la é apenas automático. É preciso ter coragem para
fazer um brainstorm: nunca se sabe o que pode vir a nos assustar.
(OEN:125) [grifos nossos]
A negatividade em relação ao mecânico e repetitivo (em sua perda de vínculo
com o humano) não pode ser desvinculada das mudanças culturais que se impunham,
com o desenvolvimento tecnológico introduzido no lar. Nesse movimento contínuo
entre o útil e inútil, lógico e ilógico na estruturação da vida quotidiana se expressa no
deslocamento operado pela linguagem (aparentemente) caótica e “descompromissada”
da colagem “Mas se não compreendo o que escrevo a culpa não é minha.”.
Não há como desconsiderar o período em que Clarice viveu nos Estados Unidos
pós-guerra. Em cartas, registra o impacto das novas formas de consumo, inclusive o
84
modo como produtos eram oferecidos nos supermercados.157 Segundo Forty, “foi
preciso mudar hábitos, comportamentos, um trabalho quase pedagógico e de
convencimento de que a vida com esses aparelhos seria mais fácil, mais alegre, mais
saudável, mais bonita”. 158 (p.370)
Concluo esta reflexão trazendo de volta um dos “bichos especializados e
imobilizados” a que se referiu e que parece destoar dos objetos comentados
anteriormente: o guarda-roupa, verdadeiro leitmotiv na autora, espécie de obsessão (vide
A paixão segundo G.H.). Difere por ser o único com larga tradição doméstica; pela
associação com a manufatura; pela evocação de proteção, do guardar; e por não ter
nenhum ingrediente tecnológico. Só que, ao invés de serem destacadas essas facetas,
sobressai o cavernoso, o obscuro do aparato caseiro: dentro dele, vestimentas ficam
imobilizadas e às escuras, inertes, à espera do uso - mortas, em estado letárgico,
portanto.
O “guarda-roupa recria a presença fantasmática dos vestidos que não
estão mais lá. Existe, de fato, uma estreita conexão entre a mágica das
roupas perdidas. E o fato de que os fantasmas, frequentemente, saem
dos armários e dos guarda-roupas para nos estarrecer, nos assombrar,
talvez até mesmo para nos consolar. (STALLYBRASS:20)
O móvel prepara ainda a surpresa de obrigar a pessoa a se confrontar em abismo
com a própria imagem, não só pela diversidade de roupas a escolher entre os
travestimentos disponíveis, mas por esconder um espelho aterrorizante e inesperado. O
guarda-roupa encarna o labirinto especular. O vazio. Num espelho, a representação é
sempre invertida, nunca igual ao objeto espelhado. Pátina estagnada de um lago que,
entretanto, registra movimentos, luzes. À moda de Shakespeare, que orquestrou em sua
obra a duplicidade das ações e motivações humanas, a exterioridade do ato e a máscara,
o armário encarna a angústia face à impossibilidade da identidade fixa e una. O guarda 157
O Brasil rapidamente incorporou esse modelo econômico e se abriu para a indústria de
eletrodomésticos. Na década de 1940, metade das residências urbanas das maiores cidades brasileiras
possuía instalação elétrica (antes mesmo da água encanada). Era raro encontrar tomadas nas casas. Já nos
anos 50, a publicidade, o crediário e o desenvolvimento da indústria nacional criaram condições para
produção e consumo de eletrodomésticos no país.
158
Em 1946 a General Electric veiculou campanha publicitária incentivando o consumo de produtos
elétricos “modernos”: “Encante seu lar com a eletricidade”. Oferecia, “além dos materiais para instalação
elétrica que a marca produzia, seus aparelhos domésticos: máquina de lavar pratos, fogão elétrico,
cafeteira, assadeira, passadeira portátil, radiador elétrico (ventilador), ferro de engomar, rádio, aspirador
de pó, misturador de alimentos (batedeira), cobertor elétrico, torradeira. Um dos anúncios trazia a frase:
“Mande os criados elétricos G-E prepararem a primeira refeição da manhã”. Referências: Projeto
História, São Paulo, n.35, p. 367-382, dez. 2007 In: ARRUDA, Márcia Bomfim de. Considerações acerca
do uso de máquinas elétricas no ambiente doméstico. In: Projeto História. São Paulo, n.35, p. 397-412,
dez. 2007 p.371
85
roupa oferece o disfarce, a possibilidade (ilusória) de a pessoa fixar um perfil, como se
vê em Lóri, preparando-se para se encontrar com Ulisses: “graças a Deus que estava em
férias, fora ao guarda-roupa escolher que vestido usaria para se tornar extremamente
atraente para o encontro com Ulisses que já lhe dissera que ela não tinha bom-gosto
para se vestir”. (UAP, p.19)
Mas o espelho (imaginário ou não) é essencialmente mudo, performático e
ambíguo. Portanto, ao mesmo tempo desmascara esse jogo de imagem que os trajes
possibilitam, como uma reserva inconsciente de seres fantasmáticos por emergir.
No texto Onde estiveste de noite, em que adentra a vastidão assustadora do
território onírico, sem limites, sem coesão, oscilando entre o idílio, o sonho e o delírio e
deixando emergir a ambivalência sexual, a autora insere o personagem armário. Numa
atmosfera surreal, o exercício do ser mutante é processo permanente no texto: mulheres
vampirescas “pintavam a boca de roxo como se fosse fruta esmagada pelos afiados
dentes”; a moça que era ruiva “e como se não bastasse era vermelha por dentro e além
disso daltônica”;
no
“pequeno apartamento havia uma cruz verde sobre fundo
vermelho (...) medo do espelho que a refletia”. Nesse lugar concebido como dotado de
uma temporalidade inusitada, própria ao estado de torpor, um sonífero, “tinha um
armário e a impressão era que as roupas se mexiam dentro dele. Aos poucos ia
restringindo o apartamento.”159
Pois bem: a invocação do móvel (efetivamente móvel, apesar da esperada
estabilidade) remete aos apertados apartamentos de classe média, em que sua colocação
é inconveniente, pois será sempre demasiado grande para o tamanho do cômodo; ao
conflito identitário, sendo lugar de conflito e confronto de investimentos biográficos e
emocionais que a peça absorve e imana, para além de sua função objetiva de utilitário;
e à discussão sobre a crise da representação, pelos múltiplos “eus” possíveis indicados
nas roupas e no espelho que o armário carrega no ventre.
No tocante a este último aspecto, o texto é particularmente interessante por
revelar, não o descarte, mas um modo próprio de trazer o objeto para o texto e mostrar
como essas presenças “objectuais”, por um lado, se articulam e muitas vezes comandam
ou asseguram a vida diária, e, por outro lado, captam outra ordem de “coisas” não
palpáveis. Desfaz a concepção realista de apreender para, em seguida, compor. Ao
mesmo tempo em que trata da relação entre sujeito e objeto, discute o processo
159
Sobre Onde estiveste tirado do arquivo CL Paisagem
86
representacional. A verdadeira pintura dará conta da carnadura do quer representar? A
representação é possível? Pintar é de fato criar objeto? Mesmo se ele se impõe,
inviolável?
Mas eu também quero pintar um tema, quero criar um objeto. E esse
objeto será - um guarda-roupa, pois que há de mais concreto? Tenho
que estudar o guarda-roupa antes de pintá-lo. Que vejo? Vejo que o
guarda-roupa parece penetrável porque tem uma porta. Mas ao abri-la
vê-se que se adiou o penetrar: pois por dentro é também uma superfície
de madeira, como uma porta fechada. Função do guarda-roupa:
conservar no escuro os travestis. Natureza: a inviolabilidade das coisas.
Relação com pessoas: a gente se olha ao espelho da parte de dentro de
sua porta, a gente se olha sempre em luz inconveniente porque o
guarda-roupa nunca está em lugar adequado: desajeitado, fica de pé
onde couber, sempre descomunal, corcunda, tímido e desastrado, sem
saber como ser mais discreto, pois tem presença demais. Guarda-roupa
é enorme, intruso, triste, bondoso.160.(AV:58)
160
LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p.58
87
4. INTERMEZZO: COISAS DE QUE GOSTO, MAS VOCÊ NÃO
Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem não gosto
– como se chama o que sinto? A saudade que se tem de pessoa de quem
a gente não gosta mais, essa mágoa e esse rancor – como se chama?
Brincar de pensar (DM:24)
Quando morava no exterior acompanhando o marido diplomata, ou mesmo fora
do Rio a passeio, Clarice Lispector alimentou laços de amizade com escritores, artistas,
familiares e jornalistas brasileiros através da correspondência. Nas cartas, trocam ideias
sobre a vida, a arte e a literatura; manifestam sentimentos íntimos; deixam registro de
atenções mútuas, desde o interesse pela saúde até referências a regalos, presentes e
declarações de afeto; comentam viagens. Na correspondência com Fernando Sabino
(2001), menciona diversas vezes pequenos objetos, souvenirs adquiridos para dar aos
amigos, como as caixinhas de música que gosta de oferecer às amigas mulheres no
período em que morou na Suíça: “Diga a Helena [então esposa de Sabino] que na
primeira vez em que nos encontrarmos ela ganha de mim uma caixinha de música”. (p.
21)
Esta prática se enquadra em um tema clássico da antropologia, a troca,
fenômeno analisado, entre outros, por Lévi-Strauss, que a vê como princípio básico da
sociabilidade humana. Antes dele, Marcel Mauss, a partir de estudos sobre comunidades
tradicionais, identifica a dádiva como um tipo de acordo que tem como base alianças
(matrimoniais, políticas, religiosas, econômicas, jurídicas e diplomáticas - incluindo-se
relações pessoais de hospitalidade), calcadas na obrigatoriedade de dar, receber,
retribuir. Ou seja, relações sociais podem ser compreendidas a partir de manifestações
de reciprocidade, por sistemas de prestações e contraprestações, que envolvem múltiplas
dimensões da vida. Trocam-se todas as formas de riqueza comunitária, não apenas bens
úteis, mas “amabilidades banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças,
festas, feiras". (MAUSS, 2003:191)161 Embora ele não tenha estudado as sociedades
mercantis, complexas, a dádiva se mantém como parâmetro para se observar relações de
amizade, vizinhança etc. na sociedade contemporânea.
161
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In:
Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, pp.183-314.
88
A troca de afetos e a reciprocidade configurando um dos eixos temáticos da obra
clariciana, vale a pena ler, através das cartas, o modo como operava com o dom e o
contradom entre amigos e parentes, e observar como o mesmo mecanismo é
ficcionalizado em alguns contos.
Segundo Maria Claudia Coelho162, a troca pode ser interpretada como uma
forma de comunicação. Sentimentos constituem um discurso pelo qual cada indivíduo
constrói uma imagem de si mesmo e do receptor, mediante uma “gramática” própria que
poderá ou não ser referendada, de acordo com o tipo de valor atribuído ao que lhe foi
ofertado e conforme, também, a ocasião e o modo de presentear.
A correspondência “tomada como espaço biográfico é um material revelador do
escritor ‘enquanto escritor’, ou seja, joga luzes sobre o oficio e a inserção no ‘arraial das
letras’ (a expressão é de Drummond).” Fernando Sabino foi para Lispector uma
“espécie de agente literário voluntário, dublê de editor.” Contatava “para ela várias
casas de edição, atuando, portanto, como porta-voz, poupando a escritora de confrontos
mais diretos para a difusão de sua obra e todos os interesses pessoais envolvidos. Ele
cuida de acionar diretamente cada possível editor.”163 (FUKELMAN, 2014:136) Cartas
são espaço de expressão de afeto, suscitam e expressam emoções específicas, como nos
trechos abaixo, extraídos de duas delas, escritas por Clarice e que constam de Cartas
perto do coração. Nelas presenteia o amigo com um simbólico título honorífico e com
votos de felicidade:
Aquele sinalzinho que eu botei junto de seu nome, no envelope,
significa abreviação de Esquire, título de nobreza e respeito, cavalheiro
ou coisa que valha... Jamais deixarei de botar esse sinalzinho numa
carta para você. (p.41)
(...) de vez em quando a gente pode receber este presente gratuito que é
a palavra amiga de um amigo, e suponho que se há compensação e não
vejo porque ela haveria de ser maior – esta já é grande e é mais do que
se merece. Assim, mando depressa este momento de felicidade para
você, e espero que ela vá incendiando papeis e ervas por onde passar e
quando chegar a Nova York vá subindo em fogo rasteiro as escadas e
chegue junto de Heleninha de Tróia e de Fernando, o Sabino, num
grande foto de amizade. Amém. (p.51)
162
COELHO, Maria Claudia. O valor das intenções: dádiva, emoção e identidade. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006.
163
FUKELMAN, Clarisse. “Cartas na mesa: amizade e carreira literária em Clarice Lispector”. In: Eu
assino embaixo: biografia, memória e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.
89
As relações de troca podem ser simétricas ou assimétricas, conforme o capital
simbólico de cada um dos participantes. A escritora, neste caso, demonstra se sentir
devedora e claramente está retribuindo a ajuda do amigo. Em sua reverência expressa o
contradom, dá-lhe uma distinção, já que o amigo que tanto a ajuda a publicar e que
corrige seus escritos está em situação simbolicamente superior à dela. A restituição
pode ser material ou simbólica: ela, no caso, presta-lhe reverência de forma a manter a
reciprocidade equilibrada, compensando a posição assimétrica.
O ato de presentear faz parte da formação do indivíduo desde a infância, em
ocasiões especiais, de caráter religioso (Cosme e Damião, Natal) ou não. Aniversários
são um exercício de socialização que prevê a obrigação da troca de presentes,
reatualizando a dinâmica da dádiva e contradádiva, das quais participam diferentes
atores sociais (com laços de parentesco como avós, pais, mães; ou de amizade).
Clarice Lispector amava pedras e, nelas, a ancestralidade. Certa feita ganhou
uma, antiquíssima, extraída de Vila Velha, Paraná: “Minha pedra é portanto de antes do
aparecimento do homem na Terra. Amo pedras. Então por esta fiquei louca de paixão:
dá uma sensação estranhíssima segurá-la nas mãos de hoje”. (DM: 344)
No intuito de compartilhá-la com outra pessoa querida, conseguiu um
marmorista que a partiu ao meio e lá dentro descobriram “pequenas pepitas de ouro”
(soubera a aluna de “Os desastres de Sofia” ser possível haver tesouros escondidos onde
menos se espera...). A história não acaba aí: ao mostrar a pedra a Sergio Fonta, amigo
de seu filho, ganhou dele um poema. Os atos de doação prosseguem, no momento em
que ela o dissemina mais uma vez, ao compartir com o leitor, em uma crônica em
jornal, o poema que recebera. Mais do que um dom, mais do que a lógica da dádiva, o
que oferece ao público é a restituição das relações. Apresenta os jogos dessas
aproximações. Do mesmo modo, a autora se dirige ao leitor, em Agua Viva, sobre a
melhor maneira de fruir o presente que está lhe ofertando; no caso, o próprio escrito:
Este texto que te dou não é para ser visto de perto: ganha sua secreta
redondez antes invisível quando é visto de um avião em alto voo. Então
adivinha-se o jogo das ilhas e veem-se canais e mares. (AV:58)164
O tipo de presente, o modo de dar e de recebê-lo confrontam normas e valores. É
algo que normalmente se aprende cedo, e a criança passa a identificar, nos objetos que
164
LISPECTOR, C. Agua viva: edição bilíngue. Paris: Des Femmes, 1973.
90
participam dessa socialização, a celebração do indivíduo e a construção de vínculos.165
A rede de negociações é atravessada por afeto e respeito. Como na carta que endereça a
Tania, “irmã querida” (5/11/1948):
Encomendei para você a Eliane uma bela toalha de jantar para 12
pessoas, em cor e bordão. Em Roma há as coisas mais lindas n gênero.
E Eliane tem grande bom gosto. Mas essa toalha é presente para você
(...) (LISPECTOR, CO:177)166
No conto “História inacabada” (BF), pequenos gestos expressam a felicidade
extrema, contentamento que leva a narradora a querer praticar um ato desinteressado de
doação: “e se eu desse a golinha de renda a Mira? Sim o que é uma golinha de renda,
embora bonita, diante de.... Eternidade. Vida,. Mundo....Amor?” (p.21). Mas pode
ocorrer o oposto: “não empresto o vestido, não empresto coisa alguma, você vive
pedindo...” (p.38)
Joël Candau, encarregado da apresentação do livro Objetos de Afeição: uma
etnologia do íntimo, de Véronique Dassié, destaca que os objetos guardados em casa,
não pelo valor de mercado, mas pelo valor afetivo, se ligam a um imaginário que a
pessoa cria de si mesma e a uma devoção pelo íntimo. A conexão sujeito/objeto
expressa uma enormidade de interações sociais e culturais, muitas vezes mascaradas
pelo caráter aparentemente subjetivo da eleição do objeto. “Como apreender o
individual sem levar em conta o ambiente social e cultural em que [o indivíduo] se
move?” (p.20)167, indaga Dassié. Emoções são tipos específicos de julgamento de valor,
mas as “concreções afetivas” (ou a coisificação do sentimento) merecem uma atenção
não submissa à leitura automática de uma crítica à sociedade de consumo168. A
expressão “ser tocado por um objeto” resume com exatidão a conjunção entre o
corporal, o sensível e o inconsciente. São sentimentos que promovem a ligação com
peças em geral triviais, tornadas memória tangível.
165
“Grande parte dos critérios de escolha do presente: identidade de gênero, peso financeiro, estratégia de
representação e de distinção, critério de idade, princípios culturais, enunciação e aprendizado das regras
de civilidade e instauração de uma hierarquia de valores. Isso, num espaço de negociação que deixa uma
certa margem à autonomia da criança e nos permite perceber a mudança do lugar da criança na família.”
SIROTA, Régine. Primeiro os amigos: os aniversários da infância, dar e receber. Tradução de Alain
François, com revisão técnica de Ivany Pino. In: Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 535-562. Pág.
537. Maio/Ago. 2005. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
166
LISPECTOR, Clarice. Correspondência. Organização de Teresa Monteiro. Rio de Janeiro : Rocco,
2002.
167
No original : « Comment saisir l’individuel sans prendre em compte l’ environnement social e culturel
dans lequel il se déploie? »
168
Não demarco a autoria de diversas expressões encampadas pela autora a seu texto, por não achar
necessário e por julgar que dificultaria a leitura.
91
O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu
fundo duplo são verdadeiros órgãos da vida psicológica que secreta.
Sem esses “objetos” e alguns outros também valorizados, à nossa vida
íntima faltaria um modelo de intimidade. São objetos mistos, objetossujeito. São, como nós, por nós, para nós, uma intimidade.
(BACHELARD: 83)169
A obra de Clarice, ao incorporar à trama a dádiva e operações de troca, cria
situações dramáticas ou farsescas que apontam para o fracasso das relações; o rito se
torna mera convenção, submissão a regras impostas pelo comércio, ou máscara que
tenta encobrir a falência de laços.
Segundo Mauss, a dádiva prevê a transação voluntária, espontânea e ao mesmo
tempo obrigatória, tendo, portanto, um aspecto coercitivo. Na análise do potlach, ele
identifica a necessidade da retribuição do presente, de modo a manter o prestígio, a
honra e a autoridade. Direitos e deveres de consumir e retribuir correspondem a direitos
e deveres de presentear e receber. A mistura entre coisas e almas, entre objetos e
pessoas está no cerne da dádiva, obedecendo, pois, a um sistema diverso do mercantil,
de caráter impessoal. Ao dar continuidade aos estudos de Mauss, Lévi-Strauss defende
que a lógica da dádiva, extensiva às sociedades modernas, é supraeconômica. As
moedas são poder, prestígio e afeto. As coisas trocadas condensam diversos aspectos da
vida social e inscrevem realidades subjacentes de ordem inconsciente.
Em “Dia após dia” (VC), de teor autobiográfico, comenta, a propósito de uma
viagem a Brasília e a Campos para fazer uma conferência, sua dificuldade em falar em
público e o esforço em se adaptar a outra cidade. Mas algo efetivamente a alegra:
De manhã me deram um doce chamado chuvisco, que é feito de ovos e
açúcar. Comemos em casa chuvisco durante vários dias. Gosto de
receber presente. E de dar. É bom. Yolanda me deu chocolates. Marly
me deu uma sacola de compras que é linda. Eu dei para a filha de Marly
uma medalhinha de santos de ouro. A menina é esperta e fala francês.
(p.72)
Os objetos presenteados resumem o mecanismo de troca. Dar e retribuir coisas
equivale a dar e retribuir “respeitos”, “gentilezas”. “Misturam-se as vidas, é e é assim
169
BACHELARD, Gaston. La poétique de l’espace. Paris: Les Presses universitaires de France, 1961
[1957]. No original: L'armoire et, ses rayons, le secrétaire et ses tiroirs, le coffre et, son double fond sont
de véritables organes de la vie psychologique secrè-te. Sans ces «objets» et quelques autres aussi
valorisés, notre vie in-time manquerait de modèle d'intimité. Ce sont dei objets mixtes, des objets-sujets.
Ils ont, comme nous, par nous, pour nous, une intimité.
92
que as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que
é precisamente o contrato e a troca.” (COELHO: 36)
A interrupção na cadeia de reciprocidade pode levar ao rompimento de amizade.
É o que descreve, no mesmo texto, sobre o casal que desfaz em cima da hora o convite
para que fosse a um restaurante com eles no domingo, “porque tinham que almoçar com
um homem estrangeiro muito importante.” Ela indaga, cobra e encerra o circuito: “Por
que não me convidaram também? Por que me deixaram sozinha no domingo? Então me
vinguei. Não sou boazinha. Não os procurei mais. E não aceitarei mais convite deles.
Pão pão, queijo queijo.” (VC:66) Em “Por enquanto” revela ter-se sido traída porque,
sem lhe dizerem que era uma festa de aniversário, privaram-na da chance de presentear
um amigo: “Sexta-feira de noite fui a uma festa, eu nem sabia que era o aniversário do
meu amigo, sua mulher não me dissera. Tinha muita gente. Notei que muitas pessoas se
sentiam pouco à vontade”. (VC: 60)
Como propõe Coelho, as trocas “podem ser pensadas como estratégias de
comunicação” e exigem competência social para manusear as regras. Existem nuances
a serem percebidas de ambos os lados, sob pena de um dos participantes interpretar o
gesto como quebra do contrato ou insulto. No oferecimento e na retribuição, há sinal de
respeito e/ ou afeto.
Dentre outras formas de expressão da dádiva, há gestos espontâneos, gratuitos
ou bênçãos, como a boa notícia ao saber que o nódulo na amiga não é um câncer; a
vizinhança, ao confiar em recorrer ao dono do botequim, seu Manoel, com quem
habitualmente troca as pilhas do rádio, para lhe pedir um empréstimo; ou o amparo a
um poeta, ex-colega de Cultura Inglesa, que a reconhece na rua e a quem convida, em
acolhimento, para tomar um café em sua casa, amor fraterno.
A autora constrói narrativas a partir de objetos dadivosos ou na direção deles,
como ponto de partida ou clímax da trama. Situações de troca desinteressada são raras.
Essa contraposição se revela em eventos de celebração em que a expectativa de doação
seria, a princípio, desinteressada. Dou dois exemplos.
Em “Por enquanto” (VC), o afeto está bloqueado ou interdito. Ela pedira ao filho
para “não sucumbir à imposição do comércio” que explora a data. Mas, se não há o
presente, também não supre o vazio existencial e afetivo que a domina. Ele parece
apenas cumprir seu papel de filho, em rito alimentar com todos os ingredientes que
fariam parte de uma mesa adequada à ocasião (refeição farta, algo sofisticada e
abundante, com carne e vinho), mas não se cumpre aquilo que seria mais efetivo do
93
ponto de vista emocional: a entrega e o reconhecimento. Conforme Coelho (2006),
muitas vezes “a relação íntima e pacificada com as coisas”, “em nossos espaços de vida,
pode ser vivida por um ângulo menos sereno, o da intrusão e da sobrecarga.” Neste
texto, os rituais amorosos fracassam – o vinho rosé comparece como elemento de
composição da mesa, não exatamente um prazer – falta a carnadura, o vital.
Ao invés da dádiva, do sentimento de provisão e abundância na relação amorosa
materna, a atmosfera é tomada por uma falta intransitiva, difícil engolir, processar,
como indica a adversativa “mas” (“mas bebemos”): “Um dos meus filhos está fora do
Brasil, o outro veio almoçar comigo. A carne estava tão dura que mal se podia mastigar.
Mas bebemos um vinho rosé gelado. E conversamos”.
Por outro lado, confronta a maternidade biológica à maternagem, vínculo de
gratidão que tem para com a empregada. Pensa em abraçá-la como expressão de
agradecimento pelos cuidados diários, que se tornam mais importantes nesse estágio de
carência aguda, mas se bloqueia, acha que seu gesto de carinho não seria entendido.
A cozinheira por acaso não está de folga e vai esquentar comida para
mim. Minha cozinheira é enorme de gorda: pesa noventa quilos.
Noventa quilos de insegurança, noventa quilos de medo. Tenho vontade
de beijar seu rosto preto e liso mas ela não entenderia. (VC:61)
Pela economia do dom ou cultura da dádiva, o que importa, diferentemente do
mercado, é que as doações entre si, de bens ou de serviços, não esperam contrapartida;
entretanto, há uma reciprocidade e o valor das coisas não supera o valor da relação; os
fenômenos ligados ao dom são ao mesmo tempo jurídicos, econômicos, religiosos,
estéticos, morfológicos. O mecanismo simbólico permanece na vida contemporânea.
O conto “Feliz aniversário” (LF) é o reverso disso. Em torno da comemoração
dos oitenta e nove anos de D. Anita reúne-se a família. Não faltam os componentes de
um festejo do gênero, como roupas especiais, preparativos, abundância. Mas
degradados. Todos se vestem como quem vai a um desfile e todos se comportam como
num ofício obrigatório. O lado pobre, de Olaria, zona norte da cidade do Rio de Janeiro,
arruma-se em brilhos para o confronto com os ricos de Ipanema e Copacabana. A
aniversariante, investida em um “vestido de festa”, observa quieta. Zilda, filha com
quem Anita mora (afinal, é a única filha mulher e esta função é a que lhe seria
destinada), se preocupou em organizar tudo com antecedência, mas se sente frustrada
por não ter tido ajuda e por não receber elogios.
94
A matriarca se mantém em silêncio (“A velha não se manifestava.”),
aparentemente sem se incomodar com a agitação e o barulho. Mas, aos poucos, o
narrador indica o quanto ela despreza aqueles “seres opacos”, interesseiros, infelizes,
que não sabem lidar com sentimentos. Subitamente, solta o verbo: “ - Que vovozinha
que nada! explodiu amarga a aniversariante. - Que o diabo vos carregue, corja de
maricas, cornos e vagabundas! me dá um copo de vinho, Dorothy! - ordenou.”
Para entender a interação entre as personagens e a encenação que se arma é
apropriado o conceito de frame170, que filtra as interações sociais pela perspectiva
teatral, através de termos como ator, papel, palco e bastidores. Cada familiar interpreta o
outro conforme molduras rígidas, às quais recorre para lidar com a situação
materialmente configurada em espaço e tempo. Ninguém está aberto a ninguém. A
própria sala foi planejada sem pensar na integração,
cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai
dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos
de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico,
mantendo sua posição de ultrajada.(p.59-60)
a nora de Olaria empertigada... ; a nora de Ipanema na fila oposta das
cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a cunhada de
Olaria. (p.60)
Ao receberem os presentes, Zilda e Anita percebem inexistir reconhecimento,
prestígio ou afeto.
Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram
saboneteira, uma combinação de jérsei, um broche de fantasia, um
vasinho de cactos — nada, nada que a dona da casa pudesse aproveitar
para si mesma ou para seus filhos, nada que a própria aniversariante
pudesse realmente aproveitar constituindo assim uma economia: a dona
da casa guardava os presentes, amarga, irônica. (p.62)
Gafes e desagrados ocasionados por presentes indesejados indicam desatenção
ou visão equivocada por parte do doador. A ofensa nasce do choque entre o presente e a
ideia que o receptor faz de si mesmo. Presentear é um gesto especular, em que a própria
imagem e a do outro se refletem, se comunicam, desde a escolha do objeto à visão
mútua está ali representada. São estratégias de “elaboração da face”, que expressam por
intermédio de atos uma ideia acerca de si mesmo e do outro. Na troca, é transmitido
algo mais do que as coisas objetivamente trocadas, um “lucro” traduzível em “moedas”
não econômicas.
170
GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2011.
95
[...] ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma
caixa sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma
escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. (LF:75)
a dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica. (LF:74)
uma vela grande com um papelzinho colado onde estava escrito "89".
Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se
eles não estariam pensando que fora por economia de velas —
ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma
caixa de fósforos sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia
como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. [grifos
nossos] (LF:75)
Sob a abundância de croquetes, sanduíches, mesuras, guardanapos coloridos e
cheiro de piquenique há um leque de emoções perpassadas pela monetarização como
medida de todas as coisas.171
Aquela data e aquele lugar estão naturalizados em
convenções seguidas automaticamente. A moldura cotidiana aciona modos de
interpretar e de agir pré-codificados, que podem ser quebrados, mas só quem o faz é a
avó, que, como uma espectadora brechtiana, não embarca na ideia da vida como palco
que repete docilmente o mesmo repertório. Ela, também “velha conhecedora de
canteiros”, ultrapassa as aparências, interpreta e reage. No silêncio em que se mantém,
parece alheia, indiferente à agitação e ao barulho; mas de fato fotografa os bastidores,
como “o voo da mosca em torno do bolo”; até que, revoltada com o que vê, reage com o
grito. Aos poucos se conhece, pelo narrador, que ela despreza aqueles “seres opacos”,
interesseiros, infelizes, que não sabem lidar com sentimentos.
O processo de metaforização (“A metáfora jamais é uma figura inocente”172)
encarna a degradação dos laços de família, tratados com bens pecuniários. A velha
arranca a máscara de noras, filhos e netos e aciona recursos de expressão que ainda tem
disponíveis, na idade avançada. Em gesto de repúdio, a faca se transmuta em punhal:
com o instrumento afiado, corta o bolo com quem abate um animal (“E de súbito a
velha pegou na faca. E sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse
para a frente, deu a primeira talhada com punho de assassina.”). Não identificando na
palavra uma possibilidade de troca, de comunicação verdadeira, grita. E cospe,
171
SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Mana, Rio de Janeiro , v. 11, n.
2, Oct.
2005
Disponível
em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010493132005000200010&lng=en&nrm=iso>. Access on 4 Feb. 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S010493132005000200010.
172
ROBBE-GRILLET, Alain. Nature, humanisme, tragédie. In : Pour un nouveau roman. Paris:
Gallimard (Idées), 1964, p. 59-60. « La métaphore […] n’est jamais une figure inocente”.
96
demonstrando desprezo, seu sentimento de ultraje173: “Olhou-os com sua cólera de
velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com
força insuspeita cuspiu no chão.”. Enquanto eles digerem, ela expele o dejeto, em
manifestação de nojo. Mas, de fato, nem os que devoram,
gulosos, nem os que
vomitam (cospem) demonstram prazer. Há voracidade, não sabor.174
- Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa...., sabia que os
desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar
educação à velha, e não faltaria muito para dizerem que ela já não dava
mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que ela
fazia.(p.67)
Segundo Segalla (1991), o bolo tem um papel simbólico fundamental nessas
ocasiões. Representa, como o corpo de Cristo, o próprio aniversariante. Entre seus
ingredientes estão presentes o ovo e o leite, símbolos de vida. Ir ao forno é como se
aquecer no útero. A massa antes líquida toma forma, cresce até virar bolo. Cortar e
oferecer é uma maneira de a/o aniversariante restituir os presentes e a presença. Só que
a matriarca se recusa a fazê-lo. Ela interdita a retribuição amorosa.175
Há quem considere que a dádiva se originou da partilha de comida e daí teriam
surgido a ideia de banquete e também, segundo Lewis Hyde, a noção de que a doação
deva ser algo perecível176, dando ao que se ganha um caráter passageiro (transmissão a
outras pessoas), e não de acúmulo.177
A postura da matriarca é vital. Ou, nas palavras de Roberto Corrêa dos Santos a
propósito deste conto: “a inquietação sobre o jantar, que as comidas da festa não
substituem, reafirma a potência, escrita e ocultada em sua impenetrável máscara da
173
A saliva apresenta-se como secreção dotada de poder mágico ou sobrenatural de duplo efeito: ela une
ou dissolve, cura ou corrompe, aplaca ou ofende. Misturada às operações da palavra, assume a virtude
desta.
174
“Crispei minhas unhas na parede: eu sentia agora o nojento na minha boca, e então comecei a cuspir, a
cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma, gosto de um nada” (GH)
175
SEGALA, Lygia. 1991. O Riscado do Balão Japonês: Trabalho Comunitário na Rocinha (1977-1982).
Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. 2 vs. (Dissertação, Mestrado em Antropologia Social) p.33-4;
DA
MATTA,
Roberto.
Relativizando.
Uma
introdução
à
antropologia
social.
http://www.economia.esalq.usp.br/intranet/uploadfiles/1983.pdf
176
HYDE, Lewis. The gift: imagination and the erotic life of property. New York. Random House, 1983
[1979].
177
No campo da alimentação, Lispector desenvolve na cena da mesa diferentes confrontos que envolvem
boas maneiras e o que há ali implícito de controle de uma animalidade e voracidade humanas difíceis de
controlar. As boas maneiras da rapariga, o assassinato pela gorda, o autocontrole do homem em “O
jantar” e está na base do conto “Uma galinha”.
97
velhice. Pela fome, mostra-se como sendo a que ainda quer também viver.” (SANTOS:
1986:71)
Se no aniversário de Anita houve um desastre, a índole do dom se exprime com
primor em “Repartição de pães” (LE:27). O conto, de fundo bíblico, com várias
remissões ao Velho e, sobretudo, ao Novo Testamento, é perfilado por referências ao
individualismo e ao apego a bens materiais, a que se contrapõe o gesto desinteressado e
afetivo da anfitriã, em antagonismo com os convidados (a narradora sendo um deles).
De um lado, “era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Mas
cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos”; de
outro, “só a dona da casa não parecia economizar o sábado para usá-lo numa quinta de
noite. Ela, no entanto, cujo coração já conhecera outros sábados.” [grifos nossos]
Os “convidados estranhos” constituem um grupo heterogêneo, resignado, que
raciocina através do lucro, daí o emprego de termos de substrato econômico (não
repartir, economizar, gastar, querer tudo, gastar mal, ser obrigado) e de teor destrutivo
(roer, ferrugem). Cobiça somada à avareza. O cigarro seco também evoca o consumirse pelo fogo e pela fumaça.
O conto já inicia com forte metaforização material: “presos, como se nosso trem
tivesse descarrilado”, “amarfanhar o sábado “como a um lenço”. Eis que, ao invés da
mão em gesto de usura, oferecem-lhes a grande mesa com toalha branca, toalha da paz,
e o que seria a composição de uma natureza morta é a pura expressão da vida. Os “malconvidados” não vão embora - se esforçam para não se sentirem devedores, criando um
sentido de compartilhamento. O silêncio e a aceitação correspondem a um esforço de
simetria; afinal, estavam ganhando mais do deram ou mereciam. A partir do desafio
construiu-se um sentido de coletivo.
O texto prossegue numa ambiência “mágica”, em que a vocação para a dádiva se
cumpre de maneira plena. A comunhão faz ressaltar a beleza e as formas vitais: as cores
dos alimentos sobressaem e estes dizem algo além da fome. Abundância e beleza.
Amontoavam-se e ofertam-se no plural, excessivos, superlativos.
E maçãs vermelhas, enormes cenouras amarelas, redondos tomates de
pele quase estalando, chuchus de um verde líquido, abacaxis malignos
na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, maxixes eriçados
como porcos-espinhos, pepinos que se fechavam duros sobre a própria
carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos –
tudo emaranhado em barbas e barbas úmidas de milho, ruivas como
junto de uma boca. E os bagos de uva. As mais roxas das uvas pretas e
que mal podiam esperar pelo instante de serem esmagadas. (p.28)
98
Mas a atmosfera fraterna é de certo modo perturbada por um detalhe: a palavra
“holocausto”. Mesmo usada em (de)negação (“não havia holocausto”) pulsa do texto
como um punctum. Mais adiante ela emprega a palavra trégua.178
A referência vale uma reflexão, considerando não só a rede textual, mas dados
transversos, como as temáticas da morte e da gula na obra de Clarice, bem como a
biografia da escritora, duplamente: a perseguição étnica sofrida por sua família; e o fato
de ela própria ter vivido na Europa durante a guerra, acompanhando o marido
diplomata.
Clarice, como outros escritores e intelectuais judeus179, convivia com a
experiência da morte devido ao antissemitismo, risco a cicatrizar. Kafka, por exemplo,
em seu “Discurso sobre o ídiche”, comenta o poema “Areia e Estrelas”, do poeta judeu
ucraniano Simon Frug (1860-1916): “é a interpretação amarga de uma promessa bíblica.
Foi dito: seremos como a areia do mar e as estrelas do céu. Bem, pisoteados como a
areia já somos; quando se tornará verdade aquilo com as estrelas?” (KAFKA, p.45) 180
Conforme examina detidamente Edgar Nolasco181, a obra de Clarice tem
substrato eminentemente biográfico; é atravessada por “questões relacionadas a culpa e
perdão, angústia e fuga, saudade, exílio e memória.” Máscaras se movimentam na
superfície textual, como inventário de lembranças. E parte dessa memória traz o peso
da história familiar de imigrantes em fuga: “Nada sei sobre essa viagem de imigrantes:
deveríamos todos ter a cara dos imigrantes de Lasar Segall”. (DM:148, 149). O tema da
guerra faísca, aqui e ali, como em “Pertencer” (DM:110), em que usa imagem ligada à
guerra (“Como se contassem comigo nas trincheiras e eu tivesse desertado”)182; na
crônica “Dia após dia” (“Não há escapatória. Todos nós sofremos de neurose de
guerra”, ou em “Aprender a viver” (DM:312), em que associa a culpa a “algo tão vasto
e tão enraizado que o melhor ainda é aprender a viver com ela, mesmo que tire o sabor
do menor alimento: tudo sabe mesmo de longe a cinzas” (DM). As remissões não são
178
Etimologia de trégua http://www.etimo.it/?term=tregua Trégua” do Latim tardio TREGUA,
“suspensão de um estado de beligerância”.
179
Sobre a relação da autora com o judaísmo, sugiro: WALDMAN, Berta. Por linhas tortas: o judaísmo
em Clarice Lispector. Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte,
v. 5, n. 8, mar. 2011.
180
Comenta também o poema Die Grine, de Rosenfeld, em que “alguns imigrantes judeus caminham,
num grupo pequeno, com suas malas empoeiradas, por uma rua de Nova York”. KAFKA, Franz.
Discurso sobre o ídiche. In: Memória e Cinzas: vozes do silêncio. SCHWEIDSON, Edelyn.org. p.45
181
NOLASCO, Edgar. Restos de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice Lispector. São Paulo:
Annablume, 2004.
182
Publicada originalmente no Jornal do Brasil, em 15 de junho de 1968.
99
tomadas como transposição literária, embora considerem-se traços biográficos na
gênese de seu processo de criação:
Nessa escrita-arquivo não são apenas pedaços de textos e de escritas,
notas, papéis pessoais e alheios, citações com e sem aspas que circulam
compondo a criação, mas também retratos e retratos da autora (pessoais e
ficcionais) que se encenam, multiplicam-se na tentativa insana de ludibriar
o outro, o leitor. (NOLASCO, 2004: p.24)
Trincheiras, culpa, cinzas e agora:
holocausto183. Segundo Agamben, o
conceito, em sua primeira acepção conhecida, foi utilizado por um cronista medieval,
referindo-se a massacres perpetrados contra judeus, por antissemitismo (2008:39).184
Mas em que circunstância a invocação se intromete aqui? Na sequência narrativa, temse: grupo desmotivado e usurário; doação de alimento e afeto por uma desconhecida;
fruição do almoço em comunhão; relato do acontecido. Como situar o holocausto em
meio a isso? Ou melhor, quando, em que momento do processo narrativo ele se coloca,
é evocado?
No texto, o termo abre o penúltimo parágrafo (o último se reduz a uma frase),
como um resumo e uma louvação à comunhão entre seres (“Comíamos. Como uma
horda de seres vivos, cobríamos gradualmente a terra.”).
Não havia holocausto: aquilo tudo queria tanto ser comido quanto nós
queríamos comê-lo. Nada guardando para o dia seguinte, ali mesmo
ofereci o que eu sentia àquilo que me fazia sentir. Era um viver que eu
não pagara de antemão com o sofrimento da espera, fome que nasce
quando a boca já está perto da comida. (p.29)
Seguindo algumas linhas depois a narradora emprega um termo de origem
bélica: “Era reunião de colheita, e fez-se trégua.” Trégua em benefício da harmonia e do
prazer. Trégua para produzir socialmente a simetria. Sem vencedor ou vencido.
Momento liminar em que intrigas foram suspensas.
Contrariamente às ideias de morte e de destruição, e do morrer de fome que
caracterizaram o holocausto com operação de aniquilamento e de silenciamento185; a
183
Do grego holókaustos, significa “todo queimado”. No cristianismo, se referia a rituais de sacrifício
(vegetal, animal, incluindo seres humanos) oferecidos a Deus como expiação dos pecados.
184
AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha. Tradução Selvino J.
Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008.
185
LESSA, Renato. O Silêncio e sua Representação. Rio de Janeiro: Edição Laboratório de Estudos
Hum(e)anos – Online, Setembro 2008. (...) o silêncio ainda em vida é imposição e, mais do que isso,
efeito que resulta da supressão das línguas e da possibilidade e da inutilidade da elaboração simbólica. Se
do ponto de vista existencial for possível dizê-lo, eis aqui o núcleo do efeito-holocausto: erradica-se nele
o atributo básico da natureza humana [...].” (p.2)
100
narradora associa livremente o “não holocausto” à vida em sua essência mais primária
(saciar a fome); ao convívio social baseado em princípios de reciprocidade, sem
postergar ou economizar afetos e boas emoções; e, sobretudo, à fala. O não holocausto
opera, portanto, uma inversão na função social do testemunho, já que não há crime e
quem toma a palavra não é a vítima, mas alguém que se elege para contar, porque é
importante testemunhar. O grande legado daquele sábado é a narrativa “Repartição de
pães”, que é doação.
Pelo não holocausto surge o relato. O testemunho, na teologia, é afirmação e
revelação da fé. A narradora cumpre esse papel. A “solenidade simples” daquele dia
reinstaurou a figura do narrador – no caso, narradora - e despertou a vontade de
partilhar na palavra o que todos ali vivenciaram. Se o grupo chegou sem paixão àquela
casa, trazendo apenas a falta de esperança e a acomodação, agora (como em
“Experiência e pobreza”, fábula benjaminiana em que o pai à morte transmite
ensinamentos aos filhos186) ressurge do subsolo outra qualidade de laços que instaura a
crença na transmissibilidade da narrativa. A evocação do holocausto recupera uma
comunidade na fala do passado.
A ativação da memória compartilhada, posta sob suspeita desde a catástrofe
iniciada na Primeira Guerra Mundial, confere à convidada o estatuto de testemunha, só
que numa prospecção para o futuro. Ali não havia intenção de julgamento ou
condenação, certo e errado, e seu discurso acentua a confraternização A hierarquia foi
quebrada. A palavra que rememora a experiência coletiva, pelo filtro individual, se faz
história, triplamente (religiosa/ ecumênica; laica; ficcional/inventada). Em nome de um
grupo, a narradora instaura a memória coletiva. O sociólogo francês Maurice
Halbwachs, com base em suas reflexões sobre a memória coletiva, ensina que
a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a
ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, reparada por
outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de
outrora manifestou-se já bem alterada (HALBWACHS,2004: 7)187
O apego afetivo a um grupo dá consistência às lembranças. O indivíduo que
lembra está habitado por grupos de referência; a memória se constrói em grupo, mas é
também um trabalho individual. O circuito da dádiva se prolongaria na transmissão
186
BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre
literatura e história da cultura. Tradução Sergio Paulo Rouanet; Prefácio Jeanne Marie Gagnebin. São
Paulo: Brasiliense, 1989.
187
HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Editora Centauro, 2004.
101
concretizada na narrativa. Passa a não pertencer a ninguém, patrimonializa-se. Se há
pecado, seria o da luxúria, devido ao excesso. Mas nem isso. Porque a integração é de
tal ordem que exclui as leis precedentes e externas ao momento pleno vivido naquela
casa. A sacralidade desenvolvida em nível do humano.
Enfim se realiza a busca incessante da autora em captar o fugidio momento de
integração entre o ser humano e as outras coisas do mundo. Uma irmandade que
dissolve a angústia trágica da separação. Em que a palavra, ser e coisa fazem um só. O
conto desenvolve um tema central da emoção tomada como objeto antropológico e as
tensões geradas entre o obrigatório e o espontâneo. Compartilhar socialmente alimentos
seria um gesto de demonstração de “sociabilidade e de poder”. Reconectam-se valor e
afeto e não há uma balança para aferir a exata medida para cada parte. Para além do
valor de uso ou de troca, prevalece o valor de vínculo. Sem holocausto.
Marcas e ritos de passagem
Encerro com a remissão a um rito que envolve doação. A autora faz uma
releitura do rito de passagem, nos termos descritos por Arnold van Gennep188, que
descreve as formas pelas quais se dão as celebrações nas sociedades arcaicas, para
assinalar mudança de status de um indivíduo.
Observa uma sequência nos ritos
iniciáticos - "separação", "transição", "incorporação" e também reencarnação (que ele
identifica nos ritos ligados à morte), essenciais para a renovação da sociedade, como no
ciclo escatologia e cosmogonia, referido por Mircea Eliade189, só que focado no
universo das relações entre indivíduos, grupos e posições em um contexto social
determinado.
A entrada na puberdade está retratada em “Mistério em São Cristóvão” (LF),
belo texto em que materiais específicos ligados a indumentária, entremeando o onírico e
o real, indicam e costuram o processo simbólico. A “mocinha, em sua camisola de
algodão”, abre a janela do quarto permitindo a ação da natureza e a aparição de três
figuras masculinas travestidas de galo, touro e cavalheiro antigo, que invadem seu
sonho simbolizando a passagem para a experiência da sexualidade, deixando afinal,
como marca, um fio branco que “aparecera entre os cabelos da fronte”.
188
189
GENNEP, A. V. Os ritos de passagem. 2. ed., Trad. Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes, 2011.
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.
102
O mistério da vida apreendido na alegoria reapresenta, numa família de
subúrbio, o fenômeno do ritual de passagem desde a fase de separação à de
incorporação à sociabilidade. O período liminar se dá à noite, quando se rompe a lógica
prática do tempo inócuo da repetição diária: “ao redor da mesa, por um instante
imobilizados, achavam-se o pai, a mãe, a avó, três crianças e uma mocinha magra de
dezenove anos.”
Na mudança de estágio, um talo foi quebrado e abriu-se espaço para o
inconsciente e a percepção, que não tem volta. O ciclo da vida tem como coordenadas a
primavera e também a matéria prima da roupa: a mocinha – e também a família - veste
algodão, tecido que ao mesmo tempo indica autenticidade (em oposição aos sintéticos) e
com “melhor capacidade de absorção de umidade”, adequado ao corpo no clima
brasileiro, quente e úmido. A experiência revela a ruptura e a volta ao coletivo. Como
analisa Santos (1986): “ De um lado, a tradição cobrando para que cada pessoa seja
impessoal, o que corresponderia a obedecer a um mundo clássico e de ritmo certo. De
outro, o perigo que se corre de ser um ‘um ela-mesma”, perdendo portanto a tradição”
(p.12-13).190
O conceito de regeneração social (Gennep) define que indivíduos ou grupos que
se encontram em estado de suspensão, desvinculados da condição anterior, mas ainda
não incorporados à nova condição, constituem problema para a sociedade, já que se
situam fora das áreas normais de controle normativo. Assim, necessitam assumir novo
"status", previsto pelos valores do grupo. A transição poderia ser praticada no ambiente
familiar, após o nascimento, com a apresentação da linhagem. A puberdade - e a
entrada no período fértil -o casamento.
Situação totalmente diferente acontece em “Uma galinha” (LF), em que o rito se
apresenta caricato, e investe-se de kitsch - era a caça e o abate do primeiro animal a
cerimônia para os rapazes. Não há o derramamento de sangue, nem o desprendimento
com abandono de comportamentos em troca de outras conquistas, mas pura ostentação.
190
SANTOS, Roberto Corrêa, Op. cit, 1986.
103
5. A SEGUNDA PELE: QUANDO AS ROUPAS FALAM
[...] se chegar ao fim deste relato, irei, não amanhã, mas hoje mesmo,
comer e dançar no “Top-Bambino”, estou precisando danadamente me
divertir e me divergir. Usarei, sim, o vestido azul novo, que me
emagrece um pouco e me dá cores, telefonarei para Carlos, Josefina,
Antônio, não me lembro bem em qual dos dois percebi que me queria
ou ambos me queriam, comerei crevettes ao não importa o quê, e sei
porque comerei crevettes, hoje de noite, hoje de noite vai ser a minha
vida diária retomada, a de minha alegria comum, precisarei para o resto
dos meus dias de minha leve vulgaridade doce e bem humorada, preciso
esquecer, como todo o mundo.(GH:157) [grifos nossos]
A mulher inteligente não é escrava dos caprichos dos costureiros, dos
cabelereiros e dos fabricantes de cosméticos. Antes de adotar a última
palavra da moda, ela estuda o efeito da mesma sobre seu tipo. A mulher
inteligente sabe que mais importante que parecer “chique” é parecer
bonita.191(CF:29)
Instantâneo é o leve e breve anel de pérola. E quando são muitas as
pérolas do anel — são um sorriso e são reticências. Entre parênteses é o
anel de diamantes engastado em ouro branco porque diz em segredo um
"eu-te-amo" em grego. (SV:126)
Diderot dá um exemplo de como um presente é capaz de destruir a vida de uma
pessoa. Ou quase. É o tema que desenvolve em Lamentações sobre meu velho robe ou
conselho a quem tem mais gosto que fortuna192, de1769. Em discurso revoltado e
lamurioso (a intensidade cria às vezes comicidade melodramática), o filósofo reclama
de ser compelido a se desfazer do surrado “amigo” (refere-se a seu robe) e também
trocar a mobília da casa, o que o deixa infeliz, privado de si mesmo: “maldito seja quem
inventou a arte de dar valor ao pano comum, tingindo-o de escarlate! Maldito seja este
traje precioso que agora reverencio! Onde está o meu velho, o meu modesto, o meu
cômodo farrapo?”. É que uma senhora rica resolvera, em agradecimento a um favor,
lhe oferecer móveis e roupas requintados. De uma só tacada, tudo à sua volta ficou
“descombinado”, o senso de conjunto se perdera.
191
LISPECTOR, C. Correio Feminino. Organização Aparecida Maria Nunes. Rio de Janeiro: Rocco,
2006. Publicada originalmente em 11/12/1959.
192
DIDEROT, Denis. Lamentações sobre o meu velho robe. Aviso aos que não tem mais gosto do que
fortuna. Revista USP – tradução J. Ginzburg. Dezembro, janeiro e Fevereiro 1990 p.153-156. Título
original: REGRETS SUR MA VIEILLE ROBE DE CHAMBRE Texte établi par J. Assézat et M.
Tourneux, Garnier, 1875-77, IV (pp. 5-12).
104
Meu velho robe formava uma e mesma coisa com os trastes que me
rodeavam. Uma cadeira de palha, uma mesa de madeira, um tapete de
Bérgamo, uma prateleira de pinho que sustentava alguns livros, umas
tantas estampas esfumaçadas, sem moldura, pregadas pelos cantos ao
tal tapete; suspensas entre as estampas, três ou quatro imagens em
gesso formavam, junto a meu velho robe, a indigência mais
harmoniosa.
Tudo está desafinado. Não há mais conjunto, não há mais unidade,
não há mais beleza. (Diderot, 1990:153)
A harmonia entre ele e a roupa nascera do convívio diário – o robe se tornara
íntimo, biográfico. Adquirira a forma de seu corpo e tinha borrões da tinta que usava
para escrever. A indignação nasce da violação de sua privacidade; afinal, se vê rodeado
de objetos que passam a lhe pertencer, mas os valores a eles agregados não lhe dizem
respeito.
Embora fosse gastador e presenteasse além do que seus recursos financeiros
permitiam, o escritor recebia pouco por seu trabalho. Vivia com a família em parcas
acomodações. Mais um motivo para o apego ao artefato esfarrapado que sobrou. “Da
minha mediocridade primeira, só restou um capacho. Esse tapete mesquinho não se
enquadra em meu luxo, bem o sinto.” Apega-se a ele como a um amuleto, resíduo
material do que fora um dia, reserva de memória, e jura guardá-lo consigo.
Inspirado nessas reflexões, dois séculos depois o norte-americano Grant
McCracken, um dos pioneiros nos estudos antropologia de consumo, cria a expressão
“efeito Diderot”193. Focado nos objetos como mercadoria e marketing, põe em segundo
plano o afeto, e explora o fato de que uma nova posse fora do padrão habitual pode
levar o consumidor a uma espiral de demandas e precipitá-lo em obsessivo consumo,
pela permanente insatisfação existencial. Em dado momento da sociedade
individualista, objetos passam a não ser construídos com a perspectiva de longevidade e
se tornam valiosos apenas por serem novos, criando pela tipologia de consumo uma
diferenciação de estilos de vida, de posições sociais, em função inclusive de competição
por status. (2003:33)
O texto de Diderot e a interpretação que lhe dá McCraken sob a ótica do
marketing alavancam os apontamentos iniciais sobre a roupa, artefato que acompanha o
ser humano desde o nascimento. Além de proteger, distingue “os homens dos animais,
193
McCRACKEN, Grant. Cultura & Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e
atividades de consumo. Tradução: Fernando Eugênio. Revisão técnica: Everardo Rocha. Rio de Janeiro:
Mauad, 2003. (Coleção Cultura e Consumo/coordenação Everardo Rocha).
105
os homens entre si ou identifica uma época”.194 (Monneyron, 2001:10). Roupas e
adereços escritos ocupam Clarice Lispector. Com eles, agasalha seus personagens,
cobre os pudicos que não gostam de mostrar o corpo nu, engorda ou emagrece os
miseráveis ou glutões com o peso dos tecidos, salienta os desajustados pelo modo como
se maquiam: “Almira tinha o rosto muito largo, amarelado e brilhante: com ela o batom
não durava nos lábios, ela era das que comem o batom sem querer.”195 (LE:71)
O semiólogo Umberto Eco argumenta que a indumentária sempre serviu à
distinção entre castas, classes sociais e gênero; delimitou papéis e recursos materiais do
indivíduo e de grupos. Não alcançaria cinquenta por cento o uso do material
exclusivamente para cobrir (amparar do calor ou do frio e, como Eva, ocultar a nudez
vergonhosa). Este fator de diferenciação remontaria à pré-história. A pele é usada
inicialmente por razões funcionais; em seguida à invenção do primeiro traje, se torna
recurso de distinção entre bons caçadores e inaptos, os sem-peles. (Eco, 1989). Mas
estava bem distante ainda da sociedade de consumo que insufla os signos externos de
status. Entre dizer que e servir para, prevalece a primeira expressão. Eis o conselho da
Clarice colunista:
Mas atenção! [preto] é uma cor que não suporta mediocridade.
Cuidado se sua pele estiver sem viço ou se você já ultrapassou os
40 anos. O preto exige uma maquilagem impecável, um aspecto
“soigné”, cabelos bem penteados. (“A cor do glamour”, CF:96)
Há ainda a possibilidade de olhar o traje como brasão da identidade. O mote foi
consagrado pelo escocês Thomas Carlyle. Em seu bildungsroman Sartor Resartus
(1830), utiliza a metáfora das roupas para pensar a construção social. Preocupado com o
cultivo do valor e a formação individual e subjetiva, e opondo-se utilitarismo aquecido
pela Revolução Industrial, crê que a matéria representa espiritualmente a ideia; assim, a
roupa, da escolha do tecido ao modo como é confeccionada, não deve ser tomada por
insignificante. Segundo Rossatti196, a metáfora central contida no título da obra (em
inglês “Taylor Retailored”) faz a apologia da criatividade humana: re-tecer, construir e
reconstruir.
194
MONNEYRON, Frédéric (direction). Vêtement et littérature. Collection Études. Perpignan: Presses
Universitaires de Perpignan, 2001.
195
LISPECTOR, Clarice. “A solução”. In: A Legião Estrangeira. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1964,
71 a 73.
196
ROSSATTI, Gabriel Guedes. Do não ao sim eternos ou subjetividade e vontade no Sartor Resartus de
Carlyle. Revista de Filosofia, Amargosa, Bahia – Brasil, v.3, n.1, junho/2011. http:///
106
Notação biográfica, impostora, dádiva, persona, canal simbólico, coerção, enfim,
já se vê que a indumentária tem potencial para atender a múltiplas demandas ficcionais.
Dependerá da forma e da força com que se insere em cada narrativa e também da
predisposição do leitor em encará-la como algo residual e de somenos importância, ou
não. Novas perspectivas se abrem a partir daí. Como intérprete, vejo as marcações e
aparições da roupa nas obras de Clarice Lispector, junto a outros objetos e em diferentes
locações, como pespontos e rasuras.
Pesponto: agulha que atravessa a roupa; move-se, mas sem fazer um contínuo
fechado, deixando pausas, pedaços de tecido não atados à linha.
Pesponto: agudez de escolhas que a escritora faz de cada elemento; costura
interna; passagens dialogais entre textos e destes com seus temas de eleição e com seu
tempo.
Rasura: ato ou efeito de raspar letras ou palavras num texto.
Rasura: a escritora deixa em sombra o que antes estava escrito, como um
palimpsesto. Raspa, mas ficam fragmentos, sujeiras.
Assim, se nas crônicas femininas o tema roupa se apresenta de forma imediata;
se é, por assim dizer, algo previamente “dado”, em contos e romances a autora recorre a
ele não pelo ditame imperativo da moda, mas em função da composição da personagem
e da narrativa. Mas textos que não se pretendem literários, assim como depoimentos da
escritora, podem ser incorporados à interpretação, como índices, rasuras, pespontos,
avisos.
Já no século XIX diversos escritores desenvolveram reflexões sobre a
importância identitária da roupa. Diferentemente do Brasil, a França a incorporou a seu
tradicional interesse literário e filosófico pelos costumes e comportamentos.197 Balzac,
Baudelaire, Mallarmé e Proust, em época de ampliação do mercado e de vitrines,
escreveram sobre a moda e as relações desta com a literatura.
Balzac, semiólogo da comunicação avant la lettre, em textos como Physiologie
du mariage ou Physiologie de la toilette, é um observador sagaz. Com suas
197
Montaigne, apesar da severa crítica à moda (“Da máscara e da aparência não se deve fazer uma
essência.”), não contornou o tema; usou-o para analisar a sociedade. Apud: FORTASSIER, Rose. Les
écrivains français et la mode. De Balzac à nos jours. Paris, Puf, 1988. p.24
107
compilações, quis fixar princípios que regem estilos e usos.198 Traité de la vie elegante
se tornou fonte irrecusável no estudo do dândi.
Mallarmé, motivado por interesse financeiro e pelo entusiasmo com um espaço
de escrita que não lhe demandava o rigor da produção poética, realizou o projeto de
edição da revista frívola La Dernière Mode, la Gazette du monde et de la famille
(1874). Para Barthes, embora a moda tenda a se justificar artificialmente, usando álibis
sociais e psicológicos, o poeta simbolista teria edificado uma função propriamente
abstrata ou poética.
(...) não contém, por assim dizer, nenhum significado pleno, apenas
significantes de Moda; restituindo a pura imanência do bibelô,
Mallarmé visava elaborar humanamente um sistema semântico
puramente reflexivo: o mundo significa, mas ele significa “nada”:
vazio, mas não absurdo199.
A visão poética se confirma na concepção de Em busca do tempo perdido, com
estrutura inspirada numa peça de indumentária: “Pregando aqui e ali uma
folha
suplementar, eu construiria meu livro, não ouso dizer ambiciosamente como uma
catedral, mas modestamente como um vestido.”200
Clarice Lispector desenvolve como Balzac, mas sem a ambição que o guiou,
uma espécie de “metafísica das coisas” (a expressão é dele); como Mallarmé, faz do
ofício de jornalista de moda um lugar para expressão do banal sem autocensura e
exercício de escrita; e, como Proust, projeta seus livros com sensibilidade imagética e
faz da roupa uma fala, com a diferença de que não seguiu o desenvolvimento descritivo
do autor francês; preferiu a discrição do pesponto e da rasura.
Mallarmé, Baudelaire e a Clarice cronista têm como interlocutora a mulher
citadina e “moderna”, que divide seu tempo entre a casa e a rua; mas, no contexto da
coluna em jornal diário, a escritora brasileira se aproxima mais do primeiro, já que
muito do escreve está voltado para a atuação da esposa e mãe no lar. Baudelaire tende a
tratar a moda de perspectiva erotizada, o que não acontece nas colunas – mas acontece
na ficção. E tampouco a leitora brasileira tem o perfil aristocrático da revista de
198
« Or un traité de la vie élégante, étant la réunion des principes incommutables qui doivent diriger la
manifestation de notre pensée par la vie extérieure, est en quelque sorte la métaphysique des choses »,
Traité
de
la
vie
élégante.
Première
partie.
Acesso
em
http://regusto.es/wpcontent/uploads/2011/08/Balzac-Trait%C3%A9-de-la-vie-%C3%A9l%C3%A9gante1.pdf
199
Com abordagem semiológica, Barthes entre 1957 e 1963 trata do discurso da moda escrita e elabora
uma análise estrutural do vestuário feminino. Analisa a retórica que estimula a compra e o interesse pelo
tema. BARTHES, Roland. O sistema da Moda. São Paulo: Nacional,1979.
200
PROUST, Marcel. O tempo redescoberto. Trad. Lúcia Miguel Pereira. São Paulo: Globo, 2004.
Original: PROUST, Marcel. Á la recherche du temps perdu. vol. V:.610
108
Mallarmé – esse resíduo de fidalguia, requinte, irá aparecer, sobretudo, em suas
personagens idosas, desencontradas neste mundo tão diverso de quando eram jovens.
Por fim, como Balzac, Lispector assumiu esse tipo de trabalho para garantir a
subsistência.
No mais, a escritora conhecia e se interessava por moda. Enquanto dona de
casa, se sentia responsável pelo bom funcionamento do lar, embora às vezes achasse o
encargo pesado. Como outras esposas de diplomatas, comparecia a cerimônias e
conhecia protocolos. A itinerância em função da carreira do marido a levou a ter acesso
a espaços de circulação da média e alta burguesia, e, mais do que a moda, Lispector
estava atenta a tendências. No conjunto da correspondência que manteve com familiares
e amigos traça um roteiro de restaurantes e lugares mais badalados, de autores em voga,
exposições de sucesso, peças de teatro, cinema e gastronomia. Os comentários sobre o
dia a dia não deixam de lado avaliações críticas e são acompanhados do crivo sobre o
démodé, o belo e o feio; está sempre pronta a radiografar gestualidades. Comenta, por
exemplo, sobre a empregada Martha Baumann, “que para comprar um maço de cigarros
botou o chapéu e saiu por horas como se fosse para colher flores. Afinal saiu para
sempre, velha, muito limpa, com as sobrancelhas para cima como de um diabinho.”
(CPC:37); ou sobre o show de cabaré em Paris, em que “filma” a desavença entre três
pessoas.
Uma moça feinha, de cabelos curtos e lisos, de rosto gordinho, loura,
chorando tanto até desfalecer. Tinha uma mulher forte e morena junto
que só faltava dar nela, e um homem gordo junto que puxava o braço
dela e falava duro com ela. (CPC:40)
O trabalho na imprensa lhe permite apurar o conhecimento sobre moda e
comportamento. Primeiro aceitou o convite de Rubem Braga e assumiu a coluna “Entre
Mulheres” (O Comício).
Na época - de maio a setembro de 1952 - vivia
provisoriamente no Rio de Janeiro, no interregno entre um posto e outro do marido no
Itamaraty. Com o nome Tereza Quadros, totalizou dezessete edições.201 Depois veio
Helen Palmer (Correio da Manhã, 1959 a 1961), com duas colunas semanais. Foram
128 edições, todas as quartas e sextas-feiras. Por fim, a convite do jornalista Alberto
Dines, assumiu no Diário da Noite um trabalho intensivo, com seis textos por semana.
201
Houve outra oportunidade que não foi adiante: pela impossibilidade de usar pseudônimo acabou
declinando o convite da revista Manchete, mediado pelo amigo Fernando Sabino, em 1953.
109
Foi ghost writer da atriz e modelo Ilka Soares,202, fechando 291 colunas (1960 e 1961).
Uma seleção foi reunida no livro Correio feminino.
Décadas depois, retomando a atividade juvenil de repórter, realiza entrevistas
com artistas, intelectuais e gente famosa, para a Manchete. Os “Diálogos Possíveis com
Clarice Lispector”, entre 1968 e 1969, continuaram depois na revista Fatos e Fotos,
publicação da mesma editora Bloch; interrompeu pouco antes de falecer, em 1977.
Ela relutou, mas acabou assumindo por necessidade o trabalho pedagógico
“chapa branca” financiado pela Ponds, que usou as colunas jornalísticas como incentivo
ao consumo de cosméticos, indústria em expansão. A leitora presumida seria a esposa
ou candidata a noiva em busca da estratégia certeira de conquista do par masculino ou
da manutenção do casamento.
Deve ter facilitado o trabalho o bom gosto cultivado por Clarice, sempre bem
maquiada, vestida com grife. Muito do que Quadros indicava pode ter surgido dos
manuais e revistas encontrados em seu acervo pessoal. A imagem pública, enigmática e
bela era uma composição estudada: em geral pouco sorria nas fotos, tinha os cabelos
arrumados, vestuário elegante, e olhos desenhados por forte lápis preto, acentuando a
sensualidade felina.
As colunas por encomenda correspondiam ao ideário oficial da época: educação
da mulher de classe média. Assemelham-se aos manuais de civilidade e de
administração do lar que fizeram sucesso no país em fins do dezenove.203 Conserva o
modelo de formação feminina, revigorado após a segunda guerra. A observação de
Mello Souza sobre o oitocentos pode ser replicada grosso modo um século depois:
Tendo a moda como único meio lícito de expressão, a mulher atirou-se
à descoberta de sua individualidade, inquieta, a cada momento
insatisfeita, refazendo por si o próprio corpo, aumentando
exageradamente os quadris, comprimindo a cintura, violentando o
movimento natural dos cabelos. Procurou em si já que não lhe sobrava
outro recurso a busca de seu ser, a pesquisa atenta de sua alma. E aos
poucos, como o artista que não se submete à natureza, impôs à
figura real uma forma fictícia, reunindo os traços esparsos numa
concordância necessária (Souza, 1987:100)204.
202
Famosa pela beleza, atuou no cinema e na televisão; foi casada com o diretor de cinema Anselmo
Duarte e o empresário Walter Clark, principal executivo da TV Rio e ex-diretor da Globo
203
Fizeram sucesso obras como Código do bom-tom, do cônego português J. I. Roquette; similares se
perpetuam em livros de autoajuda, para as pessoas alcançarem metas.
204
SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.
110
Lispector endereça os textos a uma imaginária amiga íntima, na linha dos
almanaques ilustrados do final do século XVIII.
As fisiologias das modas, de
inspiração dandista, tinham função de adestramento, segundo Barthes, ensinar o
aristocrata
a distinguir-se do proletário ou do burguês pela maneira de usar
uma roupa, agora formalmente indiferenciada; como diz um desses
fisiologistas, a gravata substituiu a espada: há em todos esses opúsculos
como que o esboço de uma axiologia do vestuário. (2005:287)205
As colunas ensinam técnicas de diferenciação e integração social e orientam
quanto a refinamento, usos de acessórios, como servir e circular em público, leituras etc.
Elogia o efêmero e o consumo, mantendo o espírito conservador e seguindo princípios
de polidez, higiene e felicidade familiar. As “sugestões” orientam-se para a disciplina
(“minhas simpatias vão para a cigarra porque cantar é que é bom. Mas quem vai ser a
formiga da gente?” CF:51) e para o otimismo (“É uma pena uma pessoa sentar-se num
canto da sala (figuradamente) e lamentar, lamentar, lamentar”. CF:54). Assim como
Mallarmé, não ignorava o lado comercial e estava ciente do ambiente favorável ao
consumo.
Se a beleza já havia se tornado um dos critérios para a expressão da
subjetividade, naquela época passou a ser cada vez comandada pela moda e pelo
mercado. Antigas fronteiras entre tipos de beleza (esportiva, regional etc.) foram
relativizadas. Falava-se em “beleza internacional”, expressão que circula na década de
1960, associada à liberdade para cuidar do corpo e exibi-lo publicamente.
Mesmo com o apelo “civilizatório” e adestrador, a autora aqui e ali questiona e
sugere menos rigor nas regras, no texto “Dirigir um lar”: “Muitas vezes, um cachimbo
esquecido sobre o aparador, um brinquedo largado no tapete, umas almofadas com a
marca de uma cabeça que nelas descansou dão o ‘calor’ necessário ao verdadeiro lar.”
(CF:45)
Várias das crônicas se revelam esboços de futuros contos, e volta e meia trazem
as tensões da dona de casa moderna, dividida entre pesados afazeres domésticos, boa
aparência e delicadeza. As que foram escritas para o Jornal do Brasil (1967 a 1973)
constituíram exercício e laboratório. “A quinta história”, inicialmente publicada em
205
BARTHES, Roland. Inéditos III: Imagem e Moda. Org.: Leyla Perrone-Moysés. Tradução: Ivone
Castilho Benedetti. São Paulo: WMF/ Martins Fontes, 2005. No artigo “Dandismo e Moda” (p.344:342)
se refere ao detalhe vestimentar como um novo predicado estético.
111
1952 no Comício, é retomada dez anos depois na revista Senhor, e finalmente sai em A
legião estrangeira (1964). O conselho prático de dona de casa transforma-se: passa da
terceira para a primeira pessoa, ganha ritmo narrativo de ladainha (em variações, como
usou para “Mineirinho” e “A Imitação da Rosa”), desaguando numa reflexão
existencial.
Conforme argumenta Vilma Arêas, Lispector estava “fora e dentro do esquema.
Para ser precisa, mas também paradoxal: absolutamente fora e, quando dentro, de
maneira algo insólita”. Comparando “Uma Lenda Verdadeira”, variante de “Na
Manjedoura” (original publicado em 1964 em A Legião Estrangeira), com “Hoje Nasce
um Menino”, outra variante publicada no JB em 1971, salienta que
o primeiro, escrito sem injunções, é de superioridade indiscutível,
adaptando-se as variantes às necessidades da hora e piorando pouco a
pouco com os exageros, enfiada de adjetivos, etc., culminando o texto
de Como Nascem as Estrelas por substituir, não se sabe bem por que, a
“pequena família judia” pela “pequena família humilde”, enquanto
“espouca no ar como champanhe o borbulhante Ano Novo. (19971999:147)206
Arêas conclui que, mesmo em textos eróticos e infantis com prazo de entrega, o
tiro “saiu pela culatra: o que deveria ser péssimo resultou ótimo, como alguns contos de
A Via Crucis do Corpo. O comentário de Jean-Pierre Richard sobre La Dernière Mode,
de Mallarmé é apropriado para a Lispector colunista social, ao menos em boa parte do
que escreveu207: trata-se de escrita limite. Pretende-se reportagem da vida contingente,
mas também ilustra a possibilidade da “linguagem reservada e sem ser além dela, de
uma descrição verdadeiramente literária.”208
Esse arsenal de roupas (e objetos de casa) entra na ficção muitas vezes pela
porta dos fundos, de modo mais - ou menos - ostensivo, ora como um sublinhado, ora
como um negrito, ora como um parêntese. Sucinto e pontual. Sendo ela escritora dos
“estados da alma”, o vestir não ficaria de fora. É muitas vezes a ponta visível de um
iceberg, encorpando discussões sobre crise de identidades, consumo, e estilos de vida.
206
ARÊAS, Vilma. “Children’s Corner”. Revista USP, São Paulo, dez/fev 1997-9, 144-153.
Ela gostaria que o pseudônimo a acobertasse, nem tanto pelo fato de ser boa ou má literatura, mas por
algo de foro íntimo: confessa em “Fernando Pessoa me ajudando” (DM), publicada originalmente em
21/09/1968, que precisava resguardar a intimidade.
208
RICHARD, Jean-Pierre. L’Univers Imaginaire de Mallarmé. Paris Seuil, 1961. p.297. Ver também a
bela resenha do livro por FOUCAULT, Michel. Le Mallarmé de J.-P. Richard [J. P. Richard, L'Univers
imaginaire de Mallarmé]. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 19e année, N. 5, 1964. pp. 9961004.doi : 10.3406/ahess.1964.421248
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1964_num_19_5_421248
207
112
Compõe com o ambiente, mesmo quando destoa. Em geral, há uma generificação dos
espaços, que raramente são os tidos como masculinos, como o escritório. A autora
coloca seus personagens transitando, sobretudo, no quarto, na cozinha ou sala de visitas.
O estatuto ocupado pela roupa na filosofia ocidental, cuja tradição busca o ser
por trás das aparências; o fato de a roupa, na sociedade contemporânea, estar a serviço
da moda e esta, da frivolidade; e o lugar subalterno destinado ao descritivo, a que a
roupa estaria associada foram, segundo Monneyron, fatores essenciais para a exclusão
da indumentária dos estudos literários.
Uma maneira possível de contornar o pré-conceito é observar cada elemento
material como objeto ficcional e participante do projeto ficcional, o que requer tempo de
observação. A roupa, assim como os objetos da casa (mobiliário, decorativos), são
pontuações minimalistas, sucintas e estrategicamente colocadas nas narrativas. Por isso
mesmo, o detalhe se amplifica para o leitor atento. Auerbach chama a atenção para
como Virgina Woolf, no romance The Lighthouse, em procedimento similar ao da
escritora brasileira, alonga-se em mínimos acontecimentos caseiros. E cita a cena em
que Mrs. Ramsay mede o tamanho das meias no próprio corpo do filho.
Neste episódio totalmente carente de importância são entretecidos
constantemente outros elementos, os quais, sem interromper o seu
prosseguimento, requerem muito mais tempo para serem contados do
que ele duraria na realidade209. (AUERBACH, 1971:477)
Roberto Corrêa dos Santos (1980), por sua vez, considera que os pontos fortes
da narrativa clariciana vêm do trabalho com a linguagem em seus componentes
mínimos. Ora, objetos e roupas são componentes mínimos que agenciam a exposição,
por Lispector, de memórias e sentimentos, prontos para, a qualquer momento, irradiar
ou sufocar. Vetores para discutir o duplo, a identidade, conflitos interpessoais, tensões
de gênero e de classe social chegam, no caso das roupas, a compor uma paleta de cores
própria a cada tipologia de personagem.
Gilda de Mello e Souza (Exercícios de leitura), no ensaio “O vertiginoso
relance”, usa como chave de leitura para a obra de Lispector o conceito de miopia,
adequado ao cotidiano feminino de classe média, restrito ao quadrilátero da casa. Em
209
AUERCHACH, Erich. “A meia marrom” In: Mimesis. Perspectiva: Editora da Universidade de São
Paulo, 1971.
113
função de um continuado sistema patriarcal, a mulher acabou se situando “como
coisa no universo das coisas”. Noutras palavras, a paisagem doméstica integra o
cotidiano da personagem feminina e instaura uma proximidade simbiótica com o que
a cerca, levando a uma cegueira que bloqueia a consciência em relação a seu modo
de viver.
Entretanto, a mesma proximidade cria uma reserva de memória pelo
espelhamento nas coisas “sem vida própria”, mas existentes. Inertes, mas não
inexistentes. Nelas, pode subitamente identificar algo de muito pessoal, e mesmo
receber dos artefatos a expressão de si mesmas, como o fogão que explore ao final
do conto “Amor”, ou quando “Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava
um pouco em espanto”.
A antropóloga Vania Carneiro (2008) distingue as ações centrípetas (objetos
que giram em torno da figura do homem, fazendo-o destacar-se), caracterizadas
culturalmente como masculinas; e as ações centrífugas, tidas por femininas (objetos
que despersonalizam, fundindo mulher e ambiente doméstico, criando “uma
continuidade entre corpo, objeto e espaço da casa [...].”) p. 224. Para perceber essas
diferenciações, há que estar aberto a pequenos sinais. É uma operação perceptiva
similar à descrita pelo poeta e crítico de cinema Béla Balázs ao se referir ao mundo
descoberto pela câmera cinematográfica: “coisas bem pequenas, visíveis somente a
distâncias muito curtas”, revelando “forças ocultas de uma vida que pensávamos
conhecer tão bem”.210
O recorte feito por Clarice Lispector é como um close-up, não por preocupação
naturalista, e sim pela irradiação de “uma atitude humana carinhosa ao contemplar as
coisas escondidas, um delicado cuidado, um gentil curvar-se sobre as intimidades da
vida em miniatura, o calor de uma sensibilidade”. “Close ups geralmente são revelações
dramáticas sobre o que está realmente acontecendo sob a superfície das aparências”.
(Balázs, 1983:90-91)
210
BALÁZS, Béla. “A Face das coisas”. In: A experiência do Cinema: antologia. Ismail Xavier
organizador. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.
114
5.1 A ITALIANA TROCA DE ROUPA: OBJETO E MEMÓRIA
Nestes últimos três dias, sozinho, sem personagens,
despersonalizo-me e tiro-me de mim como quem tira uma roupa.
Despersonalizo-me a ponto de adormecer.(H. E)
O texto “Uma italiana na Suíça”211, escrito em Berna e inspirado em domésticas
que trabalharam para Clarice, engrossa a sua galeria de despossuídos e desviantes212, e
incorpora um dado biográfico adicional menos explícito: a condição de orfandade (a
mãe de Clarice faleceu quando ela era pré-adolescente).
Após descrever a rotina da criança pobre que conseguiu sobreviver morando e
crescendo em um convento, o narrador acompanha o lento e profundo processo de
superação em relação às condições de vida precárias, num ambiente sem troca afetiva.
A personagem é apresentada como parte de um coletivo (bando de órfãs em sistema de
reclusão monástica), que faz tarefas subalternas tradicionalmente femininas: costurar,
manter limpo e arrumado o lugar.
Aos vinte anos, ela decide partir e consegue emprego como criada. Mas continua
a não sair da casa. Certo dia, porém, graças à leitura de um livro proibido, vive uma
revolução completa e toma outro rumo na vida. Conquista a liberdade. Dona do próprio
nariz, experimenta a sua sensualidade e beleza únicas. O diferente não a assusta mais,
sabe o que quer e o que não quer para si. Adeus aos panos rudes em que se escondia.
Foram trocados pela alegria e pela leveza dos fartos cabelos.
Para retratar a gradativa emancipação e a descoberta da sexualidade, o narrador
salienta as restrições impostas à personagem no convento: deslocamento (estrangeira) e
isolamento (convento); condição social e existencial de desenraizamento (órfã);
211
LISPECTOR, Clarice. “Uma italiana na Suíça”. In: Para não esquecer. Rio de Janeiro: Ática, 1979.
p.72:74. Há outra versão da história: “Melhor do que arder” em A Via crucis do corpo.
212
Em janeiro de 1941 fez a reportagem “Onde se ensinará a ser feliz”, para o Diário do Povo, sobre um
abrigo para meninas sem lar, projeto assistencial idealizado pela primeira-dama Darcy Vargas. Enaltece a
iniciativa e critica a sociedade apegada a bens. “E certamente na primeira noite ao abrigo, cinco mil
garotas não poderão adormecer. Na escuridão do quarto, as milhares de cabecinhas, que não souberam
indagar a razão de seu abandono anterior, procurarão descobrir a troco de que se lhes dá uma casa, uma
cama e comida. Quando recebiam caridade, recebiam também um pouco de humilhação e desprezo. Não
deixava de ser bom, porque sentiam-se quites e muito livres. Livres para o ódio. Mas nas casas onde
agora se acomodam, casas limpas, com hora certa de almoço e de jantar, com roupas e livros, são tratadas
com naturalidade, com bom humor...”. FERREIRA, Teresa Cristina Montero. Eu sou uma pergunta: uma
biografia de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p.76.
115
solidão; repressão (ao decidir ir embora, as “Irmãs se espantaram, disseram que ela iria
para o Inferno.”); parcos recursos de comunicação.
A ausência de vínculos familiares e de amizade se duplica na falta de bens
pessoais – sem um quarto todo seu, compartilha com as demais internas um dormitório
impessoal: “Lá levava uma vida sóbria e dura com as outras crianças”. Não dispõe de
um canto de repouso privado – dispõe tão somente de abrigo para dormir, na cama fria
no inverno. A clausura sem perspectiva de mudança se confirma no pretérito
imperfeito, cadenciando um cotidiano anódino e repetitivo, e nos detalhes da
arquitetura: janelas a isolam no ambiente interno e a pequena felicidade é contemplar o
outono através dos vidros.
A mudança se dá, inicialmente, pela decisão inesperada de largar o convento.
Nesse momento, a narradora retoma a caracterização inicial, usando os mesmos
parâmetros: modo de trajar e um objeto a ela associado. Primeiro: “cabeça raspada e o
longo vestido de fazenda grosseira, às vezes, com a vassoura na mão”; agora, “com sua
pequena trouxa, a cabeça raspada, a saia nos calcanhares.” Troca o instrumento de
trabalho pela trouxa com poucas coisas pessoais, mas mantém o corpo coberto e a
cabeça desnuda, marca de castração, conforme preceitos religiosos de demonstrar o
desligamento das vaidades terrenas.
Antes a roupa era ocultamento, mutilação do feminino – corpo neutro,
submetido à regulação da vida por laços sociais artificiais, controlados pela lei do
convento. Sobra-lhe observar o movimento das estações, e o outono pede a
contemplação à distância, através da janela. Para a prisioneira sem vínculos, os objetos,
embora façam parte de sua vida entre estranhos, não lhe dizem respeito. Do mesmo
modo, as formas de seu corpo “tardavam a se afirmar”. Fechada em si, sem contato
exterior, “seu rosto ainda não sabia exprimir”.
Depois de trabalhar um tempo, como criada, numa casa de família, “meses a fio,
sem ir à rua”, porque “não sabia sair”, ainda na roupa grosseira e pesada, acontece a
transmutação, movida por um objeto que lhe era inacessível. Entra por conta própria na
biblioteca e escolhe um livro. Livro: artefato falador que lhe apresenta, sem censura, o
imaginário e o pecado.
O curioso é que, em seu elogio ao poder subversivo da ficção, Clarice coloca nas
mãos da personagem, no lugar da vassoura, uma obra popular erótica, de fácil
comunicação: Le corset rouge (O espartilho vermelho), de autoria não citada.
116
Pesquisei e identifiquei ter sido escrito por Esparbec, um dos apelidos do francês
Georges Pailler (assinava também John Jensen, Victoria Queen etc.). Publicava pela
casa Sabine Fournier, editora especializada em literatura pornográfica, e chegou a
assinar uma centena de romances de gare213. É considerado pelo polêmico editor JeanJacques Pauvert e pelo ilustrador Georges Wolinski como o maior escritor pornográfico
da França, ao propor uma literatura crua, direta, senão “o leitor não vê, lê” (“Se o leitor
percebe que o livro é ‘bem escrito’, é um fracasso: não olha mais, apenas lê.”).214 O
resumo da trama de Le Corset rouge sugere como ele caiu feito uma bomba no
despreparado coração da jovem:
Depois da morte do pai, o jovem Leopoldo entra numa relação
turbulenta com a mãe. Ele a espia constantemente, a surpreende em
jogos sexuais solitários ou na companhia da empregada... Mas eis que
ela pretende se casar de novo, com o irmão do defunto, Tio Jean, pai
abusivo que dá às próprias filhas uma curiosíssima educação!
Consequência deste casamento: Leopoldo se torna escravo sexual de
suas três jovens primas... E sua mãe, do Tio Jean... Transformado em
boneca sexual por suas três novas irmãs, espiando as depravações entre
sua mãe e seu tio, Leopoldo descobre com horror e ... voluptuosidade,
que o sexo e o ódio fazem um ótimo casamento.215
Adoece a italiana, até então habituada à reza e ao monológico texto bíblico. Ela,
que ainda não havia criado com as coisas nenhuma pessoalidade; ela, que não era dona
213
Livro de fácil leitura, podendo ser água-com-açúcar ou policial, vendido inicialmente nas estações de
trem.
214
«Quant au style, proche du degré zéro prôné par Barthes, il s’interdit de former écran entre les choses
racontées (ou montrées) et le lecteur. Il vise la transparence: le regard du lecteur doit le traverser sans s’y
arrêter comme celui d’un voyeur un miroir sans tain. Cette écriture neutre, behaviouriste, bannit le
vocabulaire « spécialisé » des années 70 et 80 (cyprine, pieu, mandrin, chibre, fentine, turgescent, flaccide
– pour flasque, etc.) ou celui des pornos de sex-shop (actuellement repris par certains auteurs féminins
dans des récits soi-disant scandaleux), mais aussi, l’ennemi n°1 : la métaphore, et tout ce qui
l’accompagne : les “trouvailles”, les mots d’auteur, les “effets de style”, les joliesses narcissiques. Si le
lecteur remarque que le livre est “bien écrit”, c’est raté : il ne regarde plus, il lit » Apud:
http://fr.inforapid.org/index.php?search=Esparbec Mesma editora com obras que seria proibido de venda
e acesso a jovens, em 1995 na França pelo conteúdo pornográfico (sic) Editora Sabine Fournier
http://www.lamusardine.com/recherche‐avancee.php?EDITEUR=SABINE%20FOURNIER
215
Resumo de « La Musardine », que se autointitula Librairie Érotique de Paris: «Après la mort de son
père, le jeune Léopold entre dans une trouble relation avec sa mère... Il l'épie constament, la surprend
dans ses jeux sexuels solitaires ou en compagnie de la bonne... Mais voilà qu'elle songe à se remarier avec
le frère du défunt, Oncle Jean, un père abusif qui délivre à ses propres jeunes filles une très curieuse
éducation! Conséquence de ce mariage : Léopold va devenir l'esclave sexuel de ses trois jeunes
cousines... Et sa mère celle d'Oncle Jean... Transformée en poupée sexuelle par ses trois nouvelles soeurs,
épiant les débauches de sa mère et de son oncle, Léopold découvre avec horreur et...volupté, que le sexe
et la haine font un excellent ménage». In: http://www.lamusardine.com/P7556-le-corset-rouge-peridolgeorges.html. Acesso em 10 jan. 2013
117
de si mesma, assim como não se apropriava das coisas (“sentou-se numa cadeira sem se
encostar, pois ainda não aprendera a se dar prazeres”). A iniciativa de ler é uma quebra
no cotidiano repetitivo, gesto de escolha própria que lhe abre caminhos para apossar-se
dos objetos de uso, recostar-se à cadeira, torná-la sua enquanto usufrui do prazer da
leitura.
Se um texto só existe quando o leitor lhe dá significado, um escrito dessa
natureza, com linguagem direta e de fácil assimilação, é violento desafio à atividade
imaginativa, convite ao desvio, à quebra de resistências.
O livro de ficção, por si só, é singular em relação a outros artefatos, ao superpor
ao menos duas linguagens: a que é transmitida por sua materialidade enquanto objeto
livro; e a do texto, que amplia à enésima potência as possibilidades interativas e
interpretativas. Daí Chartier afirmar que livros não podem “ser apreendidos nem como
objetos, cuja distribuição bastaria determinar, nem como entidades, cuja significação
seria universal. Devem ser relacionados à rede contraditória das utilizações que os
constituíram historicamente.” (2002:53)216 Acrescento: isso se dá em especial com
obras poéticas e ficcionais: não só devido ao status mítico constituído e consolidado
historicamente pelas sociedades de letras, mas pela dimensão subjetiva da leitura,
estimulada pelos poderosos engenhos da palavra.
Seu poder não se dá pela
exterioridade, concretude, opacidade, ou pela natureza física que o irmana a outros
objetos materiais, mas pela fabulação.
Numa narrativa de ficção, o objeto-livro reflete ad infinitum o livro real,
suporte concreto da ficção, e provoca uma tomada de consciência dos
fenômenos da escritura, de produção e de recepção do texto. […] De
maneira indireta, os objetos não propriamente ligados ao ato literário
podem remeter a ele: cartões postais, fotos, pinturas. Porque esses
objetos são representações (estéticas ou não), remetem metatextualmente
a um ato literário”. (Lepaludier, p.87-88 )217
Nesse rito de passagem, metamorfoseia-se aquela que, “no dormitório escuro
olhos abertos sobre o lençol”, espiava os “pequenos pensamentos piscarem” e ficava
216
CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre as incertezas e inquietude. Tradução Patríca
Chittoni Ramos. Porto Alegre: Editora Universidade/UFRGS, 2002.
217
LEPALUDIER, Laurent. op. cit. Original : «dans un récit de fiction, l’objet-livre met en abyme le
livre réel, support concret de la fiction, et provoque une prise de conscience des phénomènes d’écriture,
de production et de réception du texte. […] D’une manière indirecte, des objets non proprement liés à
l’acte littéraire peuvent y renvoyer: cartes postales, photos, peintures, etc. Parce que ces objets sont des
représentations (esthétique ou non), dans la mesure ou ils renvoient métatextuellement à un acte
littéraire. »
118
defronte à janela, de “braços cruzados e as mãos metidas nas mangas opostas”. A
patroa demonstra um cuidado e uma preocupação com ela; e a figura masculina, antes
ameaçadora (tanto que precisava ser exorcizada no convento com líquido e calor), agora
lhe é apresentada de maneira doce e compreensiva. O doutor a cura através da conversa.
Ela descobre as diferentes vozes e visões sobre a vida: “— É que eu pensava que tudo
que se escreve e que se publica num livro é verdade, disse olhando com tanto pudor o
primeiro homem bom.” A jovem que viera de um meio rígido no convento foi
confrontada com a roupa fetiche.
O fetisso assinala, como mostra Pietz, menos a antiga desconfiança
relativamente a manufaturas falsas (em oposição às hóstias e imagens
manufaturadas mas “verdadeiras” da Igreja Católica) do que uma
desconfiança relativamente não apenas à própria corporificação
material, mas também relativamente à “sujeira do corpo humano...à
influência de certos objetos materiais significantes que, embora
separados do corpo, em certos momentos, funcionam, como seus órgãos
controladores”. O fetisso representa, assim, “uma subversão do ideal do
eu autonomamente determinado”. (STALLYBRASS, 2008: 43-44)
Na finalização da história, ela e a roupa reaparecem. Mas agora, com a
consciência da sexualidade, a libido externalizada com intensidade e sem medo do
excesso218 – “muito pretos”, “grande cabeleira”. Sabe e gosta de si mesma, se aceita
como é, sente prazer em rir alto, doar-se a si mesma e ao outro. Só tocou os objetos a
partir do momento em que se tocou. Com certeza passou a ler confortavelmente
recostada à cadeira. A libertação é a autoaceitação, inteligência dos bobos.219 Também
diz: “não sou muito inteligente, tenho a impressão de que a senhora é mais do que eu.
Também diz: ‘a senhora alguma vez já chorou como uma boba e sem saber por quê?
pois eu já!.’ — e cai na gargalhada”. (p.74)
Clarice opera duas inversões sobre dois tipos de objetos. O livro é destituído de
sacralidade e a roupa fetiche, da negatividade que Freud lhe atribuiu. O corset rouge
inicia a personagem no olhar que inventa, deseja, imagina. A autoridade e unicidade da
escrita são mitos que não prestam serviço a ninguém. Palavras divergem e divertem. A
construção interna da pessoa se constrói na relação com a casa e as roupas. O livro vem
romper com a fala e a escrita codificadas. A letra não tem imagem, ela a instaura. A
letra surpreende, desencaminha. Faz com que a italiana jogue fora a roupa impessoal e
218
Seus “cabelos já nasciam curtos e rígidos — a cabeça pôs-se então a flutuar”.
Apresentei o tema dos tolos, bobos e idiotas na obra da Clarice Lispector, mostrando como essas
criaturas impõem aos que convivem com eles uma desestruturação, no Colóquio Internacional “Figuras
do Idiota”, na Universidade do Minho (Portugal), em 4 de abril de 2014.
219
119
anônima e reapareçam o corpo e Eros. Por mais bruta que seja a proposta eróticopornográfica do autor, instala-se para a italiana uma experiência erótico-poética (o
erotismo é “a aprovação da vida até na morte.”, dirá Bataille220), que descentraliza o
sujeito, em sua atenção flutuante. Rosa abre as portas da fabulação.
De repente
descobriu que o mundo tem milhões de páginas e aquela foi a primeira de muitas que
ela não só leu, mas escreveu. Esta Cinderela não perdeu os sapatos para achar seu
príncipe encantado.
Com a italiana, que se torna mais italiana do que suíça, estão postos alguns dos
recursos ficcionais propiciados pela roupa e pelos objetos a ela associados. Agora,
prossigo a leitura dessa narrativa, avançando na questão da “cultura material”,
ampliando a intertextualidade, com a história e da biografia da autora. Na forma de um
exercício de recontar.
Quadro 1: guerra
Ano de 1946. A Segunda Guerra havia terminado. A jovem escritora que vivera na
Itália de 1944 a 1945 deixou para trás um país semidestruído, tomado pela crise
econômica e ocupado por exércitos estrangeiros. Segue para a Suíça, país que não
sofrera a destruição dos países vizinhos, devido à neutralidade estabelecida pelo
Congresso de Viena em 1815, e vai viver especificamente na monótona cidade de
Berna, onde nada acontece.,
Naquela hora do crepúsculo, sozinha na cidade medieval [Berna], sob
os flocos ainda fracos de neve – nessa hora eu me sentia pior do que
uma mendiga porque nem ao menos eu sabia o que pedir.
(LISPECTOR, Apud MANZO: 2005)221
O que me salvou da monotonia de Berna foi viver na Idade Média, foi
esperar que a neve parasse e os gerânios vermelhos de novo se
refletissem na água. (“de uma fonte, de uma cidade”.DM:286) Quadro 2: orfandade
220
BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre, L&PM, 1987. A
propósito da italiana, prossigo com Bataille: “A passagem do estado normal ao de desejo erótico supõe
em nós a dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua. O termo dissolução responde à
expressão familiar de vida dissoluta, ligada à atividade erótica”. (p.14)
221
LISPECTOR, Clarice “A pecadora queimada e os anjos harmoniosos”. In: Clarice Lispector outros
escritos. Org. de Tereza Monteiro e Lícia Manzo. –Rio de Janeiro: Rocco, 2005.
120
Num ambiente pós-guerra, de escassez e desintegração de estruturas de vida, “muitos
dos recém-nascidos sobreviventes [italianos] engrossaram as estatísticas dos órfãos e
dos sem-teto: destroços humanos da guerra”. (...) “Os jardins Quirinale, em Roma,
ficaram notórios, durante algum tempo, como local de encontro de milhares de crianças
mutiladas, desfiguradas e perdidas”222 (JUDT, 2007:24)
(...) Crianças órfãs perambulam melancólicas, passando por grupos de
mulheres exaustas que reviram montes de entulho. Deportados e
prisioneiros de campos de concentração, com as cabeças raspadas e
vestindo pijamas listrados, fitam a câmera, com indiferença, famintos e
doentes. (p.16)
Quadro 3: exílio
A escritora em verdade nasceu na Ucrânia, em meio à fuga da família da perseguição a
judeus. A adaptação ao novo país não foi fácil. O pai luta para mantê-las e se submete a
trabalhos para os quais é hiperqualificado. Enquanto isso, a doença materna se agrava.
Somam-se mudanças: Maceió, Recife e até a fixação no Rio de Janeiro, onde se
deslocam para vários endereços. Como ajuda no orçamento familiar, ela dá aulas
particulares, trabalha como datilógrafa, faz traduções. Aos vinte anos – exatamente a
idade da italiana – perde o pai e, no mesmo ano, começa a publicar contos.
Quadro 4: rasura
Uma dessas italianas órfãs, já adulta, entra na vida da escritora, como doméstica, e a
autora a recria numa história de final feliz. Mas apaga do texto, não sem deixar sinais de
palimpsesto, experiências pessoais (biográficas e históricas) que situam todo o contexto,
para fixar daquela personagem o essencial: o abandono e a condição de órfã imigrante,
seguidos da conquista da autonomia e da liberdade em diferentes planos de sua vida.
Quadro 5: conceitos
Liberdade: sf (lat libertate) 1 Estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou
coação física ou moral. 2 Poder de exercer livremente a sua vontade. 3 Condição de não
222
JUDT, Tony. Pós-Guerra: uma história da Europa desde 1945. Tradução José Roberto O’Shea. Rio
de Janeiro: Editora Objetiva, 2007.
121
ser sujeito, como indivíduo ou comunidade, a controle ou arbitrariedades políticas
estrangeiras. 4 Condição do ser que não vive em cativeiro. 5 Condição de pessoa não
sujeita a escravidão ou servidão.223
Libertação: s.f. ato de independência de qualquer subjugação e de tudo o que prende o
ser humano a religiões, grupos e ideologias.
Quadro 6: escravidão
O senso comum compreende mercadoria pela definição dos economistas: um item com
valor de uso e valor de troca.
Mas do “ponto de vista cultural, a produção de
mercadorias é também um processo cognitivo e cultural” (Kopytoff, 2008:89).224 Coisas
produzidas são categorizadas, mas conforme a sociedade e a ocasião nem todas são tidas
por mercadoria. Objetos materiais e o direito de tê-los representam o universo natural
das mercadorias. E como ficam as pessoas tratadas como coisas? Até pouco tempo, se
entendia o sistema de escravidão pela conversão de pessoas em propriedades e objetos.
Recentemente a identidade social do escravo passou a ser vista como processo de
marginalização e status ambíguo, em função de possibilidades de transformação social.
Quadro 7: mercado
A italiana de nome Rosa teve a identidade prévia arrancada, transformando-se em nãopessoa: objeto e mercadoria de fato ou em potencial. No grupo (convento) que a
recebeu
foi ressocializada e re-humanizada, adquirindo nova identidade social. O
processo a afasta do “status simples de mercadoria intercambiável e a aproxima de um
status do indivíduo singular que ocupa um nicho social e pessoal particular. Mas
continua a ser mercadoria em potencial”: a reduzida posse de coisas é aspecto
considerável na biografia das coisas.
“Ser vendável ou amplamente intercambiável é ser ‘comum’ – o oposto de incomum,
incomparável único, singular e, portanto, não trocável por qualquer outra coisa”. A
natureza avassaladora da mercantilização na sociedade ocidental representa um tipo
223
DICIONÁRIO MICHAELIS on line:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=liberdade
224
KOPYTOFF, Igor. “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo. In:
APPARURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. Tradução
de Agatha Bacelar. Niterói: EdUFF, 2008. p.89 a 121
122
ideal de sociedade altamente comercializada e monetarizada. Uma das predisposições
para encarar o mundo segundo a ótica ocidental é, apesar do desmentido com a prática
da escravidão, separar conceitualmente pessoas de coisas.
Quadro 8: outra história
Posso considerar “Uma italiana na Suíça” um texto sobre superação da orfandade, sobre
o lento processo do vir-a-ser ou uma reflexão filosófica sobre o desamparo humano.
Posso considerar como uma discussão sobre o papel do imaginário, através da atividade
subjetiva da leitura, contraposto ao discurso disciplinar dos corpos e ao regramento das
condutas pelo controle do espaço, derrubados através do artefato livro. Posso considerálo também como criação ficcional sobre a liberdade definida histórica e culturalmente e
expressa na linguagem das coisas – ou das trouxas. Afinal, cada pessoa, cada época e
cada meio apresenta uma modalidade de ler .
Quadro 9: e mais uma
Se busco a biografia ficcional do objeto e sua personagem, talvez encontre a italiana já
com muitos anos (“uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender
que estava só no mundo”). Tem outro (duplo) nome, nasceu noutro país, teve pai e
mãe; a italiana, como ela, talvez tenha tido dois filhos. Ao invés sair da Itália para a
Suíça, seguiu do Maranhão para o Rio de Janeiro. No lugar de uma cama fria, a cama
compacta de anão; no lugar do tecido grosseiro da italiana, o vestido preto e opaco,
velho documento de sua vida. No tecido já endurecido encontravam-se
pequenas crostas de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em
lembrança do berço. Lá estava uma nódoa amarelada, de um ovo que
comera há duas semanas. E as marcas dos lugares onde dormia. (FC:28)
Explico melhor
Sucessivas perdas e o descaso da sociedade com a velhice fizeram da italiana uma
estranha, fruto selvagem na própria terra, também vivendo em cama dura (“De repente
descobriu que a cama era dura./ — Que cama dura, disse bem alto no meio da noite.”),
carregando trouxa pequena e vestindo saia comprida. Na preparação para a morte social
e física, apega-se ao pente como a um bastão (“pediu uns instantes para pentear os
123
cabelos. As mãos trêmulas seguravam o pente quebrado. Ela se penteava, ela se
penteava. Nunca fora mulher de ir passear sem antes pentear bem os cabelos”.).
Nesse momento de partida, o que consegue para se reaver – seu esforço de memória é
esse - é a imagem da própria família e de si mesma, com uma única condição: que
estivessem vestidos em trajes decentes. Na hora mais trágica, às vésperas de deixar o
curso da vida, ela se recorda de episódios do passado, mas seu maior afinco está em se
lembrar de objetos e roupas. Recordou dos cabelos do filho, das roupas dele; “viu a si
própria com blusas claras e cabelos compridos”, lembrou-se da xícara que Maria Rosa
quebrara; e do
marido em mangas de camisa. Mas não era possível, estava certa de que
ele ia à repartição com o uniforme de contínuo, ia a festas de paletó,
sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em
mangas de camisa. A procura do paletó do marido ainda mais cansou a
velha que se virava com leveza na cama. [grifos nossos] (LE:68)
A luta pela dignidade se fixa então nesse detalhe do tipo de indumentária. “Todo mundo
sabe que as roupas constituem um fenômeno social; mudanças no vestuário são
mudanças sociais” (HOLLANDER, 1996:14225) E a alfaiataria masculina acumulou
poder. “O terno completo clássico acompanhado pela camisa e pela gravata é ainda
principalmente: uma propriedade masculina”; “permanece o uniforme do poder oficial,
não da força manifesta ou do trabalho físico – ele sugere diplomacia, compromisso,
civilidade e autocontrole físico (...)” (idem, p.144). Afinal, no meio da estrada, a
Mocinha italiana consegue reaver o símbolo de distinção, mesmo que ocasional (não
importa que esteja no cabide): o “marido apareceu-lhe de paletó — achei, achei! o
paletó estava pendurado o tempo todo no cabide”.
A título de:
Com traje fetiche, traje de trabalho, traje de indigente, traje social, não importa, é bom
ter cautela. Melhor “não deixá-la sozinha na saleta, com o armário cheio de louça
nova.” Eis que a roupa não é extrínseca ao literário e não se pode olvidar a dimensão
histórica, cultural e política de cada peça posta no tabuleiro da linguagem. Ao trajar
cada uma de suas criaturas, a autora sugere um modo de (se) ler.
225
HOLLANDER, Anne. O sexo e as roupas: a evolução do traje moderno. Tradução de Alexandre Tort.
Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
124
O único armário:
Certo dia encontram-se na estante Mocinha, a italiana Rosa, Laura, Madre Clara, Janair
e outras anônimas.
Madre Clara, de “buço escuro e olhos profundos negros”, largara a laje fria. Arrumara a
“pequena bagagem e deu o fora. Foi morar num pensionato de moças”. “Seus cabelos
negros cresciam fartos”. Fazia “os seus vestidinhos de pano barato (...) vestidos de
manga comprida, sem decote, abaixo do joelho.” Depois que conheceu o dono do
botequim tudo muda. “Ela com os seus cabelos pretos. Ele de terno e gravata”.
Casaram-se. “Tiveram quatro filhos, todos homens, todos cabeludos.”
Mocinha permanece de corpo “pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara”.
Laura: graça doméstica, cabelos presos com grampos atrás de orelhas grandes e pálidas,
olhos e cabelos marrons em pele morena e suave, “vestido marrom com gola de renda
creme (“renda verdadeira”) – “como um menino antigo”, a gola em sinal de recato.
Macabéa: que devia ter ficado no Sertão de Alagoas com “vestido de chita e sem
nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário”. Mas
foi morar numa pensão, cama dura. De dia usava saia e blusa, de noite dormia de
combinação, e nela assoava o nariz. Contrariando o prognóstico da cartomante de que
ia “se vestir com veludo e cetim e até casaco de pele vai ganhar”, justamente ela, que
gostava vez por outra ir à Zona Sul para olhar “as vitrines faiscantes de joias e roupas
acetinadas. Até que, morrendo no asfalto enquanto garoava, “os finos fios de água
gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa e isso não era confortável”.
Janair: ex-empregada de G.H, “sob o pequeno avental, vestia-se sempre de marrom
escuro ou de preto, o que a tornava toda escura e invisível”.
Essa é a paleta de cores que Clarice Lispector criou para seu elenco de
despossuídos. Dentro de um improvável armário onde guardam suas roupas haverá
sombras entre tecidos pobres e escuros, e a evocação remota de um cetim. Para tentar
compreendê-las, uma tentativa é fazer como Rodrigo, narrador de A hora da estrela.
Vestir-se com “roupa velha rasgada”, para se colocar “ao nível de”. É um começo.
Depois, tentar contar, escrever ou apenas conversar. Ou ainda chorar com o armário de
pinho estufado, guardado no coração do Brasil.
125
5.2. CADÊ O MEU CHAPÉU?
As bernenses até ficam engraçadinhas no verão. (...) Uma das coisas
mais horríveis do vestuário das bernenses, no verão ou no inverno, é o
chapéu. São os chapéus mais esquisitos, mais altos, enormes, grossos e
de forma estranha que tenho visto. E dentro do chapelão uma cara séria,
sem vaidade, e muitas vezes com papo no pescoço; nas jovens, o papo é
bem ligeiro ainda e dá até certa graça, o pescoço parece redondo e como
elas são brancas, pode-se dizer: são pescoços redondos e brancos.226
(MQ:2010; p. 49)
Por um detalhe, o mau-humor anunciado no título D. Casmurro se desfaz já no
primeiro parágrafo. Na célebre abertura do livro, o narrador se dá a conhecer através de
um registro cotidiano: “Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo,
encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de
chapéu”. O que desconcerta não é o adereço, obrigatório no enxoval masculino de
então, mas a imagem inusitada, ao associar a expressão “de vista” e ao objeto
observado, criando um efeito de deslocamento em “de vista e de chapéu”. Algo parece
fora do lugar – na frase. Como uma gravata colocada nas costas.
Sendo o leitor um figurinista incumbido de trajar o personagem para uma
adaptação do texto, ele terá mais chances de acertar se souber captar no pormenor o
temperamento do narrador - observador, conciso, cético, irônico – e o flagrante da vida
moderna citadina, que ia se tornando cada vez mais veloz, e com mudanças nos
costumes: o fosso entre esfera pública e esfera íntima pode ser reescrito como “não se
faz mais vizinhança como antigamente”. A roupa fala e o próprio Machado diz isso
com clareza em um conto: “Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido
filosófico. Carlyle descobriu o dos coletes, ou, mais propriamente, o do vestuário.”227
É ainda o Bruxo do Cosme Velho, em “Capítulo dos Chapéus”228, que usa o
adereço como ícone das mudanças de costumes na capital do Império, através do
contraponto entre dois tipos femininos finisseculares – Mariana, em condição subalterna
na hierarquia do matrimônio, “esposa do bacharel Conrado Seabra”, e
Sofia, seu
oposto, “alta, forte, muito senhora de si”. Mariana, pelas claras limitações intelectuais,
226
Carta de Carta de 21 de abril de 1946. In: LISPECTOR, Clarice. Minhas Queridas. Rio de Janeiro,
Rocco, 2010.
227
ASSIS, Machado. “O empréstimo” (Papéis Avulsos). In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1979. 3v. Refere-se ao romance já citado Sartor Resartus, de Thomas Carlyle (significando 'The
tailor re-tailored').http://en.wikipedia.org/wiki/Sartor_Resartus ‐ cite_ref‐21
228
Idem, Histórias sem Data.
126
infantilismo e apego às coisas (inclusive em substituição aos filhos que não teve), em
vários aspectos se parece com Lucrécia, de A cidade sitiada; e o contraste entre figuras
femininas repete-se em vários personagens de Clarice Lispector, como a dupla Laura e
Carlota, de “A imitação da Rosa”.
A manter o tópico chapéu, sem recorrer a Humphrey Bogart, Clark Gable,
Charles Chaplin ou Henri Ford, astros norte-americanos que o transformaram em marca
pessoal, há preciosidades literárias quanto a esta peça de indumentária. Dois exemplos:
“O chapéu”229, de substrato chapliniano, conto do poeta e prosador húngaro Dezsö
Kosztolányi (1885–1936), que lhe faz um elogio fúnebre ao vê-lo esmagado em
acidente de trânsito, “A terceira margem do rio”230, em que Guimarães Rosa extrai
da tradição o gesto e o objeto para assinalar a passagem de tempo. No dia em que
abandona a família para viver numa canoa no meio do rio, o pai “sem alegria nem
cuidado” “encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras
palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação”. O movimento de
adeus encenado pelo braço se congela na peça colocada sobre a cabeça. Daí em diante,
figura na narrativa como ponto de referência, farol: “só com o chapéu velho na cabeça,
por todas as semanas, e meses, e os anos — sem fazer conta do se-ir do viver.” Por ele
anuncia-se o processo de desumanização que se seguirá: “sabia que ele agora virara
cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mal e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com
o aspecto de bicho, conforme quase nu (...)”. É presença e espelho diante do qual o
narrador-filho, sem chapéu para usar e gastar, não leva a cabo o momento decisivo de
passagem da coroa: ele, a quem só restam “uns primeiros cabelos brancos”, “arrepiados
cabelos”. E um lenço231.
Do largo repertório de Clarice Lispector sobre o vestir e a linguagem corporal
elejo esta peça, o chapéu, e em seguida me detenho em um tipo de personagem - a
velha - para caminhar no território indiscreto e controverso da indumentária em sua
ficção.
229
KOSZTOLÁNYI, Dezsö. O Tradutor Cleptomaníaco e outras histórias de Kornél Esti. Tradução do
original húngaro por Ladislao Szabo. Coleção Leste. São Paulo: Editora 34, 1996.
230
ROSA, Guimarães ”A terceira margem do rio” In: Primeiras histórias. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1988, p. 32.
231
Chapéu e cabeça acabam se equivalendo.
127
Para abrir o guarda-roupa imaginário da escritora, escolho Peter Stallybrass232
como cicerone. É uma boa companhia. Há uns seis anos me chegou às mãos o livro O
casaco de Marx, de sua autoria. Uma preciosidade. Reúne três ensaios do professor de
Inglês, Literatura Comparada e Teoria da Literatura, que se dedica à História Material
dos Textos. Partindo de uma experiência pessoal – a decisão sobre o destino das roupas
de um grande amigo recém-falecido, em conversas compartilhadas com a viúva – ele
desenvolve provocações eruditas e sensíveis sobre um tema “vulgar”. Sabota o estigma
que acompanhou a roupa na interpretação das literaturas moderna e contemporânea
(exceto quando circunscrito à crítica ao consumo). Através de referências e conexões
literárias, biográficas, políticas e comunicacionais, compõe um painel multifacetado,
sutil e profundo do significado social, cultural, Existencial e têxtil das peças das roupas,
sem perder de vista sua marca humana. Parte de uma premissa simples: de diferentes
maneiras “as roupas fazem parte de nossa vida e marcam as rupturas que nela ocorrem”
(p.20) – e, a partir delas, alça voo.
Começo por um tópico essencial na obra de Lispector – a metamorfose. Não a
dos relatos míticos que seguem um princípio lógico (a punição por delito cometido, por
exemplo). Mas a que tem a ver com o movimento psíquico dos personagens (não
faltam associações com o absurdo e o onírico de Kafka e Orwell, respectivamente)233,
com imagens de mutação ou com o refazer permanente dos textos - aspectos levantados
por Tietzmann Silva234 sobre Lygia Fagundes Telles,
pertinentes ao imaginário
clariciano.
Além da metamorfose, a roupa agencia a construção de pares em tensão e
também conflitos internos (Laura versus Carlota; Carlota versus Carlota; portuguesa
versus moça do chapéu; portuguesa versus o próprio marido; gorda e magra, leitora e
não leitora; masculino e feminino). Sua contemporânea Simone de Beauvoir, detectava,
no regime dualista, um desserviço ao feminino:
Como representações coletivas, os tipos sociais se definem geralmente
por pares de termos opostos, a ambivalência parecerá uma propriedade
intrínseca do Eterno Feminino. A mãe santa tem como correlativo a
232
STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupa, memória, dor. Organização e tradução Tomaz
Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
233
“É que por enquanto a metamorfose de mim em mim mesma não faz sentido. É uma metamorfose em
que eu perco tudo o que tinha, e o que sou. E agora o que sou? Sou: estar de pé diante de um susto. Sou: o
que vi. Não entendo e tenho medo de entender, o material do mundo me assusta, com seus planetas e
baratas”. (G.H)
234
SILVA, Vera Maria Tietzmann. A metamorfose nos contos de Lygia Fagundes Telles. Rio de Janeiro :
Presença, 1985.
128
madrasta cruel; a moça angélica, a virgem perversa: por isso ora se dirá
que a Mãe é igual à Vida, ora que é igual à Morte, que toda virgem é
puro espírito ou carne voltada ao diabo.
A humanidade se divide em duas categorias de indivíduos cujos trajes,
rosto, corpo, sorrisos, iniciativas, interesses, ocupações são
manifestadamente diferentes: pode ser que essas diferenças sejam
superficiais, pode ser que estejam destinadas a desaparecer. O que é
certo é que, por enquanto, elas existem com uma luminosa evidência.
(BEAUVOIR, 1976:15).235
Se a ambivalência abraça julgamento de valor, frutifica em especial num
ambiente em que a alteridade é uma categoria fundamental. “Nenhuma coletividade se
define como Uma, sem imediatamente situar o Outro em face de si”. (idem:16). O
indivíduo só se coloca opondo-se” (“le sujet ne se pose qu'en s'opposant”)236 e um canal
para identificar esses mecanismos socioculturais são as roupas : « Pensar sobre a roupa,
sobre roupas, significa pensar sobre memória, mas também sobre poder e posse”. Meio
de incorporação, prende as pessoas em redes de obrigações.” (STALLYBRASS,
2008:12-13).
Numa sociedade de roupas, valores tomam a feição de roupas. Elas são veículos
de incorporação. Portanto, o (des)ajuste entre a pessoa e seu traje indicia ou provoca
crises existenciais; define modelos de relacionamento; expressa vínculos afetivos
(mesmo que artificialmente);
movimenta e instrumentaliza a sedução; denota a
influência da moda; assinala ritos de passagem; dá forma à angústia entre ser e parecer,
seja pela necessidade de integração social, como a jovem que quer sapatos novos, seja
pelo conflito interno em função de opções de vida, como Ana (“Amor”).
Uma vocação forte da roupa é operar a transmutação, manifestar o duplo e o
especular. Em “Encarnação involuntária”, a narradora comenta um fenômeno que
235
« Comme les représentations collectives et entre autres les types sociaux se définissent généralement
par couples de termes d’opposés, l’ambivalence semblera être une propriété Intrinsèque de l’êternel
féminin.La sainte mère a pour Corrélatif la marâtre cruelle, l’angélique jeunefille, la vierge perverse: ainsi
dirá-t-on tantôt que Mère égale Vie ou que Mère égale Mort. Que toute pucellee est un pur esprit ou une
chair vouèe au diable. Ce n’est évidemment pas la réalité qui dicte à la société et aux individus leur choix
entre deux principes opposés d’unification; à chaque époque, dans chaque cas, société et individu
décident d’après leurs besoins ».; « l'humanité se partage en deux catégories d'individus dont les
vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement
différents: peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles destinées à disparaître.
Ce qui est certain c'est que pour l'instant elles existent avec une éclatante évidence." BEAUVOIR,
Simone. Le deuxième sexe tome 1 Paris, Folio-essai, 1976 p.15; 397
236
« l'altérité est une catégorie fondamentale de la pensée humaine. Aucune collectivité ne se définit
jamais comme Une sans immédiatement poser l'Autre en face de soi." (p. 18). GONTIER, Fernande . La
femme et le couple dans le roman (1919 -1939). Paris, Klincksieck 1976. p.15
129
frequentemente a acomete: de tanto observar algum desconhecido, tenta absorver seu
gestual e seu modo de ser. Como se, para compreender o outro, necessitasse personificálo fisicamente.
Certo dia, em viagem, uma religiosa fisga a sua atenção; então se inicia o
processo. Como se esculpisse em si própria a identidade alheia, tenta construir no
próprio corpo uma linguagem no intuito de, assim, concretizar o seu desejo de
conhecimento e de romper as barreiras que separam universos diferentes. “No avião
mesmo percebo que já comecei a andar com esse passo de santa leiga: então
compreendo como a missionária é paciente, como se apaga com esse passo que mal
quer tocar o chão, como se pisar mais forte viesse prejudicar os outros.” (DM:296).
Moto contínuo, em pensamento assume novos trajes e modo de vestir: “Agora
sou pálida, sem nenhuma pintura nos lábios, tenho o rosto fino e uso aquela espécie de
chapéu de missionária”. Em terra, segura as “imaginárias saias longas e cinzas contra o
despudor do vento.” / grifos nossos/
A narradora subverte, pelo imaginário, a
performance cotidiana (Goffman237), pois a converte em desafio, risco, exercício
existencial de entrega e de contato (mesmo que à distância) como o diferente,
experimentação de elementos diferenciadores de personalidade, caráter, temperamento.
Não é isto a ficção?
Ela finda o texto recordando do dia em que, também em viagem, percebe outra
mulher, retratada com uma imagem clichê: “uma prostituta perfumadíssima que fumava
entrefechando os olhos e estes ao mesmo tempo olhavam fixamente um homem que já
estava ficando hipnotizado”. (p.42-43) Tenta imitá-la, mas fracassa. Não por pudor. O
modelo era pura caricatura, abolindo a possibilidade de armar um jogo.
Seguindo o tópico chapéu em outros textos, encontro a portuguesa de
“Devaneios e embriaguez de uma rapariga”. O título prepara o estado liminar em que se
passa a história, na quebra dos limites entre consciente e inconsciente, sólido e o
líquido, rígido e flexível. A protagonista, jovem senhora portuguesa que vive um
momento extraordinário, vê a casa transformada devido à ausência de filhos e do
marido. Livra-se dos compromissos diários e só faz o que quer – ao final, já de noite,
acompanha o marido num encontro social com o patrão dele.
A transformação da personagem se dá em concomitância com a circunstância
objetiva da quebra da rotina. Deixa que a rua invada sonoramente a casa com o grito do
237
GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2011.
130
jornaleiro: ao mesmo tempo em que aceita os sinais da agitação da cidade, diante do
espelho brinca de compor personagens com elementos que lhe são próximos e
familiares.
Referências à palavra “imagem” impulsionam a mudança de foco nos
objetos. No lugar das coisas por lavar e das panelas da cozinha, dedica-se ao espelho,
ao pente, ao leque, à cama inteira para si mesma, ao repouso, a outra temporalidade. A
penteadeira, não nomeada, mas indicada nos três espelhos em que sua silhueta se
projeta, oferece-lhe vários personagens com que pode se divertir. A mão, agora, não é
apenas para servir à máquina-dona-de-casa que organiza, arruma, lava, cuida, ação,
mas para o deleite.
A sensualidade corporal e o feminino são sugeridos no roupão aberto e nas
metáforas que reportam a arquétipos referentes à mutação (borboleta, abrir e fechar do
leque, lua), em contraste o marido já “pronto no fato”.
Pois bem, anoitece e conforme combinado sai com o marido para jantarem com
o patrão dele. Mas ao chegar à tasca aquela que se sentia rainha cai do pedestal. Deparase com a imagem em carne e osso de uma mulher elegante, encimando na cabeça um
largo chapéu. Espada e espelho no confronto visual.
Logo d'entrada percebera-a sentada a uma mesa com seu homem, toda
cheia dos chapéus e d'ornatos, loira como um escudo falso, toda
santarrona e fina — que rico chapéu que tinha! — vai ver que nem
casada era, e a ostentar aquele ar de santa. E com seu rico chapéu bem
posto. Pois que bem lhe aproveitasse a beatice! (...). [ grifos nossos]238
(p.12/p.13)
Contado sob o ponto de vista da portuguesa ressentida, raivosa, tomada de inveja
e despeito, afrontada, o chapéu “cresce”, como um farol que ofusca os olhos. O plural
“chapéus” é uma tentativa de diminuir o impacto, sugerindo tratar-se de uma figura
excessiva. Mas mal disfarça a diferença de status capturada no (não) uso do chapéu.
Confrontam-se dois modelos de mulher e duas épocas, pelos ditames da moda e de
arquétipos consolidados: a santa e a pecadora; a vocacionada para a maternidade e a
infértil (“peito chato”); o biotipo farto da dona de casa e o protótipo artificial vendido
pela moda; o verdadeiro e o falso. Prestígio, distinção, poder.
E a santarrona toda vaidosa de seu chapéu, toda modesta de sua
cinturita fina, vai ver que não era capaz de parir-lhe, ao seu homem,
um filho.
238
A presença do chapéu se repete noutro restaurante, no conto O jantar (LF): “a mulher magra de
chapéu”; “a mulher do chapéu grande sorria de olhos entrefechados, mão magra e bela”; “A mulher
magra cada vez mais bela estremece séria entre as luzes”.
131
(...)
Oh, como estava humilhada por ter vindo à tasca sem chapéu, a cabeça
agora parecia-lhe nua. E a outra com seus ares de senhora, a fingir de
delicada. Bem sei o que te falta, fidalguita, e ao teu homem amarelo! E
se pensas que t'invejo e ao teu peito chato, fica a saber que me ralo, que
bem me ralo de teus chapéus. [grifos nossos] (p.12;13)
O chapéu, como outras peças de indumentária, tem uma inscrição biográfica:
fala de quem o usa e da forma como a pessoa quer ser vista. A expressão “santarrona e
fina”, no sentido pejorativo popular de falsa devota, ao lado de “fina”, não tem a ver
apenas com o valor econômico, mas com bom gosto, o saber se vestir mediante os
códigos de elegância em circulação. Nesta altura, o Brasil importa do cinema norteamericano aquele “tipinho” com que se depara - o padrão delgado e alourado:
Ai que não tinha nada a ver com isso, a bem dizer: mas já d'entrada
crescera-lhe a vontade d'ir e d'encher-lhe, à cara de santa loira da
rapariga, uns bons sopapos, a fidalguita de chapéu. Que nem roliça era,
era chata de peito. E vai ver que, com todos os seus chapéus, não
passava duma vendeira d'hortaliça a se fazer passar por grande dama.
(p.12;13)
Ao sabor da ditadura do agora, a moda cria uma “sequência de variações
constantes de caráter coercitivo”239 (como o chapéu e o tipo físico da “adversária”); por
isso, Roland Barthes sustenta que ela elabora uma temporalidade fictícia.
A portuguesa se deixa afetar pela artificialidade de um sistema em permanente
autodevoração. Moradora do centro da cidade, numa área de classe média remediada, ao
sair da casa, de seu espaço privado, se confronta com as regras de sociabilidade urbana
calcadas no dernier cri. Chapéus e adornos são itens essenciais do circuito mundano,
que, ao que parece, a rapariga pouco frequenta. Como outros imigrantes, a portuguesa
guarda "uma certa não contemporaneidade de contemporâneos"240.
Mas a ficção clariciana, criando seu próprio sistema de signos, aproveitando e
desestabilizando códigos, valores e usos da moda e do traje, encerra a história fazendo
prevalecer a pulsão vital. Depois de uma boa bebida e em cumplicidade safada com a
239
SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas. A moda no século dezenove. São Paulo: Cia. das
Letras, 1987, p. 19.
240
LAGO, Mara Coelho de Souza; SOUZA, Carolina Duarte de; KASZUBOWSKI, Erikson e SOARES,
Marina Silveira. “Gênero, gerações e espaço doméstico: trabalho, casa e família”. Paidéia. Vol.19, n.44.
p.
357-366.
Ribeirão
Preto,
2009.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/paideia/v19n44/a09v19n44.pdf.
132
lua, a jovem usa a propalada instabilidade feminina a seu favor, esquece o efêmero da
moda. E ri.
Que bem que se via a lua nessas noites de verão. Inclinou-se um
pouquito, desinteressada, resignada. A lua. Que bem que se via. A lua
alta e amarela a deslizar pelo céu, a coitadita. A deslizar, a deslizar...
Alta, alta. A lua. Então a grosseria explodiu-lhe em súbito amor: cadela,
disse a rir.(p.16)
5.3 DEIXANDO O CHAPÉU DE LADO, MAS NÃO TANTO
Eu sabia que das peças de indumentária o chapéu é a que mais
transforma a figura do homem, a que mais perto priva de sua intimidade
- consequência da vizinhança próxima do cérebro, do qual absorve as
irradiações. Enquanto novo, é um protetor, se não elemento decorativo;
depois de usado, vira documento moral.241(Machado, A. 1968)
Instantâneo é o leve e breve anel de pérola. E quando são muitas as
pérolas do anel — são um sorriso e são reticências. Entre parênteses é o
anel de diamantes engastado em ouro branco porque diz em segredo um
"eu-te-amo" em grego.(SV:126)
Neste instante em que escrevo, busco na memória romances cujos protagonistas
são velhos. Dentre diversos títulos que vem à mente, escolho aquele que sintetiza a
conclusão a que cheguei: a maioria das histórias sobre velhice são histórias sobre o
amor. O livro, lido por mim em 1986, é O amor nos tempos do cólera, de Gabriel
Garcia Márquez.
E a cena emblemática, que cativa o leitor de imediato, é a do
comandante do navio, que, ao se dar conta do amor impávido de Florentino Ariza,
aquele que aguardou a amada por cinquenta e três anos, sete meses e onze dias, disse: “é
a vida, mais que a morte, a que não tem limites.”242
É afinal de contas o que se percebe também nas velhas que circulam pelas
páginas dos escritos de Lispector. A maioria delas pode ser identificada pelo desamor,
desamparo e pelo fato de serem categorizadas como objetos incômodos e inúteis,
quando não desprezíveis. Em personagens em situação de extrema penúria, a roupa
constitui uma presença fadada a espelhar, mesmo que por contraste, a condição
241
MACHADO, Aníbal. O desfile dos chapéus. In: A morte da porta-estandarte e outras histórias. Rio
de Janeiro, José Olympio, 1968. Pp 99-105.
242
MARQUEZ, Gabriel Garcia. O amor nos tempos do Cólera. Tradução: Antonio Callado. Rio de
Janeiro: Record. 1985.
133
existencial dessas criaturas. Afinal, uma “rede de roupas pode efetuar as conexões do
amor através das fronteiras da ausência, da morte.” (STALLYBRASS, 2008:26). A
citação de dois trechos de Simone de Beauvoir alicerça a escolha desse grupo social, no
contexto de um trabalho que trata de dramas humanos através da leitura de objetos. A
filósofa francesa não tem em mente a velhice abstrata (“O estatuto do velho jamais é
conquistado por ele próprio, mas lhe é imputado”/ “Le statut du vieillard n’est jamais
conquis par lui, mais lui est octroyé”), e, sim historicamente constituída; leva em conta
a sociedade com suas prioridades individualistas e produtivistas e o primado do lucro.
É o sentido que os homens conferem a sua existência, é seu sistema
global de valores que define o sentido e o valor da velhice.
Inversamente: pela maneira com que uma sociedade se comporta em
relação aos velhos, ela desvela sem equívoco a verdade frequentemente mascarada com cuidado – de seus princípios e seus fins.
(BEAUVOIR, 1976:96)
O prestígio da velhice diminuiu muito pelo fato de a noção de
experiência estar desacreditada. A sociedade tecnocrática de hoje não
considera que com os anos o saber se acumula, mas que ele perece. A
idade acarreta uma desqualificação. São os valores ligados à juventude
que são apreciados.243 (BEAUVOIR, 1976:223)
O vasto imaginário do chapéu, segundo Camara Cascudo, vem do fato de
representar a própria criatura humana. É a “cabeça, sede do juízo, do raciocínio, da
vontade. Outrora, como toda gente não dispensava o chapéu, sair sem ele dizia-se sem
cabeça, andar sem a cabeça. (...) Os discípulos de Freud dizem que o chapéu,
representação do corpo, é símbolo fálico. Um sinal dá-lhes razão: chapéu colocado ao
inverso diminui a potência ou anula para ato subsequente. 244(Cascudo, 1962:201-202)
Pois bem, mesmo depois de haver saído de moda (ou por isso), é peça
onipresente em personagens idosas de Clarice245. Quase de eleição. A partir dele, se
243
Nos originais: « C’est le sens que les hommes accordent à leur existence, c’est leur système global de
valeurs qui définit le sens et la valeur de la vieillesse. Inversement : par la manière dont une societé se
comporte avec les vieillads, elle devoile sans équivoque la vérité – souvent soigneusement masquée - de
ses principes et de ses fins ». « Le prestige de la vieillesse a beaucoup diminué du fait que la notion
d’expérience est discréditée. La société technocratique d’aujourd’hui n’estime pas qu’avec les années le
savoir s’accumule, mais qu’il se périme. L’âge entraîne une disqualification. Ce sont les valeurs liées à la
jeunesse qui sont appréciées.»
244
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Enciclopédia Brasileira: Biblioteca de
obras subsidiárias. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro. Ministério da Educação e Cultura. 1962.
2ª edição. Revista e Aumentada.
245
A geração de Clarice Lispector acompanhou o processo do sumiço do chapéu. A modernização dos
automóveis acaba por tornar complicado o seu uso; e foi-se aceitando que o homem não usasse; John
Kennedy foi o primeiro presidente norte americano em 1961 a não o usar obrigatoriamente. A partir da
década de 60, com o movimento hippie, foi a derrocada do adereço.
134
pode distinguir de que modo o vestuário como um todo expressa ou orienta sua ficção,
desde os textos juvenis. É recurso de caracterização de personagens, retomando pares
opositivos entre mulheres, e entre estas e seus respectivos namorados ou maridos; signo
de elegância e distinção ou o seu oposto; indicativo de aprisionamento a papéis sociais.
Roupa e idoso são submetidos ao rigor da narrativa de CL, que leva a
especulação a seu limite de desagregação. A autora tira do chapéu, como para outras
peças, reflexões sobre o conflito de gerações, gênero e classes sociais; o tempo; a
dissimulação; os medos; o ciclo da vida, corpo e morte. O escritor português Vergílio
Ferreira identificou que “a moda é uma variante oblíqua de se lutar contra a morte. Ora
na velhice tal luta é mais problemática. E é por isso que no velho a moda é mais
ridícula”246.
A disciplina que produz corpos adestrados, analisáveis, manipuláveis,
submissos e dóceis, destina aos idosos, em sua fragilidade física e perda de poder, a
vocação para o ocupar o lugar dos disciplináveis.
O momento histórico das disciplinas é o momento que nasce uma arte
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente
quanto mais é útil, e inversamente. (FOUCAULT, 1987:127)247
Nos idosos claricianos, o chapéu encena o desencontro de tempos e afetos.
Tendem a compor com este adereço uma figura desajeitada, com ar melancolicamente
clownesco. Está ali, sobre a cabeça, como desajuste irremediável, cicatriz carnavalizada
de relações amorosas irrecuperáveis, tempo sem volta, artificialidade, abismo do ser,
crítica social. Elementos do vestuário trazem à tona mudanças de hábitos e de papéis na
sociedade brasileira, desde a virada dos anos 50, e suas implicações no confronto
geracional. O pragmatismo e o mito da juventude corroem a velhice como fonte de
respeito e conhecimento. Neste rumo, procedo à releitura “Os laços de família”, “A
partida do trem” e “À procura de uma dignidade”,
com remissões a “Viagem a
Petrópolis” (ou “O grande passeio”), “Feliz aniversário” e “Instantâneo de uma
senhora”, observando que histórias o chapéu conta.
246
Apud SOUSA, José Antunes de. Vergílio Ferreira e a Filosofia da sua Obra Literária. Bertrand
Editora: Lisboa, 1997:673.
247
FOUCAULT, Michel. “Os corpos dóceis”. In: Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1996.
135
O conto “Os laços de família” desestabiliza a imagem idealizada da relação entre
mãe e filha. O desencontro e mesmo o choque entre ambas elege a roupa e os adereços
para se manifestar. No momento em que praticam uma civilidade contida, a mãe parecer
uma marionete desencontrada.
O conflito se propaga depois na cadeia familiar,
envolvendo o filho e marido de Catarina.
A história: Catarina acompanha de taxi, até a estação de trem, a mãe Severina, que
por um período ficara em sua casa. O momento de despedida acaba provocando,
sobretudo em Catarina, múltiplas indagações sobre o afeto em família: a qualidade de
amor entre os pais; a relação com o próprio filho e o marido Antônio; o modelo de
casamento e as atribuições para a mulher e para o homem; amor e morte.
Os olhos estrábicos de Catarina detectam, discreta e debochadamente, a falta de
entrosamento entre seu marido e a sogra, encoberta por trocas de gentilezas no momento
em que Severina se despede: “Perdoe alguma palavra mal dita”, dissera a velha senhora;
“Quem casa um filho perde um filho, quem casa uma filha ganha mais um, acrescentara
a mãe”.
O leitor toma conhecimento, retrospectivamente, da dificuldade amorosa e de
comunicação na família pelo discurso indireto livre, do ponto de vista de Catarina. Aos
poucos, o que é camuflado se exprime através de objetos e roupas pessoais. Rasuras na
coreografia gestual dizem o que não é dito: os bloqueios emocionais escapam entre
tecidos e adereços, traduzindo os elos e os anteparos com que se defendem do afeto e
escondem sentimentos íntimos. Se as duas mulheres não conseguem verbalizar o
incômodo com a indiferença ou indagar o nebuloso esquecimento do amor, este as
ronda, e o carinho se demonstra, atravessadamente, pela preocupação. É um sintoma da
sociedade contemporânea
cultivar a distância e criar bloqueios culturais contra a proximidade,
sobretudo contra o toque, a carícia e o contato corporal, demonstrando o
que se perde e o que pode ser lesado na capacidade humana de se
comunicar e até mesmo no desenvolvimento248
As malas, armário portátil e precário, são o primeiro sinal da transitoriedade dos
vínculos familiares. Materializam o não lugar, a condição deslocada, o adendo, o fardo.
A falta de espaço para exprimir o constrangimento com a despedida.
248
BAITELLO JR, Norval. “Imagem e Violência: a perda do presente”. In: Perspectiva, Vol. 13, n. 13.
São Paulo: Fundação Seade, Jul-set, 1999.
136
a mãe contava e recontava as duas malas tentando convencer-se de que
ambas estavam no carro;
Também a Catarina parecia que haviam esquecido de alguma coisa, e
ambas se olhavam atônitas porque se realmente haviam esquecido,
agora era tarde demais.(...) Que coisa tinham esquecido de dizer uma à
outra? (LF:113)
Aos poucos adensa para o leitor o conflito de gerações e de gênero. O marido de
Catarina, machista, recrimina os modos com que a sogra lida com o neto, seu filho:
“Antônio, que nunca se preocupara especialmente com a sensibilidade do filho, passara
a dar indiretas à sogra, a proteger uma criança". Ou seja, a expressão de afeto por parte
da avó/sogra causa tensão entre os corpos: “perturbado pelos carinhos excessivos e
pelos beliscões de amor da velha”. Sequer é reconhecida como avó – é a velha.
Um fator externo irá abalar o tenso equilíbrio sustentado pelas duas mulheres. No
trajeto em direção à estação, o solavanco do carro faz com que as malas caiam e ambas
se toquem. Uma situação inédita; daí o estranhamento, o desastre, a catástrofe:
“Catarina fora lançada contra Severina, numa intimidade de corpo há muito esquecida,
vinda do tempo em que se tem pai e mãe. Apesar de que nunca se haviam realmente
abraçado ou beijado. Do pai, sim. Catarina sempre fora mais amiga.”
O inesperado contato pele a pele causa um corte nos códigos corporais já
cristalizados entre ambas. Faltam palavras. O mal estar é suprido com um ato de
gentileza, de polidez. A filha devolve as luvas à mãe, reconstituindo o paramento que as
distingue em seus papéis e lugares.
A partir daí, só recobram o contato visual com a passageira já dentro do trem, as
malas acomodadas. É “Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os
olhos brilhantes”. Algo aconteceu. Ao invés de designá-la como uma velha, emprega a
palavra “envelhecida”, ou seja, no lugar de fixá-la numa categoria, leva em conta a
passagem do tempo, e assim não a destitui da história pessoal. Conecta-se também com
algo que têm em comum: “Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os
olhos brilhantes.” Ambas conservam a argúcia do olhar. Mas a distância supera esta
faísca de contato. São acionados adereços e roupa, bem como gestos a eles associados,
para cumprir o papel de preencher de vazio e tentam recuperar a dignidade:
A mãe tirou o espelho da bolsa e examinou-se no seu chapéu novo,
comprado no mesmo chapeleiro da filha. Olhava-se compondo um ar
excessivamente severo onde não faltava alguma admiração por si
mesma. A filha observava divertida. (...). A velha guardara o espelho na
bolsa, e fitava-a sorrindo. O rosto usado e ainda bem esperto parecia
137
esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu
faria parte. [grifos nossos] (LF:112)
A busca de sintonia é insuficiente para arrancar a palavra estagnada, presa no
pensamento (“Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos
olhos”) ou expressa de forma atravessada (ao invés de indagar se os pais se amavam,
Catarina envia lembranças à tia). Severina, por sua vez, recorre à indumentária e a
objetos pessoais para confirmar-se; “a roupa é capaz de carregar o corpo ausente, a
memória, a genealogia, bem como o valor material literal.” (STALYBRASS:26) Caça o
pequeno espelho de bolso, na intenção de recompor uma imagem íntegra e reaver a sua
figura como mãe, no anseio de forjar um elo e uma intimidade perdidos (“tirou o
espelho da bolsa e examinou-se no seu chapéu novo, comprado no mesmo chapeleiro da
filha”.) A posse de um bem pode indicar o pertencimento a um grupo, um
reconhecimento social. Para Douglas e Isherwood249, os bens servem
para classificar eventos, mantendo julgamentos antigos ou alterando-os
[...] cada indivíduo está no esquema de classificação cujas
discriminações está ajudando a estabelecer [...] a espécie de mundo que
criam em conjunto é construída a partir de mercadorias, escolhidas por
sua adequação, para marcar eventos numa escala de graduação
apropriada. (2004:123-124)
Mas o uso do artefato não surte o efeito desejado. Comprar o chapéu na mesma
loja não basta para efetuar as conexões esperadas, romper as fronteiras. E é de novo o
acaso e a mala, agora sobre a cabeça de um carregador, que serve de pretexto para a
falta de comunicação.
A campainha da Estação tocou de súbito, houve um movimento geral de
ansiedade, várias pessoas correram pensando que o trem já partia:
mamãe! disse a mulher. Catarina! disse a velha. Ambas se olhavam
espantadas, a mala na cabeça de um carregador interrompeu-lhes a
visão e um rapaz correndo segurou de passagem o braço de Catarina,
deslocando-lhe a gola do vestido. Quando puderam ver-se de novo,
Catarina estava sob a iminência de lhe perguntar se não esquecera de
nada. [grifos nossos] (LF:113)
A roupa descontruída expressa, não por vontade própria, o desajuste interno –a
gola do vestido se deslocando (em referência a golas avulsas que se colocavam sobre a
roupa), desajeitada. Na reduplicação do já vivido, o clímax da perda, do vazio:
249
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do Consumo.
Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
138
Catarina! disse a velha de boca aberta e olhos espantados, e ao primeiro
solavanco a filha viu-a levar as mãos ao chapéu: este caíra-lhe até o
nariz, deixando aparecer apenas a nova dentadura. O trem já andava e
Catarina acenava. O rosto da mãe desapareceu um instante e reapareceu
já sem o chapéu, o coque dos cabelos desmanchado caindo em mechas
brancas sobre os ombros como as de uma donzela — o rosto estava
inclinado sem sorrir, talvez mesmo sem enxergar mais a filha distante.
[grifos nossos] (LF:114)
Severina, flagrada agora pelo narrador, compõe uma desmontagem grotesca,
orquestrada pela roupa que atrita com o corpo, pela boca entupida de dentes falsos, com
a idade, com seu estado de espírito250. Patética, sem ornatos, explícita, donzela sem
Quixote, destituída dos ornamentos que a ajudam a fingir, como quer a moda, estar no
futuro, e alimentar a ilusão de eternidade. Assim, o chapéu não é mais adorno, não é
mais proteção. Transmuta-se em máscara desengonçada.
Catarina, por sua vez, num primeiro momento parece voltar ao que era antes,
“recuperara o modo firme de caminhar: sozinha era mais fácil.”, “a força refluía em seu
coração com pesada riqueza”. A roupa confirma o modo como quer se sentir:
“caminhava serena, moderna nos trajes, os cabelos curtos pintados de acaju”; “Estava
muito bonita nesse momento, tão elegante; integrada na sua época e na cidade onde
nascera como se a tivesse escolhido”.
Mas, ao chegar em casa, começa a desarmar. O primeiro movimento é tirar o
chapéu, um modo de desnudar-se, justo ela que não gosta de mostrar o corpo. O gesto a
sintoniza com o filho: “riu de fato para o menino, não só com os olhos: o corpo todo riu
quebrado, quebrado um invólucro, e uma aspereza aparecendo como rouquidão.”
A recuperação da proximidade com o garoto sem nome se dá canhestramente,
pois inicia com duelo entre ambos por causa da toalha molhada, cordão umbilical
precário, num meio familiar em que a manifestação de amor é vigilância, cobrança,
preocupação e indiferença (da avó, com o peso do menino; de Catarina, com a velhice
da mãe e o alheamento do filho “exato e distante”; de Antônio, com a volta da mulher e
do filho que saem sem avisar).
250
Grotesco, no sentido de Bakhtin. Exagero, profusão, excesso; ênfase, pela hipérbole, no baixo
corporal: orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, como boca aberta, órgãos genitais, seios,
falo, barriga e nariz. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o
contexto de François Rabelais. Tradução Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora
da Universidade de Brasília, 1993.
139
A mulher sentia um calor bom e gostaria de prender o menino para
sempre a este momento; puxou-lhe a toalha das mãos em censura: este
menino!
(...)
A mãe sacudia a toalha no ar e impedia com sua forma a visão do
quarto: mamãe, disse o menino. Catarina voltou-se rápida. Era a
primeira vez que ele dizia "mamãe" nesse tom e sem pedir nada. Fora
mais que uma constatação: mamãe! A mulher continuou a sacudir a
toalha com violência e perguntou-se a quem poderia contar o que
sucedera, mas não encontrou ninguém que entendesse o que ela não
pudesse explicar. Desamarrotou a toalha com vigor antes de pendurála para secar. [grifos nossos] (LF:116)
O prognóstico é cético. O legado, a herança, é um destino desajeitadamente
trágico, enunciado no modo irônico. Sequer uma catástrofe se anuncia; apenas a
previsível domesticidade burguesa.
Mais tarde seu filho, já homem, sozinho, estaria de pé diante desta
mesma janela, batendo dedos nesta vidraça; preso. Obrigado a
responder a um morto. Quem saberia jamais em que momento a mãe
transferia ao filho a herança. (LF:117)
Na falta de diálogo, de comunicação entre os velhos e jovens, ouço a persistente
tensão familiar drummondiana, assim descrita por Silviano Santiago: o “pedido de
diálogo por parte do filho se sela numa demanda de voz ao fantasma do pai: Fala fala
fala fala e se aniquila no segredo ou na excentricidade dos mais velhos.”251
E eram distintos silêncios
que se entranhavam no seu.
Era meu avô já surdo
querendo escutar as aves
pintadas no céu da igreja;
a minha falta de amigos;
a sua falta de beijos;
eram nossas difíceis vidas
e uma grande separação
na pequena área do quarto.252
Os bens e o sangue. O afeto é quantificado metaforicamente e traduzido tanto na
sustentação ilusória dos laços através de bens materiais e de uma economia (no sentido
próprio) afetiva (“se se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam
251
SANTIAGO, Silviano. Ora (direis) puxar conversa!:ensaios literários. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2006. p.41.
252
ANDRADE, Carlos Drummond. Viagem na família. In: Reunião. Rio de Janeiro, José Olympio, 1983.
140
rapidamente, quase ir únicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não
vamos ridiculamente usá-los.”).
Para concluir, sugiro a leitura de uma crônica escrita por Clarice para o Diário da
Noite (assinada Ilka Soares e publicada em 04/07/1960), cujo mote é: “Depois de certa
idade, a moda parece constituir um problema para muitas mulheres”. Dá a “solução”
[sic] através da atriz norte-americana Claudette Colbert, “exemplo de maturidade
chique”, que aconselha, primeiro, “um olhar prolongado e honesto ao espelho” e “o
estudo da própria imagem”, para acentuar qualidades e corrigir defeitos.
Deve-se
“manter a esbeltez” para “atingir o tipo de silhueta que ‘enfeita’ a roupa.” A mulher
não deve procurar “apenas” [sic] seguir a moda, mas a harmonia com o tom de pele e
cabelos, e deve ter tenha
aparência bem tratada. Sugere colar de pérolas que
“emprestam à pele uma qualidade luminosa”, um bom tailleur como traje básico e “um
desses vestidos que se usam durante o dia mas que podem ser transformados para a
noite mediante a mudança da gola, por exemplo.”.
O que na crônica é receita de bolo, no conto se transforma em vida indigesta,
graças à operação criativa de uma escritora consciente das pressões do consumo e do
modo como a sociedade tenta enquadrar a mulher e destrata a idosa. Ela desestabiliza
ficcionalmente esse paradigma.
A solidão e a falta de comunicação entre Severina e Catarina se intensifica em
“Partida do trem”, em que a filha bem sucedida conduz a mãe à estação, em seu próprio
Opala, carro de luxo na época. Ela se comporta com total indiferença. O máximo que
consegue é dar um beijo gelado em Dona Maria Rita Alvarenga Chagas Souza Melo,
ajudá-la a subir no vagão e ir “embora antes do trem partir.”.
A situação de abandono da senhora se expõe no frágil corpo que tenta se
recompor, mas cada movimento só o faz parecer mais grotesco e desprovido de vida.
Socorre-se de gestos automáticos para tentar se reunir numa unidade. “O corpo grotesco
é um corpo em movimento. Ele jamais está pronto nem acabado: está sempre em estado
de construção, de criação, e ele mesmo constrói outro corpo; além disso, esse corpo
absorve o mundo e é absorvido por ele”. [grifos no original] (BAKHTIN:1993:277) 253
253
BAKHTIN, Mikhail. A cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François
Rabelais. São Paulo: Ucitec, 1993.
141
O deslocamento daquela senhora se despe, aos olhos do leitor, no apego aos
adornos, mas contraditoriamente estes só fazem acentuar a fragilidade e a desproteção.
A mulher bem vestida parece buscar nas joias segurança, como uma terceira perna.
Diante do sentimento de abandono, o que fazer com as mãos a não ser certificarse de sua identidade previamente organizada em ornatos de fidalguia, mas destituídas
das marcas pessoais que uma roupa teria? Porque tecido envelhece; ouro, não. O mal
estar a faz ativar um gesto automático, pelo qual busca restituir-se a si mesma. Certificase no “camafeu filigranado de ouro, espetado no peito: “passou a mão pelo broche,
tirou-a, levou-a ao chapéu de feltro com uma rosa de pano, retirou-a. Seca.” 254.
Apega-se aos adornos; mas a delicadeza das peças (filigrana, rosa de pano) se
atrita com o sofrimento e a dor (espetado)255. Um conjunto de vocábulos confirma a
dureza, ideia de armadura. “As roupas são preservadas; elas permanecem. São os corpos
que as habitam que mudam”. Ao investir no tema velhice esse fato ganha
contundência.256 A senhora ostenta inutilmente um objeto de distinção257 (BOURDIEU,
2008), artefato indicador de “dinheiro antigo”, tradição, feito com matéria prima cara.
“A ironia é que, se a roupa é mortal, se deteriora, a joia, não – as joias resistem à
história de nossos corpos. Duradouras, elas ridicularizam nossa mortalidade, imitando-a
apenas no arranhão ocasional.” (STALLYBRASS, 2008:11).
A joia entra no registro de patrimônio aristocrático referido por MacCraken
(2003:52). Tanto o camafeu quanto o chapéu e o leque258 designam status, tentativa de
salvaguardar tempos imemoriais que não importam mais, estão destituídos de valor para
os padrões familiares e a sociedade ali retratados.
Conforme Meneses, atributos
intrínsecos dos artefatos incluem
apenas propriedades de natureza físico-química, forma geométrica,
peso, cor, textura, dureza. Nenhum atributo de sentido é imanente. O
254
Filigrana: ornamento delicado e pequeno de ouro. No meio jurídico designa ironicamente a estratégia
argumentativa de debater pontos irrelevantes com intuito de arrastar os processos.
255
Em outras épocas “espetar” descrevia coisas desagradáveis que uma lança pode fazer com o corpo
humano. Deriva do Gótico spitus, “espeto, pique”.
256
“As novas configurações da cidade moderna impelem à dureza do vidro e do aço (BENJAMIN, 1977),
“que não deixam marcas”, levando os interiores a procurar reter vestígios de uma subjetividade cada vez
mais arriscada, em processo de dupla interiorização, espacial (na casa diferenciada da rua), e psicológica.
GAGNEBIN, J-M. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo/ Campinas: Perspectiva /Fapesp/
Unicamp, 1994.
257
Sujeitos cujas estratégias de distinção passam por artefatos específicos e indicadores de “dinheiro
antigo”. (BOURDIEU, 2008)
258
Os leques se difundiram na Europa, entre os séculos XVII e XIX, como complemento indispensável à
vaidade feminina. Após as primeiras décadas do século XX, com as novas tecnologias para refrescar o ar,
seu uso foram se tornando obsoletos, sem perder o glamour. O costume francês chegou ao Brasil com D.
João VI, continuando nos reinados de D. Pedro I e D. Pedro II.
142
fetichismo consiste, precisamente, no deslocamento de sentidos das
relações sociais (...) para os artefatos. Tais atributos são historicamente
selecionados e mobilizados pelas sociedades e grupo, nas operações de
produção, circulação e consumo de sentido.259
Outras marcas corporais acentuam a precariedade do recurso à roupa como
forma de autoafirmação, em ambiente de desamor: “os lábios cobertos de talco se
partiram em sulcos secos”; a “dentadura bem areada”; “a cruel verruga no queixo,
verruga da qual saía um pelo preto e espetado”. A gagueira da voz repete a gagueira da
roupa. O nome pesado de tantas insígnias não mais sustenta o lugar social de Dona
Maria Rita Alvarenga Chagas Souza Melo. Nem seu lugar como pessoa260: “Sou como
um embrulho que se entrega de mão em mão.”
Dona Maria Rita olhou de novo para o próprio anel de brilhantes e
pérola no seu dedo, alisou o camafeu de ouro: Sou velha, mas sou rica,
mais rica que todos aqui no vagão. Sou rica, sou rica.
“Espiou o relógio, mais para ver a grossa placa de ouro do que para ver
as horas. „Sou muito rica, não sou uma velha qualquer” (OEN:25)
Não só a velha senhora, mas o próprio país está submetido à opressão, como se
vê na menção aparentemente fortuita da velha a Henry Kissinger, diplomata americano,
com papel determinante na política externa norte-americana entre 1968 e 1976,
extremamente nocivo à economia e à politica brasileiras durante a ditadura. Com tantos
cerceamentos, resta a Dona Maria Rita imitar a si mesma, como uma marionete, uma
sósia, cujo lugar mais apropriado são os trilhos de um trem.
A moça que está sentada a seu lado, Angela Pralini, “olhando a velha Dona
Maria Rita teve medo de envelhecer e morrer”. Reaparece em Um sopro de vida,
último livro de Lispector, escrito no período em que já estava doente. Só que agora é
personagem criado pelo narrador, mas personagem exuberante, com muita
personalidade e vigor, que já aprendeu (talvez depois daquela lição de vida observando
Dona Maria Rita) as segundas intenções de adereços, pelo que guardam de memória ou
das ironias da História: está registrado no Novo Testamento e nos estertores da
monarquia francesa. Daí a ironia com joias profanadas, não faltando algo de
259
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. “Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço
público”. Revista Estudos Históricos, FGV,v.11,n.21, 1998. p. 89-103.
260
Não distinguimos neste trabalho indivíduo e pessoa; neste caso, entretanto, cabe trazer a distinção
estabelecida por Roberto da Matta: pessoas seriam aqueles que se sentem autorizados são titulares de
direito, são alguém no contexto social; já os demais são meros indivíduos, “mais um na multidão”. DA
MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de
Janeiro: Zahar, 1981.
143
grotescamente macabro na referência a Maria Antonieta, em Uma aprendizagem ou o
livro dos prazeres:
ÂNGELA.- O coral selvagem é pontudo e ilha de Capri ao sol. O colar de
coral não se pode pegar em punhados na mão: fere a concha delicada
dessa mão branca e nervosa.
Ao redor do pescoço, o colar de coral é coroa de" espinhos de Cristo.
Ah! O diadema! Sou a rainha! Flamejo como coroa alta que sou. Os reis
me usam em forma de capuz papal triangular. As princezinhas enfeitam
com delicados diademas o rostinho fresco, inocente, mas capaz de
crueldade. Maria Antonieta coroada e linda, meses antes de ter a cabeça
decepada e rolada no chão da rua, disse alto e cantante: se o povo não
tem pão, porque não come bolo? E a resposta foi: allons enfants de la
patrie, le jour de gloire est arrivé. O povo devorou o que pôde e comeu
jóias e comeu lixo e gargalhou. (p.103)
Outras marcas corporais acentuam a precariedade do recurso à roupa como
forma de autoafirmação, em ambiente de desamor: “os lábios cobertos de talco se
partiram em sulcos secos”; a “dentadura bem areada”; “a cruel verruga no queixo,
verruga da qual saía um pelo preto e espetado”. Gagueira da voz repete a gagueira da
roupa. A biografia de Dona Maria Rita Alvarenga Chagas Souza Melo, nome cheio de
insígnias, não sustentam, entretanto, recompor seu lugar social. Pior: seu lugar como
pessoa261.
À opressão para com a velha e para com a condição da mulher nos
relacionamentos amorosos se superpõe outra, política. Maria Rita menciona Kissinger,
diplomata americano, papel determinante na política estrangeira norte-americana entre
1968 e 1976, com impacto muito negativo sobre a economia e politica brasileiras
durante a ditadura.
Com todos os lados cerceados, resta-lhe imitar a si mesma, como uma
marionete, uma sósia, cujo lugar mais apropriado são os trilhos de um trem, passagem,
sem destino.
5.4 ROUPA E ESPAÇOS
261
Não operamos no trabalho com a distinção entre indivíduo e pessoa; neste caso, entretanto, cabe trazer
a distinção estabelecida por Roberto da Matta: pessoas seriam aqueles que se sentem autorizados são
titulares de direito, são alguém no contexto social; já os demais são meros indivíduos, “mais um na
multidão”. DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema
brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
144
O aperto da roupa e o esquema classificatório se repetem noutras histórias,
reiteradas pelo espaço-prisão doméstico ou pela viagem que, ou não leva a nenhum
lugar, ou só provisoriamente é libertação.
A parede comprime, assim como a cinta que empacota as coxas baixas e grossas
da esquizofrênica Laura, fazendo dela uma “senhora distinta”. Casa e roupa garantem a
sobrevida pela invisibilidade. Ela contraria todos os quesitos ditos apropriados para a
esposa “ideal”. Não procria devido à insuficiência ovariana, pouco se enfeita, não é
coquete. Figura programada para funcionar, o que faz dela um objeto sem vitalidade.
Laura não está em casa. Foi colocada ali. Não senta na cadeira – recosta-se, tensa, como
uma visita. Tudo nela evita o contraste. Rosto com graça doméstica, olhos e cabelos
marrons, pele morena e suave – não há figura e fundo – o que lhe dá um “ar modesto de
mulher”: a minúcia obsessivo, a letra perfeita, a distensão temporal que contraria o
pragmatismo burguês do resultado. Laura é o oposto da amiga Carlota, cujo lar
assemelha-se a ela própria, e não o contrário. Laura movia-se naquele quadrilátero em
que morava, impessoal. É o protótipo do que apregoavam os códigos disciplinadores
das revistas na época: ser dona de casa preocupada com a qualidade da carne. E não
como as enfermeiras penteadas e alegres saindo para as folgas. Ela e casa estão tão
fundidas; os objetos a ela associados são o pires de um gato e o vaso.
As demarcações espaciais em Clarice geralmente são sutis; praticamente
invisíveis; a autora pouco descreve. Entretanto, aloca personagens em lugares que
orientam seus percursos diários. Uma mudança de rota ou de olhar faz com que a
transparência se rompa. Edificações ou monumentos imobilizados pelo tempo
subitamente revelam outra face; serão fortaleza, buraco ou caos. Através de distorções
perceptivas, expressas frequentemente por construções imagéticas ou por um estado de
devaneio do personagem, desenvolvem-se dilatações e compressões espaciais. Como o
deserto que assoma no vão da área do apartamento de G.H.
A intensidade da sensação, que também é física, vem do efeito cumulativo de
referências espaciais, que provoca uma cegueira em relação ao ambiente. Ao mudar o
eixo de visão, as construções agudizam a sua banalidade, perdem a sua condição
naturalizada e despejam o depositório de memória.
Relembro que, no capítulo dois,
o espaço foi definido como campo de
mediações de experiências sociais, culturais, sensoriais. Espaço construído, desdobrado
como “paisagem imaginada”. Investido de valores (morais, políticos, de rememoração,
de gênero etc.), expressa e elabora subjetividades (individuais e coletivas) em
145
momentos de crise, reflexão ou ruptura com o tempo cotidiano e/ou com laços afetivos,
na obra de Clarice Lispector. Como se lê em “A procura de uma dignidade” (OEN),
outra viagem.
A Sra. Jorge B. Xavier sai de casa para um encontro “cultural” com amigos da
mesma faixa etária, todos idosos. Mas erra o endereço e vai parar no Estádio de Futebol
Maracanã, onde cai em um labirinto (paradoxo do “sem saída”, a inexorabilidade do
tempo): corredores sombrios fabricam pessoas que aparecem e somem repentinamente,
e do mesmo modo propõem caminhos desencontrados. Uma versão subterrânea de
Brasília. Enfim, a muito custo ela consegue escapar dali e pega um táxi, mas se esquece
do próprio endereço.
Logo que o motorista dá a partida, ela avista o grupo nas proximidades do
estádio e se junta a eles. Mas constata que o programa não a apetece. Não faz sentido
assistir à conferência. Depois de aguardar em vão, sentada numa cadeira, a carona do
chofer de uma conhecida, vai para casa noutro táxi. Atravessa a cidade do Rio de
Janeiro, da Zona Norte ao Leblon, sem consciência das vias por onde passa. Chega em
casa e, depois de falar rapidamente com a empregada, segue para o quarto onde tem
encontro marcado com a solidão. Dorme e, ao acordar, sai e toma de novo um táxi,
pois se lembra de querer comprar uma écharpe. Depois, volta para casa, e se instala de
novo no quarto, nua (“achou muito curioso uma velha nua” p.14) e se mete a procurar
sob a cama um documento perdido. A sujeira ali se acumula e coisas se perdem (“onde
irá buscar a letra de câmbio perdida”?; (“Então por que não embaixo da cama?”; “mas
embaixo da cama só havia poeira” p.15) e, ao se dar conta de que não a achava, senta na
cama e começa “muito à toa a chorar de manso.” (pág.16)
São incontáveis os espaços por onde a senhora circula. Nenhum deles responde
com sequer uma reserva de memória. Faz voltas, em torno de si mesma: curto-circuito/
curto circuito. Da própria casa ao estádio do Maracanã inexistem pontos demarcatórios
com que possa estabelecer elos e se reconhecer.
Não há lugar em que física e
socialmente se sinta ela própria, ela que enverga o nome do marido. Não vale a pena
lembrar. A memória está corroída, tanto a matéria de recordação (o que se lembra)
quanto o modo da recordação (como se lembra). Como se a matéria-prima da
recordação não aflorasse mais.262
262
BOSI, Ecléa. Memória sonho e memória-trabalho. In: Memória e sociedade: lembranças de velhos.
São Paulo: Editora da USP, 1979.
146
Esta a cidade em que vive, este o apartamento onde mora e este seu corpo
colonizado, com segmentos desmembrados (o contundente abate, o açougue humano de
obras como “Açougue Song”, de Adriana Varejão). Nenhum se conecta ou outro, e
nenhum tolera ou satisfaz seu desejo. Entre os frágeis contornos entre o real e o irreal, a
mulher de setenta anos alimenta uma atração secreta pelo ídolo televisivo Roberto
Carlos.
A atmosfera insólita prefigurada na perdição labiríntica dentro do estádio
sinaliza uma condição de vida pertinente ao que Marc Augé chama de não-lugares. São
espaços destituídos de características de ordem relacional, identitária e história, próprias
das sociedades humanas.
O antropólogo francês pensa especialmente em lugares
públicos, transitórios, em que mensagens múltiplas se propagam incessantemente. Daí a
quantidade de placas sinalizadoras que orientam quanto a direções e se exprimem de
modo prescritivo ou informativo, recorrendo a ideogramas ou à língua local. São estas
informações que definem, regulam e coordenam os usos dos lugares, por fim
impregnados de discursos explicativos.
[...] Assim são colocadas as condições de circulação nos espaços onde
os indivíduos só estão autorizados a interagir através de textos, sem
outros enunciadores, a não ser pessoas « morais » ou instituições […]
cuja presença se adivinha vagamente ou se afirma de forma mais
explícita atrás de injunções, conselhos, comentários e “mensagens”
transmitidas por inúmeros “suportes”, (painéis, telas, cartazes) que
integram a paisagem contemporânea. (Augé,1992:120-121) 263
As latitudes e longitudes do mundo contemporâneo agravam a condição de
velhice, que já tem de lidar com as limitações inerentes à idade. No intuito de se sentir
viva, aquela senhora da alta sociedade se cobra “participar” de eventos que nada lhe
dizem, mas lhe parecem a única maneira de manter alguma sociabilidade.264 Assim o
263
AUGÉ, Marc. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil, 1992. No original:
« [...] Ainsi sont mises en place les conditions de circulation dans des espaces où les individus ne sont
censés n’interagir qu’avec des textes sans autres énonciateurs que des personnes « morales » ou des
institutions […] dont la présence se devine vaguement ou s’affirme plus explicitement derrière les
injonctions, les conseils, les commentaires et les « messages » transmis par les innombrables « supports »,
(panneaux, écrans, affiches) qui font partie intégrante du paysage contemporain. »
264
DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do
envelhecimento. São Paulo: EDUSP, 2004. in: BARROS, Myriam Moraes Lins de. Velhice ou terceira
idade. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000. Categorias culturalmente produzidas, que têm
como referência processos biológicos universais; questões que nas sociedades ocidentais contemporâneas
passaram a ser problemas sociais; e temas em torno dos quais se institucionaliza um discurso científico
especializado (p. 49)
147
idoso perde de vez o mapa da memória particular, pessoal, suas coisas. O que rege a
atividade mnemônica é a função social exercida aqui e agora pelo sujeito que lembra.
Há o momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo
da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo:
neste momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função
própria: a de lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da
instituição, da sociedade. (...)
Haveria, portanto, para o velho uma espécie singular de obrigação
social, que não pesa sobre os homens de outras idades: a obrigação de
lembrar, e lembrar bem265. (Bosi, 1979:63)
O corpo é disciplinado para uma conduta que se espera dos velhos: sem vaidade
e sem apetite sexual. Agachada no quarto como um quadrúpede, achando-se feia diante
do espelho, como pode aquela senhora apossar-se dos espaços, tomá-los como
marcações de memória, se a própria pele não é um espaço de conforto? É expulsa de
cada lugar por onde circula. A válvula de escape é sonhar com o jovem e inalcançável
ídolo da música brasileira. A vida lhe roubou a paisagem imaginária.
5.5 VOCÊ PRA LÁ, EU PRA CÁ: COISAS DE HOMEM
Que traje vestir neste homem recém-chegado ao restaurante? Ele “ocupara-se até
agora em grandes negócios. Poderia ter uns sessenta anos, alto, corpulento, “cabelos
brancos, sobrancelhas espessas e mãos potentes”. Tudo nele, excessivo: é espesso. O
mais certo é empregar os termos “brusquidão”, vigor e mecanismo, para remeter a ele.
O narrador não precisará de muito para compor o perfil do poder, acabaram-se
os épicos. A espada heroica e as grandes causas foram trocadas pelo garfo e pela dor
particular. No lugar da venda sobre os olhos, um reles guardanapo dissimula o “cala-te”
e a lágrima. Na mão, ostenta adereço usado por grupo restrito de homens (considerando
a época em que a história foi escrita e indicações internas ao conto), exceto quando na
função de aliança ou como marca de distinção: “Num dedo o anel de sua força” – o
adorno que, desde o gênesis, simboliza autoridade,
conserva-se como símbolo de
profissões com status ou como emblema de tradição.
265
BOSI, Ecléa. “Memória sonho e memória-trabalho”. In: Memória e sociedade: lembranças de velhos.
São Paulo: Editora da USP, 1979.
148
A atitude voraz, o aspecto animalesco (“comprime as órbitas dos olhos com as
mãos cabeludas”) ao devorar a carne não demonstra preocupação com etiquetas; porque
ele pode, não deve satisfação a ninguém. Grotesco, brusco, veemente e brutal: “a ponta
da língua aparecendo — apalpava o bife com as costas do garfo, quase o cheirava,
mexendo a boca de antemão, mastigando de boca aberta, passando a língua pelos
dentes, o queixo ativo, o azeite umedecendo os lábios”. O comportamento voraz e
prazeroso magnetiza o narrador, que compõe uma cena de voyeurismo erotizado266,
submisso como o garçom (a certa altura percebido como “as asas negras duma casaca”)
que sussurra ao cliente palavras amáveis.
O velho se compõe e se descompõe através do tirar e repor os óculos (como o
personagem do professor de matemática expiando a culpa por ter abandonado seu cão),
e afinal sai triunfante; com a mão quadrada “põe o chapéu acariciando a gravata ao
espelho.” A roupa cumpre funcional e simbolicamente o seu papel: dá o acabamento
final, reintegra o indivíduo agora saciado como um búfalo à sua máscara social de
distinção e afaga o ego na imagem refletida. A interação corpo/objeto se restabelece
automaticamente através do que Pierre Bourdieu designa por habitus: ordens fixadas
culturalmente e absorvidas como uma segunda natureza, pela pessoa267.
O narrador, imerso em sua voracidade contemplativa, quase hipnótica, parece
dizer, a propósito de seu impulso em contar a história, algo como Paul Valéry sobre a
influência da tradição no processo de criação: “Rien de plus original, rien de plus soi
que de se nourrir des autres. Mais il faut les digérer. Le lion est fait de mouton
assimilé ». (Apud SANTIAGO, 1978 : 28).268 Já para a mulher não é possível esse
reinado. No máximo haverá o momento de insurgência muda de Carlota em sua festa
de aniversário, ou a versão feminina do Rei Lear, louco e traído, em “Instantâneo de
uma senhora”: “Fora feliz inutilmente”.
266
Voyeurismo (escopofilia) é descrito por Freud como instinto de prazer, pelo qual a pessoa toma outra
como seu objeto, através do olhar controlador e curioso. Em Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade
(1905) desenvolve uma compreensão da etiologia das perversões.
267
BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1974.
268
“Nada há mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É preciso, porém, digerilos. O leão é feito de carneiros assimilado”. SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latinoamericano. In: Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978. O tema da voracidade,
recorrente na autora, é tratado com ironia em “A arte de não ser voraz” (Fundo de gaveta). “Moi,
madame, j’aime manger juste avant la faim. Ça fait plus distingueé”, contraface do manual de etiqueta,
como certas colunas sociais que Lispector escreveu.
149
Entretanto, poucas figuras masculinas assim potentes. Há remotamente a
coragem do mergulho interior de Martim (ME); ou a pompa de Ulisses, que parece
artificial, em sua majestade filosófica (APL).
Lispector utiliza objetos e espaços como veículos para a dinâmica entre papeis
feminino e masculino. Atributos sexuais dos objetos “passam por modos de fazer ou
utilizar as coisas: práticas que representam eficazes vetores de sexualização dos
indivíduos». Às personagens femininas de Laços de Família estão associados elementos
da casa, como a cortina, cozinha, rendas e flores. Entretanto o que a ficção revela é a
crise. Se usos individuais expressam usos coletivos e mesmo delineiam pertencimentos
ou identificações com grupos sociais, origem, é verdade também que o artefato pode ser
«suporte de verdadeiros conflitos normativos, ou ao contrário suporte eficaz de
conciliação entre espaços normativos antagonistas”.269 (2012:11)
Em geral, as figuras masculinas são inexpressivas. O marido da rapariga é
subserviente, “preso no fato”; o de Catarina, “moreno e miúdo”; o pai de família de
“Uma Galinha”, ridículo em seu uniforme de caça; Armando, marido de Laura,
extremamente convencional em suas camisas bem passadas para ir ao trabalho; Felipe,
namorado de Lucrécia, ostenta a farda como símbolo de status, tanto que é usado o
artigo definido na frase “Felipe usava o uniforme”. Em texto de juventude, a autora cria
um homem vaidoso e enigmático (como o duplo V de seu nome W), trajado à moda de
um herói gótico romântico (enquanto a jovem por ele apaixonada está “numa roupa
florida, cortando rosas”); a ele e a outros personagens masculinos estão associados o
objeto livro e a escrivaninha, como os maridos de Lucrécia ("Ah, Mateus é de outro
meio, mamãe! Vem de outra cidade, tem cultura, sabe o que se passa, lê jornal, conhece
outra gente [...]”) e de Catarina, sempre com a conotação de seriedade e superioridade (a
ponto de congestionar o texto com os pronomes possessivos “seu” e “sua”: seu livro,
sua escrivaninha, seu apartamento):
Antônio mal levantou os olhos do livro. A tarde de sábado sempre fora
"sua", e, logo depois da partida de Severina, ele a retomava com
prazer, junto à escrivaninha. (p.115)
269
ANSTETT, Elisabeth; GÉLARD, Marie-Luce . « Introduction : les genres et les objets ». In : Les
objets ont-ils um genre. Culture matérielle et production sociale des identités sexuées Paris, Armand
Colin. 2012.
150
Porque sábado era seu, mas ele queria que sua mulher e seu filho
estivessem em casa enquanto ele tomava o seu sábado. (p116)
E ele ficara. "Com o seu sábado." E sua gripe. No apartamento
arrumado, onde "tudo corria bem". Quem sabe se sua mulher estava
fugindo com o filho da sala de luz bem regulada, dos móveis bem
escolhidos, das cortinas e dos quadros? fora isso o que ele lhe dera.
Apartamento de um engenheiro. E sabia que se a mulher aproveitava
da situação de um marido moço e cheio de futuro (p.118)./ grifos
nossos/
Quem sabe se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz
bem regulada, dos móveis bem escolhidos, das cortinas e dos quadros?
fora isso o que ele lhe dera. Apartamento de um engenheiro. E sabia
que se a mulher aproveitava da situação de um marido moço e cheio
de futuro - deprezava-a também, com aqueles olhos sonsos, fugindo
com seu filho nervoso e magro. (p.118)
O livro, quando entra no universo feminino, é peloa desejo da criança; as
adolescentes o levam debaixo do braço (”Preciosidade”); mas, na fase adulta, a mulher
representa um segmento “menos importante,”, quando não frívolo, daí expressões como
para “moças solteiras”, “literatura da moda, muito subjetivista” (HI:16). Não por acaso
a ironia do narrador Rodrigo, em A hora da estrela: “Um outro escritor, sim, mas teria
que ser homem porque escritora mulher pode lacrimejar piegas.” A maioria do elenco
feminino está descomprometido de “causas” sociais ou políticas e não trabalha fora do
lar, exceto as empregadas e pobres na relação com as coisas.
Vania Carneiro de Carvalho (2011) investiga a cultura material no espaço
doméstico, “lugar fértil para a incorporação das formas de distinção social e de gênero
por meio do uso de objetos; as apropriações fazem parte do mecanismo de produção de
identidades sociais – e de gênero. Em estudo sobre o século XIX, mostra a dinâmica
feminino / masculino na literatura de José de Alencar. Pela quantidade de artefatos, a
“casa de extração burguesa é o reino do feminino”, com acúmulo de objetos
domésticos, especialmente os de função decorativa; mas “a força designativa dos
objetos masculinos cria ao seu redor um campo gravitacional que altera o sentido
sexualmente indiferenciado de objetos.”
A própria mulher pode mudar de gênero quando ingressa na órbita
estabelecida pelo território masculino, como vemos na descrição de José
de Alencar, quando Aurélia, protagonista do romance Senhora, entra no
gabinete da casa para receber o tio Lemos, seu tutor. Aurélia precisava
armar-se de qualidades masculinas para enfrentar os interesses do tutor
151
e para isso utiliza o escritório, seara do masculino, que permite sua
transmutação.
Usos da roupa e dos espaços compõem uma semiologia relativa a um modo de
estar no mundo: o constrangimento da velha em ser ajudada no abrir a janela do vagão
de trem, assim como a movimentação contida de Gertrudes, a adolescente no
consultório da médica, são gestualidades com marca de gênero e de geração.
Conflitos com essas orientações se revelam em personagens rebeldes ou
desviantes na relação com a casa do que seria a felicidade familiar, destinada à mulher
de classe média, como se vê em “A imitação da rosa”, ou na casa de Ana (“Amor”): a
“racionalização da rotina doméstica” se mostra no uso de cortinas mais leves, mais
higiênicas. O fato de haver um fogão que explode e uma torneira que não termina de
jorrar contradiz a esperada estabilidade para uma rotina previsível e controlada, e
quando a cozinha entendida como “laboratório da família” vinha sendo preparada para
participar dessa organização, limpeza e ordem. Um lar que proteja, como é o caso da
rapariga, contra as ameaças do espaço público, daí o estranhamento de seu marido
quanto ao comportamento da esposa no restaurante e seu desleixo com a casa, a paz e o
conforto no mundo privado é cuidar da família: a decoração, que faz parte do empenho
mediador das mulheres na busca pela produção de felicidade familiar, é parte do
trabalho doméstico. 270
270
CARVALHO. Vania. (2008) Op.cit.
152
6. DIVAGAÇÕES SOBRE G.H.
Ainda não percebera que na verdade não estava distraída, estava era
de uma atenção sem esforço, estava sendo uma coisa muito rara: livre.
Via tudo, e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava
percebendo as coisas. Minha liberdade então se intensificou um pouco
mais, sem deixar de ser liberdade.271 (DM: 311)
Em tom de conversa-apelo a um possível leitor, invocado para lhe dar a mão em
sua árdua empreitada discursiva, G.H. abre as portas do lugar em que vive, vomitando a
jornada que vivera na véspera.
Ao relembrar aquele dia solitário, em que deliberadamente decide mudar a
rotina, menciona uns poucos objetos decorativos, peças de mobiliário e objetos pessoais
e indicia características do tipo de apartamento em que mora. Ela divaga mais de uma
vez sobre fotografias dela mesma e sobre uma valise com suas iniciais; assinala ter
desligado, propositalmente, o aparelho de telefone para que nada a perturbasse; e se
refere ao robe de chambre que está trajando, ao maço de cigarro e a esculturas feitas
amadoristicamente: “quando eu fazia esculturas eu já tentava apenas reproduzir, e
apenas com as mãos.”
Oferece um pouco mais de detalhes sobre o quarto de fundos onde dormia
Janair, empregada que acabara de largar o emprego: a cama, o colchão, a inscrição na
271
LISPECTOR, Clarice. “Perdoando Deus”. In: A descoberta do mundo. Op. Cit. Publicado
originalmente no Jornal do Brasil em 19/9/1970.
153
parede e o armário. Lembra-se também de que a doméstica vestia sempre “marrom
escuro” ou preto. No mais, em grandes e breves traços, fica sugerida a planta do imóvel.
Se os objetos e o espaço são assim rarefeitos, como e por que então tomá-los
como fios condutores para uma leitura de A paixão segundo G.H., obra de caráter
reflexivo? De que modo conectam-se a cogitações filosóficas sobre o ser e a existência?
O que se ganha seguindo esse caminho? Afinal, podem esses objetos e esse apartamento
contarem algo?
A antropologia de imediato afirmará que objetos desempenham “a função de
sinais diacríticos a demarcar identidades e contribuem decisivamente para a constituição
e
percepção
subjetiva”,
“preenchem
funções
práticas
indispensáveis,
mas,
especialmente, porque eles desempenham funções simbólicas que, na verdade, são précondições estruturais para o exercício das primeiras”. (MENESES, 2007:10,8)
O mesmo dirá a arqueologia - e a aventura de G.H. tem profundidade
arqueológica – sobre os implementos e utensílios (indumentárias, ferramentas, adornos,
etc.); criados originalmente para superar obstáculos do meio ambiente, foram aos
poucos investidos de significado simbólico e submetidos à apreciação mediante critérios
de beleza, conforme a cultura.
As correlações entre objeto, corpo e espaço ampliam as possibilidades de
compreensão do conflito de G.H. consigo mesma, através de Janair. A residência, como
expõe Carvalho (2011), é “lugar fértil para a incorporação das formas de distinção
social e de gênero por meio do uso de objetos”. Há “estreita relação entre materialidade
e categorias socioculturais”, sobretudo em sociedades capitalistas, e em especial
naquelas “integradas de maneira periférica ao mercado mundial”. A materialidade
detém forte potencial de agenciamento simbólico; a fisicalidade, como já mostrado na
introdução, é mais do que suporte; relaciona-se ao movimento, ao corpo e a seu entorno.
Acompanho o pensamento da arquiteta e historiadora Ludmila Brandão
(2002)272,
que observa a casa
como território humano e toma os espaços como
agenciamentos de subjetividade. A partir daí, situo o apartamento de G.H. enquanto
personagem que fabrica, desde o modo pelo qual foi concebido, uma proposta de vida,
272
BRANDÃO, Ludmila de Lima. A casa subjetiva. São Paulo:Perspectiva, 2002.
154
uma visão de mundo. Trata-se de uma narrativa de vida espacializada. O projeto da
moradia define normas e códigos elaborados e internalizados pelos sujeitos; naquele
imóvel típico da classe média alta brasileira esquematiza polaridades entre frente e
fundos, limpo e sujo, alto e baixo replicando em cadeia a forte segmentação social no
Brasil, reiterada pela brutal diferença na qualidade e quantidade de objetos e pelo tipo
de decoração e de mobiliário, signos de distinção legitimadores do lugar do proprietário
e signos de menos-valia para o dos serviçais.
Parte substancial da abordagem do romance se dá no âmbito da filosofia;
notadamente Benedito Nunes e José Américo Pessanha deslindaram aspectos
fundamentais desta obra. De forma muito breve, traço alguns eixos que norteiam a
perspectiva de cada um.
Nunes, em “Clarice Lispector ou o naufrágio da introspecção”273, salienta “a
transposição da experiência mística – como que paródia da ascese espiritual, inclusive
do êxtase, em que a personagem perde o seu Eu e a narrativa a sua identidade literária.”;
a metamorfose da narrativa e da personagem, “convertida, à beira do nada, inenarrável,
que tolhe o ato de enunciação, numa impossível busca do inexpressivo e do silêncio”; as
“potências obscuras, perigosas e arriscadas do Inconsciente, que não têm nome”
(p.66,67,68).
Em livro anterior274, o autor discute a transcendência a partir do neutro, a
anulação entre sujeito e objeto, o regime reflexivo dado aos verbos ser e existir e a
dupla reflexividade do olhar. Quanto a Pessanha, centra a discussão no dilema entre o
sagrado e o profano.
Outros autores que invocam a abordagem social não vão muito longe. Waldman
(1992), embora afirme seu interesse pela questão, não sustenta essa perspectiva e
encaminha sua análise para a discussão filosófico-existencial: “uma desaprendizagem
das coisas humanas” (p.67); “à pobreza efetiva de Janair contrapõe-se, no romance,
essa ‘pobreza’ voluntária (sic), mística , feita, em GH, de despojamento”. (p.77)
273
Remate de Males, Campinas 99, 63-70, 1989. Publicado originalmente em "Clarice Lispector ou o
naufrágio da introspecção" / Benedito Nunes. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, no 70, Nov. 1982, p.
13-22.
274
NUNES, Benedito. Leitura de Clarice Lispector. São Paulo, Quíron, 1973.
155
De acordo com a proposta da tese, sigo, em suplemento, outra linha teórica,
tomando por orientação o próprio texto. Ao considerar o romance a partir dos objetos e
do espaço, corro o risco de tocar num vespeiro ao introduzir o conceito da “forma”,
nada pacífico na filosofia.
Um depoimento da própria autora me põe contra a parede ao dizer sobre sua
escrita: “em mim fundo e forma é uma coisa só. Já vem a frase feita”.275 Do ponto de
vista do signo, forma e conteúdo de fato são interdependentes, compõem uma entidade
única (variando a interpretação conforme cada indivíduo). Entretanto, ouço a narradora
G.H. e me fixo no que ela mesma define por “forma”:
tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada,
já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e
cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo
tamanho da visão de meus olhos (...)”[grifo nosso] (GH:19)
No romance, a forma está em conflito com o “informe”, como duas bordas de
um barco em travessia ao mar, pólos tensamente articulados entre si, já que se
encadeiam outras dicotomias pelas quais o imaginário opera marcas históricas, culturais,
ideológicas (claro versus escuro, limpo versus sujo, e cada um desses pares cria
ressonâncias discursivas nos demais).
Atenho-me, portanto, à associação mais corriqueira, mas nem por isso
impertinente, de "forma" como “materialidade dos fenômenos perceptíveis”. Segundo
Houaiss, "forma" remete à “configuração física dos seres e das coisas" (formato, cores,
dimensões, texturas, tonalidades), ou à "aparência física de um ser ou de uma coisa".276
Pelo ponto de vista da narradora G.H, a forma, além de contorno, diz respeito ao
que é aparente, visível. De pronto, sugere o confronto entre ela própria, que se nutre da
aparência e nela investe por toda a vida; e a “transparente” ex-empregada: “eu não havia
percebido que aquela mulher era uma invisível. Janair tinha quase que apenas a forma
exterior, os traços que ficavam dentro de sua forma eram tão apurados que mal
275
LISPECTOR, Clarice. Organização de Teresa Montero e Lícia Manzo. Outros escritos. Rio de
Janeiro: Rocco, 2005.
276
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 916.
156
existiam: ela era achatada como um baixo-relevo preso a uma tábua.” [ grifos nossos]
(p.46).
Partindo das remissões internas no romance, a forma se choca com o informe,
mas, repito, não se fixa no binarismo, pois todo o discurso da narradora é conflituoso,
território das dúvidas; ou, conforme Guattarri (1992), ao postular uma “rede abstrata de
relações” entre espaço e arquitetura pode ser impossivel se ater a uma evidência
primeira, pois opera
permanentemente como produção de sensações, sentidos,
subjetividades. (p.3) G.H. será afetada, viverá na dor da alma e da carne o
desmoronamento das compartimentalizações, causalidades, sucessividades. E indago,
ainda com Guattari: “Será que a arquitetura tem alguma relação com essa diacronia e
essa polifonia dos espaços? Seria o domínio construído sempre unívoco, de ‘mão
única’?”. (p.157)
A narradora usa, na maioria das vezes, o verbo “transformar” para se referir a
mudanças de seu estado interior e o termo “forma” para: a encarnação de certos estados
de alma (“Mas o tédio - o tédio fora a única forma como eu pudera sentir o atonal”; “As
paixões em forma de oratório”); a caracterização física de um ser ou objeto (“lentamente
a forma da barata ia se modificando à medida que ela engrossava para fora.”); o
resultado de uma composição (“blocos de edifícios que formavam um desenho pesado,
ainda não indicado num mapa”; “e a fenda formava como numa cave um amplo salão
natural”); a exteriorização ou aparência (“Pensávamos que era uma solenidade de
forma. E nós sempre disfarçávamos o que sabíamos: que viver é sempre questão de vida
e morte, daí a solenidade”); a cristalização da identidade (que inclui sinais de
exterioridade, mas sobretudo encarna um vazio existencial que desumaniza). [negritos
nossos]
Em todas as acepções, a confiança na solidez ou no perceptivelmente acabado
vai sendo posta em xeque. A forma nunca está estagnada, do ponto de vista dessa
narrativa rememorativa. Há um movimento potencial no contato entre sujeito e objeto,
ou entre sujeito e espaço, que pode precipitar transformações.
Diante dessas
considerações, portanto, fixo como norteador o trecho em que afirma: “Eu nunca havia
deixado minha alma livre, e me havia organizado depressa em pessoa porque é
arriscado demais perder-se a forma”.
157
Retomo a perspectiva do cientista social Erving Goffman, para quem os
indivíduos usam estratégias de “elaboração da face”, expressas por intermédio de suas
ações, para transmitir uma idéia acerca de si mesmo e do outro. Desde Simmel, ficou
demonstrada a relação entre esta operação performática e o sistema econômico
determinante
das
relações
sociais
na
sociedade
moderna
capitalista.
Nos
relacionamentos, a monetarização da vida, a impessoalidade e a universalidade do valor
dinheiro passam a minar vínculos de parentesco, pois a moeda “indaga apenas por
aquilo que é comum a todos", equivalendo o espírito moderno a "espírito contábil"
(SIMMEL: 2005:579, 580).277
Pois as mudanças por que passa G.H. impõem a ela a revisão de preconceitos
sociais, de esquemas de leitura de si e do outro; de coordenadas pelas quais estruturou a
autoimagem, a sua identidade, seu modo de lidar com afetos e administrar a inserção
social - em suma, revoluciona parâmetros existenciais consolidados.
Só que a ótica naturalizada que tem de si mesma e o exercício cotidiano e
internalizado do poder dos mais ricos sobre os mais pobres serão virados de cabeça para
baixo. As medidas que pautavam e regulavam a dinâmica de relações sociais
hierarquizadas e que estabeleciam o raso mundo classificatório da classe média e alta
brasileiras se dilatam e se dissolvem com a intensidade de vulcão. “Enfim, enfim
quebrara-se realmente o meu invólucro, e sem limite eu era”. (p.216) [ grifo nosso]
Os frames que ela acionava para lidar com o mundo passam a não funcionar
mais; daí invocar, para tratar de sua nova condição, termos como organização, “forma”
e similares, que têm lastro tanto na filosofia, quanto na história da arte. E confronta
campos semânticos: forma, modelo, rigidez, mediania, justa medida; informe, flexível,
fluido, desmedida, inominado.
Ao fixar a forma enquanto expressão discursiva do sujeito em suas relações com
o espaço e os objetos, aliam-se as abordagens cultural e plástica. Neste caminho, abrese a compreensão dos objetos também no contexto da sociedade de consumo, pautada
pela substituição contínua de bens. A arquitetura e o design tornam-se cúmplices desse
277
SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida do espírito. Mana, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2. p. 577-591,
out. 2005. Apud http://www.revispsi.uerj.br/v11n3/artigos/html/v11n3a08.html
158
processo ao estabelecerem uma semiologia que discrimina e orienta comportamentos
através da aparência formal, e instaura sistemas de controle a partir daí.
Por isso, as formas, do modo como se estabelece em G.H., dizem respeito aos
objetos e ao espaço onde o corpo se movimenta e os interpreta, a partir da concepção e
dos usos norteados por biografias individuais e coletivas. O objeto, na dinâmica da casa,
instaura a sua própria classificação, mesmo que decalcada de modelos sociais
imperativos, como tendências e força da moda.
A luta de G.H. se dá entre polos extremos: de um lado, o estável que se tornou
estagnado, sem vida, solidificado, premarcado; de outro, a utopia de (não) formas, do
informe, daquilo que se apresenta sem fixidez ou hierarquias, na fronteira entre o nome
e a “ausência de”, no intervalo de probabilidades entre um número e outro, subversão de
organizações prévias de espaço e da temporalidade cronológica determinista. (“O único
caminho viável é viver e correr o sagrado risco do acaso. E substituir o destino pela
probabilidade”).
Por isso, o percurso proposto para compreender a experiência da personagem
parte de sua organização inicial em forma “idealizada”, encarnada em objetos
selecionados criteriosamente, ordenação do tempo, modelagem do espaço, habitus – que
dão visibilidade a uma estrutura (aparentemente) sólida e autônoma: “nessa pessoa
organizada eu me encarnava, e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que
era viver”.
Como a narrativa é em flash-back e a identidade se revela aos poucos e
fragmentadamente, os planos temporais estão contaminados pela memória retrospectiva.
Embora admita que separar as diferentes instâncias da mesma G.H. seja um artifício,
distingo três momentos da personagem, e a partir de cada um deles identifico estágios
sempre provisórios de sua construção identitária, conectada à “cultura material”.
Com base em palavras e expressões usadas pela narradora, relaciono a G.H.
anterior ao rito de passagem, em meio ao qual irrompe a catástrofe,
à ideia de
invenção, de invento (falsa representação, dualidade, violência dissimulada, vivência,
cronologia); a segunda G.H., à criação (tensão unidade e multiplicidade; violência
exteriorizada, experiência, processo de renovação de linguagem lida através de
expressões da arte contemporânea); por fim, a G.H. narradora, G.H. da enunciação, no
159
encalço da renovação de si na linguagem, tentativa de – figura descontruída - fixar
materialmente numa voz autoral, transcender a escrita para oralidade, quando a escuta
em voz alta de si mesma aciona o cogito e tenta nova dimensão temporal.
6.1. O INVENTO
O espaço em que transcorre a aventura de G.H. é um apartamento típico de
classe média alta. A cidade está mudando, conforme a onda desenvolvimentista que
favorece um segmento da classe média economicamente em ascensão. Agora não
apenas as mansões, mas edifícios se tornam indicadores de status social, como os que
vão sendo construídos na orla de Copacabana e do Leme.
Desde a década de 1940 a urbanização nesta área da Zona Sul se intensifica,
impulsionada pela mudança do teto máximo para a construção de prédios, passando de
oito para doze andares. Com centros de comércio e de lazer próprios, a população de
Copacabana dobra em apenas vinte anos (1945 a 1965), estimulada também por obras
de túneis que beneficiam o acesso à região.
A acelerada industrialização do Brasil nas décadas de 60 e 70 inclui a projeção
do apartamento como símbolo da classe média e alta nas metrópoles278. Seguindo
Regina Meyer (apud Aleixo) “o crescimento vertical e a organização de novas funções
criou simbólica e concretamente um papel diferenciado, prestigioso e dominante para o
centro da metrópole”. A tecnologia comprometeu-se com os arranha-céus. Arquitetos
em São Paulo e no Rio definem uma concepção renovadora de grafismo geométrico e
racionalidade, mas não alavancam a reflexão social, pois não apresentam “inovações na
forma de organizar o espaço interior”, mantendo a lógica familiar patriarcal e o modelo
estratificado de trabalho, com separação entre entrada principal e de serviço. As duas
278
ALEIXO, Cynthia Augusta Poleto. Edifícios e galerias comerciais: arquitetura e comércio na cidade de
São Paulo, anos 50 e 60. Universidade de São Carlos, 2005.
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18131/tde-07012007-201920/
160
capitais indicam “o controle e a produção do espaço verticalizado coletivo pelas mãos
dos agentes empreendedores”.279
A distinção socioeconômica da localização se repete na estrutura interna do imóvel.
A geografia espacial da casa designa de forma discriminatória, na disposição das peças, o
local do trabalho e do lazer, de circuito familiar e também da vida social; e determina a
divisão de classes e os papéis sociais, pela localização dos quartos de empregada na área de
serviço e o tamanho diminuto dos mesmos, em contraste com o resto. Repete-se o modelo
de habitação burguesa do oitocentos, em escala reduzida (sala, dois ou três dormitórios,
banheiro e cozinha, dormitório e banheiro de empregada). A constituição de arranha-céus
reorganiza o olhar, para os que transitam nas calçadas e para quem observa do alto a
movimentação pelas ruas. Mudam o campo e a extensão da visão: debruçar-se à janela de
um prédio e olhar para fora altera a panorâmica, misturam-se odores e mesclam-se os
ruídos de fora e os de dentro da casa.
O apartamento de G.H. localiza-se em lugar nobre da cidade e propõe, na
distribuição interna, categorias segmentadas: de um lado, a parte em que circulam os
proprietários ou locatários; de outro, a área dos serviçais, nos fundos, ou como diz a
narradora, na “cauda”. Deixa clara, nas configurações espaciais, a separação de classes
sociais, inclusive o fato de plantar uma acomodação de doméstica, de modo a ter a
empregada disponível vinte e quatro horas por dia, e preservar o espírito de praticidade
associado à mentalidade burguesa: “O que eu estava vendo naquele monstruoso interior
de máquina, que era a área interna de meu edifício, o que eu estava vendo eram coisas
feitas, eminentemente práticas e com finalidade prática.” (p.39)
Sob o rótulo de organização, eis a cínica tolerância com o outro e a
incomunicabilidade entre duas esferas sociais. A narradora, após ter passado pela
experiência de ruptura, a associa o termo “invento” (em oposição a “descoberta” e a
279
“Pilotis, brise-soleil, panneaux de verre eram elementos constantes de edifícios produzidos por
arquitetos renomados como Oscar Niemeyer (Edifício Copan – 1951/1952), Abelardo de Souza (Edifício
Nações Unidas – 1953), Adolf Franz Heep (Edifício Lausane – 1953), Plínio Crocce, Roberto Aflalo e
Salvador Candia (Edifício João Ramalho – 1953), Jacques Pilon (Edifício Paulicéia – 1956). Grandes
referências da arquitetura modernista brasileira foram erguidas nos anos de 1950 e 1960, no que diz
respeito à plástica e às soluções técnicas usadas nos edifícios. É, no entanto, curioso notar que quase
nenhum dos apartamentos construídos apresentava inovações na forma de organizar o espaço interior”.
[grifos nossos] VILLA, Simone Barbosa. “Um breve olhar sobre os apartamentos de Rino Levi: produção
imobiliária, inovação e a promoção modernista de edifícios coletivos verticalizados na cidade de São
Paulo”. In: Revista Arquitextos, ano 10, jun. 2010.
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/297
161
“criação”) ao estado de coisas em que vivia até então. Perturbada pela experiência e,
mesmo assim, não querendo interrompê-la, pede: “E que eu tenha a grande coragem de
resistir à tentação de inventar uma forma”. Ou ainda:
não pertencesse eu por dinheiro e por cultura à classe a que pertenço, e
teria normalmente tido o emprego de arrumadeira numa grande casa de
ricos, onde há muito o que arrumar. Arrumar é achar a melhor forma.
Tivesse eu sido empregada-arrumadeira, e nem sequer teria precisado
do amadorismo da escultura; se com minhas mãos eu tivesse podido
largamente arrumar. Arrumar a forma? (p.36)
Arrumar é um modo de tolerar o que não se entende ou não se quer entender;
mas, ao escolher essa atividade como sistema de vida, haverá sempre à espreita uma
sobra, uma sombra, como a luz trágica da mnemosine grega.
Para entender de que modo o invento foi apropriado pela autora, vale ir além de
sua origem etimológica (de invenire, formado por in, “em”, mais venire, “vir”, achar).
Retomo, de forma resumida, a excelente compilação sobre o histórico do termo, feita
pela cientista social Beatriz Scigliano Carneiro280, em artigo sobre José Oiticica Filho,
pai de Helio Oiticica.
Inventio acumula os sentidos de procura e descoberta de meios e elementos
eficazes para o convencimento. Cabe à invenção – como no inventário - refazer o jáexistente, tanto que Barthes afirma que “a invenção é uma noção mais extrativa do que
criativa”281.
A inventio reenvia menos para uma invenção (dos argumentos) que para
uma descoberta: tudo existe já, apenas é necessário reencontrá-lo: é uma
noção mais extrativa do que criativa. Isto é corroborado pela designação
de um lugar (a tópica), de onde podemos extrair os argumentos e de
onde é necessário reconduzi-los (1987:51)
Com o tempo, criou-se uma dicotomia entre a invenção imitativa (baseada em
combinações) e invenção poética imaginativa (que ativa e garimpa a memória). Desse
modo, o conceito de imaginação começa a escapar das asas da invenção e se articula
280
CARNEIRO, Beatriz. Uma inconsútil invenção: a arteciência em José Oiticica Filho. In: Ponto-eVírgula.
Revista
de
Ciências
Sociais,
6:
107-146,
2009.
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/14026/10340
281
A classificação é uma dos recursos mais usados na retórica, como ironiza Roland Barthes: “O mais das
vezes, no entanto a obsessão por classificar implica uma opção ideológica: há sempre uma aposta em
nome das coisas: dize-me como classificas, dir-ti-ei quem és.” BARTHES, Roland. A retórica antiga.
Memorandum. In: A aventura semiológica. Lisboa: Edições 70, 1987:51
162
com a noção de criação, transposta das ações divinas para as do homem. No século
XIX, a invenção se vincula à ciência e a tecnologia. A imaginação, solta da invenção,
alia-se por sua vez à reação romântica ao mundo industrial. A “criação” leva ao espaço,
utópico, imaginoso, com fábulas maravilhosas.282
Inventio contrasta também com a noção de descoberta, que conota o espontâneo
(“na infância as descobertas terão sido como num laboratório onde se acha o que se
achar? Foi como adulto então que eu tive medo e criei a terceira perna?” p.10); já a
invenção demarcaria um projeto de racionalidade existencial, aproximando homem e
máquina, prédio e esquife, tangenciando o mecânico. Daí a autoironia de G.H. ao se
referir a seu estágio anterior usando os termos “montagem humana”. Graças a um
controle já automatizado (“não sei me entregar à desorientação”) ela tocava a vida.
“Mas era desse não-bom que eu havia organizado o melhor: a esperança.” Ela institui
uma temporalidade linear com a palavra esperança.
tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada,
já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e
cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo
tamanho da visão de meus olhos. (p.12)
uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma
invenção.(p.33)
A decoração da casa, que deixa entrever um pensamento minimalista, compõe
com o tipo de divisão do espaço e o sistema regulado de vida. A fórmula “menos é
mais” - sem excesso de volumes, texturas e padrões, o “essencial” – dominava as
revistas de decoração da época, como equivalentes de bom gosto e eficiência,
concebidos com precisão mecânica283.
Na casa de G.H., a rarefação de objetos sugere um ambiente clean, no limite do
asséptico, compondo com a própria personagem uma impessoalidade estudada (“sempre
282
Mas, na mesma época, críticos de arte, escritores e outros artistas acrescentam à imaginação a ideia de
esforço quase artesanal de produzir obras de arte. Começou o emprego da palavra “produção”: produção
literária, produção artística, para resolver problemas de forma e expressão na arte, procedimento que
caracterizava antes a atividade prática dos inventores.
283
Clarice, inteirada das tendências nos anos 50 e 60, certamente conhecia o minimalismo, desenvolvido
em Nova York e inspirado nos projetos arquitetônicos da Bauhaus. As palavras chaves eram: limpeza,
sobriedade, estruturas simples geométricas e modulares, identificadas a requinte e despojamento.
163
respeitei a beleza e a sua moderação intrínseca.”), repetindo um valor ideologicamente
arraigado nas classes média e alta brasileiras desde o ideário republicano, que usou a
higiene como prática coertiva e discriminatória (“Esse modo de não ser era tão mais
agradável, tão mais limpo”; “sou uma mulher de espírito. E de corpo espirituoso. À
mesa do café eu me enquadrava com meu robe branco, meu rosto limpo e bem
esculpido, e um corpo simples.”). O movimento higienista, que compreendia a
desorganização social como causadora de doenças, orientou o discurso de profissionais
da saúde e da educação, associando-se à ideia de eugenia. Como poderia ela imaginar
que Janair lhe preparara um quarto de empregada tão claro e tão limpo?
Tudo revela o enquadramento de G.H. a um modelo de viver cauteloso,
autocentrado (fotos de si mesma, valise com iniciais de seu nome) e com pretensões de
sofisticação: “esta casa onde em semiluxo eu vivo”; “a claridade que nasce de um
desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo sem saber eu me propunha”. O
arcabouço social sustenta a “vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida.” Os
advérbios modais relativizam seu comprometimento, uma “forma”/ um modo de ser que
evita os extremos, o categórico: “distraidamente”, “amistosamente”, “ligeiramente”.
Eu me atardava à mesa do café, fazendo bolinhas de miolo de pão - era
isso? Preciso saber, preciso saber o que eu era! Eu era isto: eu fazia
distraidamente bolinhas redondas com miolo de pão, e minha última e
tranqüila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com um afago,
eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípido e feliz da liberdade.
Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras, e ter
consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade
aprazível, o que nunca excluiu um certo sentimento irônico por mim
mesma, embora sem perseguições./grifos nossos/ (p.24-25).
A boa condição financeira de G.H. é dada já na autoapresentação. Os objetos e
o lugar em que vive comunicam seu status - convidam a estabelecer uma homologia
entre o que mostra, o que deixa visível e o que é. As coisas externalizam - a vida social
burguesa assim o exige. O doméstico é o domesticado.
6.2. A CRIAÇÃO
164
Durante as horas de perdição tive a coragem de não compor
nem organizar. E, sobretudo a de não prever. (p.14)
A montagem teatral de A paixão segundo G.H., dirigida por Enrique Diaz, a que
assisti em 2002, no CCBB, invocava duas outras expressões cênicas: a performance e a
instalação. O público era levado a se deslocar de um espaço a outro e depois a outro, e,
embora se percebesse uma progressão dramática, não se prendia a uma clara linha
temporal, uma vez que conservou da narrativa original o vaivém entre o momento
presente do relato e a memória do acontecido.
O primeiro espaço era a instalação de um closet em semiobscuridade, com
objetos pessoais espalhados. O público ali penetrava e se sentava em cadeiras e
pequenos bancos dispostos desordenadamente enquanto ouvia a atriz G.H. murmurando
o primeiro parágrafo do livro (“estou procurando, estou procurando”).
Em dado momento, a atriz G.H. sinaliza que a sigam e todos entram em um
corredor, adornado com elementos do universo da personagem indicados na obra: um
artefato de uso diário, como a xícara (de seu café da manhã); outro, referindo-se à
escritora (livros); e, ainda, um peixe fossilizado, metáfora da personagem barata (“Era
uma barata tão velha como um peixe fossilizado”). Ali se assiste de pé ao relato de G.H.
até ser conduzido, afinal, ao terceiro e último espaço e ter a surpreendente “visão de um
quarto que era um quadrilátero de branca luz”. Lá cada um se senta em alguma das
cadeiras que margeia as paredes da sala branca, praticamente vazia no meio, formando
um quadrado de assentos. A atriz, também sentada no começo, meditando sobre o
acontecido, depois de um tempo se levanta e se dirige à plateia, partilhando com outras
presenças seu desconcerto, até que em dado momento entra no armário, que a engole e
depois a cospe.
Neste momento, projetam-se, em uma atmosfera de quase alucinação, imagens
dela mesma em fusão com a barata. A interpretação corpo-palavra ou palavra através
do corpo vai se ampliando, a apresentação torna-se cada vez mais sensorial, até assumir
novamente a forma de outro vídeo com imagens em fragmentos da atriz. A experiência
da exposição do eu, do abismo do eu está nesses registros visuais, ou na voz em off da
atriz, até o momento em que, já em anticlímax, recolhe objetos que deixados no chão,
165
desaparece pelos corredores, embora o público a continue ouvindo, até que retorna e
termina o espetáculo.
A importância de trazer a bela e tocante adaptação conduzida por Diaz e seu
grupo é que ela se conjuga à orientação que proponho para interpretar a construção da
obra (ou obra em construção) e a personagem mulher que se lanha com a fratura da
linguagem, graças a um árduo trajeto que estilhaça os recursos de que se valia para
sustentar o dia a dia. Chegar ao quarto de empregada terá sido abrir uma picada em
meio à mata, escalar uma montanha, só que dentro da própria casa, como se estrangeira,
obrigando-a à releitura de si e de seu habitat.
O “distrair-se”284 pressupõe estabelecer nexos diferentes com a realidade, assim
como o deslocar-se, que indica especificamente a participação do corpo no processo.
Seguindo Rodrigo Duarte (2010), “deslocamento é uma chave de leitura para parte
significativa das manifestações estéticas contemporâneas”.
Se tomarmos a palavra “estética” no sentido amplo do termo, isto é,
como algo que abrange tanto a percepção do mundo quanto a
interpretação dos produtos da percepção, não será exagero dizer que nós
vivemos na era dos deslocamentos estéticos. Já não há fronteiras fixas
que delimitem, no campo das manifestações que usualmente são
chamadas de “arte”, em sentido estrito, o que é o solo próprio, a terra
natal, de cada arte.285 (p.3)
Deslocar, do latin atim des-, significando “fora, ação reversa”, mais locare,
“colocar”; de locus, “lugar”, que vem de “passar”, do latim passare, “pisar, caminhar,
passar”; de passus, “passada, ritmo da caminhada”. Relaciona-se com o verbo pandere,
“espalhar, esticar (a perna)” da raiz Indo-Européia pete-, “espalhar”.286 Prevê, assim, a
reordenação. E uma “deformação”: “já deformado nas suas linhas de perspectivas”, pelo
grau de concentração e atenção que demanda. Deslocar ou deslocar-se é “um modo
artístico de viver, no sentido da recomendação feita por Nietzsche de tratar a própria
284
FUKELMAN, Clarisse. “Escrever estrelas (ora direis)”. In: LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela.
Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988.
285
“A representação”. Congresso internacional Deslocamentos na Arte, Cd. Organização do CD: Rodrigo
Duarte e Romero Freitas http://www.abrestetica.org.br/deslocamentos/deslocamentos.pdf
286
http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/deslocamento/
166
vida como obra de arte, como experimento estético”.287 Ou, ainda com Rodrigo Duarte
sobre a ausência de fronteiras fixas separando “obras de arte” e “experiências estéticas
cotidianas”:
surgem novas formas de reflexão com a arte e na arte, novas formas de
teoria e experimentação com a teoria e na teoria. Talvez não haja
melhor forma de designar o processo de acelerada transformação da
percepção e do pensamento estéticos do que o título de um livro do
poeta romeno-alemão Paul Celan, publicado pela primeira vez em 1955:
ao contemplar a paisagem estética contemporânea, passamos
constantemente “de limiar a limiar” (Von Schwelle zu Schwelle)
(idem:3)
Defendo, ao invés de me fixar na ideia místico-religiosa de epifania, ou de
colocá-la em primeiro plano, a possibilidade de entender o deslocamento físico e o
aprendizado de novos códigos de compreensão e sentimento do mundo por parte de
G.H. como uma radical experiência artístico-criativa que: desorganiza o sentido habitual
e diretivo de um espaço consolidado como modelo de lar e de projeto de vida; rompe
com o utilitário e com o tempo regular e cronológico, assemelhando-se a ações
performáticas e a propostas de instalação no campo das artes visuais e seus pretendidos
efeitos sobre o espectador; revira ao avesso a linguagem levando ao ímpeto e ao
desnorteamento da nomeação; subverte a temporalidade.
A perturbação quase alucinatória de G.H. assume um movimento imagético com
base no jogo de pesos, encolhimentos, dilatações, dissoluções, referido na introdução:
“se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se
transformar para eu caber nele”; “Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande
dissolução?”; “era o meu modo sadio de caber num sistema.”; “vou para a enorme
ausência de forma que é o sono”; “eu que sem a tua mão me sentiria agora solta no
tamanho enorme que descobri.”; “É mais do que não gostar de baratas: eu não as quero.
Além de que são a miniatura de um animal enorme.”
Assinalo, e repetirei algumas vezes no decurso desse bloco: trata-se apenas de
trazer, como filtro de leitura para entender a experiência criativa de G.H., alguns dados
contextuais e biográficos concernentes a intervenções artísticas cujas propostas
envolvam a participação corporal do espectador, provocação intensa que o leve a se
287
Apud BRANDÃO, Ludmila. Deslocamentos contemporâneos: notas sobre memória e arte. In: Cienc.
Cult. vol.64 no.1 São Paulo Jan. 2012 Disponível em:
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252012000100020&script=sci_arttext
167
repensar. É uma escolha, um ato de liberdade permanecer ou ir até o fim, como a
personagem fez.
À sua revelia, sem saber exatamente o que ia acontecer e, em seguida, o que
estava sucedendo com ela, G.H. atuou como numa performance. Por uma classificação
topológica “a performance se colocaria no limite das artes plásticas e das artes cênicas,
sendo uma linguagem híbrida que guarda características da primeira enquanto origem e
da segunda enquanto finalidade”.288 (COHEN:1989. p.26); propõe atuação in loco;
espaço e tempo se fundem na presença do acontecimento criativo.
Celso Favoretto289 pondera que, “se o desígnio da arte é a conversão do real em
imaginário, o desejo da arte dita contemporânea é o de introduzir o imaginário no real,
algo que o projeto moderno parece ter querido banir.” (p.65). Obviamente, não significa
pretender que G.H. tenha elaborado uma obra de arte, e sim que vivenciou uma
experiência, senão artística, criativa, que, ao mesmo tempo, abole e confronta o banal, o
raso, o primitivo. Por esta perspectiva, invoco, como parâmetro interpretativo,
expressões tridimensionais no campo das artes visuais e cênicas que demandam
deslocamento: as referidas performance e instalação. Penso a possibilidade de um
indivíduo experimentar este impacto no próprio ambiente doméstico, sendo levado a
subverter repetições mecânicas, previsibilidades, cegueira perceptiva. Processo calcado
na interação entre sujeito, objeto e espaço em que são expostos, agora realizado de
forma mais radical, no reduto mais íntimo, intenso e devastador: a própria casa. Esse é
o pacto de leitura que proponho, evocando o depoimento de Santos, na escolha de
extratos da obra de CL: “possibilidades sêmicas de um texto, incluindo aí seus restos,
suas respirações, seus tempos mudos.”290
Nesse rumo, endosso a observação do artista plástico Ricardo Basbaum
(1995:4)291 de que “o desafio de abordar a arte sem a segurança de uma categoria é ter
que buscar sua razão de existência em um outro lugar”, e a amplio para operações fora
288
COHEN, Renato. Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989.
FAVARETTO, Celso F. Deslocamentos: entre a arte e a vida. ARS (São Paulo), São Paulo, v. 9, n.
18.
290
SANTOS, Roberto Corrêa. Entrevista “As palavras de Clarice”. Blog do IMS, em 3/12/2013.In:
http://www.blogdoims.com.br/ims/as-palavras-de-clarice-quatro-perguntas-para-roberto-correa-dossantos
291
Apud NARDIN, Heliana Ormetto. Objeto e Instalação – Itinerários de criação e compreensão em
artes plásticas. ACESSADO em http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/E-agoraRicardo-Basbaum.pdf
289
168
dos tradicionais campos de legitimação, como o museu, as galerias etc., sempre
guardando a ideia de que, para admitir se transitar no território da arte” (ou mais
modestamente no território da criação), deverá haver uma “inserção diferenciada diante
de outros objetos do cotidiano” e implicar questões culturais e sociais nesse tipo de
deslocamento.
6.3 DESVIO PARA DENTRO
Antes de prosseguir com a interpretação do romance, e no intuito de dar mais
fundamentos ao presente argumento, pontuo brevemente alguns dados biográficos da
autora e remissões em sua obra ficcional às artes visuais: personagens com vocação para
a pintura (Ana, Angela e Joana: esta última, segundo Benedito Nunes, levada a “um
constante esforço de expressão artística, a um afã de conhecimento e de criação sempre
renovável e deficitário” p.98292); títulos de quadros usados em obras que pintou; texto
sobre Klee; reiteradas referências a Chagall; exercícios de pinturas abstratas no final da
vida; equiparação de
escritores e artistas plásticos a quem admira: “...Érico
Veríssimo......Kafka... ...Julien Green......Van Gogh....” (CPC:82).
Clarice sempre apreciou arte e frequentava exposições. Como se lê nas cartas
para Fernando Sabino, a autora frequenta museus (“fui de novo ao museu Rodin, ao
Louvre”; “uma exposição enorme de Van Gogh, uma beleza.”; “Fomos há pouco ver
uma exposição de pinturas holandesas, de Van Gogh pra cá”. (pp. 80,82,91).
Desenvolve reflexões sobre cinema e teatro (repertoriadas notadamente na carta de
8/02/47) nas correspondências para familiares e amigos, com menção a artistas que
gravitam no mesmo círculo, convívio que resultava também em mútua influência.
Dentre eles, os escultores Alfredo Ceschiatti e José Pedrosa; e a pintora Maria Bonomi,
de quem torna-se amiga em 1958.
Desde a volta definitiva ao Brasil, a escritora acompanha o movimento artístico
no Rio de Janeiro e participa dos debates acalorados acerca do lugar do artista e do
292
NUNES, Benedito. “Clarice Lispector ou o naufrágio da introspecção”. In: Remate de Males.
no. 9. Campinas: Unicamp, 1989.
169
intelectual na sociedade e da questão da “representação”. Escreve a respeito da obra do
escultor Gastão Manuel Henrique293, claramente envolvido com “a organização formal e
espacial das obras e seus procedimentos” e que participou de exposições da
neovanguarda. Ferreira Gullar, por ocasião de exposições na Petite Galerie e Thomas
Cohn Arte Contemporânea, faz a apresentação dele na revista “Isto é” de 18 de abril de
1984:
Gastão Manoel Henrique, artista surgido na década de 50, traz a marca
dessa época de experimentação e procura. De lá pra cá, desenvolveu sua
linguagem abstrata, que veio das formas geométricas rigorosas dos anos
60 às obras de hoje, em que o rigor da geometria se junta à
espontaneidade controlada das formas curvas e onduladas.294 (Apud
GREGATO:16)
Com o tempo, além da geometria295, o artista se interessa por experiências
surrealistas e metafísicas. Gregato compara De Chirico (que pintou o retrato de
Lispector na Itália) à obra de Gastão na década de 60, pela “geometria sem rigor formal,
traços iniciais de sua produção própria que viria a vigorar nos próximos anos”. A
relação entre orgânico e construtivo persistiu até meados da década de 1990: capta
“paisagens urbanas vazias que procuram retratar os aspectos mágicos e íntimos dos
objetos, isolando-os do seu contexto normal e imbuindo-os de uma aura enigmática,
característica da pintura metafísica.” (Idem:40)
As composições de Gastão a partir de objetos e outros tipos de material resultam
em expressões que sugerem religiosidade. Naves mostra que tal característica está
presente na fase inicial da obra de Farnese de Andrade, que ele associa à de Lucio
Cardoso, Cornélio Penna e Clarice Lispector. Objetos recolhidos ao lixo - armários,
fotografias, lentes de vidro, bonecas e oratórios - resultam, em Farnese, em materiais
293
LISPECTOR, Clarice. Catálogo da Exposição Óleos Relevos, realizada na Petite Galerie em junho de
1964
294
GREGATO, Marcia Elisa de Paiva. Estudo da obra de Gastão Manoel Henrique : uma hipotese sobre
as suas diferentes fases. Campinas, Instituto de Artes, Unicamp, 2009. Disponível em
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000476308
295
Sólidos e volumes, ou seja, a terceira dimensão era o assunto que mais o atraía. Uma série de pinturas
em tela, com tinta industrial utilizando poucas cores com predominância do preto, branco,
vermelho,cinzas e ocre, nas quais se observa uma estrutura geométrica de largos gestos, impostos pelo
tamanho das telas, cujo resultado embora pareça ou se aproxime do informal, já demonstra rigor
construtivo e geométrico.
170
religiosos que, segundo Clarice Lispector, também definem os trabalhos da primeira
fase de Gastão.296
Outros aspectos unem Lispector às produções e discussões artísticas
contemporâneas. A convocação de um leitor ativo é similar à convocação do espectador
participante, por artistas da Nova Objetividade Brasileira, caso de Lygia Clark e de
Hélio Oiticica. Aproximam-se na defesa de uma linguagem artística que desestabilize a
confiança na realidade mimética, como a interatividade provocativa das instalações.
Estavam Clarice Lispector e Helio Oiticica, lado a lado, na Bienal de São Paulo,
motivados por outra discussão na década: a relação entre artista e a sociedade. Ele, com
o Seja marginal, seja herói. Lispector aparecia com depoimento gravado em 1977 a
respeito de seu texto Mineirinho (trecho da entrevista feita para Gastão Moreira, pela
TV Cultura): “Mataram Mineirinho com treze tiros, quando bastava dar um”, depõe ela,
que certamente encamparia o elã ético invocado por Oiticica: a homenagem feita a Cara
de Cavalo denuncia uma "sociedade que marginaliza e mata", e que precisa passar por
uma "reforma social". Cara de Cavalo, anti-herói que morre sem ser lembrado297.
No seio dessa ebulição cultural surge na década de 1960 o termo “instalação”
que, sumariamente, designa a operação artística em que o entorno não é apenas suporte
para colocar uma obra; torna-se parte constituinte dela298. Segundo Cristina Freire299, a
obra não ocupa o espaço - ela o reconstrói criticamente e a sua estrutura impede a
engrenagem do mercado burguês, por ser contingente e por ser configurada para o
ambiente público, e não privado (o “ter em casa”).
A instalação resulta de
transformações nos projetos esculturais, conforme a professora e artista plástica Anna
Barros:
a escultura como representação (introduzindo a forma autônoma com
Tatlin) e a eliminação da base (abolindo a separação entre o real e o
virtual, com Brancusi). Mais adiante os ready-made de Duchamp levam
a escultura a perder seu aspecto fechado, passando a fazer parte do
296
NAVES, Rodrigo. “A Grande Tristeza”. In: Farnese de Andrade. São Paulo: Cosac & Naif Edições,
2002, p.21.http://www.germinaliteratura.com.br/especial_cincomineiros_farnese.htm
297
A obra Homenagem a Cara de Cavalo é uma caixa envolta por telas, com as paredes internas cobertas
por fotos do rapaz assassinado
298
O termo é incluído no dicionário Oxford em 1969.
299
FREIRE, Cristina. Arte Conceitual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
171
contexto que a rodeia. (BARROS, 1992)300
A organização espacial, na relação ambiente e peças, propõe “suscitar reações
específicas no observador, alterando sua experiência de tempo-espaço” porque “trata de
abranger o ser em sua complexidade sensorial, psíquica e intelectual, tendo como vias
de absorção, junto à visão, a sinestésica e a háptica”. (idem:25)
A instalação agencia objetos e elementos que, embora independentes entre si,
perfazem um todo; realizada em condições específicas, leva em conta conflitos que
podem surgir entre a obra e o espaço ao redor. Situada entre a escultura e a arquitetura,
pode ser construída in situ, ou seja, na relação com o espaço arquitetural ou natural e
unicamente deste. A palavra designa também a obra assim obtida.
Ora, para G.H., que cultiva a escultura como hobby e que, em sua prosaica
modelagem com a sobra de miolo de pão, busca o geométrico, o percurso até o quarto (e
invoco a montagem de Enrique Diaz) e tudo o que vem junto é arrebatador. A
experiência dela funda-se no deslocamento em diferentes níveis sem, entretanto, sair do
espaço que é o mais seu: a sua casa. E nesse movimento reata bruscamente com modos
de comunicar consigo mesma e com o seu entorno, elementos que já lhe passavam
despercebidos, de tal modo aderidos ao corpo de quem o tem e o vê cotidianamente.
A patroa escultora confronta a empregada desenhista.
Os objetos do quarto-exposição de Janair, diferenciadamente da escultura e da
pintura que G.H. ostenta nas paredes e prateleiras de sua casa, tornam-se subitamente
“híbridos”: numa instalação, objetos somam-se a outros materiais e a outros objetos
iguais, semelhantes ou diversos, sem hierarquias quanto ao tipo de material, pouco
interessando se é cimento ou mármore. Segundo Nardim, podem apresentar soluções
provisórias “ou serem deslocados simplesmente do espaço do cotidiano para o espaço
das artes, quando adquirem nova visibilidade, pois recorrem à memória, à percepção e
ao projeto formal de uso e apreciação deslocada e, portanto, diferenciado do
300
BARROS, Ana. A percepção espacial como arte: instalação. APG Revista da Associação dos Pósgraduandos da PUC/SP. Ano 1, nº 1, 1992. Acessado através de https://pt.scribd.com/doc/145481687/APercepcao-Espacial-Como-Arte-Instalacao-Anna-Barros
172
habitual.”301 (NARDIN,2004: p.10)
Os objetos passam a indicar o que se é, o que não se é, o que poderia ser, o que
poderia ter sido. O que era morto, pelo uso cotidiano e repetitivo dos gestos, revigorase em um novo dizer. E assusta. O objeto funcional, assim como o espaço e seu
entorno, agita uma inquietude inédita. Objetos e espaço tornam-se narradores - o que
contam e de que modo o fazem depende de G.H., que aceita a ruptura com o prémoldado de sua residência, e a relação com o tempo agora dilatado. Lembro-me, a
propósito, da exposição de fotografias no IMS do Rio de Janeiro, em 2013, chamada
“Lugar comum”302: eram obras figurativas de oito artistas brasileiros cujos trabalhos
mostram lugares, cenas e imagens que poderiam ser facilmente ignorados, como um
pano de fundo sem importância. Cenas triviais mostravam-se estranhas. Apesar de certa
retórica da neutralidade suscitavam uma percepção poética do inútil. Traziam, como diz
a curadora Heloisa Espada a propósito de Marina Rheingantz, uma “potência
expansiva”. Ao mesmo tempo comum e intangível.
O confronto entre o ofício diletante de G.H. com suas esculturas e o desenho de
Janair comporta uma discussão social e política. De imediato, a dona de casa, artista
nas horas vagas, se revolta com o poder autoinstituído pela doméstica e com a utilização
de uma propriedade dela, a parede do quarto, como elemento de criação de uma
“estranha no ninho”. Janair troca o papel de executora, que lhe seria destinado por sua
condição social, e assume o papel de criadora.
O choque com o desenho de Janair coloca em questão algo que está contido na
prática artística à moda de G.H., descomprometida com nada além do fortalecimento da
autoimagem e do “preenchimento” do tempo. Esse verniz artístico integra um
condicionamento social para ler o mundo mediante ditames, que são também fixados
pela arte.303 Conforme Marcio Seligmann-Silva, sobre moldes identitários: “se o homem
atua no mundo a partir da constante interpretação do mesmo, esse processo de leitura é
301
NARDIN, Heliana Ometto. Objetos itinerários de criação e compreensão em artes pláticas. Tese de
doutorado. Campinas, Unicamp, 2004 http://www.nupea.fafcs.ufu.br/atividades/1-ERRAE-e-4SRAEA/RELATOPESQ/1-ERRAE-e-4-SRAEA-RELPES%20_8_.pdf
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000321630
302
Ana Prata, Celina Yamauchi, Lina Kim, Luiza Baldan, Marina Rheingantz, Rodrigo Andrade, Rubens
Mano e Sofia Borges
303
Sobre princípios de legitimação, leia-se HEINICH, Nathalie. A sociologia da arte. São Paulo:
EDUSC, 2008.
173
guiado por uma gramática das formas que é em grande parte gerada pelas artes”. A essa
prática ele chama de ontotipologia, tipos e formas “pensados como identidades
autônomas e fechadas”, que instauram um modo de pensar inimigo do ‘outro’, “incapaz
de perceber a identidade como jogo de diferenciação, como falta e não como condição
ôntica e fechada do ser.” Envolve julgamentos estéticos; impregna juízos éticos e
políticos também.304 (p.271)
Diversos são a arte e o pensamento que não endossam de modo subserviente
“essa máquina de formas e de tipos, e que sabotam “hábitos de julgar e de repetir
identificações de modo mecânico”. Ele cita como exemplos Baudelaire, Duchamp,
Kafka, Benjamin, Francis Bacon, Derrida ou Beckett, em cujas obras se vislumbra “o
Eu como jogo de máscaras, como impossibilidade de identidade”.
A dona da casa habituada a transitar entre objetos organizados dentro de uma
sintaxe funcional, visualmente coesa e previsível, vê rompida a relação de um objeto
com outro, de cada objeto com a sua precisa localização em um cômodo determinado,
sofre total subversão, tal mudança devido ao reposicionamento do sujeito e à quebra de
previsibilidade baseada em funções fixas e predeterminadas. Em outros termos, e
seguindo o instrumental teórico da estética da recepção: quando não há coincidência
entre o horizonte de recepção ou acolhimento de uma obra por parte de quem entra em
contato com ela (leitor ou espectador) algo desperta a atenção, perturba.
Cada obra procura se particularizar diante do universo para o qual se
apresenta, particularização que se evidencia quando ela rompe com os
códigos e as normas predominantes. Assim, ela estabelece um intervalo
entre o que se espera e o que se realiza, a que Jauss denomina "distância
estética".305 (ZILBERMAN, 2012: 183)
Pode-se dizer que há um choque entre o horizonte de expectativa de G.H. e o
horizonte aludido pela obra de Janair. Para Jauss, o valor artístico se estabelece ao
questionar ou superar a expectativa estabelecida, revelando o inusitado. Evidentemente,
é variável a expectativa do leitor, conforme inclusive experiências estéticas
anteriores.306 (LIMA,1979:14). Pelo que sugere G.H., a composição de Janair é tosca.
304
Seligmann-Silva, Marcio. “Estética e política, memória e esquecimento: novos desafios na era do Mal
de Arquivo”. Remate de Males – 29(2) – jul./dez. 2009
305
ZILBERMAN, Regina. Teoria da literatura I. Curitiba: IESDE, 2012.
306
COSTA LIMA, Luis. A literatura e o leitor: textos de Estética da Recepção. Trad. Luiz Costa Lima.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
174
Mas é nessa simplicidade e simplificação não mediadas por saberes, técnicas e
conhecimentos mais amplos sobre a arte que G.H. se espelha. Esta, a armadilha. Cabe a
ela, G.H., preencher os vazios daquele “texto”- esboço. E efetivamente refaz uma
narrativa autobiográfica, seus remorsos, ressentimentos e culpas: o filho que abortou; a
rejeição do homem amado.
Segundo Duchamp, a criação implica o espectador na implementação ou
ativação das proposições, nas quais ele “experimenta o fenômeno da transmutação”: O
ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contrato entre
obra de arte e mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e,
desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador”.307 (p. 66)
O desenho de Janair subitamente adquire para GH um estatuto diverso do lugar
comum, na medida em que incorpora um significado não partilhado com os objetos
comuns (Danto)308. Isso vale tanto para o desenho simplificado quanto para a
apropriação que faz da parede, ao atribuir àquele espaço outra função que não a de
delimitação do espaço. Em complemento, a autonomia conferida ao lugar, incontrolável
pela proprietária que não impede a ação do tempo sobre o armário e a maneira de Janair
arrumar à sua moda as malas velhas.
Entre os anos 50 e os anos 70, a “arte acadêmica” ainda tinha a chancela de
instituições de prestígio, apoio tanto do mercado editorial quanto do ensino das “belas
artes”. 309 Em “Abstrato e Figurativo”310, a autora traz para o texto uma das polêmicas
da época, que tem a ver com mudanças no cenário das artes visuais no Brasil; mudanças
que contaram com a intervenção determinante de um amigo pessoal de Clarice, Mario
Pedrosa. Engajado na vida intelectual e cultural brasileira, Pedrosa estimulou a arte
abstrata e a consolidação das bienais no Brasil. Lispector define o abstrato como “o
figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a olho nu”. O
uso da conjunção coordenada “e” no título os coloca como vasos comunicantes: “Tanto
em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que chamam de abstrato me
parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível
307
Marcel Duchamp, “O ato criador”. BATTCOCK, G. A nova arte. Trad. Cecília Prada e Vera de
Campos Toledo. São Paulo: Perspectiva, 1975, p. 73.
308
DANTO, A. C. Após o Fim da Arte. São Paulo: Odisseus/ Edusp, 2006.
309
NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
310
LISPECTOR, Clarice. « Abstrato e figurativo ». In : Para não esquecer. p.26
175
a olho nu”. (LE). Há abstrato no figurativo, só que menos evidente, para quem se
habitou a um tipo de representação mimética. Volto a lembrar: o livro Objetos gritantes
transmutou-se em Agua Viva. Mas o objeto e o grito conservam-se ali.
No texto "Paul Klee (1879-1940)"311, sobre o quadro “Paisagem com Pássaros
Amarelos” do artista suíço, comenta alguns possíveis efeitos de uma obra de arte. A
concentração (a comunicação intensa) do observador em relação à obra (“talvez seja a
[visão] da liberdade”) decorre do arrojo de ultrapassar as “barras frias de ferro” da
prisão imaginária e real. “A burguesia total cai ao se olhar Paysage aux Oiseaux
Jaunes.” E indaga se um “burguês quadrado” saberá ter a liberdade de não explicar o
que não entende e aceitar a não compreensão.
Se eu me demorar demais olhando Paysage aux Oiseaux Jaunes
(Paisagem com Pássaros Amarelos, de Klee), nunca mais poderei voltar
atrás. Coragem e covardia são um jogo que se joga a cada instante.
Assusta a visão talvez irremediável e que talvez seja a da liberdade. O
hábito que temos de olhar através das grades da prisão, o conforto que
traz segurar com as duas mãos as barras frias de ferro. A covardia nos
mata. Pois há aqueles para os quais a prisão é a segurança, as barras um
apoio para as mãos. Então reconheço que conheço poucos homens
livres. Olho de novo a "paisagem" e de novo reconheço que covardia e
liberdade estiveram em jogo. A burguesia total cai ao se olhar Paysage
aux Oiseaux Jaunes. Minha coragem, inteiramente possível, me
amedronta. Começo até a pensar que entre loucos há os que não são
loucos. E que a possibilidade, a que é verdadeiramente, não é para ser
explicada a um burguês quadrado. E à medida que a pessoa quiser
explicar se enreda em palavras, poderá perder a coragem, estará
perdendo a liberdade. Les Oiseaux Jaunes não pede sequer que se o
entenda: esse grau é ainda mais liberdade: não ter medo de não ser
compreendido. Olhando a extrema beleza dos pássaros amarelos calculo
o que seria se eu perdesse totalmente o medo. O conforto da prisão
burguesa tantas vezes me bate no rosto. E, antes de aprender a ser livre,
tudo eu aguentava - só para não ser livre. (PNE:14)
6.4. A NARRADORA: TROPEÇOS NA PALAVRA
311
LISPECTOR, Clarice. Paisagem com pássaros amarelos. In: A descoberta do Mundo, p. 198.
176
Espero que você nunca me veja assim resignada, porque é quase
repugnante.312 (LISPECTOR, 1948)
Em diferentes momentos, G.H. refere-se à sua voz atônica Antes, seus nervos
eram tranquilos, “arrumados”, tinha “uma voz alta que é muda.” Foi preciso, portanto,
construir outra voz, para “enfim atingir a altura de poder cair” e assim “alcançar a
despersonalidade da mudez”. É “inútil procurar encurtar caminho e querer começar já
sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal. Pois existe a trajetória, e
a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos”.
Ah, mas para se chegar à mudez, que grande esforço da voz. Minha voz
é o modo como vou buscar a realidade; a realidade, antes de minha
linguagem, existe como um pensamento que não se pensa, mas por
fatalidade fui e sou impelida a precisar saber o que o pensamento pensa.
(p.212)
A grande coragem é conseguir o fracasso da deseroização; para isso, entretanto,
primeiro há que ter a voz. É “através do malogro da voz que se vai pela primeira vez
ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas, e aceitá-la como a possível
linguagem”. A paixão é consequência.
“A desistência tem que ser uma escolha.
Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida.”. Chegou então esse momento de abrir
mão da carcaça:”
Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto, e,
finalmente me votando à minha queda, despessoal, sem voz própria, finalmente sem
mim - eis que tudo o que não tenho é que é meu.”
A voz é um corpo que habitualmente se esquece de que é corpo. Impessoal,
veículo, e não parte. Mas, diante do nada, G.H. aventura-se e se torna uma narradora
que é ao mesmo tempo sujeito e objeto da matéria narrada. Transmite o desconforto da
instabilidade do relato, inseguro, oscilante; por isso necessita convocar outra pessoa e
também falar em voz alta. Não é apenas uma voz; são muitas, polifônicas. A voz
interior, a voz do apelo ao outro, a voz do passado, vozes da pré-história e do futuro.
312
LISPECTOR, Clarice. “Berna, 6 janeiro 1948 - Carta a Tania Kaufman”. In: Correspondências,.
Organização Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. p. 165.
177
Flora Sussekind, desde A voz e a série313 tem se dedicado ao estudo da voz em
diferentes modalidades artísticas.
Trago aqui um comentário apropriado para o evento vocal de G.H. Partindo de
um texto de Marianne Moore sobre o “tom de voz escrito”, salienta não se tratar da
“oralização de sua escrita poética”, mas “de uma experimentação continuada com
recursos discursivos” (p.44). A fala de G.H., em primeiro lugar, é cindida; segundo, a
oralidade não oblitera o ritmo textual, respiração esta expressa, entre outros, no
compasso repetitivo de retomar a última frase de cada capítulo no capítulo seguinte;
terceiro, ainda no âmbito do encadeamentos – utiliza reiteradamente a conjunção “e”,
elemento de coesão do registro oral, e repete palavras criando uma cadência rítmica, ao
mesmo tempo em que sustenta uma desenvolvimento de raciocínio de complexidade e
tônus barrocos.314
E não me esquecer, ao começar o trabalho, de me preparar para errar.
Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado o meu caminho.
Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia - é
que se fazia enfim uma brecha, e, se antes eu tivesse tido coragem, já
teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo de delírio e erro. Meu
erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade: pois só quando
erro é que saio do que conheço e do que entendo. Se a “verdade” fosse
aquilo que posso entender - terminaria sendo apenas uma verdade
pequena, do meu tamanho. ).[grifos nossos] (GH:113)
Resta a palavra tateante e o bateau ivre do vaivém das memórias. G.H. continua
descobrindo o que des-cobrira, tirara o pano dos olhos, confrontara a nudez, achara uma
inscrição, uma arte remota e antiga dentro de casa, feita à mão, sem suporte ou figuras
definidas, o que incentiva projeções e associações temporais. A exposição no subsolo
da casa a atinge e a leva à experiência radical de usar a porta do armário como
instrumento para matar o animal ancestral até passar pela experiência ainda mais radical
de provar da massa branca que constitui o seu interior, igualando-se no ritual ao ser
313
SUSSEKIND , Flora. A voz e a série. Rio de Janeiro: Sette Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG,
1998.
314
Esse aspecto tem sido apontado desde as primeiras obras: a majestade barroca, como chagou Gilda e
Melo e Souza, especialmente desenvolvido em: OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. "Aspectos do Barroco
no Romance de Clarice Lispector". O Eixo e a Roda. Belo Horizonte, (2): 113-123, jun. 1984
178
vivo, às demais formas de existência. O armário bronzeado e deformado pelo tempo a
transportou através de improváveis cronologias.
Seus recursos de linguagem se revelam escassos fora da área de proteção do
esculpir a vida, que praticava como passatempo, e fora do território do invento,
precisando, portanto, da grande coragem para “resistir à tentação de inventar uma
forma”. Posta no cerne do processo de subversão da linguagem e do sentido usual dado
aos objetos e ao espaço, chegou então a hora do neutro: “Às vezes - às vezes nós
mesmos manifestamos o inexpressivo - em arte se faz isso, em amor de corpo também manifestar o inexpressivo é criar”. Mas o que tem à mão são palavras-objetos, sobre as
quais se depositaram detritos. Algumas desidrataram, calcificaram a ponto de se
quebrarem à toa. Ou pararam de ouvir. Como a marca quase morta de um “G.H.”, o
acúmulo já sedimentado e tranquilo das poeiras velhas. Secas como o colchão de quinta
categoria, feito de crina e revestimento de listras, que G.H. oferece para a empregada
dormir.
a cama, de onde fora tirado o lençol, expunha o colchão de pano
empoeirado, com suas largas manchas desbotadas como de suor ou
sangue aguado, manchas antigas e pálidas. Uma ou outra crina fibrosa
furava o pano que estava podre de tão seco, e espetava-se ereta no ar.
(p.47)
Não há metodologia pronta para construir uma “lógica razoável” com visões
fragmentárias. G.H. vai ter de ir descobrindo seu jeito de narrar à medida em que conta;
não pode é abrir mão - é absolutamente necessário falar, para compreender. Há que não
se conformar com a mediania, com a censura alheia: “Mas é preciso também não ter
medo do ridículo, eu sempre preferi o menos ao mais por medo também do ridículo.”;
“Pois nunca até hoje temi tão pouco a falta de bom-gosto: escrevi “vagalhões de
mudez”, o que antes eu não diria porque sempre respeitei a beleza e a sua moderação
intrínseca.”315
Depois, de que modo seguir uma narrativa linear, com tantos ecos? O trabalho
do tempo acontece, entre ruínas e sem promessas de futuro. Há um acavalamento de
cronologias e de modos de dizer, desde a expressão mais simples, a referências eruditas,
enquanto G.H. revive a experiência através da narrativa.
Sussekind destaca, na
315
Como em Perto do Coração Selvagem: “- Por medo talvez de falta de estética. Ou receio de alguma
revelação... Não, não, – repetia-se ela – e preciso não ter medo de criar” (p.14?).
179
instalação “Fontes” de Cildo Meireles (1992), elementos compatíveis com o que se
produz na narrativa de G.H. A ensaísta destaca a “referência simultânea a uma
multiplicidade de noções, materiais e formas de expressão” e a “qualidade híbrida que a
define enquanto prática artística”,
como meio privilegiado de figuração da consciência contemporânea da
multiplicidade de tempos de que se compõem as horas históricas. Em
especial se o que se tem em mente é uma formação cultural como a
brasileira, e a latino-americana em geral, marcadas, de modo
particularmente intenso, pela convivência de sistemas culturais distintos
(...) e no interior de cada um deles, por temporalidades e ritmos de
evolução igualmente diversos, por uma sistemática ‘simltaneidade do
não simultâneo’, onde é exatamente em meio às tensões e discordâncias
desses movimentos e elementos de extrações variadas que se constitui a
consciência artística. (p.71)
Desde o momento em que toma a palavra, agregam-se vários tempos em um só.
A correnteza de G.H. se dá entre antenas de TV, edificações, “rainha. Reis, esfinges e
leões”, “pedras que desabaram”, “ruína egípcia”, “descoberta de um império”,
confluências do ontem no hoje e vice-versa – sopra o futuro incerto, a perdição leva a
encontrar nexos, linhas, tecidos entre eras e épocas distintas, a viagem no quarto de
Janair banhado de luz, a velocidade que transporta. Capacidade de evocações, arquivos
e memórias dessas formas fora do lugar, outro mapa mundi. Em verdade, retoma um
dos topói de sua obra, o imemorial enquanto fantasma e, ao mesmo tempo, presença e
fluxo temporal. “Ver um ovo nunca se mantém no presente: mal vejo um ovo e já se
torna ter visto um ovo há três milênios.” (“O ovo e a galinha”, LE:49)
Todo esse processo mexe com a matéria tempo. A loucura da criação é a loucura
dos tempos e dos espaços, em que cruzam a existência individual finita e os
fundamentos milenares da cultura. Em toda casa há um subterrâneo, e ele é assustador.
Para sustentar sem quedas meu ânimo de trabalho, eu procuraria não
esquecer que os geólogos já sabem que no subsolo do Saara há um
imenso lago de água potável, lembro-me de que li isso; e que no próprio
Saara os arqueólogos já escavaram restos de utensílios domésticos e de
velhas colonizações: há sete mil anos, eu havia lido, naquela “região do
180
medo” desenvolvera-se uma agricultura próspera. O deserto tem uma
umidade que é preciso encontrar de novo.316(p.130)
Essa perspectiva de apreensão e interpretação dos objetos em CL se aproxima do
que Didi-Huberman destaca em Abraham Moritz Warburg (1866-1929), cujo campo de
estudo foi, não os objetos, mas a imagem; historiador da arte sui generis, implica em
sua interpretação das obras (não unicamente artísticas) a antropologia, a filosofia e
outras áreas do saber.
Para Warburg, a imagem resulta dos movimentos nela sedimentados
provisoriamente; cada um deles tem uma trajetória (histórica, antropológica e
psicológica) que vem de longe e continua além dela. Para identificar esse movimento
energético (ou dinâmico), que expressa uma complexidade temporal, o pesquisador
alarga fronteiras, desterritorializa a imagem e o tempo que exprime a sua historicidade,
partindo do princípio de que o tempo da imagem não se iguala ao da história. Daí
propor o conceito de história fantasmal, pela qual o arquivo é considerado um vestígio
material do rumor dos mortos.
Para ele, o tempo histórico não é contínuo e se expressa por estratos,
redescobertas, voltas, sobrevivências. As imagens trariam potencialmente o retorno de
fantasmas; aquilo que sobrevive de dinâmica e sedimentação antropológicas tornadas
parciais, virtuais, em larga medida destruídas pelo tempo. Ele costumava repetir que
odiava “os vigias dos limites”. A memória cultural não segue uma diacronia ou
cronologia linear; ela se expressa através da sincronia espacial (“Aquele deserto onde eu
entrara, e também nele descobria a vida e o seu sal.”, dirá G.H.), provocando outras
formas de relato histórico, como a que recorre a técnicas da montagem, ao trabalho
inacabado, a não sequencialidade. O Atlas Mnemosyne de Warburg faz assemblages de
gravuras, cópias, jornais de diferentes épocas, que ele organiza através de relações
visuais.
Para além de algumas similaridades nas biografias de Warburg e de Clarice, e da
profunda inovação de suas obras, os conceitos de sobrevivência, fantasma e memória
são ferramentas importantes para a compreensão de G.H. Sob a história cristalizada dos
316
Ler, a respeito, a presença silenciosa dos mortos subterrâneos da casa, por Walter Benjamin em Rua de
Mão única. ( p.12)
181
objetos e do apartamento desvenda outra narrativa possível, mediante a articulação de
diferentes tempos e matérias, desorganização que superpõe sentidos numa lógica
própria, não cartesiana. Objetos passam a indicar o encontro de tempos: depositam
coordenadas de memória e guardam virtualmente projeções de futuro. Narrativa fluxo.
Escrita de arquivo.
A estrutura antes rigidamente acomodada deságua na discussão da palavraobjeto, acabada, mas virtualmente inacabada.
Buscar o mínimo intervalo entre a
nomeação e o que é nomeado é o ápice da concisão e expansão. E recupero do livro que
ela ainda não havia escrito quando da publicação de G.H - Agua Viva:
Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra
pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra – a entrelinha –
morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a
entrelinha, poder-se-ia com alívio, jogar a palavra fora. Mas aí cessa a
analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva
então é escrever distraidamente. (AV:25)
Desde Perto de Coração Selvagem, Antonio Cândido (1977) atentou para a
diluição do tempo em Clarice Lispector. “A sua existência presente, aliás, possui uma
atualidade bastante estranha, a ponto de não sabermos se a narrativa se refere a algo
já passado ou em vias de acontecer.” (p. 129). Também Rosenfeld associa a abolição
da “perspectiva linear” que “cria a ilusão do espaço tridimensional, projetando o
mundo a partir de uma consciência individual”, à “dissolução da cronologia,
enquanto sucessão no tempo. Tudo é relativizado e quebra-se a ilusão do absoluto.
O transitório não comporta mais a ideia de um mundo explicado, ordenado e a
linguagem artística revela isso.” (p.80) 317
O acontecimento inesperado, que irrompe e afeta a fala e o discurso
automatizados, no próprio contexto em que habitualmente se produzem, é equivalente
ao que a autora faz ao longo de sua trajetória mutante, metamórfica, alterando formas de
fazer
romance
dentro
do
próprio
território
do
gênero
romance.
Refaz-se
camaleonicamente dentro do que está posto. Eis a densidade do seu sistema expressivo.
E aqui trago o relato do jornalista Humberto Werneck, ao entrevistá-la após o
lançamento do livro.
317
ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o romance moderno. In:
Perspectiva, 1976.
Texto/Contexto. São Paulo,
182
Me lembro também de que na véspera da entrevista não consegui pegar
no sono. E mais ainda da catástrofe que desencadeei com minha
primeira pergunta, inspirada em algo que tinha lido alhures: “A paixão
segundo G.H., não sendo um romance…” Nem pude a concluir a frase.
“COMO não é um rrromance?”, rugiu Clarice Lispector, petrificando o
aprendiz de repórter.318
A proposta teórico-política de Walter Benjamin formula-se, entre outros, a partir
do diagnóstico da deficiência de narrar, pois só há narração com experiência, e a
modernidade esvaziou a comunicação, a rememoração, o vínculo entre trabalho e
conhecimento.
Considerando o declínio da experiência na modernidade e suas
implicações na vida social e cultural, desenvolve uma análise crítica de Paris; Lispector
o faz a partir de um apartamento no Leme. Sua crítica social não se dá de forma
designativa, mas pela colocação, no mesmo circuito, da linguagem criativa e do espaço
criativo versus linguagem automatizada e espaço naturalizado. Assim, pode-se instautar
uma memória nômade, conforme esclarece Seligman-Silva (2009).
Nosso desafio é aprender a lidar com a nossa cultura da memória sem
reproduzir essa tendência à mímesis mecânica que responde à
necessidade primitiva de proteção e autoconservação. Como escreveu
Vilém Flusser (2007), devemos aprender a viver novamente no
nomadismo, na Heimatlosigkeit (a apatricidade), por mais duro que
possa ser este aprendizado. (p.273)
6.5. AS GAVETAS E O VIDRO
Comento o projeto cenográfico de três instalações da exposição A hora da
estrela, para o qual dei consultoria, por achar oportunas como fechamento da proposta
de abordagem319: a primeira consiste de uma sala tomada por gavetas de madeira, que
ocupam todo o espaço expositivo; a outra peça cria um beco sem saída, tendo ao fundo
um vidro em que é projetada a imagem de uma barata. O mesmo material foi usado em
uma terceira instalação, espécie de mapa mundi em vidro em que estavam indicados os
lugares por onde a escritora passou.
318
WERNECK, Humberto. Meu traumatismo ucraniano In: Jornal Brasil Econômico, 1969.
http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?p=816
319
Fotos do site http://makingarthappen.com/2013/04/14/clarice-lispector-a-hora-da-estrela/fotografia-0/
183
Poder-se-iam fazer múltiplas interpretações sobre esse conjunto, desde a
simbologia do corredor, da multiplicidade de gavetas, dos tipos de trajetos propostos
para o visitante. Detenho-me apenas, entretanto, nos materiais empregados. Um deles,
usa a madeira; outro, o vidro; e o terceiro, tijolo e vidro.
Na primeira instalação, algumas gavetas podem ser abertas, outras não. O
visitante terá de experimentar, por jogo de ensaio e erro, a resistência ou não. Há
cadeiras e escadas para acessá-las. Dentro de cada uma, documentos de diferentes
espécies: cópia da identidade da escritora, trechos de obras etc.
Sobre a matéria prima madeira, retorno ao Roland Barthes do Mitologias, só
que agora a confronto não é com o plástico, mas com o vidro. A madeira, segundo o
semiólogo, traz substância familiar e poética, firmeza, brandura e calor do contato se faz
“objetos de sempre”: “a madeira elimina, qualquer que seja a forma que sustente, o
golpe de ângulos demasiado vivos, e o frio químico do metal”; ela “não magoa” e
“pode durar muito tempo. Toda a inscrição de evocações e memórias começa desde o
material empregado para a construção da obra.
Já o vidro evoca a arquitetura da visibilidade, iniciada no século XVIII e
consolidada no século seguinte, cumprindo o ideal da racionalidade e universalidade.
Conforme sustenta Benjamin (1994:118), o concreto, a arquitetura do vidro, com sua
apologia feita por Paul Scheerbart, e a concepção da utilização do aço, pela Bauhaus
criam um espaço onde é difícil deixar rastros. A ideologia da funcionalidade eliminava
os “vestígios”, as pegadas do homem sobre a terra. “Não é por acaso que o vidro é um
material tão duro e tão liso, no qual nada se fixa. É também um material frio e sóbrio.
184
As coisas de vidro não têm nenhuma aura. O vidro é em geral o inimigo do mistério. É
também o inimigo da propriedade” (p.117). Vidro: espaço em que se traçou o itinerário
de uma escritora cuja história de vida e cujo drama existencial tiveram a ver com um
permanente “não-estar-estando”.
A última peça é um corredor sem saída, feito com divisórias, tendo ao fundo
uma prateleira fixada horizontalmente, sobre a qual se projetava a figura de uma barata.
Na linha dos olhos de um adulto, há também projetado um trecho da obra da escritora.
Combinam-se diferentes tipos de material: a imagem virtual, associada ao vidro, invoca
o mistério, o inconsciente, o que se quer pegar, mas não se consegue. O drama fica
acentuado ao se considerar aquele túnel que não pode ser transposto.
Cada material usado para confeccionar uma peça, cada objeto selecionado para
se colocar dentro de casa, carregar na bolsa e no pensamento conta uma história, que
sempre suscita várias possíveis versões. O calor da madeira encosta no frio do vidro,
como uma sobrevida do que constumeiramente se pensa, mas de que pouco se fala.
Essa é Clarice Lispector (por João Cabral de Melo Neto).
Um dia, Clarice Lispector
intercambiava com amigos
dez mil anedotas de morte,
e do que tem de sério e circo.
Nisso, chegam outros amigos,
vindos do último futebol,
185
comentando o jogo, recontando-o,
refazendo-o, de gol a gol.
Quando o futebol esmorece,
abre a boca um silêncio enorme
e ouve-se a voz de Clarice:
Vamos voltar a falar na morte?320
6.6. DE VOLTA, SEM TER SAÍDO: ENSAIOS NO TEXTO
Traço imaginariamente o circuito de uma exposição concebida para desorganizar
codificações assentadas. Tento acompanhar a reação de mim mesma, visitante, aos
acontecimentos, sabendo de antemão tratar-se de situação complexa; cada
leitor/espectador responderá à sua maneira. Uma exposição, afinal, é “um terreno de
escolhas, e como tal sua pratica põe em jogo fundamentalmente o corpo. Mas sem grade
de leitura prévia.321
1. O ingresso
Coloco o apartamento de G.H. dentro de um museu, uma galeria ou uma sala
de exposições. Então o abro à visitação, mas quem chegar terá de usar pés
descalços ou saltos muito altos.
No hall de entrada, a tabuleta: “arrumar a cauda do apartamento: quarto da
empregada imundo, dupla função de dormida e depósito de trapos”.
2. Primeiros passos
320
NETO, João Cabral de. “Contam de Clarice Lispector”. In: AGRESTES (Poesia –1981/1985). Rio de
Janeiro, Nova Fronteira: 1985 .
321
BARBIER-BOUVET, Jean-François.«Les visiteurs dans tous ses états ». In: ERON, Eliseo Veron ;
Levasseur, Martine. Ethnographie de l'exposition: l'espace, le corps et le sens / Bibliothèque Publique
d'information: Paris : éd. du Centre Pompidou, 1983. Pp.7:18.
186
Retomo o trajeto do personagem, ponto por ponto. Aceito o café sobre a
mesa e sigo. Algo ali atrai. Impossível retroceder.
3. Primeira passagem, simulação de uma queda
Durante a travessia (cozinha, área, corredor), a parada na murada-precipício
para fumar. A imagem na forma de concreto: “treze andares caíam do
edifício.”
4. A fábrica
Olho para o prédio defronte, igual àquele em que estou, como quem se olha
pelo lado de fora; naquele túmulo circulam cadáveres com corpos bem
trajados com o estômago e as vísceras à vista. Começo a perceber que
“Minha experiência maior seria ser o outro dos outros: e o outro dos outros
era eu”.
fundo dos apartamentos para os quais o meu apartamento também se via
como fundos. Por fora meu prédio era branco, com lisura de mármore e
lisura de superfície. Mas por dentro a área interna era um amontoado
oblíquo de esquadrias, janelas, cordames e enegrecimentos de chuvas,
janela arreganhada contra janela, bocas olhando bocas. O bojo de meu
edifício era como uma usina. A miniatura da grandeza de um panorama
de gargantas e canyons: ali fumando, como se estivesse no pico de uma
montanha, eu olhava a vista, provavelmente com o mesmo olhar
inexpressivo de minhas fotografias. (GH:39)
5. O aviso que chega pelos ouvidos
Prepare-se: no bas-fond há “amontoado de jornais” e “escuridões da sujeira
e dos guardados”.
6. Quarto branco: ousadias de uma empregada
Ao invés da “penumbra confusa”, do “escuro mofado”, holofotes causam a
sensação de “reverberação e desagrado físico”, “um quadrilátero de branca
187
luz”, “quarto inteiramente limpo” que fere os olhos, a ponto de fazê-los
franzirem.
A serviçal havia “arrumado o quarto à sua maneira, e numa ousadia de
proprietária” o havia “espoliado de sua função de depósito”.
7. Quarto branco: antigeometria
A ausência de restos– “jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes
inúteis” – ressalta a “ordem calma e vazia”, em contraste com a “casa fresca,
aconchegada e úmida”. O “vazio seco” se transforma em “aposento”: “limpo
e vibrante como um hospital de loucos de onde se retiram os objetos
perigosos”. Algo faz o chão se mover. Associado a um minarete, o quarto
eleva-se a um nível “incomparavelmente acima do próprio apartamento”
irregular “nos seus ângulos”, e desloca a geometria prevista para o resto da
casa.
Começara então a minha primeira impressão de minarete, solto acima
de uma extensão ilimitada. Dessa impressão eu só percebia por
enquanto meu desagrado físico.(GH:42)
O quarto não era um quadrilátero regular: dois de seus ângulos eram
ligeiramente mais abertos. E embora esta fosse a sua realidade material,
ela me vinha como se fosse minha visão que o deformasse. Parecia a
representação, num papel, do modo como eu poderia ver um
quadrilátero: já deformado nas suas linhas de perspectivas. A
solidificação de um erro de visão, a concretização de uma ilusão de
ótica. Não ser inteiramente regular nos seus ângulos dava-lhe uma
impressão de fragilidade de base como se o quarto-minarete não
estivesse incrustado no apartamento nem no edifício. (GH:42)
8. No meio do caminho, o armário empenado, vazio de roupas
Estranho a decoração. O guarda-roupa de pinho, matéria-prima barata, de
uso popular, empenado pelo sol. As paredes pintadas de cal, material de
segunda. A uniformidade e intensidade brancas impedem o movimento. O
“inesperado mural”, oculto na parede contígua à porta. Quem fez aquilo não
gosta da abstração geométrica, nem do racionalismo cubista, nem do rigor
matemático, nem da “depuração” da forma.
188
9. A caverna e novas lições de arte
Nunca fui a Gibraltar. Mas incrustaram uma arte “primitiva”, pode-se dizer
neandertal, como afresco de caverna. A rusticidade da “rigidez das linhas”,
o traço espesso “feito com ponta quebrada de carvão.”) e a ausência de
detalhes (apenas silhuetas) sobre o espelho definido em que me olho
constróem uma história fantasmal.
10. Palavras às pencas
O que vejo faz falar. A artista que se abrigava traiçoeiramente nos fundos
daquele apartamento-instalação não teme que a repetição do traço seja
percebida como erro, excesso de firmeza ou falta de sutileza. Não demonstra
preocupação com a perspectiva ou a coesão das “figuras soltas na parede”,
que olham de frente; nem com a proporcionalidade (“os pés simplificados
não chegavam a tocar na linha do chão, as cabeças pequenas não tocavam a
linha do teto”), nem com a composição de uma cena nos padrões fixados
pela pintura renascentista, pela desconexão entre os elementos, quebrando
assim as convenções, regras miméticas de representação, destituindo a
humanidade das figuras soltas “como três aparições de múmias”, num
despojamento em que ecoa a voz cabralina (“um cão que era mais nu do que
um cão.”).
Nenhuma tinha ligação com a outra.
As três não formavam um grupo: “cada figura olhava para a frente, como se
nunca tivesse olhado para o lado, como se nunca tivesse visto a outra e não
soubesse que ao lado existia alguém”. Seu espelho sem carne.
quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de
uma mulher nua, e de um cão que era mais nu do que um cão. Nos
corpos não estavam desenhados o que a nudez revela, a nudez vinha
apenas da ausência de tudo o que cobre: eram os contornos de uma
nudez vazia. O traço era grosso, feito com ponta quebrada de carvão.
Em alguns trechos o risco se tornava duplo como se um traço fosse o
tremor do outro. Um tremor seco de carvão seco.
A rigidez das linhas incrustava as figuras agigantadas e atoleimadas na
parede, como de três autômatos. Mesmo o cachorro tinha a loucura
189
mansa daquilo que não é movido por força própria, O malfeito do traço
excessivamente firme tornava o cachorro uma coisa dura e petrificada,
mais engastada em si mesmo do que na parede. [grifos nossos]
(GH:42/43)
11. Os sábios
Os atoleimados, os autômatos, o cachorro e a loucura.
12. O início do início dos tempos
Diante do desenho hierático: desamparada, desorganizada, intermitente.
Súbito me dou conta da minha rigidez. Impuseram-me algo mais definitivo e
imperioso do que um artefato de decoração e o fizeram sem os recursos
convencionais da moldura. “O desenho não era um ornamento: era uma
escrita”, registro, em tom acusatório. Era “mensagem bruta para quando eu
abrisse a porta”.
13. Vilém Flusser
Há uma história cultural estabelecida a partir da evolução ds meios de
comunicação. Na Idade da Pedra, os homens se asseguram de sua existência
no mundo ("Dasein") pelas imagens nas cavernas; a partir da Antiguidade,
pela escrita; e, desde sua invenção em forma de fotografia, por imagens
técnicas. A pós-histórica era da imagem técnica guarda em seu âmago, crê
Flusser, possibilidades utópicas.322
Sou afinal pré-histórica. A desenhista trouxe todos os tempos para dentro
daquele quarto.
14. O bicho
Eu já havia lido A metamorfose. Mas aquilo era mais radical. A transmutação
pedia que eu comesse o bicho nojento dentro do armário, porque era igual a
322
NILS, Roller. Um Platão da era dos computadores Tradução de Marcelo Rondinelli.In: Folha de São
Paulo.
16
de
dezembro
de
2001.
Disponível
em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1612200107.htm
190
ele? Conseguiria fazer isso? E só me vinha à cabeça a imagem de Beyeus
explicando a pintura a um coelho morto (1965).
15. Instalação: possível definição do exílio
O que vejo faz pensar. O efeito pretendido de uma instalação é definido em
grande parte por seu modo de produção, por sua proposta e por sua
realização, que se completam na mobilização do público. Entrei ingênua,
despretensiosa, talvez cínica. Me propusera uma distração, fuga da rotina.
Imagino minha própria casa em estado de ocupação, a transfiguração do
espaço sob meu controle. Agentes naturais e humanos me fazem deixar de
ser a proprietária do imóvel.
O armário estufado e a inscrição da parede quebraram meus limites,
subtraíram as coordenadas externas de forma, lugar, discurso, desde o
momento em que incorporaram o ambiente em torno (environnement) 323. O
ápice da experiência está hors-champ, fora do meu alcance imediato. Teria
sido expulsa? Estou em exílio? Fui sequestrada por mim mesma dentro da
minha casa?
16. Helio Oiticica
“criar não é a tarefa do artista. Sua tarefa é a de mudar o valor das coisas”.324
17. A gagueira das palavras
Ainda me restam palavras, mas perdi a sintax-e. Fico ali até o anoitecer,
enquanto desfaço as iniciais bordadas em meu lenço de mão.
323
Verbete « Installation » par Bénédicte Ramade in Encyclopædia Universalis, 2008, vol. 12, p. 695696.
324
OITICICA, Helio. Experimentar o experimental. In: Navilouca. Rio deJaneiro, Gernasa, 1974.
191
18. Artaud
“Se fazemos teatro não é para montar peças, mas para que o que há de
obscuro no espírito, de soterrado, de não revelado se manifeste numa
espécie de projeção material.” (1926).325
19. Interlocuções
Poderia talvez tirar da estante algo do Nouveau Roman. Do que são capazes
os objetos?
7. TOPOGRAFIAS
Até pelo menos os anos 60, no Brasil, estudar geografia significava decorar as
capitais e saber nomes dos rios; quando o livro era ilustrado, o aluno podia
eventualmente sonhar com viagens, até mesmo planetárias. Devotos da literatura
encontravam, na ficção e na poesia, outras formas para aprender e conhecer a geografia:
os remotos tempos de Ulisses em sua odisseia, o futurismo de Julio Verne, as vidas
secas de Graciliano, as lutas entre maragatos e chimangos no épico O tempo e o vento.
Durante a licenciatura, acompanhei uma turma de alunos de ensino médio na
leitura entusiasmada de “As minas do rei Salomão” (1885), do inglês Henry Haggard,
primeiro romance de aventura a se passar na África, segundo dizem. A garotada
adentrou o continente, acompanhada de aventureiros em busca de riqueza lendária, e
encontrou de tudo: rei bíblico, selvas, diário de viagem. Escrito em primeira pessoa,
transmitia uma experiência “verdadeira”.
Um autor de muito prestígio entre os geógrafos na atualidade é o sino-americano
Yi-Fu Tuan, que analisa em Tolstói, Virginia Woolf, Eliot e outros as percepções
ambientais e as recordações instigadas pelo espaço, que “ganha vida” pelas habilidades
verbais e pelas imagens. Na literatura, reúnem-se de uma só vez espaço, lugar, território
325
ARTAUD, Antonin. « Manifeste pour un Théâtre avorté ». In : O.C., t.II,, p.23: « Si nous faisons un
théâtre ce n’est pas pour jouer des pièces, mais pour arriver à ce que tout ce qu’il y a d’obscur dans
l’esprit, d’enfoui, d’irrévélé se manifeste en une sorte de projection matérielle, réelle. »
192
e paisagem326, termos que não serão discriminados aqui; a única exceção é o destaque à
“paisagem”, que se tornou um conceito encampado há pelo menos quatro décadas por
teóricos e intérpretes nas artes, ciências humanas e sociais327, para expressão e estudo de
subjetividades, percepções, ritos, ancestralidade, conflitos sociais.
Os textos que se seguem tratam especificamente da “paisagem imaginada”, ou
seja, o espaço com suas evocações de memória; no caso da obra clariciana, se discutirá
o frequente embate entre o recorte e o limite, de um lado, e a amplidão e a liberdade,
de outro, discussão imbricada à da linguagem.
Em bengalas e chapéus apoiam-se os seres humanos, entre terras, letras e mares.
7.1 O MENINO E O MURO
Escolho inicialmente a cartografia doméstica traçada em “Menino a bico de
pena” ou “Desenhando um menino”328, que entrecruza a discussão sobre a apreensão do
outro pela palavra e a formação do indivíduo.
As demarcações que disciplinam e que são inerentes ao processo de socialização
e individuação, o narrador as retrata com crueldade, dor e ironia, ao flagrar o jogo de
acerto e erro do personagem mirim. Com menos de um ano (por indicações do
desenvolvimento motor e pela referência aos primeiros dentes), tenta dominar a ciência
do equilíbrio, sem ter ainda à disposição palavras para exprimir o que sente e quer. O
choro e o riso indicam suas necessidades e satisfações. O penoso aprendizado implica o
enfrentamento e o reconhecimento dos espaços e dos objetos.
A “deficiência” do bebê, o narrador a estrutura através de contatos com o
espaço, que impõe a superação de limites, mas prevê também a conformidade e
resignação diante de conquistas já realizadas, até que a acomodação afinal se defina
como uma fatalidade, e o adulto desista dos desafios.
326
GIOMETTI, Analúcia Bueno dos Reis; Pitton, Sandra Elisa C. Leitura do Espaço Geográfico Através
das Categorias: Lugar, Paisagem e Território.. In: Caderno de Conteúdo e didática de geografia. São
Paulo, UNESP p.33-40 Disponível em
http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/47175/1/u1_d22_v9_t02.pdf Acessado em 7 de
janeiro de 2015.
327
Nomes como Roland Barthes e Foucault, por exemplo, e conceitos como topofilia e topofobia, usados
como categorias interdisciplinares em discussões sobre identidade
328
Publicado inicialmente como crônica no Jornal do Brasil em 18/10/1969 e depois inserido em "A descoberta
do mundo", com o título: “Desenhando um menino”.
193
Amargo, cínico e descrente, mas sem perder a delicadeza na captação minuciosa
de cada gesto da criança, o narrador caracteriza o estágio-bebê como informe e fluido
(baba, bater do coração). Entre a hesitação e as certezas que futuramente orientarão a
vida adulta, interpõem-se o domínio do território físico e a linguagem anonimamente
afirmativa.
O ser sentado no chão, imerso num “vazio profundo”, vai se posicionando em
relação à compartimentação da casa (o chão move-se incerto, a cadeira o supera, a
parede o delimita ). Ao mesmo tempo em que assimila os usos dos espaços – mãe na
cozinha, ele na sala e depois no quarto cercado pela grade do berço, terá de adquirir a
linguagem dos homens e assimilar símbolos que orientam quanto ao modelo de
identidade escolhido pela família. A parede fixa, sólida, protetora e, simultaneamente,
impossível de transpor, apresenta-lhe a imagem sacra em que se espelhará: “E na parede
tem o retrato de O Menino. É difícil olhar para o retrato alto sem apoiar-se num móvel,
isso ele ainda não treinou.”. (DM:241).
O “retrato alto” ilude a autosustentação, pois entre o olhar e o comando do
corpo, entre o desejo e a sua realização, há uma distância a ser vencida. As quedas
fazem parte do processo e estão indicadas na “sala entortada e refratada pelas lágrimas”.
A descrição prossegue associando o movimento corporal hesitante à internalização dos
movimentos, como uma máquina (“avança em árduo mecanismo de etapas”). A mãe,
mediadora, é o “volume branco” que “cresce até ele” no espaço familiar, quente e bom.
Ele aprende a se medir (o “teto está mais perto, agora; a mesa, embaixo”), enquanto
também se deixa aprisionar desde as barras que circundam seu berço, proteção-prisão,
até as funções profissionais que o identificarão no futuro, como selo de fabricação.
Entrar numa fôrma (mantenho o circunflexo roubado com a reforma ortográfica) exige
treino, progresso, “bondade necessária”. É esta a construção do possível. “Ele passará
do tempo atual ao tempo cotidiano, da meditação à expressão, da existência à vida”.
O repertório das artes visuais e/ou de ofícios manuais replica a dificuldade da
narradora em captar o bebê: “Sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico
de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele
vive”. Somam-se negatividades durante o ritual agregador. A forma definida/ definitiva
não dispensa a violência (“o domesticaremos em humano, e poderemos desenhá-lo. Pois
194
assim fizemos conosco e com Deus”.) 329. Esforçado, ele coopera em seu autosacrifício
de “não ser louco”.
No âmbito moral, o narrador não prevê saída digna, a não ser a prostituição da
alma ao mercado (“tem um mundo para trair e vender, e que o venderá”). É o preço da
troca da hesitação pela certeza. A linguagem comunicativa superará a tênue linha do
desenho a bico de pena. Eis os termos: “Como conhecer jamais o menino? Para
conhecê-lo tenho que esperar que ele se deteriore, e só então ele estará ao meu
alcance.”; “O que conheço dele é a sua situação.”), ou seja, o que se pode inferir por
indicações fisiológicas, traços biológicos e o que se pode programar para uma futura
identidade (pela profissão). Segurança é saber que tem um mundo para trair e vender, e
que o venderá.
O conto mostra como, desde o início da vida, o ser humano enfrenta a tensão
entre ser livre e ser subordinado. As delimitações do viver têm nos objetos e nas
edificações alicerces desta retórica. A discussão ressoa noutras obras claricianas. Em
Perto do Coração Selvagem, a casa da tia contrasta as calcificações (há toda uma rede
metafórica relacionada a dureza e a impermeabilidade) e o imaginário ativo da recémórfã Joana, desde as primeiras linhas identificada a signos de liberdade e de expansão:
mar, amplitude, ar. Hipersensível330, fica chocada ao vislumbrar, nas peças decorativas
e na organização do interior da casa da tia, a opressão que a aguarda.
A casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam. A
mulher sentou-se com um suspiro na sombria sala de espera, onde,
entre os móveis pesados e escuros, brilhavam levemente os sorrisos dos
homens emoldurados. Joana continuou de pé, mal respirando aquele
cheiro morno que após a maresia forte vinha doce e parado mofo e chá
com açúcar.
A porta para o interior da casa abriu-se finalmente e sua tia com um
robe de flores grandes precipitou-se sobre ela. Antes que pudesse fazer
qualquer movimento de defesa, Joana foi sepultada entre aquelas duas
massas de carne macia e quente que tremiam com os soluços. [grifos
nossos] (p.32)
329329
330
GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/ Unesp, 2000.
Remeto a Benjamin, sobre o olhar infantil como método: “Ao usar estas coisas não imitam tanto as
obras dos adultos, senão juntam, nos artefatos produzidos, nos jogos, nos materiais de diferentes tipos,
uma nova relação intuitiva”. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação.
São Paulo: Ed. 34, 2002.
195
O “refúgio” é ironicamente invertido pelo narrador, pois nada indica
acolhimento e bem estar, e, sim, isolamento e falta de sinais vitais (sem vento ou luz), o
que se confirma pelo emprego do verbo “sepultar” para caracterizar a ausência de
afetividade no abraço da parente que recebe a órfã. Seguem, em conotações de não vida,
mediania, asfixia e grotesco, uma série de adjetivos, advérbios e substantivos
asfixiantes: “sombria sala de espera”, “móveis pesados”, “homens emoldurados”, “mal
respirando”, “doce e parado” “mofo”; “morno”; “robe de flores grandes”. A sugestão do
delimitado, formatado, aprisionamento. O cerco rondará a vida de Joana, cujo desejo de
emancipação se traduz no “quebrar as paredes”, dissolver fronteiras e tornar
impertinentes os objetos alocados no espaço (“sentindo sua ausência em cada lugar onde
no dia anterior ainda haviam existido seus objetos e onde agora havia um vazio
ligeiramente empoeirado”). Em contraste, a vitalidade da “maresia forte”.
Basta às vezes um movimento corporal para deslocar as paredes de lugar: “Deu
um corrupio e parou, espiando sem curiosidade as paredes e o teto que rodavam e se
desmanchavam”. (p.15) ou driblar o quadro emoldurado e impositivo:
Passou os olhos escurecidos pela salinha, perseguida. As paredes eram
grossas, ela estava presa, presa! Um homem no quadro olhava-a de
dentro dos bigodes e os seios da tia podiam derramar-se sobre ela, em
gordura dissolvida. Empurrou a porta pesada e fugiu. (p. 28)
Já adulta, a parede corresponde ao aprisionamento amoroso: “como ligar-se a
um homem senão permitindo que ele a aprisione? como impedir que ele desenvolva
sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as coisas sem
que as coisas a possuíssem?”. (p.27) Joana possivelmente gostaria de cantar “The wall”,
com Pink Floyd: “I don't need no arms around me/ And I don't need no drugs to calm
me/ I have seen the writing on the wall/ Don't think I need anything at all”.331
No internato, adolescente, o contato com a água e o estado onírico amolecem a
dureza dos limites, assim como as paredes úmidas e suadas refletidas pelos azulejos: “A
água cega e surda mas alegremente não-muda brilhando e borbulhando de encontro ao
esmalte claro da banheira. O quarto abafado de vapores mornos, os espelhos
embaçados, o reflexo do corpo já nu de uma jovem nos mosaicos úmidos das paredes.”
(p.63)
331
“Eu não preciso de braços ao meu redor /E eu não preciso de drogas para me acalmar/ Eu vi os escritos
no muro/ Não pense que preciso de algo, absolutamente”. The wall (1979), do compositor Roger Waters.
196
A cama desaparece aos poucos, as paredes do aposento se afastam, tombam vencidas. E eu estou no mundo solta e fina como uma corça na
planície. Levanto-me suave como um sopro, ergo minha cabeça de flor
e sonolenta, os pés leves, atravesso campos além da terra, do mundo,
do tempo, de Deus. Mergulho e depois emerjo, como de nuvens, das
terras ainda não possíveis, ah ainda não possíveis. (p.68)
A parede não resiste quando o estado emocional está aberto a experiências
sensoriais, provocada eventualmente pela música ouvida na Catedral, “numa espera
distraída e vaga”. “Como um cataclisma, o órgão invisível desabrochou em sons cheios,
trêmulos e puros. Sem melodia, quase sem música, quase apenas vibração. As paredes
compridas e as altas abóbadas da igreja recebiam as notas e devolviam-nas sonoras,
nuas e intensas.” Mas em geral prevalece a rotina que sufoca: “Acende-se uma lâmpada
bem forte, tudo fica claro e seguro, toma-se chá todas as tardes, borda-se (...)” (p.205)
indefinidamente, como a morte.
Joana pode ser lida, considerando o conjunto da obra clariciana, como crítica à
condição feminina na sociedade, nos termos posto por Gilda de Mello e Souza:
Assim, o universo feminino é um universo de lembrança ou de espera,
tudo vivendo, não de um sentido imanente mas de um valor atribuído. E
como não lhe permitem a paisagem que se desdobra para lá da janela
aberta, a mulher procura sentido no espaço confinado em que a vida se
encerra: o quarto com os objetos, o jardim com as flores, o passeio curto
que se dá até o rio ou a cerca. A visão que constrói é por isso uma visão
de míope, e no terreno que o olhar baixo abrange, as coisas muito
próximas adquirem uma luminosa nitidez de contornos.332/ grifos
nossos/
7.2 PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE PEDRAS: CIDADE SITIADA
332
“O Vertiginoso Relance”. In: Exercícios de Leitura. São Paulo, Liv. Duas Cidades, 1980. p.79
197
Benedito Nunes333 identifica em CS um subúrbio em transformação; entretanto,
discorda de Assis Brasil em nota de pé de página , sobre o fato de que Clarice Lispector
trabalhe “seus personagens em função de um meio social”, por inexistir, na apreensão
da realidade, a “correspondência entre o meio social determinado e a experiência
individual das personagens” (p.23) Refere-se a personagens cercadas de coisas rígidas e
interpreta a “pantomima” como vocação “espetacular, de exterioridade cênica” (p.21) da
heroína; entretanto não indaga os significados sociais, culturais e políticos dos
ornamentos e despojos.
Regina Pontieri (2001), por sua vez, em excelente análise sobre o olhar
especificamente neste romance, assinala que o objeto “fica mais em evidência do que o
sujeito” porque, segundo ela, “se trata basicamente da construção de um campo de
visibilidades, que traz a exterioridade para o primeiro plano”. (p.24). Mas há outros
elementos a considerar que ela não desenvolve, embora ressalte diversas vezes a
espacialização do tempo no livro. A perspectiva social está dada, sim, mas à moda de
Clarice. As orientações históricas estão sugeridas ou indiciadas nos objetos e nos
espaços. A aguda carência daquele subúrbio perdido no mapa repete a de tantos outros
que ofertam a seus moradores apenas o ciclo repetitivo da mesmice; e as coisas, de tão
mesmas, imunes ao calendário, monumentalizam-se. O enrijecimento do tempo nos
espaços e objetos não incentiva emancipações individuais ou coletivas, num contexto de
mudanças radicais na economia e cultura locais, pelo imperativo da “civilização” e do
progresso.
O romance abre com a festa junina de um subúrbio fluminense, na década de
1920, captada em seu tumulto e em sua semiobscuridade devido à luz esparsa da rua e
às emanações dos fogos e da fogueira.
Já na apresentação os elementos que sobressaem no embaçado do ambiente
(similares aos de outros subúrbios ou cidades interioranos) são os de grande dimensão:
relógio da igreja, estandarte, carrossel, lanternas suspensas, roda gigante, sinos, postes –
depois, estátua do cavalo, janelas dos sobrados. Em meio ao lusco-fusco, as presenças
imponentes funcionam cinematograficamente em grande plano.
333
NUNES, Benedito (1973). “A cidade sitiada: uma alegoria”. In: Leitura de Clarice Lispector. São
Paulo, Quíron, 1973.
198
Desde a cena inicial, personagens são mostradas proporcionalmente diminutas;
os objetos que contam a história da cidade apequenam seus moradores. A visão aérea,
auxiliada pela parca luminosidade, acentua o reflexo das roupas sedosas, valoriza as
partes superiores do corpo (“coroada de papelão, uma menina insone sacudia os
cachos”) e apresenta o chapéu, adereço importante na caracterização de Lucrécia, que
lida consigo mesma como sendo um objeto em permanente (e desajeitada) composição:
“sob o chapéu o rosto mal iluminado de Lucrécia ora se tornava delicado, ora
monstruoso”; “a cara tinha uma atenção doce, sem malícia, os olhos escuros espiando as
mutações do fogo, o chapéu com a flor”; “tentou ao menos liberar uma das mãos e
endireitar o chapéu que deslocado até um olhar dava à cara alegre uma expressão de
desastre.” (CS:8)
A perspectiva que salienta as altas edificações é intensificada pela sonoridade,
que contribui para a diluição e a impessoalidade. Roupas sedosas refletem-se umas nas
outras, e coisas ecoam. O som, mais que a palavra, é intérprete daquele lugar. Conduz e
confirma a prevalência das coordenadas de altura. O relógio-tempo da torre, símbolo da
cidade em abrupta transformação, ganha vida, através do toque das horas, e traça o
espaço em movimento, colaborando para a atmosfera onírica e dramática; não
desaparece à medida em que o casal se afasta do centro da praça. Faz presença mesmo
longínquo, no ritmo da ação: “A torre do relógio ainda estremecia.” Imagens
hiperbólicas acentuam a fantasmagoria: grandes escuridões, trilhos desertos. A seguir,
quem comanda é a badalada do sino, que “sacudiu-se acima da noite”. A verticalização
demarca o espaço, como estacas fantasmais.
Outro expediente de resposta à sonoridade difusa e potente do relógio e do sino é
a vocalização. Não a conversa, mas expressões que não dizem muito e funcionam como
interjeições ou vocativos: “Felipe ria irritado: não corra menina!”; “Felipe estacara
aliviado: malditos! Exclamou empurrando o quepe para trás”; “O tenente tossiu”. A
elocução da voz parece funcionar de forma avulsa em relação à pessoa (“Felipe falava e
perguntava invisível”). Quando, afinal, Lucrécia se separa de Felipe, o ritmo dos passos
no chão se multiplicam, com a ressonância da sola dos sapatos. Para compensar a
atmosfera evanescente, Lucrécia busca o contato com o mundo físico. A autoconfiança
pede demarcações táteis, como perceber as cortinas de ferro que fecham as lojas ou
senão colocar os dedos no poste: “toco mesmo neste poste, pensou mais confiante”;
igual exigência do tato se dá com objetos menores, de seixos a utensílios domésticos.
199
Do passado que vai se extinguindo, “desciam mulheres despenteadas com
panelas”; “vendedores em manga de camisa gritavam”. Carroça, sobrado, panelas,
cheiro de vacas, “galos invisíveis ainda cocoricavam”, varandas de ferro forjado,
fachadas rasas, “gritos com o que os carroceiros imitavam os animais para falar com
eles” competem com os veículos motorizados, menos numerosos, e, no entanto, mais
potentes na ocupação do espaço. Com jogadores de chapéu de palha, carroças e cavalos
vagarosos, o subúrbio se revela “insignificante e minucioso”. Uma “cidade rasa”. O
poder da fábrica recém-instalada metaforiza-se no sol destrutivo que confere a tudo uma
textura metálica: “rostos dos habitantes ficaram dourados como armaduras”, “olhos
cinzentos e brilhantes como placas”, “o ar cheirava a aço” é um ouro de maldição como
na bíblia. O processo de metabolização se exprime sinestesicamente: “a ira espumante”,
“luz descorada”, “crepúsculo imenso e azulado” “cidade de aço” “riacho era metálico”.
(p.50, 51)
Altura, sonoridade difusa e claridade excessiva colaboram para a indistinção. Só
na sombra pessoas e objetos ganham algum contorno: “cada coisa se movia a caminho
de suas próprias formas utilizando as menores sombras”. Os moradores oscilam entre o
olhar horizontalmente vago e o que espia da altura dos sobrados ou em direção a eles. A
inércia perceptiva e a frágil convicção de que aquele lugar é a casa de todos fazem com
que pareçam plantas submetidas à ação da natureza. Não por acaso personagens
acompanham obedientemente o movimento solar e o mundo físico adquire uma
funcionalidade estranha, pois atua como baliza sem a qual não se sentiriam vivas.334
Particularmente em Lucrécia, a letargia propicia a aderência às coisas; sem dotes
intelectuais, ambiciona, conforme os moldes tradicionais de educação feminina, um
bom partido e deixar a cidade. Vide o conselho de Ana, mãe dela: "Se você casasse com
ele teria muitas outras coisas, chapéus, joias, morar bem, sair deste buraco [...]". (p.106)
Vazia e simplória, parece não ter constituído uma subjetividade que a ajudasse
a processar o mundo a seu redor. Entre devaneios e percepções fragmentadas, ela se
encena através da nomeação, vivida como exercício de estar no mundo. Constata, e
depois constata de novo, a emergência e a autonomia das coisas: “as coisas cresciam”,
“S. Geraldo se mostrava” enquanto os ruídos “vinham desmanchados em pálida salva de
334
A autora se vale de vários recursos estilísticos (gerúndio, particípio passado e pretérito perfeito do
indicativo) para sugerir estagnação e morte.
200
palmas”; “a cidade era uma manifestação”, “aparecer era uma aparição”. Como se
tentasse, na escuta da própria voz, uma assinatura pessoal. Seus atos de enunciação são
particulares e únicos e as condições de enunciação são o estar consigo, em fala monologal.335
Avalia o subúrbio de perto, mas com binóculos. Destacam-se volumes, invólucros e
formas enigmaticamente geométricas. Quando “S. Geraldo se manifestava, manifestavase igual a si mesmo, sem se revelar”. A paisagem opaca vem associada à rigidez da
matéria.
Lucrécia conduz o leitor pela cidade como um autômato que reconhece o
cenário, mas precisa sistematicamente conferir se o lugar é aquele mesmo, como se não
o conhecesse antes. O mesmo vale para a própria casa à meia-luz com a “má
eletricidade do subúrbio”, em que a “sombra dos móveis” se mistura aos abafadores de
bule. (p. 59). A espacialização do tempo – “o tique-taque do pêndulo tombava preciso”
– a tudo impregna. Restam a ela e à mãe objetos ligados à tradição doméstica feminina.
Ana, com “aquele prazer de costureira com a sua costura”, “se rejubilava quando havia
alguma roupa a remendar” (p.60).
Na sala de visitas, segundo quarto da jovem,
acumulam-se novelos, agulhas e bastidores, e a moça segue engraxando sapatos na
penumbra, entre “jarros, bibelôs, cadeiras e paninhos de crochê, e... calendários” (CS:
66). Cuidando da aparência, aflora a esteta que cultiva a forma pela forma e quer a
nitidez.
Ora, a partir do momento em que os espaços e as coisas não comunicam, ou seja,
não traduzem de algum modo percepções e experiências pessoais, tornam-se tumulares.
A morte é sintetizada na frase “a casa parecia ornamentada com os despojos de uma
cidade maior”. Ou: as peças decorativas “nada revelavam e guardavam-se apenas para o
modo de olhar da mãe” (p. 59).
Na casa-cenário, Lucrécia se interpreta como uma
artista construindo
permanentemente a mesma obra: “afastando-se em seguida um passo para trás, como se
os tivesse esculpindo, para examiná-los de longe com delicadeza de míope”. Ao invés
de cinzel ou pincel, espana. No ambiente kitsch, beleza é sinônimo de visibilidade (“a
prateleira fica muito mais bonita com o meu passarinho na primeira prateleira, vê-se
muito mais” p.60). Nesta grande encenação, o narrador se farta de termos no campo
335
MACHADO, Arlindo. As vozes do telejornal. In: A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2000.
201
semântico teatral: “iniciavam uma cena”; “já não precisava de grandes preparações para
entrar nos dois personagens” (p.63).
Entre a protagonista, anteprojeto de Macabéa, e o narrador, há um conflito. Em
terceira pessoa, ele analisa tudo criticamente, embora sugira algumas vezes o uníssono
com a voz da protagonista que acumula, mas não concatena os “mil pedaços que não
saberia juntar”, ou seja, ela não apreende o símbolo (do grego sýmbolon, sinal de
reconhecimento: um objeto dividido em partes e o ajuste permitia aos portadores de
cada uma delas se reconhecerem). Daí não lograr entender as “estátuas gregas sem
braço sem conseguir apontar”.
Os objetos com que ela às vezes alucina podem até parecer voar (o sonho em
que “a sala flutuava” e os “bibelôs luziam” (p.72), mas não há proposta de criação;
indica incompreensão. Daí o apreço em tocar as coisas como o sapato, a flor morta. O
olhar é deficitário, enviesado, como se tivesse, em seu empenho permanente e obsessivo
pela nomeação, um déficit cognitivo, um tipo de afasia; não se trata de impulso de
criação, mas de confirmação. Com parca linguagem, os códigos de leitura ficam ainda
mais restritos para apreender o subúrbio em veloz mudança, o que se confirma quando
se muda para a cidade grande, ao se casar com Mateus.
7.3. MONUMENTOS FORA DE HORA: MODERNIZAÇÃO E MEMÓRIA
Diferentemente de Mario de Andrade, cuja relação com as transformações de
São Paulo capital trazem sentimentos contraditórios, oscilando entre repulsa,
estranhamento e euforia, a paisagem em Lispector não é arlequinal. Os títulos dos
capítulos de CS roteirizam o teor das reformas, cujos conflitos sociais são operados em
nível da memória: “O cidadão", "A estátua pública"; "Esboço da cidade", "A aliança
com o forasteiro"; "Os primeiros desertores" e "Fim da construção: o viaduto”.
Um modo curioso de apresentar São Geraldo a alguém de passagem seriam
registros localizados em arquivos da cidade e nas casas de antigos moradores:
fotografias de lugares, identificadas conforme os usos simbólicos de cada um. De
preferência, o antes e o depois das demolições que transfiguraram o lugar; locais que
permitam acessar um pouco da história brasileira na década de 1920, desde a questão
202
do impacto econômico que se anuncia: “todos comendo todos os pratos do cardápio. Era
permitido, a crise ainda não rebentara.”; “Nunca se viu tanta comida, disse Mateus
orgulhoso como se a festa fosse sua, era assim que cada um se apoderava do que podia,
bem se vê que tem qualquer coisa de Governo.” (CS:127).
A maioria das fotos será de sobrados sem pompa, que mobilizam pequenos
grupos sociais; o trilho do trem, o viaduto, as casas simples que acusam o surgimento
de novas religiões (“Até centros espíritas começavam a formar-se acanhadamente no
subúrbio católico“).
Eflúvios modernistas se restringem à menção ao prédio em que
“Três mulheres de pedra sustentavam a portada do edifício modernista que uns
andaimes ainda obstruíam: era o único lugar em sombra”; e a algo como um movimento
feminino sem garra, quase passatempo, de curta duração. A Associação de Juventude
Feminina de S. Geraldo agrega um grupo de “moças pequenas, com quadris baixos e
cabelos compridos”. A líder, de nome Cristina, a “mais adiantada subúrbio”, não atraía
os homens: “cheirava a leite, a suor, roupas do corpo” (p.18); também era “baixa como
uma mulher devia ser, um pouco gorda como deveria ser uma mulher.
Sintomas da modernização entendida como progresso são satirizados pelo
narrador, que abusa dos plurais para caricaturar a devastação civilizatória que remodela
o subúrbio em velocidade e se intromete também nos subterrâneos do lugar (“um novo
edifício ou um sistema mais moderno de esgotos.” p.77). Planejamento e subordinação
do presente a um programa prévia e rigorosamente estabelecido e agenciado pelo Estado
são modos de operação do controle dos papéis sociais e da emoção, que contribuem
para a criação do modelo espacial dicotômico.
Neste sentido, CS prenuncia a crítica ferina da autora a Brasília e às falsas
utopias de reformas urbanas. Arrancam-se as raízes da paisagem, arbítrio do poder
econômico. As palavras de ordem são “aparelhos”, “aperfeiçoar”, “máquinas”.
remodelavam o calçamento de uma rua, e os aparelhos
aperfeiçoados se esquentavam ao sol. Em poucos dias o
calçamento não seria tão atual. E instrumentos ainda mais
aperfeiçoados viriam trabalhá-lo. Vários transeuntes olhavam
as máquinas. Lucrécia Neves Correia também. As máquinas.
[grifos nossos] (p. 66)
O conjunto de transformações cria um desajuste entre memória e identidade. São
destruídas referências históricas, pela intervenção externa, roubando a “honra” do lugar,
como se vê na reação de Mateus ao ler notícias da remodelação da cidade:
203
"O público", lia Mateus, "seguiu interessado nessas renovações felizes,
e nossa imprensa não deixou de saudá-las, acentuando o alcance moral
de tais ações. Pois, não é dando valor à herança dos antepassados,
construída com o suor de suas frontes, que se honra uma cidade?",
tremia Mateus Correia. Ela quereria interromper o tom de insuportável
beleza com que o marido lia os louvores à cidade. "Mas a Comissão de
Urbanismo teve ultimamente a infeliz ideia de demolir o antigo edifício
dos Correios e Telégrafos, ideia essa que faz estremecerem de
indignação as pedras de nossas ruas. Inútil dizer que o povo de S.
Geraldo aguarda explicações.”( 77)
A modernização muda eixos de observação e o cidadão é excluído das decisões,
conduzidas por técnicos e agentes externos (como a “Comissão de Urbanismo”) que
desconsideram o monumento como memória e história de um lugar.336 Para o
historiador da arte austríaco Alois Riegl337, monumentos são potencialmente
mediadores “da identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou
familiar”338. Conforme a intenção com que foram construídos, valores de rememoração
atribuídos a eles podem ser divididos em valor de antiguidade, valor histórico e valor de
rememoração intencional.
Pelo primeiro, valoriza-se o processo de decomposição por forças da natureza,
pois suscita no espectador a emoção do tempo transcorrido, “o ciclo de criaçãodestruição, que se apresenta como lei inexorável da existência”. Já monumento
enquanto documento histórico pede a conservação: ainda que admita as transformações
já impostas pelo tempo como parte da história do próprio monumento, quanto mais fiel
ao original, maior a paralisação da degradação causada pelo tempo. Por fim, a
rememoração intencional busca o presente eterno, a imortalidade do estado original –
deve ocultar a ação do tempo, dar impressão de “perfeita integridade, não tocado pela
ação destrutiva da natureza” (25).
Ora, o prédio dos Correios e Telégrafos era para ser preservado; constituía uma
coordenada espacial e temporal para os moradores. Por mais que o coletivo guarde
conflitos internos, a edificação ganha um sentido particular culturalmente aceito pelos
que ali vivem. É rememoração intencional, que causa emoção patrimonial. A demolição
336
Noutros textos a escritora dissemina o lado negativo de intervenções que abortam tradições e
memórias. Não só o prédio de GH, mas em “Geleia Viva” (OEN) há um prédio que guarda um grito. O
terraço no escuro não se abre à contemplação, e é mortal: “pronta a me lançar daquele meu último andar
da Rua Marquês de Abrantes.” “Consegui acordar-me - me puxasse pelos cabelos para sair do atolado
vivo”; Num edifício de apartamentos, um galo?? Galo rouco vivo.
337
Riegl, A. Op.cit.
338
CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. Tradução Luciano Vieira Machado. São Paulo, Estação
Liberdade / Ed. Unesp, 2001, pág. 18
204
destrói um campo de referência do grupo; daí as reações, em nome da ancianidade.
Aquele prédio integra uma paisagem imaginada em que pessoas se reconhecem e se
identificam. É uma edificação que conserva memórias, diferentemente do sentimento
das paredes evocadas em “Desenhando um menino” ou em PCS.
Se a obra clariciana explora a ambivalência de zonas limítrofes entre liberdade e
aprisionamento, simbolizadas em imagens de delimitação, há situações em que outra
ordem de sentimentos ganha primeiro plano. Silenciosamente, o espaço encarna a
corrosão. A memória subjetiva dialoga em abismo com as referências espaciais.
Reproduzo “O Manifesto da cidade”, contundente no que diz respeito ao encontro do
passado com o delimitado; com a expansão do irrecuperável, a superposição de tempos,
e o peso do que, palpável, faz sobressair o nevermore.
Por que não tentar neste momento, que não é grave, olhar pela janela?
Esta é a ponte. Este é o rio. Eis a Penitenciária. Eis o relógio. É Recife.
Eis o canal. Onde está a pedra que não sinto? a pedra que esmagou a
cidade. Na forma palpável das coisas. Pois esta é uma cidade realizada.
Seu último terremoto se perde em datas. Estendo a mão e sem tristeza
contorno de longe a pedra. Alguma coisa ainda escapa da rosa-dosventos. Alguma coisa se endureceu na seta de aço que indica o rumo de
– Outra Cidade.
Este momento não é grave. Aproveito e olho pela janela. Eis uma casa.
Apalpo tuas escadas, as que subi em Recife. Depois a pilastra curta.
Estou vendo tudo extraordinariamente bem. Nada me foge. A cidade
traçada. Com que engenhosidade. Pedreiros, carpinteiros, engenheiros,
santeiros, artesãos - estes contaram com a morte. Estou vendo cada vez
mais claro: esta é a casa, a minha, a ponte, o rio, a Penitenciária, os
blocos quadrados dos edifícios, a escadaria deserta de mim, a pedra.
Mas eis que surge um Cavalo. Eis um cavalo com quatro pernas e
cascos duros de pedra, pescoço potente, e cabeça de Cavalo. Eis um
cavalo.
Se esta foi uma palavra ecoando no chão duro, qual é o teu sentido?
Como é cavo este coração no peito da cidade. Procuro, procuro.
Casa, calçadas, degraus, monumento, poste, tua indústria.
Da mais alta muralha - olho. Procuro. Da mais alta muralha não recebo
nenhum sinal. Daqui não vejo, pois tua clareza é impenetrável. Daqui
não vejo mas sinto que alguma coisa está escrita a carvão numa parede.
Numa parede desta cidade. [negritos nossos]
A narradora contrasta a cidade da infância, sua Recife imaginária e impregnada
de passado, à cidade acintosamente atual diante de seus olhos já adultos, conflitando
morte e vida, mito e realidade, olhar e tato, sem a ternura ou a vaga melancolia
saudosista de seu conterrâneo Manuel Bandeira, quando trazia aos versos a mesma
cidade. Aproxima-se talvez de Walter Benjamin, que, ao retornar à Berlim da infância,
tenta rastrear a história em objetos cotidianos, ruas, passagens e no desenho urbano –
coisa que o nosso outro poeta, o mineiro Drummond, não fez a não ser em versos e em
205
pensamento, talvez pelo medo de uma falta absoluta e dolorosa que ficou retida no
minério339. No dizer do intelectual judeu:
Não podemos recuperar totalmente o que foi esquecido. E talvez seja
bom assim. O choque do passado seria tão destrutivo que, no exato
momento, forçosamente deixaríamos de compreender nossa saudade.
Mas é por isso que a compreendemos, e tanto melhor quanto mais
profundamente jaz em nós o esquecido.340
O momento presente e a concretude em “O manifesto da cidade” são trazidos
para o texto através do demonstrativo (este, esta), do dêitico “eis” e do artigo definido
“o”/”a”. A memória não se recupera mais à vista dos elementos que compuseram uma
história distante; apesar da presença física e do esforço em transformar olhar em tato e,
desse modo, lugares e objetos não dão conta de reaver o que já houve. Ponte, rio, canal,
relógio, escadaria são fluxos e, simultaneamente, presídio, blocos quadrados dos
edifícios (contenção, demarcação, prisão).
Algo falta naquela paisagem citadina,
entretanto tão à mão341.
Parte da impossibilidade decorre da racionalidade de projetos urbanos, conforme
indicam expressões como “cidade traçada” e “com que engenhosidade”. Na matéria
opaca, em séries enumeradas, erige-se a impenetrabilidade quando o sujeito não percebe
nas edificações um papel mediador para sua identidade. A lista em gradação do que
constata nos tijolos, no cimento e nas construções acabadas - “Casa, calçadas, degraus,
monumento, poste, tua indústria. a mais alta muralha - olho. Procuro. Da mais alta
muralha não recebo nenhum sinal.” - não oblitera totalmente o subsolo do mito, na
figura do Cavalo, com “c” maiúsculo, que em Lispector remete à vitalidade e ao
inconsciente.
A ferramenta de inscrição biográfica e instrumento de trabalho obtido pela
carbonização da madeira pelo fogo (“Desenhando o menino”, A Paixão segundo GH)
339
“Alguns anos vivi em Itabira./ Principalmente nasci em Itabira./Por isso sou triste, orgulhoso: de
ferro./Noventa por cento de ferro nas calçadas./ Oitenta por cento de ferro nas almas./E esse alheamento
do que na vida é porosidade e comunicação”. Estrofe de “Confidência do itabirano”
340
BENJAMIN, Walter. O jogo das letras. In: “Infância em Berlim por volta de 1900”. In: Obras
escolhidas II. Rua de mão única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa.
São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 109-110
341
FOUCAULT, Michel. “Outros espaços”. Conferência. In: FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e
pintura, música e cinema. Manoel Barros da Motta (Org.). Trad. de Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de
Janeiro: Fonte Universitária, 2009. Para Foucault, fugas podem ser vistas como buscas de heterotopias,
isso é, espaços de deslocamentos e “estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos,
spécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis”
(Foucault, 2009, p. 415).
206
duela impotente com a edificação industrial acabada. A paisagem imaginada é corroída
pela distância e as edificações são perturbadoras presenças ausentes.
Da muralha à montanha
Outra paisagem mais improvável aloja-se em textos rasos de “história”, alguns
deles curtos, de caráter reflexivo como “Silêncio”, publicado inicialmente na imprensa
com o título “Noite na montanha” (24/08/68) e depois inserido em Um aprendizado ou
o livro dos prazeres (carta de Lóri para Ulisses).
O mote é a vastidão do “silêncio da noite na montanha”, fantasma-presença
voraz que desconstrói as linhas com que os humanos fixam a sua existência no tempo e
no espaço. Há um nítido esforço em tentar traduzir “aquilo” que não se vê, mas que se
percebe internamente, pela densidade abstrata e por um tipo de peso de natureza bem
específica, que não tem a ver com o fisicamente concreto, embora percebida como
dotada de volume. O silêncio convoca outros parâmetros. A falta de som, a parca visão
e o isolamento se tornam precondições para que o imaterial se materialize,
paradoxalmente, de forma abstrata. Ou, dito de outra forma, para que a matéria, no que
ela tem de ilimitado, ganhe forma. Esse “algo” que se impõe ao narrador – de tão
absoluto e tão vago - impossibilita uma relação de igual para igual: “este silêncio não
deixa provas”.
Aqui vale o contraponto entre o que se revela para o narrador e o que o
dicionário elenca como possíveis sentidos e empregos da palavra “coisa”. Não se trata
de “qualquer objeto inanimado”. Pertence à categoria de “Tudo o que existe; todo ser
inanimado, animado, real ou aparente:” Há na “coisa” silêncio uma dimensão de
realidade de outra ordem; ela existe de “fato” (também indicada no dicionário), mas não
ganha necessariamente formas delineadas. Simultaneamente é “aquilo que existe ou
pode existir”, “objeto suscetível de apropriação, propriedade (ele possui poucas coisas)”
e (retendo as ideias de autonomia e de verdade) “o que ocorre; acontecimento: o curso
natural das coisas.” e “Coisa em si, realidade absoluta (por oposição a aparência, ou
representação). Potência. Acumula também a noção de ( Ato. Causa. Espécie) mistério,
indeterminação”.
O silêncio se traduz pela não clareza da matéria que o constitui: dispersa,
incomensurável e sólida – daí mesmo extrai sua potência, dando margem a que o sujeito
capte (com desesperança) a abstração de tudo. Fracassam tentativas de, pelas palavras,
207
controlar a emergência do que usualmente se entende por informe; de criar barreiras
mentais racionais (“em vão trabalhar para não ouvi-lo”); ou, ainda, de estabelecer uma
logística que o domine (inventar um programa). Não será tampouco eficaz forjar
presenças dotadas de fisicalidade, como deixar cair algo no chão: “a possibilidade de
uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abra e diga alguma coisa”.
Deixa-se como por acaso o livro de cabeceira cair no chão. Mas, horror
- o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem
deste. E se um pássaro enlouquecido cantasse? Esperança inútil. O canto
apenas atravessaria como uma leve flauta o silêncio. (OEN:101)342
Objetos que naturalmente deixam rastro estão excluídos. Qualquer continuidade
traria de volta o modo humano e tolerável de viver, como o gesto de acender lâmpadas e
forjar o amanhecer.
Mas o silêncio se instala, toma posse, depois do fechar das portas.
As ruas brilham nas pedras do chão e brilham já vazias. E afinal
apagam-se as luzes as mais distantes. Sinais vitais. Porque esses ruídos
e formas cotidianos são sinais vitais, humanos, que percebem a natureza
de forma animada folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor, algum
passo tardio talvez se ouça com esperança pelas escadas.
Mas há um momento em que do corpo descansado se ergue o espírito
atento, e da terra a lua alta. Então ele, o silêncio, aparece. [grifos
nossos] (OEN:100)
Assim, nem mesmo a memória de amigos “que passaram e para sempre se
perderam” evitam – porque memória é narrativa, história – a sensação corpórea de
quem vive a experiência do que toca “de dentro”. Uma presença abstrata e densa, como
o chá imaginário descrito na crônica “O lanche” (PNE), que reuniria todas as
empregadas que trabalharam em sua casa. Elas estariam representadas em cadeiras
vazias arrumadas em círculo, num domingo à tarde na rua do Lavradio, centro do Rio e
onde a cidade começou a se desenvolver.
O ato de coragem de enfrentar o silêncio, como a conquista para depois perder a
voz, tem proporções de um “navio descomunal”, porque “não fomos feitos senão para o
pequeno silêncio”. Somente a claridade da aurora quebrará essa espécie de terror do
silêncio. O apelo e o apego aos objetos falam daquilo que nos assusta e nos ampara.
A marca da experiência inscreve uma memória-cicatriz . Inútil fugir para outra
cidade.
342
Texto similar em Para não esquecer intitulado Silent night, holy night. p. 32
208
7.4 OS MAPAS
Umberto Eco (1985)343 escreve que a força de um romance começa no título;
este “deve confundir as ideias, nunca discipliná-las”. (p.9) Dentre os romances que li, e
considerando o rumo desta escrita, destaco “O risco do bordado”, de Autran Dourado
(que, como Eco, também escreveu um livro sobre o processo de composição de sua
obra). A escolha tem a ver não só com o modo de estruturação da obra, mas com espaço
e memória. Faço um pequeno desvio, antes de ir ao ponto.
Lembrei-me diversas vezes do romancista mineiro nos dois dias em que visitei a
Bienal de São Paulo de 2012. Além de Arthur Bispo do Rosário, obras de diferentes
países trabalharam com o tear e o bordar, em móbiles ou telas: a norte-americana Elaine
Reichek que recria reproduções de pinturas famosas como “Torre de Babel”, de Pieter
Bruegel; F. Marques Penteado; Sheila Hicks, etc.).
A simples ideia-imagem do bordado agrada, pelo que evoca de memória e
construção, de tato e contato, de concreto e abstrato. Recentemente, conheci trabalhos
de dois jovens artistas que usam técnicas do tracejar (Guga Szabzon344,
de que
apresento um segmento de “Paisagem imaginada”, costura sobre papel) e do reciclar
(Camilo Meneghetti345, que, em agosto de 2014, montou uma exposição também
chamada “Paisagem imaginada”).
343
ECO, Umberto. Pós-escrito a O nome da Rosa. Tradução de Letizia Zini Antunes e Álvaro Lorencini.
Revisão Cléa Márcia Andrade Soares e Edílson Chaves C. Uranga. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985.
“Um narrador não deve oferecer interpretação de sua obra, caso contrário não teria escrito um romance,
que é uma máquina para gerar interpretações. Mas um dos principais obstáculos à realização deste
virtuoso propósito é justamente o fato de que um romance deve ter um título. Um título, infelizmente, é
uma chave interpretativa.“ (p.8)
344
http://gugaszabzon.tumblr.com/post/68277532990/paisagem-imaginada-costura-sobre-papel-110-cm-x
Formada em artes (FAAP e FPA), exposições individuais e coletivas em SP, residência artística em
Berlim. Trabalhou na coordenação dos ateliês da 29° e da 30° Bienal de São Paulo.
345
Camilo Meneghett, foi diretor de arte, ilustrador e artista residente na Tofiq House, SP. Diversas
exposições, como
Ateliê Alê / Pinta Special Project, Pinta London/Inglaterra.
http://zippergaleria.com.br/pt/#exposicao/paisagem-imaginada/
209
346
Szabzon borda vazios e a “eminência de”, na delicadeza e no cuidado no trato da
agulha e linha sobre o papel. Cria movimento em balé deixando que se indique fora da
área sugestões de continuidade e infinito. No miolo, presenças/ausências nos buracos
dos pespontos. A superfície chama ao tato e cada cor, uma intensidade. Meneghetti
desenvolve um misto de desenho e escultura, com massas de grafite e carvão disformes
e novamente esculpidas. O resultado final não dissimula o processo.
Estas referências me pareceram importantes, na fase de conclusão de uma tese
que procurou a mobília, as vestimentas, as edificações e os objetos de uma galeria de
personagens intranquilos entre a segurança dos tijolos e o assombro do que as
construções podem evocar. Nada está ali casualmente e o conjunto faz um percurso
melancólico nas arquiteturas de vida apresentadas ao leitor, numa linguagem poética
346
Sem Título, 2013. Carvão e grafite sobre papel. 96 x 66 cm
210
perturbadora. Toalhas, elevadores, telefones, chapéus e portas migram de uma história
para outra, atravessando tempos. Clarice Lispector superpõe, no mínimo, duas
cartografias. A do momento presente vivido pelas personagens ou da instância da
enunciação; e a milenar, que ressoa em eco, sobre os acontecimentos e nos meandros da
memória e da linguagem. Vários de seus textos, desde sempre, incentivam a
comunicação entre lugares. Saem de um livro para o outro e ali ficam, aguardando. O
trânsito não se circunscreve a uma leitura arquetípica fechada. São repercussões, não
equivalências ou reprises. Efeito similar se dá na volta, em diferença, aos mesmos
lugares textuais, reconstruindo-os, em nova escritura.
Texto, geografia, paisagem, passagens: é este o tema de encerramento.
Folheio anotações de viagem e vejo que a escritora registra, em 31 de julho de
1944, a perturbação mágica que lhe causou ter tido contato com habitantes de vilarejos
da Libéria, "onde os missionários não chegaram". E declara: "Como gostei daquela
gente negra".347
África, matriz da história da humanidade, que resiste ao açoite e à devastação
(como a barata pré-histórica que G.H. associa a uma rainha africana). Diário de bordo,
matriz de textos que não se acabam, nem que isto se dê no momento de lê-los
“distraidamente”. Ambos, marcos geográficos de distintas naturezas, mas que tem em
comum o espaço como resistência, referência, memória e expansão. Pulsante paisagem
imaginada.
Agrego outra observação, que, creio, ajudará neste ensaio de conclusão. A
concepção do livro O jogo da amarelinha de Julio Cortázar é similar à de O risco do
bordado: ambos “desmontáveis”, com estrutura sem ordem rígida dos capítulos, que
têm autonomia. Como o próprio Autran sugere, trata-se de um procedimento que já
existia na literatura nacional; cita Vidas secas, de Graciliano Ramos e poderia agregar A
Cidade Sitiada (e outras obras de Clarice Lispector), cujos capítulos-partes, conforme
argumenta Regina Pontieri, “são, ao mesmo tempo, individualidade e fração cada qual
com características próprias, mas reverberando nos demais do conjunto.” A professora
recupera o histórico desse tipo de operação, lembrando que o “décimo terceiro capítulo
foi traduzido isoladamente para o francês, com o título “Persée dans le train”.
347
Possível inspiração para o conto “A menor mulher do mundo”. A anotação dá outras crias: "África"
(Fundo de Gaveta, de 1964), e "Corças negras" ( Jornal do Brasil e publicado em 5 de abril de 1969)
depois incluído em A descoberta do mundo.
211
Blocos que funcionam de forma autônoma; que se realocam noutras narrativas,
esse bordado se dá obra no subsolo da obra em Clarice, que desnorteia. Silviano
Santiago comenta, recorrendo a imagens espaciais e tácteis, que
Se o acontecimento, no seu sentido tradicional, é de difícil
interpretação, o acontecimento desconstruído é de difícil apreensão. O
esforço da narrativa ficcional de Clarice é o de surpreender com
minúcia de detalhes o acontecimento desconstruído. Ele é um quase
nada que escapa e ganha corpo, é esculpido matreiramente pelos dedos
da linguagem.(p.237)348
As relações intertextuais não previsíveis ou prováveis remetem, em Clarice
Lispector, à alocação de lugares ancestrais no tempo presente, e ao reaproveitamento de
textos, “redesenhos”. O armário volta com o nome de guarda-roupa, ou vice-versa,
mas desta vez com a barata muito antiga e cheia de camadas, arrastando-se como uma
senhora idosa que perdeu o chapéu. Entre um artefato e outro artefato um vazio de
tempo, e portas esperando ser abertas. “ a metáfora reveladora tanto do modo concreto
como o mundo se apresenta aos sentidos quanto do modo duradouro (espacializado)
como se potencializa nele o tempo futuro, o seu vir-a-ser. Clarice metaforiza o ‘it’ por
uma imagem praticamente tomada da poesia de João Cabral de Mello Netto. O sol da
atenção transforma a experiência subjetiva num ‘caroço seco e germinativo’,
potencializando-a”. (SANTIAGO,S.: 237)
Não deixo de assinalar que, ao buscar recentemente na internet a edição
brasileira de “O espaço literário” de Maurice Blanchot, que tenho em velho exemplar
em francês, chamou a atenção, na apresentação feita pela editora, o emprego de termos
geográfico-espaciais (que também operam nas artes visuais) que extrapolam a metáfora
anunciada no título: “livro marco”; “mapeamento do espírito do homem moderno;
“elementos que pontuam as obras”; “ciclos e passagens de um itinerário”; “horizonte de
significados da literatura”; “fronteira do vivenciável e o limite do dizível”. Na obra do
autor, que interpreta o espaço textual, está implicada uma rede de imagens ligadas ao
espaço de forma móvel: trata-se de fronteira, itinerário, mapeamento (e não do mapa).
Didi-Huberman pondera que, além das propriedades visíveis, objetos são “volumes
dotados de vazios” que perturbam “quando vemos o que está diante de nós, por que uma
outra coisa sempre nos olha, impondo um em, um dentro?”349.
348
SANTIAGO, Silviano. A aula inaugural de Clarice Lispector –cotidiano, labor e esperança. In: O
cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2004.
349
DIDI-HUBERMAN. O que vemos, o que nos olha. Tradução Paulo Neves. São Paulo, Editora 34,
1998. p. 30
212
Tem mais: ao incorporar o conceito de paisagem, o pensamento teórico literário
e artístico não só revaloriza “as relações de afetividade desenvolvidas pelos indivíduos
em relação ao ambiente”350, como redireciona a metáfora temporal, focada no “modelo
da consciência individual, com sua temporalidade própria”, para “metáforas espaciais,
estratégicas”, que permitem “perceber exatamente os pontos pelos quais os discursos se
transformam em, através de e a partir das relações de poder.” (FOUCAULT, 1999:
90).351
Integrar, na leitura da obra de Lispector, objetos e demarcações espaciais como
paisagens imaginadas, é uma das possíveis respostas aos que tanto estigmatizam a sua
ficção, criando uma cisão entre o investimento numa linguagem absolutamente
renovadora, em traçados nômades e certeiros, e as dimensões sociais e cultuais. A
escritora apresenta paisagens imaginadas, em que se agitam desejos e frustações
individuais e sociais.352 A “nova sensibilidade judia” foi trabalhada pelo nomadismo e
pelo desejo de enraizamento, e a biografia da escritora é exemplar neste sentido. Esta
condição é especialmente favorável para instaurar repercussões de um lugar no outro, de
um tempo no outro. Objetos, em particular os de afeição (Dassié 2010)353, são suportes
e expressões de emoções, histórias e memórias, e propulsores de reflexões e
reinvenções:
(...) desde Henri Bergson, com a fenomenologia apreendendo a
memória como “uma potência absolutamente independente da matéria”,
o divórcio entre matéria e memória se consagrou. Ora, a realidade
concreta da lembrança psíquica, como os sentimentos, teria como único
suporte a psique e, enquanto aptidão cognitiva, estaria
consequentemente restrita ao âmbito exclusivo da psicologia. Difícil de
derrogar essa divisão disciplinar: aos psicólogos, os trabalhos sobre a
memória individual e os afetos, às ciências ditas sociais seu alcance
estritamente coletivo. Os primeiros descortinam os seus mecanismos,
qualificam os diferentes registros, quantificam as aptidões cognitivas
indispensáveis a qualquer indivíduo. Os segundos veem nos
monumentos o patrimônio ou um décor doméstico, traços de operação
de um fundo memorial por um grupo. A memória « coletiva »,
totalmente dissociada das paixões individuais de que são o substrato, só
350
GIOMETTI, Analúcia Bueno dos Reis; Pitton, Sandra Elisa C. Op cit.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, Rio de Janeiro: Graal, 1984. Págs. 153-165.
352
BRUNON, Hervé. Sélection La notion de paysage dans les sciences humaines et sociales:repères sur
les approches «culturalistes. 2010. p.1 http://www.topia.fr/images/documents/biblio_h_brunon_topia.pdf
Acessado em 3 jan. 2013
353
DASSIÉ Véronique ( 2010). Opcit
351
213
poderia ser apreendida enquanto emblema de uma comunidade ou como
signo distintivo de um grupo social. (p.20)354
Como sugere Calvino, as “cidades, como os sonhos, são construídas por desejos
e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam
absurdas, as suas perspectivas enganosas e que todas as coisas escondam uma outra
coisa.”355
354
Certes, depuis Henri Bergson, la phénoménologie appéhendant la mémoire como « une puissance
absolument indépendante de la matière », le divorce entre matière et mémoire était consacré. Or, la réalité
concrète du souvenir psychique, comme les sentiments, aurait pour seul support la psyché, et, en tant
qu’aptitude cognitive, serait par conséquent du seul ressort de la psychologie. Difficile de déroger à ce
partage disciplinaire : aux psychologues les travaux sur la mémoire individuelle et les affects, aux
sciences dites sociales leurs portée srictement collective. Les premiers en décortiquent les mécanismes, en
qualifient les différente registres, quantifient les aptitudes cognitives insispensables à tout individu. Les
secons voient dnas les monuments, le patrimoine ou un décor domestique, les traces de la mise en oeuvre
d’ un fonds mémoriel par un groupe. La mémoire «colective», totalement dissociée des passions
individuelles qui en sont le substrat, ne pourrait être appréhendée qu’en tant qu’embème d’une
communauté ou comme le signe distinctif d’ un groupe social. (p.20)
355
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi São Paulo, Cia das Letras. 1990, p.44
214
7.5 PALAVRA FAZ MESMO FALTA?
densa selva de palavras que envolvem espessamente o que sinto e penso e vivo e transforma
tudo o que sou em alguma coisa minha que no entanto fica inteiramente fora de mim.
(AGUA VIVA)
Minha mãe, ao morrer, deixou um guarda-roupa cheio,
Um mundo meio gasto, meio novo
Roupas de baixo fora de moda; uma fileira de sapatos,
Solas viradas para cima, nos fitando,
Um emaranhado de anéis, opalas impacientes, pulseiras e pérolas baratas;
E, florido ou resplandecente, de raiom, algodão ou tule,
Uma centena de vestidos, esperando.
Sozinho com aquele esfarrapado passado,
Meu pobre e alquebrado pai vendeu tudo.
O que poderia ele fazer? O negociante deu de ombros e disse:
"É pegar ou largar, depende de você."
Ele pegou e perdeu os trocados na corrida de cavalos.
O guarda-roupa, vazio, ficou olhando para ele, anos a fio. (“Resíduo”, Laurence Lerner)
Sou como um embrulho que se entrega de mão em mão
‐ chegamos ao limiar de portas que estavam abertas ‐ e por medo ou pelo que não sei, não atravessamos plenamente essas portas. Que no entanto têm nelas já gravado o nosso nome. Cada pessoa tem uma porta com seu nome gravado, Tom [Jobim], e é só através dela que essa pessoa perdida pode entrar e se achar. “francispongei-me" (Murilo Mendes) Para quem quiser o ponto final: Na ficção clariciana o eu transita entre subjetividade e matéria. Objetos, espaços e paisagem imaginada mostram outro modo de ler Clarice. 215
Os textos guiam. Boas provocações em parceria com a
antropologia, as artes visuais e estudos de comunicação
desenvolvidos por frankfurtianos.
Objeto e espaço visíveis e tangíveis são concebidos como campos
de mediação. Neles se desenvolvem experiências sociais,
culturais, sensoriais e afetivas.
Artes visuais oferecem parte substancial de teorias sobre espaço
e objeto, desde a inserção do objeto cotidiano nas obras até novas
formas de interatividade no processo criativo.
No solo cultura, ganham outra perspectiva as fraturas na
comunicação, a questão da memória, a mercantilização de
valores, a compreensão da velhice e a condição da mulher.
A renovação da linguagem está no cerne de movimentos
ficcionais que desterritorializam: por isso o conceito de “história
fantasmal” se tornou apropriado.
O tempo histórico e a memória cultural são descontínuos, se
expressam por estratos, redescobertas, sobrevivências.
Os dela. Os nossos.
216
Objetos e paredes nos cercam,
para que
imagens e memórias
sejam criadas
e a noite não acabe
sobre a parede oculta.
(anônimo)
217
BIBLIOGRAFIA
ESTUDOS CRÍTICOS SOBRE A ESCRITORA
AMARAL, Emília. O leitor segundo G.H.: uma análise do romance A paixão segundo G.H. de
Clarice Lispector. São Paulo, Ateliê Editorial, 2005.
ARÊAS, Vilma. “Children’s Corner”. Revista USP, São Paulo, dez/fev 1997-9, 144-153.
ARÊAS, Vilma. & WALDMAN, Berta. Eppur, Si Muove. Remate de Males, Campinas,
(9):161-168, 1989.
BORELLI, Olga. Clarice Lispector: esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1981.
BRASIL, Assis. Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Simões, 1969.
CAMPOS, Haroldo de. Introdução à escrita de Clarice Lispector. In: Metalinguagem e outras
metas. São Paulo: Perspectiva, 1992.
CANDIDO, Antonio. A Educação Pela Noite & Outros Ensaios. São Paulo: Ática, 1989.
_________________. Uma Tentativa de Renovação. In: Brigada Ligeira. São Paulo: Martins,
1945, p. 98-109.
_________________. No Raiar de Clarice Lispector. In: Vários Escritos. São Paulo: Duas
Cidades, 1970.
_________________. No começo era de fato o verbo. In: LISPECTOR, Clarice. A paixão
segundo G.H. Edição crítica. Benedito Nunes (coordenador). Madrid, Paris, México, Buenos
Aires, São Paulo, Lima, Guatemala, São José da Costa Rica, Santiago de Chile: ALLCA
XX/Scipione cultural, 1997.
CHIAPPINI, Lígia. No começo era de fato o verbo. In: LISPECTOR, Clarice. A paixão
segundo G.H. Edição crítica. Benedito Nunes (coordenador). Madrid, Paris, México,
Buenos Aires, São Paulo, Lima, Guatemala, São José da Costa Rica, Santiago de Chile:
ALLCA XX/Scipione cultural, 1997.
218
________________. Pelas ruas da cidade uma mulher precisa andar. In: Literatura e sociedade.
Revista do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP. São Paulo: n.1, 1996.
CIXOUS, Hélène. Vivre l'Orange, to Live the Orange. Paris: Des Femmes, 1979.
COELHO, Eduardo Prado. A Paixão depois de G.H.. Remate de Males, Campinas, (9): 147-151,
1989.
FERREIRA, Teresa Cristina Montero. Eu sou uma pergunta: uma biografia de Clarice
Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
FITZ, Earl E. O Lugar de Clarice Lispector na História da Literatura Ocidental: uma Avaliação
Comparativa. In: Remate de Males, Campinas, (9): 31-37, 1989.
FUKELMAN, Clarisse. A palavra em exílio, uma leitura de Clarice Lispector. In: A mulher na
literatura. Belo Horizonte: UFMG, 1990.
__________________. Cartas na mesa: amizade e carreira literária em Clarice Lispector. In:
FUKELMAN, Clarisse (org.) Eu assino embaixo: biografia, memória de cultura. Rio de
Janeiro, EdUERJ, 2014 p.136-158.
GOTLIB, Nádia. Clarice. uma vida que se conta. São Paulo: Ática, 1995.
______________. Olhos nos Olhos. In: Remate de Males, Campinas, (9): 139-145, 1989.
______________. Clarice Lispector: a mulher e a literatura. In: Boletim da Biblioteca Mário de
Andrade, São Paulo, 43(3/4): 15-21, jul./dez. 1982.
GROSSMANN, Judith. Os grandes desafios da crítica literária: o Caso Clarice. Tempo
Brasileiro, Rio de Janeiro, (60): 52-58, jan./mar. 1980.
HELENA, Lucia. Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice Lispector. Niterói:
EDUFF, 2006.
_______________. Clarice Lispector: a função desalienante da sua criação literária. In: Escrita
e Poder. Rio de Janeiro: Cátedra, Pró-Memória; Brasília: INL, 1986, p. 91-99.
______________. A narrativa dinâmica de Clarice Lispector. In: Rio de Janeiro: Cátedra, PróMemória; Brasília: INL, 1986, p.85-90.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Tema e Técnica. Remate de Males, Campinas, (9): 177-179
1989.
219
LIMA, Luiz Costa. A Mística ao revés de Clarice Lispector. ln: Por Que Literatura. Petrópolis:
Vozes, 1966, p. 98-124.
_______________. Clarice Lispector. In: Literatura do Brasil, era modernista. São Paulo:
Global, 1997.
LINS, Álvaro. A experiência incompleta: Clarice Lispector. In: Os mortos de sobrecasaca. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.p.186-191.
MOSER, Benjamin. Clarice, uma vida de que conta.Tradução de José Geraldo Couto. São
Paulo: Cosacnaify, 2009.
NOLASCO, Edgar Cézar. Restos de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice Lispector.
São Paulo, Annablume, 2004.
NUNES, Benedito. O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo:
Editora Ática, 1995.
_______________. Introdução. In: LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Edição
crítica. Florianópolis: UFSC, 1988.
________________. Clarice Lispector ou o Naufrágio da Introspecção. In: Remate de Males.
no. 9. Campinas: Unicamp, 1989. 63-70
_____________. Leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Quíron, 1973.
_____________. O Mundo Imaginário de Clarice Lispector. In: O Dorso do Tigre. Ensaios. São
Paulo: Perspectiva, 1969, p. 93-139.
_____________. O Mundo de Clarice Lispector. Manaus, Governo do Estado do Amazonas,
1966.
OLIVEIRA, Marly. Perto de Clarice vinte e cinco anos depois. In: MOREIRA, Lauro.
Sempre Clarice. Disponível em: http://quincasblog.wordpress.com/2013/10/14/sempreclarice/ http://www.aresemares.com/index.php/materias‐especiais/sempre‐clarice‐de‐lauro‐
moreira‐embaixador‐brasileiro/. Acesso em 10 dez. de 2013.
OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. A transcendência do regional no romance de Clarice Lispector.
Travessia, Florianópolis, (14): 96-116, 1988.
_________________________. A barata e a crisálida: o romance de Clarice Lispector. Rio de
Janeiro, José Olympio; Brasília: INL, 1985.
220
________________________. Aspectos do Barroco no romance de Clarice Lispector. O Eixo e
a Roda, Belo Horizonte, (2): 113-123, jun. 1984.
PESSANHA, José Américo Mota. Clarice Lispector: o itinerário da Paixão. Remate de Males,
Campinas (9): 181-198, 1989.
___________________. Itinerário da Paixão. Cadernos Brasileiros, Rio de Janeiro, 7(29): 6376, maio/jun. 1965.
PICCHIO, Luciana Stegagno. Epifania de Clarice. Remate de Males, Campinas, (9): 17-20,
1989.
PISA, Clélia. Depoimento. Travessia, Florianópolis, (14): 174-177, 1987.
PONTIERI, Regina. Clarice Lispector: uma poética do olhar. São Paulo, Ateliê Editorial, 1999.
PORTELLA, Eduardo. O grito do silêncio. In: LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1977, 9-12.
SÁ, Olga de. Clarice Lispector: Processos criativos. Iberoamericana, Pittsburg, 50(126): 259285, jan./mar. 1984.
___________. A Escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes; Lorena, Faculdades
Integradas Teresa D'Ávila, 1979.
SANTIAGO, Silvano. A aula inaugural de Clarice Lispector. In: O cosmopolitismo do pobre.
Belo Horizonte: UFMG, 2004.
SANTOS, Roberto Corrêa. Lendo Clarice Lispector. São Paulo: Atual, 1986.
SEVERINO, Alexandrino E. As duas versões de Água-Viva. Remate de Males, Campinas,
(9):115-118, 1989.
SOUSA, Carlos Mendes de. Clarice Lispector: figuras da escrita. Braga: Universidade do
Minho, 2000.
SOUZA, Gilda de Mello e. O Lustre. Remate de Males, Campinas, (9): 171-175 1989.
__________________. O vertiginoso relance. In: Exercícios de leitura. São Paulo: Duas
Cidades, 1980.
SZKLO, Gilda Salem. O Búfalo: Clarice Lispector e a Herança da Mística Judaica. Remate de
Males, Campinas, (9): 107-113 1989.
221
VARIN, Claire. Clarice, Olho-de-Gato. Remate de Males, Campinas, (9): 55-61, 1989.
VIEIRA, Nélson H. A expressão judaica na obra de Clarice Lispector. Remate de Males,
Campinas, (9): 207-209, 1989.
WALDMAN, Berta. Clarice Lispector: A Paixão segundo Clarice Lispector. São Paulo:
Brasiliense, 1983.
_________________. Por linhas tortas: o judaísmo em Clarice Lispector. Arquivo Maaravi:
Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, v. 5, n. 8, mar. 2011.
ZAGURY, Eliane. Clarice Lispector e o conto psicológico brasileiro. ln: A Palavra e os Ecos.
Petrópolis: Vozes, 1971, p. 20-27.
OBRAS DE APOIO E REFERÊNCIA
ADORNO, Theodor. Minima Moralia: reflexões a partir da vida lesada. Tradução de G. Cohn.
Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2008.
________________. Teoria da Cultura de Massa. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1982.
AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha. Tradução Selvino J.
Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008.
ALEIXO, Cynthia Augusta Poleto. Edifícios e galerias comerciais: arquitetura e comércio na
cidade de São Paulo, anos 50 e 60. Universidade de São Carlos, 2005.
ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1974.
__________________.Viagem na família. In: Reunião. Rio de Janeiro, José Olympio, 1983.
ANSTETT, Elisabeth; L. GÉLARD, M. Les Objets ont-ils un genre ? Culture matérielle et
production sociale des identités sexuées. Paris: Armand Colin, 2012. Collection Recherche.
APPADURAI, A. A vida social das coisas: a mercadoria sob uma perspectiva cultural. Niterói:
EduFF, 2008.
ARRUDA, Márcia Bomfim de. Considerações acerca do uso de máquinas elétricas no ambiente
doméstico. In: Projeto História. São Paulo, n.35, p. 397-412, dez. 2007.
ARTAUD, Antonin. « Manifeste pour un Théâtre avorté ». In : O.C., t.II.
ASSIS, Machado. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979
222
AUERCHACH,
Erich. A meia marrom In: Mimesis. Perspectiva: Editora da Universidade
de São Paulo, 1971.
AUGÉ, Marc. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil, 1992.
BACHELARD, Gaston. La poétique de l’espace. Paris: Les Presses universitaires de France,
1961.
BAITELLO JR, Norval. “Imagem e Violência: A perda do presente”. In: Perspectiva, Vol. 13,
n. 13. São Paulo: Fundação Seade, Jul-set, 1999.
BAKHTINE, Mikhail. La poétique de Dostoievski. Paris: Seuil, 1970.
_________________. Le plaisir du texte. Paris: Seuil, 1972.
_______________. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de
François Rabelais. Tradução Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora da
Universidade de Brasília, 1993.
BALÁZS, Béla. A face das coisas. In: A experiência do Cinema: antologia. Ismail
Xavier, organizador. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.
BALZAC, Honoré. Traité de la vie élégante. Paris, Librairie Nouvelle, 1854. Première
partie. BARBIER-BOUVET, Jean-François.«Les visiteurs dans tous ses états ». In:
ERON, Eliseo Veron ; Levasseur, Martine. Ethnographie de l'exposition: l'espace, le
corps et le sens / Bibliothèque Publique d'information: Paris : éd. du Centre Pompidou,
1983.
BARROS, Ana. A percepção espacial como arte: instalação. APG Revista da
Associação dos Pós-graduandos da PUC/SP. Ano 1, nº 1, 1992.
BARTHES, Roland. Inéditos: imagens e moda. Volume 3. Tradução de Ivone Castilho
Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
_______________. S/Z. Tradução de Léa Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
_______________. Semiologia e urbanismo. In: A Aventura Semiológica. Tradução de Maria de
Sta. Cruz. Lisboa: Ed. 70, 1987.
_______________. Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
_______________. O rumor da língua. In: O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense,
1984.
_______________. Brinquedos. In: Mitologias. São Paulo: Diefel.1982. p. 40-42
223
_______________. Sistema da moda. São Paulo: Editora Nacional, 1979.
_______________. Essais critiques. Paris: Seuil, 1964, p.33.
BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre, L&PM,
1987.
BAUDRILLARD, Jean. Os Sistema de objetos. São Paulo: Perspectiva, 2004.
BAUMGARTEL, Stephan. Experiência poética na alquimia do fetiche: deslocando
sensualidade e transcendência no poema Beleza de Charles Simic. Imaginario. São
Paulo, v. 12, n. 12, jun. 2006.
BEAUVOIR, Simone. Le deuxième sexe. Tome 1. Paris: Folio-essai, 1976.
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução Alves
Baptista, H. In: Obras escolhidas III. São Paulo: Brasiliense, 1994.
_______________. Rua de Mão Única: Obras escolhidas II. Trad. R. Rodrigues Torres Filho e
J. C. Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010.
_________________. Destino e caráter. In: O anjo da história. Organização e tradução
de João Barrento. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2012.
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação. São Paulo:
Ed. 34, 2002.
BERNIK, Márcio Antonini (org). Benzodiazepínicos: Quatro Décadas de Experiência. São
Paulo: Roche Edusp.
BERGER, John. Por que olhar os animais? In: Sobre o olhar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,
1980.
BEAUVOIR, Simone. Le deuxième sexe tome 1 Paris, Folio-essai, 1976.
BOLLE, Willi. A Metrópole como medium-de-reflexão. In: SELIGMANN-Silva,
Marcio (org.). Leituras de Walter Benjamin. São Paulo: FAPESP: Annablume, 1999.
BONNOT, T. Itinéraire biographique d’une bouteille de cidre. L’Homme, n.170,
2004/2, pp. 139-163.
BORBA, Maria Antonieta Jordão de Oliveira. Tópicos de teoria para a investigação do
discurso literário. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004.
BORGES FILHO, Ozíris. Espaço e literatura: introdução à topoanálise. Franca: Ribeirão
Gráfica e Editora, 2007.
224
BOSI, Ecléa. Memória sonho e memória-trabalho. In: Memória e sociedade: lembranças de
velhos. São Paulo: Editora da USP, 1979.
BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1974.
BRANDÃO, Ludmila de Lima. A casa subjetiva. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
__________________. Deslocamentos contemporâneos: notas sobre memória e arte.
Ciência e Cultura. Vol. 64, nº.1. São Paulo, jan. 2012
BRUNON, Hervé. Sélection La notion de paysage dans les sciences humaines et
sociales:repères sur les approches «culturalistes. 2010
BRECHT, Bertolt. Os Títulos e as Telas. In: Estudos sobre o Teatro. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1978. p. 26.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cultrix, 1993.
______________. Seis propostas para o próximo milênio. Tradução Ivo Barroso. São
Paulo: Companhia das Letras:1990.
_________________. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi São Paulo, Cia das Letras.
1990.
CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização.
Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1995.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976.
________________. A personagem de ficção. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.
CARAION, Marta. Objets en littérature au XIX siècle. In: Images Re-vues [online], jan., 2007.
Disponível em: http://imagesrevues.revues.org/116
CARNEIRO, Beatriz. Uma inconsútil invenção: a arteciência em José Oiticica Filho. In: Pontoe-Vírgula. Revista de Ciências Sociais, 6: 107-146, 2009.
CAROLLO, Cassiana Lacerda. O espaço e os objetos em Quincas Borba. In: Revista Letras,
Curitiba: (23): 13-31, jun. 1975.
CARVALHO, Vânia Carneiro de. Cultura material, espaço doméstico e musealização. Arquivo
gênero e artefato. Varia hist., Belo Horizonte , v. 27, n. 46, Dez. 2011.
_____________________. Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura
material. São Paulo: Editora da USP/ Fapesp, 2008.
225
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Enciclopédia Brasileira:
Biblioteca de obras subsidiárias. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro. Ministério da
Educação e Cultura. 1962. 2ª edição. Revista e Aumentada.
CEIA, Carlos. Verbete Antiliteratura. In: E-Dicionário de Termos Literários (EDTL). Coord. de
Carlos Ceia.
______________. Verbete Biografema. In: E-Dicionário de Termos Literários (EDTL). Coord.
de Carlos Ceia.
CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Trad. Maria Manuela
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.
________________. À beira da falésia: a história entre as incertezas e inquietude. Tradução
Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Editora Universidade/UFRGS, 2002.
CHAUÍ, Marilena. Merleau-Ponty: a obra fecunda. In: Revista Cult. 123, Abril/2008.
CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio.
1994, p.799.
CHIAPPINI, Lígia. Os equívocos da crítica à formação. In: Dentro do texto, dentro da vida
Ensaios sobre Antonio Candido. Ed. Maria Angela D’Incao e Eloísa Faria Scarabôtolo. São
Paulo: Cia. das Letras & Instituto Moreira Salles, 1992. 170-180.
CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. Tradução Luciano Vieira Machado. São Paulo,
Estação Liberdade / Ed. Unesp, 2001,
CICERO, Antonio. Poesia e paisagens urbanas. In: Finalidades sem fim: Ensaios de poesia e
arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. pp. 14-30
COELHO, Maria Claudia. O valor das Intenções – Dádiva, emoção e identidade. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006.
COHEN, Renato. Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989.
CORREIA, Marlene de Castro. Drummond, a magia lúcida. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
CORTÁZAR, Julio. Preâmbulo às instruções para dar corda no relógio. In: Histórias de
cronópios e de famas. Tradução de Glória Rodríguez. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1973.
226
DAMATTA, Roberto. Relativizando. Uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro:
Editora Rocco, 1987.
DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema
brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
DANTO, A. C. Após o Fim da Arte. São Paulo: Odisseus/ Edusp, 2006; apud Remate de Males
– 29(2) – jul./dez. 2009 271.
DASSIÉ, Véronique. Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime. Paris: Éditions du Comité
des travaux historiques et scientifiques, 2010.
DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do
envelhecimento. São Paulo: EDUSP, 2004. In: BARROS, Myriam Moraes Lins de. Velhice ou
terceira idade. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000.
DESCHAMPS , Claire. Le geste et l’objet, parole corporelle. In : Nous et nos objets
Études 2001/12 (Tome 395). Éditeur S.E.R.
Page 661-675. Disponível em
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=ETU_956_0661
DIDEROT, Denis. Regrets sur ma vieille Robe de Chambre. Revista USP. Tradução J.
Guinsburg. Dezembro, janeiro e Fevereiro, 1990.
DIDI-HUBERMAN. O que vemos, o que nos olha. Tradução Paulo Neves. São Paulo, Editora
34, 1998.
DIMAS, Antonio. Espaço e romance. São Paulo: Ática, 1985.
DOMINGUES, Ivan.; PINTO, R.M.; DUARTE, R.(Orgs). Ética, política e cultura. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2002.
DOUBROVSKY, Serge. Fils. Paris: Galilée, 1977.
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do
Consumo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
DUARTE, Rodrigo. Teoria crítica da indústria cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
DUARTE, Rodrigo; FREITAS, Romero. (Organizadores) CD Congresso internacional
Deslocamentos na Arte. Ouro Preto, 2010. p. 65-76
DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: BATTCOCK, Gregory. A nova arte. Trad.
Cecília Prada e Vera de Campos Toledo. São Paulo: Perspectiva, 1975.
227
DURAND, Gilbert. L’ imaginaire: essai sur les sciences et la philosophie de l’image. Paris:
Hatier, 1994.
___________. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio
de Janeiro: DIFEL, 1998.
ECO, Umberto e alii. O hábito fala pelo monge. In: Psicologia do vestir. Arte e
Produção, Lisboa: Assírio & Alvim,1975.
________________. Pós-escrito a O nome da Rosa. Tradução de Letizia Zini Antunes e
Álvaro Lorencini. Revisão de Cléa Márcia Andrade Soares e Edílson Chaves Cantalice
Uranga. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985.
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.
FAORO, Raymundo. Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. São Paulo: Cia. Editora
Nacional, 1974.
FAVARETTO, Celso F.. Deslocamentos: entre a arte e a vida. ARS (São Paulo), São
Paulo, v. 9, n. 18.
FILHO, Wilson Oliveira. Desconstruindo McLuhan: O homem como (possível)
extensão dos meios. Rio de Janeiro: E-papers, 2009.
FLUSSER, Vilém. O Mundo Codificado: por uma filosofia do design e da
comunicação. Organizado por Rafael Cardoso, tradução de Raquel abi-Sâmara. São
Paulo: Cosac Naify, 2007.
_______________. Le geste de téléphoner. In: Les gestes. Paris: Editions Hors
Commerce-D’ARTS, 1999.
FORSTER, E. M. Aspectos do romance. Porto Alegre: Editora Globo, 1969.
FORTASSIER, Rose. Les écrivains français et la mode. De Balzac à nos jours.
Paris: Puf, 1988.
FOUCAULT, Michel. In: Manoel B. da Motta (org.). Michel Foucault. Estética:
literatura e pintura, música e cinema. Coleção Ditos & Escritos III. Tradução de Inês
A. D. Barbosa, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 411-422.
FOUCAULT, Michel. A palavra e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas.
Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______________l. Os corpos dóceis. In: Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1996.
228
FOUCAULT, Michel. Le Mallarmé de J.-P. Richard [J. P. Richard, L'Univers imaginaire de
Mallarmé]. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 19e année, N. 5, 1964. pp. 9961004.doi : 10.3406/ahess.1964.421248
FOUCAULT, Michel. “Outros espaços”. Conferência. In: FOUCAULT, Michel. Estética:
literatura e pintura, música e cinema. Manoel Barros da Motta (Org.). Trad. de Inês Autran
Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Fonte Universitária, 2009.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, Rio de Janeiro: Graal, 1984.
FREITAG, Barbara. A teoria crítica: ontem e hoje. São Paulo: Editora Brasiliense,
1986.
FREIRE, Cristina. Arte Conceitual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
FREUD, Sigmund. O Futuro de uma ilusão, o mal estar na civilização. São Paulo: Cia.
das Letras, 2011.
GAGNEBIN, J-M. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo/ Campinas:
Perspectiva /Fapesp/ Unicamp, 1994.
GALEANO, Eduardo. A função da arte/ 1. In: O livro dos abraços. Tradução de Eric
Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 2002.
GAMA-KHALIL, Marisa. O lugar teórico do espaço ficcional nos estudos literários. Revista
ANPOLL, América do Norte, Vol. 1, n.28, 07/2010.
GENETTE, Gérard. Figures II. Paris: Seuil/ Points, 1969.
GENNEP, A. V. Os ritos de passagem. Trad. Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes,
2011.
GINZBURG, Carlo. Sinais, raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 143-179.
GIOMETTI, Analúcia Bueno dos Reis; Pitton, Sandra Elisa C. Leitura do espaço geográfico
através das categorias: lLugar, paisagem e território.. In: Caderno de Conteúdo e didática de
geografia. São Paulo, UNESP p.33-40
GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/ Unesp, 2000
GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana. 8ª edição. Rio de Janeiro: Petrópolis,
1999.
GOMES, Renato Cordeiro. Cidade Moderna e suas derivas Pós-Modernas. In: Revista Semear
04. Rio de Janeiro, 2000. Ed. PUC-Rio. p.1-4.
229
GONÇALVES, Reginaldo Santos. Teorias Antropológicas e Objetos Materiais In: Antropologia
dos objetos: coleções, museus e patrimônios. Rio de Janeiro: Coleção Museu Memória e
Cidadania, 2007. p.15.
GONTIER, Fernande . La femme et le couple dans le roman (1919 -1939) . Paris: Klincksieck
1976
GREGATO, Marcia Elisa de Paiva. Estudo da obra de Gastão Manoel Henrique: uma hipótese
sobre as suas diferentes fases. Campinas, Instituto de Artes, Unicamp, 2009.
GRIOT, Gabriel Guedes Rossatti. Do não ao sim eternos ou subjetividade e vontade no Sartor
Resartus de Carlyle. In: Revista de Filosofia, Amargosa, Bahia. V.3, n.1, junho/2011
GUATARRI, Félix. Caosmose. Um novo paradigma estético. Tradução Ana Lúcia de Oliveira e
Lúcia Cláudia Leão. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
GUINSBURG, Jacó. Denis Diderot: o espírito das “luzes”. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.
GUMBRECHT, Hans. Produção de Presença. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC.
Rio de Janeiro, 2010.
HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. Tradução Astor Soethe. São Paulo: Martins
Fontes, 2012.
HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Editora Centauro, 2004.
HAMON, Philippe . Introduction à l’analyse du descriptif. Paris: Hachette, 1981.
HARVEY, David. Condição Pós-moderna.
Uma pesquisa sobre as origens da Mudança
Cultural. Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições
Loyola, 1993.
HEIDEGGER, Martin. A coisa. In: Ensaios e conferências. Trad. Emmanuel Carneiro Leão,
Gilvan Fogel, Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2002.
HEINICH, Nathalie. A sociologia da arte. São Paulo: EDUSC, 2008.
HIDALGO, Luciana. Autoficção Brasileira: influências francesas, indefinições teóricas. In:
ALEA, Rio de Janeiro, vol. 15/1. jan-jun 2013, p. 218-231.
HOLLANDER, Anne. Tradução de Alexandre Tort. O sexo e as roupas: a evolução do
traje moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
230
HYDE, Lewis. A doação: a imaginação e a vida erótica da propriedade. Do original: The Gift:
Imagination and the Erotic Life of Property, 1983. {1979]
JUDT, Tony. Pós-Guerra: uma história da Europa desde 1945. Tradução de José
Roberto O’Shea. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2011.
KAFKA, Franz. Discurso sobre o Ídiche in: Memória e cinzas: vozes do silêncio.
Organização de Edelyn Schweidson. São Paulo: Perspectiva, 2009.
______________. A pequena fábula. In CARONE, Modesto. Narrativas do espólio.
São Paulo: Cia. Das Letras, 2002.
KLEIN, Kelvin Falcão. Cânone e exclusão. Belo Horizonte, v. 19, n.2 ago.-out. 2013 p.
111-121.
KOPYTOFF, Igor. A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo. In:
APPARURAI, Arjun: Tradução de Agatha Bacelar. A vida social das coisas: as
mercadorias sob uma perspectiva cultural. Niterói: EdUFF, 2008. p. 89-121.
KOSZTOLÁNYI, Dezsö. O Tradutor Cleptomaníaco e outras histórias de Kornél Esti.
Tradução do húngaro por Ladislao Szabo. Coleção Leste. São Paulo: Editora 34, 1996.
LAFETÁ, João Luiz. Figuração da intimidade: imagens na poesia de Mário de Andrade. São
Paulo: Martins Fontes, 1986.
LAGO, Mara Coelho de Souza; SOUZA, Carolina Duarte de; KASZUBOWSKI, Erikson
e SOARES, Marina Silveira. “Gênero, gerações e espaço doméstico: trabalho, casa e família”.
Paidéia. Vol.19, n.44. p. 357-366. Ribeirão Preto, 2009.
LEENHARDT, Jacques. Les Choses, modes d’emploi, postface. In: PEREC: Les choses, une
histoire des années soixante. Paris: Julliard, 1965.
LEFEBVRE, Henri. Critique de la vie quotidienne, Paris : L’Arche, 1962.
LEPALUDIER, Laurent. L'Objet et le récit de fiction. PU Rennes (Interférences), 2004.
p.179-188.
LEPLATRE, Olivier. L’objet manquant de la critique.
Acta fabula, vol. 5, n° 3,
Automne 2004. Disponível em: http://www.fabula.org/acta/document626.php.
LESSA, Renato. O Silêncio e sua Representação. Rio de Janeiro: Edição Laboratório de
Estudos Hum(e)anos – Online, Setembro 2008.
LIMA, Luiz Costa. Pensamento nos trópicos. In: Dispersa demanda II. Rio de Janeiro: Rocco,
1991. p. 40-56.
231
______________. Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
2002.
______________. A literatura e o leitor: textos de Estética da Recepção. Trad. Luiz Costa Lima.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
MACDONALD, Michael. Império e Comunicação: a guerra da mídia de Marshall
McLuhan. Tradução de Rui Gomes de Mattos de Mesquita. Revisão da tradução: Aécio
Amaral In: POLÍTICA & TRABALHO Revista de Ciências Sociais, n. 26 Abril de
2007. p. 9-26.
MACHADO, Aníbal.
O desfile dos chapéus. In: A morte da porta-estandarte e outras
histórias. Rio de Janeiro, José Olympio, 1968.
MACHADO, Arlindo. As vozes do telejornal. In: A televisão levada a sério. São Paulo: Senac,
2000.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São
Paulo: Editora Cultrix, 2005.
MARQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro: O Globo, 2003.
____________________. O amor nos tempos do cólera. Tradução: Antonio Callado.
Rio de Janeiro: Record. 1985.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas.
In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, pp.183-314.
______________. Introducción a la Etnografia. Madrid: Ediciones Istmo, 1971.
McCRACKEN, Grant. Cultura & Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e
atividades de consumo. Tradução: Fernando Eugênio. Revisão técnica: Everardo Rocha.
Coleção Cultura e Consumo/coordenação Everardo Rocha. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.
MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: O olho e o
espírito. Tradução: Maria Ermantina Pereira, Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2004. p.73.
_______________________. O Visível e o Invisível. São Paulo, Perspectiva, 1984.
_______________________. Phénomélogie de la percepcion. Paris: Gallimard, 1976.
MENDILOW, A. A. O tempo e o romance. Porto Alegre: Editora Globo, 1972.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço
público. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro: v. 11, n. 21, p. 89-104, 1998.
232
_____________________. Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônio.
BIB - Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, Rio de
Janeiro: Anpocs, v.60.p.7-26, 2005.
MILLER, Daniel. Home Possessions: Material Culture Behind Closed Doors (Materializing
Culture) Paperback October 1, 2001.
MILLIET, Sérgio. Diário crítico II, 15 jan. 1944. São Paulo: Martins Edusp, 1981.p. 28.
MOLES, Abraham. Objets et communication. In: Communications, Paris:Seuil. École Pratique
des Hautes Études/ Centre d'études des communications de masse. n°13, 1969. p.1-22.
________________. Théorie de la complexité et civilisation industrielle. Idem, p. 51-64.
MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Tradução de Luciano Trigo. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1989.
MORIN, Violette. L’objet biographique. In: Communications, Paris:Seuil. École Pratique des
Hautes Études/ Centre d'études des communications de masse. n°13, 1969. p.131-139
MONNEYRON, Fréderic. Le Vêtement. Colloque de Cerisy. Paris: L’Harmattan, 2001.
MONTAGU, Ashley. Tocar: o significado humano da pele. Tradução M. Silvia Mourão Nett.
São Paulo: Summus, 1971.
MUIR, Edwin. Estrutura do romance. Porto Alegre: Editora Globo, 1975.
NARDIN, Heliana Ormetto. Objeto e Instalação – Itinerários de criação e
compreensão em artes plásticas. Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação. Tese de Doutorado, 2004.
NASCIMENTO, Luís Fernandes dos Santos. Um discípulo indisciplinado: Diderot
leitor de Shaftesbury. Revista Discurso USP, n. 41, 2011.
NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São
Paulo: Companhia das Letras. 2007.
______________. A Grande Tristeza. In: Farnese de Andrade. São Paulo: Cosac & Naif, 2002.
NEIVA, Eduardo. Ler Proust. Fragmentos: Revista de Língua e Literatura Estrangeira da
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: v,6, n.2, 1997, p.197-203.
NETO, João Cabral de Melo. Museu de tudo e depois. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
233
NILS, Roller. Um Platão da era dos computadores Tradução de Marcelo Rondinelli. In: Folha
de São Paulo. 16 de dezembro de 2001.
NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris, Gallimard, 1997.
OITICICA, Helio. Experimentar o experimental. In: Navilouca. Rio deJaneiro, Gernasa,
1974.
PERNIOLA, Mario. O Sex appeal do inorgânico. Tradução Nilson Moulin. Coleção
Atopos. São Paulo: Studio Nobel, 2005.
SOUSA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas. A moda no século dezenove. São
Paulo: Cia. das Letras, 1987.
SUSSEKIND, Flora. A voz e a série. Rio de Janeiro: Sette Letras; Belo Horizonte:
Editora UFMG, 1998.
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia G. As muitas faces da história. Nove entrevistas.
São Paulo: Editora. UNESP, 2000.
PARENTE, André (org). Imagem-Máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro:
Ed. 34, 1993.
PEREC, Georges. Espèces d’espaces. Paris: Éditions Galilée, 2000.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Roland Barthes e o prazer da palavra. In: Revista Cult.
Edição 100.
PETER, Stallybrass. O casaco de Marx. Minas Gerais: Autêntica Editora, 2008.
PIÑON, Nélida. Colheita. In. Sala de armas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
p.131-142.
POITEVIN, Jean-Louis. Éditions TJ-21. La Revue no 30.. Jan, 2007.
PONGE, Francis. O Partido das coisas. NEIS, Ignácio Antonio; PETERSON, Michel(Org.).
São Paulo: Iluminuras, 2000.
_____________. La forme du monde. Do original Proêmes. Gallimard, 1948. Tradução
de
Adalberto
Muller.
Disponível
em:
http://revistamododeusar.blogspot.com.br/2012/06/francis-ponge.html.
PROUST, Marcel. O tempo redescoberto. Trad. Lúcia Miguel Pereira. São Paulo:
Globo, 2004.
QUINTANA, Mario. Do Caderno H. Porto Alegre: Editora Globo, 1994.
RAMOS, Ricardo. Circuito fechado. In: Circuito fechado. Rio de Janeiro: Record, 1978.
234
RIBEIRO, Mirela Meira. Metamorfoses Pedagógicas do Sensível e suas possibilidades em
oficinas de criação coletiva. RÓNAI. Revista de estudos clássicos e tradutórios, UFJF, 2013, v1.
n1. p.60-72.
RICHARD, Jean-Pierre. Proust et le Monde sensible. Seuil : coll. Poétique, 1974.
"Points Essais" no 208, 1990.
RICHARD, Jean-Pierre. L’Univers Imaginaire de Mallarmé. Paris Seuil, 1961. p.297.
RIEGL, A. Le Culte Moderne des Monuments. Paris: Éditions du Seuil, 1984.
ROBBE-GRILLET, Alain. Nature, humanisme, tragédie. In : Pour un nouveau roman. Paris :
Gallimard (Idées), 1964.
ROLNIK, Sueli. Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia Clark. In: The
Experimental Exercise of Freedom: Lygia Clark, Gego, Mathias Goeritz, Hélio Oiticica and
Mira Schendel. The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1999.
ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o romance moderno. In: Texto/contexto I. São
Paulo: Perspectiva, 1976.
__________________.
Literatura e personagem. In: A personagem de ficção. São Paulo,
Perspectiva,
ROQUETE, José Ignácio. Código do bom-tom: ou regras da civilidade e de bem viver no século
XIX. Organização Lilia Moritz Schwarcz. Coleção Retratos do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 1997.
ROSA, Guimarães ”A terceira margem do rio” In: Primeiras histórias. Rio de Janeiro: Editora
Nova Fronteira, 1988.
ROSSATTI, Gabriel Guedes. Do não ao sim eternos ou subjetividade e vontade no Sartor
Resartus de Carlyle. Revista de Filosofia, Amargosa, Bahia – Brasil, v.3, n.1, junho/2011.
http:///
ROUSSEAU, J-J. Carta a Christophe de Beaumont. In : RUZZA, Antonio. Rousseau e a
moralidade republicana no contrato social.
SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: Uma literatura nos
trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978.
________________. Ora (direis) puxar conversa!:ensaios literários. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2006.
235
SANTOS, Roberto Corrêa. Por uma teoria da interpretação: semiologia, literatura,
interdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.
SANTOS, Roberto Corrêa. Entrevista “As palavras de Clarice”. Blog do IMS, em 3/12/2013.
SEGALA, Lygia. O Riscado do Balão Japonês: Trabalho Comunitário na Rocinha (19771982). Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 vs. Dissertação, Mestrado em Antropologia
Social, 1991. 334 p.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. Estética e política, memória e esquecimento: novos desafios na
era do Mal de Arquivo. Remate de Males – 29(2) – jul./dez. 2009.
SHAVIRO, Steven. The Universe of Things. Texto retirado de seu blog, disponível em:
http://www.shaviro.com/Blog/?p=893. Acessado em 26 de janeiro de 2014.
SILVA, Vera Maria Tietzmann. A metamorfose nos contos de Lygia Fagundes Telles.
Rio de Janeiro : Presença, 1985.
SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida do espírito. In: Mana. Rio de Janeiro: v. 11, n.
2. p. 577-591, out. 2005.
____________. Filosofia da moda e outros escritos. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições
Texto & Grafia Ltda., 2008.
SIROTA, Régine. Primeiro os amigos: os aniversários da infância, dar e receber. Tradução de
Alain François. Revisão técnica de Ivany Pino. In: Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 535562. Maio/Ago. 2005. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
SOUSA, José Antunes de. Vergílio Ferreira e a Filosofia da sua Obra Literária. Bertrand
Editora: Lisboa, 1997:673.
SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século. São Paulo: Cia. das
Letras, 1987.
STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupa, memória, dor. Organização e tradução
Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
WERNECK, Humberto. Meu traumatismo ucraniano. In: Jornal Brasil Econômico de 21 de
novembro de 2009.
VILLA, Simone Barbosa. “Um breve olhar sobre os apartamentos de Rino Levi:
produção imobiliária, inovação e a promoção modernista de edifícios coletivos
verticalizados na cidade de São Paulo”. In: Revista Arquitextos, ano 10, jun. 2010
236
ZILBERMAN, Regina. Teoria da literatura I. Curitiba: IESDE, 2012.
LIVROS DE CLARICE LISPECTOR
LISPECTOR, Clarice. Alguns Contos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1952.
______________. Água-Viva. Rio de Janeiro: Artenova, 1973.
______________. Agua Viva. Paris, Éditions des Femmes, 1978.
______________. Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Rio de Janeiro: Sabiá,
1969.
______________. A Bela e a Fera. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979.
______________; SABINO, Fernando. Cartas perto do coração. Rio de Janeiro:
Record, 2011.
______________. A Cidade Sitiada. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975.
______________. De Corpo Inteiro, Rio de Janeiro: Artenova, 1975.
______________. A Descoberta do Mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
______________. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
______________. Laços de Família. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1960.
______________. A Legião Estrangeira. Rio de Janeiro: São Paulo, Ática, 1977.
______________. O Lustre. Capa de Santa Rosa. Rio de Janeiro: Agir, 1946.
______________. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978.
______________. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.
______________. A Maçã no Escuro. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1961.
______________. Onde Estivestes de Noite? Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
______________. Outros escritos. Org. Teresa Monteiro e Lícia Manzo. Rio de Janeiro:
Rocco, 2005.
______________. A Paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Sabiá, 1974.
______________. A Paixão segundo G.H. Edição crítica coordenada por Benedito Nunes.
Paris, Association Archieves de la Littérature Latino-Americaine, des Caraibes et Africaines du
XXe. Siécle; Brasília: CNPQ, 1988.
______________. Para Não Esquecer. São Paulo: Ática, 1978.
______________. Perto do Coração Selvagem. Rio de Janeiro: Sabiá, 1972.
______________. Quase Verdade. Rio de Janeiro: Rocco, 1967.
______________. Um Sopro de Vida. Pulsações. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978.
______________. A Via Crucis do Corpo. Rio de Janeiro: Artenova, 1974.
237
______________. Visão do Esplendor: impressões leves. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1975.
______________. “Berna, 6 janeiro 1948 - Carta a Tania Kaufman”. In: Correspondências.
Organização Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. p. 165.
Download