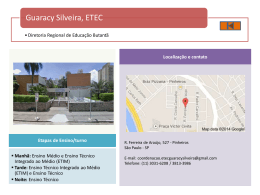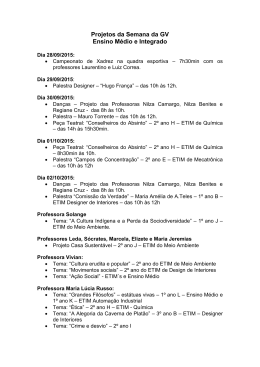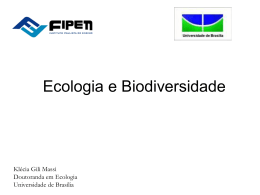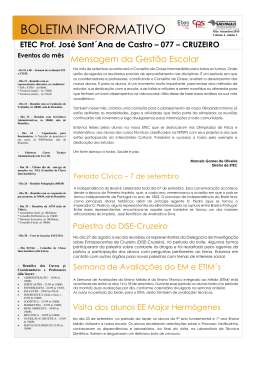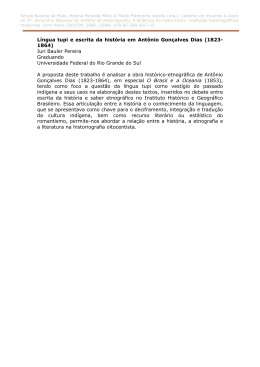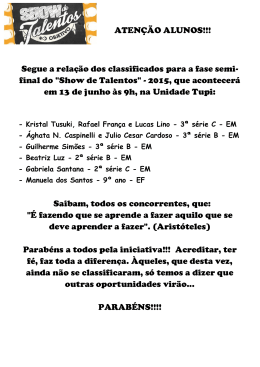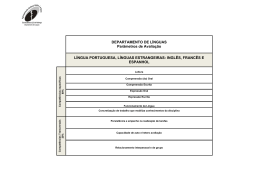0
EUNICE MARTINS MÓRRA
O LÉXICO NO SÉCULO XVI: UM ESTUDO DO IDIOMA
BRASILEIRO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
2006
1
EUNICE MARTINS MÓRRA
O LÉXICO NO SÉCULO XVI: UM ESTUDO DO IDIOMA
BRASILEIRO
Dissertação apresentada ao Programa de Estudos
Pós-Graduados em Língua Portuguesa da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como exigência parcial para a obtenção do título
de Mestre em Língua Portuguesa, sob a
orientação da Profª Drª Jeni Silva Turazza.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
2006
2
EUNICE MARTINS MÓRRA
O LÉXICO NO SÉCULO XVI: UM ESTUDO DO IDIOMA
BRASILEIRO
Dissertação apresentada ao Programa de Estudos
Pós-Graduados em Língua Portuguesa da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como exigência parcial para a obtenção do título
de Mestre em Língua Portuguesa.
Profª Drª Jeni Silva Turazza – Orientadora
Prof. Dr. Jarbas Nascimento Vasconcelos — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Profª Drª Nancy Santos Casagrande — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
3
AGRADECIMENTOS
Ao Grande Arquiteto do Universo por me orientar através de seus Mestres.
À Vida por me conceder a oportunidade de existir como pessoa.
A meus Pais pela orientação, carinho, colo que, muitas vezes, necessitei e com muito
amor e compreensão me acolheram nesta vida.
A meu irmão César pela força que fez para instrumentalizar-me na Era da Informática.
A meus Professores pela dedicação e carinho que sempre me foi dispensada na busca
de me orientar e compreender o quanto eu desejava obter o conhecimento necessário
para ser de fato uma Educadora.
A meus colegas que, na verdade, foram meus irmãos nesta experiência fantástica que
a vida me proporcionou.
A todos aqueles que, de forma direta ou indireta, concorreram para a elaboração deste
trabalho.
4
RESUMO
Esta Dissertação, situada na linha de pesquisa História e Descrição da Língua
Portuguesa, compreende uma investigação exploratória, cujo objeto de estudo está
circunscrito ao vocabulário do idioma português brasileiro, no século XVI. Postula-se
que a idiomaticidade se inscreve na transformação do léxico do português arcaicoprovençal que, transportado para as Terras do Brasil, com o colono que com ele se
deslocou, foi cultivado tal qual o solo da nova colônia. Nesse processo de cultivo, de
que resultou a aculturação do branco, do índio e do negro, esse vocabulário se renova
para se adaptar ao contexto de um outro território, de sorte a incorporar novas semias
e, assim suprir a falta do próprio vocabulário do português arcaico provençal. Contudo,
essas novas semias são ainda insuficientes, fazendo-se necessário incorporar, ao seu
campo lexical, palavras de origem indígena e africana, devido a nova geografia, fauna e
flora.
Desse processo de mudanças semêmicas e de incorporações tem-se
novas/outras lexicalizações que vão diferenciando o idioma brasileiro do português
propriamente dito, pela edificação de novas arquiteturas, cujo suporte é o mesmo
sistema lingüístico: aquele que qualifica os processos de codificação de conhecimentos
de mundo, formalizados pela língua portuguesa. A distinção entre estrutura e
arquitetura facultou diferenciar língua de idioma — ponto de partida adotado para
examinar a idiomatização do português provençal arcaico, tendo como parâmetro os
processos de lexicalização — e considerar tanto o português do Brasil, quanto o de
Portugal, bem como o de outras nações como idiomas produto de línguas de culturas
diferenciadas que conviveram e convivem em espaços geográficos diferentes e que,
hoje, tipificam territórios distintos que se tornaram Estados Nacionais. Essas diferentes
línguas que fizeram desses espaços territórios bilíngües deixaram-se inscrever no
sistema vocabular desses idiomas, de sorte a assegurar a eles visões de mundo que,
embora distintas, se apresentam similares quanto à forma que estrutura o campo de
seus respectivos vocabulários. Norteado por um objetivo geral — buscar explicitar as
permanências pelos modelos de deslocamento referente à estruturação e organização
desse processo de idiomatização — o percurso investigativo está traçado por duas
focalizações. Uma que configura o caráter historiográfico da constituição do idioma na
terra dos papagaios; outra referente aos quadros dos estudos lingüísticos que
privilegiam o léxico como instância capaz de apontar semelhanças nas diferenças entre
modelos de organização e representação de conhecimentos de mundo formalizados
por um mesmo sistema lingüístico. Dos resultados obtidos, por meio de procedimentos
analíticos orientados pelo estudo de campos semântico-discursivos, tem-se que o
português arcaico provençal, implantando em território brasileiro, idiomatiza-se e se
torna a língua oficial de uma colônia transmudada em Estado Nacional, no século XIX.
Tal idiomatização apresenta diferenças pouco significativas no âmbito gramatical o que
não permite considerar a existência de línguas diferentes. Já no âmbito lexical, esse
processo de idiomatização, implicando a construção de pontos de vista diferenciados
pelos quais os conhecimentos de mundo são organizados, estruturados e formalizados
por categorias de línguas, pode qualificar o idioma brasileiro na sua diferença com
aquele de Portugal.
Palavras-chave: língua, idioma, lexicalização, cultura, identidade lingüística
5
ABSTRACT
This paper, based on the research line of History and Description of Portuguese, implies
an exploratory investigation, whichg object of study is circumscribed to the Brazilian
Portuguese vocabulary of the XVI century. It is claimed that ‘idiomaticity’ is inscribed in
the transformation of the archaic-Provençal Portuguese that, transported to the Brazilian
lands with the colonists who moved bringing it, was cultivated as it was in the soil of the
new colony. In this process of cultivation, resulting the cultural adaptation of the white,
the native and the negro people, that vocabulary would have been renovated to be
accustomed to the context of another territory; in such a manner it would incorporate
new ‘semias’ and, thus, supply the lack of an authentic Portuguese archaic-Provençal
vocabulary. However, those new ‘semias’ are still unsatisfactory, and it would be
necessary to incorporate to its lexical field words of native and African origins, because
of the new geography, fauna and flora . From this ‘sememic’ changing process and
incorporations new/other ‘lexicalizations’ will appear, contrasting with the Brazilian
Portuguese itself, through the edification of new architectures, which sup port is the
same linguistic system: the one that qualifies the processes of codification of the world
knowledge, formalized by the Portuguese language. The distinction between structure
and architecture granted the differentiation between language from idiom – a starting
point adopted to examine the ‘idiomatization’ of the archaic-Provençal Portuguese,
being its parameter the processes of ‘lexicalization’ – and to consider both Brazilian
Portuguese and Portugal’s, as well as the one of the other nations as idioms produced
by differentiated cultural languages which lived together - and still live – in different
geographical spaces and that, nowadays, typify distinct territories that became National
States. Those different languages which had made those territories bilingual let
themselves to be inscribed in the vocabulary system of those idioms, in order to grant
them with visions of world that, although distinct, present similarities in terms of form
which frame the field of their respective vocabularies. Guided by a general objective – to
try to explain the permanencies by dislocation models concerned to the structure and
organization of this ‘idiomatization’ process – the investigative way is traced by two
focuses. One that configures historiographical characteristic of the constitution of the
idiom in the ‘land of the parrots’; other that concerns to the images of the linguistic
studies that favour the lexicon as instancy capable of pointing out similarity through the
differences among models of organization and representation of world knowledge
formalized by a unique linguistic system. From the results obtained, by means of
analytical procedures oriented by the study of the discursive -semantic fields, the result is
an archaic Provençal Portuguese – which was implanted in Brazil – which becomes an
idiom and the official language of a transmuted colony in National State at the XIX
century. Such ‘idiomatization’ presents differences not significant in the grammatical
area and not allowing to considerate the existence of different languages. In the lexical
area, this process of ‘idiomatization’, which implies the construction of differentiated
points of view through which knowledge of world are organized, framed and formalized
by language categories, may qualify Brazilian idiom differently from that of Portugal.
Key words: language, idiom, ‘lexicalization’, culture, linguistic identity
6
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...........................................................................................
9
CAPÍTULO 1 AS MATRIZES SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAIS DO SÉCULO XVI
E A EXPANSÃO DO TERRITÓRIO PORTUGUÊS
1.1 Considerações iniciais ................................................................................
16
1.2 As ações colonizadoras pelos sentidos do colo, culto e Cultura: “O Colo
de Cultus(rus) na Colônia” ........................................................................... 17
1.3 Ações colonizadoras e estratégias de colonização ...................................... 22
1.3.1 Propósitos e objetivos da travessia do Atlântico................................
23
1.3.2 Estratégias para mudança de modelo de representação: buscas de
novos conhecimentos.......................................................................... 24
1.3.3 Estratégias de rupturas de contrato ..................................................... 27
1.3.4 Estratégias para o domínio dos caminhos do mar: tratados de
soberania ............................................................................................. 29
1.3.5 Estratégias de ocupação ...................................................................... 32
1.3.5.1 O desterro................................................................................ 33
1.3.5.2 Estratégias de miscigenação ....................................................35
1.3.5.2.1 O valor da prole mameluca................................................... 36
1.3.5.3 O patrulhamento e as feitorias ............................................. . 38
1.3.5.4 A implantação de vilas ........................................................
39
1.3.6 Estratégias administrativas na Colônia ................................................... 41
1.3.6. 1 O sistema de capitanias hereditárias .................................... 41
1.3.6.2 O sistema de governos gerais ................................................. 44
7
1.3.7 Estratégias de exploração .............................. ....................................... 46
1.3.7.1 O escambo e a exploração do pau-brasil ................................ 48
1.3.7.2 Estratégias de resgate...............................................................50
1.3.7.3 A escravidão e as lavouras da terra ............... ......................... 52
1.4 Considerações finais ..................................................................................... 55
CAPÍTULO 2 AS MATRIZES SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAIS DO SÉCULO XVI:
LÍNGUAS EM CONTATO, LÍNGUAS DE CONTATO E EMPRÉSTIMOS
2.1 Considerações iniciais ................................................................................... 59
2.2 O Processo de idiomatização ou dialetação em terras de Portugal:
retrospectiva .............................................................. ................................ 62
2.2.1Lexicalização e gramaticalização da língua portuguesa....................... 65
2.2.2.1 Substrato ......................................................................................... 71
2.2.2.2 Superstrato ........................................................................................ 72
2.2.2.3 Adstrato ............................................................... ............................ 75
2.3 O português implantado e transformado no Novo Mundo ............................ 78
2.4 A Lexicalização e a gramaticalização da língua geral .................................. 82
2.4.1 A extensividade do uso da língua geral ...................................... ....... 83
2.4.2 O dicionário e o seu papel.......................................................... ........ 85
2.4.2.1 Alguns princípios do dicionário anchietano ............................. 86
2.4.2.2 Alguns princípios da gramática anchietana .............................. 89
2.5 Substrato e adstrato do português brasileiro ................................ ................ 97
2.6 Anchieta: o pesquisador ........................................................... ..................... 102
2.6.1Os jesuítas educadores ........................................................ ............... 103
2.6.1.1 Os jesuítas e o ensino básico .................................................. 103
2.6.1.2 O plano de estudo dos jesuítas ............................................. 104
2.6.1.3 Os jesuítas e o ensino superior............................................. ..107
2.7 Outras ações dos jesuítas ............................................................................. 108
2.8 Considerações finais ..................................................................................... 111
8
CAPÍTULO 3 A LEXIA E SUAS EXPANSÕES NO SÉCULO XVI: UMA PROPOSTA
DE ANÁLISE
3.1 Considerações iniciais ................................................................................... 116
3.2 A origem da concepção do termo “campo” .................................................... 119
3.2.1 A distinção entre lexia, vocábulo e palavra ........................................ 120
3.3 A organização dos conhecimentos lexicais na memória ............................... 121
3.3.1 Os conhecimentos lexicais e os processos de categorização............. 124
3.3.2 A organização dos conhecimentos lexicais por redes ........................ 128
3.4 O funcionamento sígnico e simbólico no século XVI .............. ...................... 141
3.5 Considerações finais ...................................................................................... 144
CONCLUSÃO....................................................................................................... 146
BIBLIOGRAFIA ....... ...................................................................................
157
ANEXO 1 .............................................................................................................
ANEXO 2 .............................................................................................................
ANEXO 3..............................................................................................................
ANEXO 4..............................................................................................................
ANEXO 5..............................................................................................................
ANEXO 6..............................................................................................................
ANEXO 7.............................................................................................................
169
189
197
203
212
214
217
9
INTRODUÇÃO
Esta Dissertação situa-se na Linha de Pesquisa História e Descrição da Língua
Portuguesa do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da
PUC/SP e está circunscrita a um estudo sobre a formação do vocabulário do idioma
Português-Brasileiro, no fluxo do tempo delimitado ao século XVI. Trata-se de uma
investigação de caráter exploratório por meio da qual se busca examinar a constituição
de um novo vocabulário, cuja matriz deve explicar a formação de uma outra
comunidade lingüística, a brasileira e, conseqüentemente, a criação de um outro idioma
que tem por suporte o sistema lingüístico do português. Esse processo de construção
de outras/novas matrizes lexicais, embora incorpore aquelas que qualificam a língua
portuguesa d’além mar, delas se diferencia por abarcar matrizes do vocabulário
indígena e africano, de modo a melhor configurar o substrato do idioma português
brasileiro e dar a ele identidade própria. Neste sentido, o trabalho de investigação
proposto contribui com estudos que visam compreender a identidade de um novo povo,
alocado em território americano, fundador de uma nova nacionalidade e Estado
Nacional, no século XIX.
Estudiosos da Psicossociologia, bem como da Teoria do Conhecimento afirmam
que a Identidade de um povo se explica pelo princípio da alteridade: aquele por meio do
qual é possível apreender diferenças nas semelhanças existentes entre homens cuja
convivência se qualifica por modos de ser e proceder no mundo da vida, de modo a se
constituírem como membros de uma mesma comunidade. Por conseguinte, a alteridade
é um aspecto importante para tratar da pluralidade humana, inscrita numa singularidade
de ações e circunscrita a um espaço ocupado em um dado território. Esse espaço está
configurado no corpo desta Dissertação pelo denominado território latino-americano e
por um lugar específico ocupado neste território: aquele em que se desenham os limites
de fronteiras politicamente instituídas, a princípio, pelo tratado de Tordesilhas, por meio
10
do qual esse território é dividido em dois grandes blocos, quais sejam, terras sob
domínio português e terras sob o domínio espanhol.
O foco incide sob as terras controladas, política e economicamente, pelo Estado
Português, no século XVI. É nos limites das terras, acima enunciados, que virá a ser
edificada a chamada Nação Brasileira, inscrita no fluxo de um processo complexo cuja
história é povoada por uma narratividade que se explicita nas próprias matrizes da
formação de Língua Nacional. Resgatar essas matrizes é contribuir com os estudos
historiográficos e identitários, registrados na memória de longo prazo e, lexicalmente,
formalizados em língua.
A identidade nacional está compreendida como uma construção referente à
criação de uma consciência fundadora da percepção que os membros de uma dada
sociedade têm de formar uma comunidade. Essa comunidade qualifica-se por ser
autora de uma história inerente ao fluxo de suas vivências, por meio da qual essa
identidade se reveste de diferentes formas, no caso desta Dissertação, o vocabulário da
língua portuguesa. Esse processo histórico, em alguns casos, pode estar tipificado por
um grau bastante relevante de fatores de ordem cultural; noutros, por fatores de ordem
sócio-político-econômica, de modo que o estudo da identidade nacional de um povo
exige que se verifique como tais fatores se articulam no tempo da formação de sua
própria história. (MATTOSO, 1998).
Os autores que tratam da identidade nacional atribuem valores às questões
lingüísticas, pois a unidade lingüística é qualificada como fator de identidade de um
povo, muito embora existam países, como é o caso da Bélgica e da Suíça, em que a
unidade nacional não é regida por uma única língua; por outro lado, por exemplo, há
países, cujas nacionalidades são garantidas pelo uso de uma mesma língua, como é o
caso de Portugal e Brasil. Nesse último caso, é preciso considerar as relações
históricas entre esses dois povos que, embora situados em continentes distantes e
diferentes, têm histórias parcialmente comuns, fundadas numa vivência de encontros e
desencontros regidos por ações de caráter sócio-político-econômico, fundadoras de um
11
processo colonizador instituído pelos portugueses das terras do além -mar, no
Continente Americano, circunscrito às Terras do Brasil.
A transformação de territórios colonizados em nações independentes implica a
construção da identidade de um povo fundada na consciência da sua diferença com
aquele outro que, até então, o colonizara. Essa consciência é garantida por um
conjunto de contingências históricas de que emergem a formação de um único idioma,
falado pelos membros de uma mesma comunidade lingüística. Neste sentido, segundo
Mariani (2004, p. 21)
(...) é preciso compreender que o processo de colonização lingüística é
resultante de um acontecimento na trajetória de nações com línguas e
memórias diferenciadas e sem contato. Trata-se de um processo histórico de
confronto entre línguas com memórias históricas e políticas de sentidos
dessemelhantes, em condições assimétricas de poder tais que, a língua
colonizadora tem condições políticas e jurídicas para se impor e se legitimar
relativamente à(s) outra(s), colonizadora(s).
Por conseguinte, a construção do idioma português brasileiro não se explica
apenas por processos de contextualização do português de Portugal, isto é, por efeitos
pragmáticos do uso daquela língua em terras brasileiras. Trata-se de um processo de
historicização em um outro território ocupado por povos que falavam línguas indígenas
diferentes, mescladas pelo contato não só com o branco europeu, mas também com o
negro africano. Desse contato, o processo de constituição da língua portuguesa
explica-se pelo uso real, em um tempo e em uma espacialidade configurados por
práticas discursivas qualificadas por novos modelos de interação comunicativa. É
nesse tempo, circunscrito ao século XVI, que esta investigação busca se situar tendo
por parâmetro a construção da unidade lingüística do território brasileiro por meio do
processo de idiomatização da língua portuguesa.
Nesse sentido, o que se busca é conhecer esse processo cuja complexidade se
explica pelo uso de uma língua, não só em um outro/novo tempo e espaço, mas
também, segundo Orlandi (2001), por um duplo movimento: aquele que se refere às
permanências e a deslocamentos. As permanências são compreendidas pela autora
como um movimento inerente a modos de ser e de agir, implicando ações verbais
12
capazes de garantir a construção de um sistema gramatical e lexical responsável pela
unidade de um povo que partilha vivências comuns: princípio constitutivo de qualquer
processo identitário. Entretanto, nesse processo identitário também se inscrevem
diferenças de uso e, assim sendo, o segundo movimento, indissociável do primeiro,
implica usos variados de um mesmo sistema lingüístico que, se por um lado, distancia
colonizador e colonizado, por outro, os aproxima e garante ao colonizado o direito a
uma nova identidade lingüístico-cultural.
Tais diferenças se inscrevem, ao mesmo tempo, no léxico desses dois idiomas e
nas regras gramaticais do Português Brasileiro, semelhantes, mas não iguais àquelas
de Portugal. Dessa feita, a identidade lingüístico-cultural é contratual. Sapir (1971), em
se tratando do léxico, afirma ser ele o único espaço em que se dá o interrelacionamento da língua com a cultura, mas adverte que nenhum estudioso da matéria
lingüística poderá cometer o engano de identificar o seu léxico com o seu dicionário e
tão pouco poderá focalizar o léxico pelo princípio das regularidades gramaticais. Nessa
acepção, considera Coseriu (1979) que entre a designação e a significação própria de
uma língua em suas relações distintivas há de se considerar a significação cultural:
aquela instalada em uma língua enquanto rede conceptual, através da qual se côa e se
escoa a experiência vivida por seus usuários.
É nessa acepção que as línguas, quando focalizadas por um ponto de vista
histórico ou historiográfico, não se qualificam apenas como estrutura – tecido
meramente formal de relações opositivas – mas também como arquitetura, pois são
continuamente alimentadas por fatores psicossociológicos, sócio-antropológicos e
históricos, próprios de cada povo; “ideos” que lhes são particularidades. Esses fatores
estão presentes no léxico, nas suas diferentes variações societais, na padronização de
seus esquemas frasais (ELIA, 1987). Por conseguinte, embora o português brasileiro, o
africano e o de Portugal tenham a mesma estrutura, suas arquiteturas não se igualam.
No caso do português brasileiro essa arquitetura tem como marco os primeiros tempos
da colonização, pois segundo Ribeiro (s/d, p. 23),
13
desde os primeiros tempos da colonização do Brasil, nos documentos literários,
nas cartas dos jesuítas e nas crônicas dos antigos historiadores aparecem os
primeiros vocábulos de origem americana. Esse vocabulário colonial é a
primeira diferenciação da língua portuguesa na América; mas, em geral,
consiste em expressões técnicas e peculiares no Novo Mundo, coisas e
objetos, plantas e frutos, animais e seres novos, que não tinham designação
específica na língua dos conquistadores.
Assim sendo, a idiomaticidade brasileira da estrutura da língua portuguesa se
explica por processos de gramaticalização e incorporação da arquitetura lexical de
outras línguas de cultura que, no século XVI, eram línguas em contato, mas nos
séculos seguintes fizeram do português brasileiro uma língua de contato. Nesse
processo de transmudação, o português do Brasil se faz língua oficial de uma outra
nacionalidade: a brasileira, e garante a fundação da independência e da república do
Brasil. Trata-se do uso oficial da língua portuguesa. Segundo Sousa da Silveira o
nosso idioma nacional
é o português, não tal qual se fala em Portugal, mas com a pronúncia diferente,
pequenas divergências sintáticas e o vocabulário grandemente opulentado por
numerosas palavras indígenas e africanas, e outras criadas ou adotadas em
nosso meio. (apud LIMA SOBRINHO, 2000, p. 69)
O objetivo geral a que se propõe atingir, no curso desta investigação, é o de
explicitar esses dois movimentos fundadores da identidade do povo brasileiro inscritos
nos registros da idiomatização da língua portuguesa. Para tanto, tem-se por objeto de
estudo a constituição do sistema lexical do português do Brasil. Esse objetivo geral será
mensurado pelos seguintes objetivos específicos que, por sua vez, estão materializados
no corpo desta Dissertação por três capítulos, quais sejam:
a) um primeiro capítulo de caráter historiográfico, por meio do qual se busca
compreender as matrizes histórico-sociais fundadoras de um novo território que,
habitado pelo português a partir do século XVI, se faz espaço de ocupação, no
qual são negociadas suas diferenças e semelhanças, implicando o uso de
estratégias, de onde emergirão novos matizes culturais, registrados nos
significados de base do vocabulário do Português Brasileiro. É nesse espaço
materializado pela convivência entre povos distintos que se verifica a diversidade
14
lingüística e as estratégias utilizadas pelo colonizador para garantir a interação
com povos a eles estranhos;
b) um segundo capítulo de caráter teórico, por meio do qual se busca organizar
conhecimentos referentes aos quadros dos estudos lingüísticos, privilegiando o
léxico como instância capaz de apontar semelhanças nas diferenças entre
modelos de organização e representação de conhecimentos de mundo —
arquitetura — formalizados por um mesmo sistema lingüístico. O objetivo deste
capítulo é diferenciar sistema lingüístico de idioma, com vistas a verificar o
processo de idiomatização da língua portuguesa em terras do Brasil, bem como
compreender o movimento circunscrito entre as línguas nativas e da metrópole,
cujo marco é o século XVI;
c) um terceiro capítulo, de caráter teórico-analítico por meio do qual se busca
analisar o vocabulário que constitui o léxico do século XVI, em Terras do Brasil,
com vistas a verificar a organização dos conhecimentos de mundo por campos
semânticos, para precisar as diferenças, inscritas nas designações, entre o uso
da língua portuguesa na colônia e na metrópole, ou dizendo de outra forma, para
designar o velho e o novo ou o novo pelo velho.
Tem-se por pressuposto que um mesmo sistema lingüístico faculta a constituição de
diferentes idiomas. Desta feita, segundo Bueno (1998) a língua, na sua dimensão
léxico-gramatical, é um sistema de sinais empregados pelo homem no fluxo de seu
processo de socialização; já o idioma é o uso efetivo desse sistema por um povo para
representar e comunicar o ponto de vista pelo qual ele organiza seus conhecimentos de
mundo. O fato de um mesmo sistema possibilitar processos diferenciados de
idiomatização implica diferenças léxico-gramaticais que, se por um lado, incorporam
usos lingüísticos do colonizador, por outro, ressemantizam o vocabulário do qual ele faz
uso para designar novos seres e objetos de um mundo distinto daquele por ele
conhecido, até então.
15
A metodologia empregada para o desenvolvimento desta Dissertação abarca os
seguintes passos:
a) desvendar por movimentos de leituras crítico-reflexivas autores que facultam
revisitar e reinterpretar a História do Brasil colônia do século XVI para melhor
compreender as matrizes constitutivas do idioma brasileiro;
b) organizar esse conjunto de leituras pelo eixo temático proposto para o
desenvolvimento do tema no referido projeto, atribuindo relevo às ações
colonizadoras;
c) ler obras teóricas sobre a formação da língua portuguesa, na Península Ibérica,
a constituição do seu vocabulário, do seu sistema gramatical e seu ensino
transplantado para a América;
d) buscar fundamentos teóricos no campo da lexicologia para facultar o estudo de
conteúdos lexicais, de modo a poder compreender diferenças na organização de
conhecimentos de mundo por povos de diferentes culturas e usuários de línguas
diferentes;
e) realizar leitura compreensiva de teorias referentes à estruturação e organização
de campos lexicais visando a um procedimento analítico do corpus: pequeno
exemplário do uso vocabular no século XVI de algumas lexias da classe de
designação.
Observa-se que, além dos procedimentos acima mencionados, também se
busca, no corpo da Dissertação, apresentar análises fundamentadas em conteúdos
etimológicos, no caso da língua portuguesa ou na interpretação dos conteúdos
vocabulares, no caso de línguas indígenas tendo como ponto de referência dicionários
da língua geral ou dicionários do tupi-guarani.
16
CAPÍTULO 1 AS MATRIZES SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAIS DO
SÉCULO XVI E A EXPANSÃO DO TERRITÓRIO PORTUGUÊS
1.1 Considerações iniciais
A Historiografia é um espaço de investigação que se oferece ao pesquisador
como lugar que lhe faculta dirigir o olhar para o já visto, de modo a “olhar novamente”
para apanhar o que se julga novo, quando se percebe e se apreendem rupturas naquilo
que se repete. Nesse sentido, ela é compreendida como o locus de intervenção que se
manifesta
nas
práticas
discursivas
dos
historiadores,
com
a
finalidade
de
recontextualizar a História para além dos limites das ações de caráter estatal que
regem a vida pública e o espaço social. Resgatar a História do século XVI nas suas
relações com a História do Brasil desse mesmo período é mergulhar num tempo em
que o “Brasil não era ainda o Brasil”, mas tão somente a América Portuguesa, a qual foi
chamada de terra dos Papagaios (=araras), terra de Vera Cruz e terra de Santa Cruz.
(CORRÊA, 2004).
Trata -se de um tempo povoado por encontro s entre diversidades lingüísticoculturais e habitado por necessidades de aprendizagem de um outro/novo sistema de
codificação lingüística capaz de facultar a comunicação entre homens de falas
estranhas, incompreensíveis. Tais falas eram configuradas por contingências sobre as
quais nenhum dos interlocutores – aqueles que aqui estavam e os que aqui chegavam
– tinham qualquer domínio, pois os modelos para significar o mundo por eles vivenciado
revelam-se insuficientes para representar o que se fazia estranho , não familiar, para
cada um deles. Esse encontro faz do Brasil um país um pouco mais plurilíngüe.
Ressalta -se que quem de lá chegava tinha diante de si um novo/outro mundo
povoado por homens estranhos; quem aqui estava deparava -se com homens
17
diferentes vindos “milagrosamente sobre as ondas do mar grosso. Não havia como
interpretar ‘esse outro homem’, que tanto podia ser feroz como pacífico, espoliador ou
doador.” (RIBEIRO, 2002, p. 42). Assim, o século XVI tipifica-se por um tempo de
encontros entre homens diferentes e de descobertas do “outro”: o estranho ou
estrangeiro.
Este capítulo busca compreender esses encontros e descobertas como
matrizes fundadoras de um novo espaço que, povoado pelo esforço da compreensão,
exigiu desses nossos antepassados habilidades para negociar suas diferenças a fim de
construir um lugar para nele edificar suas semelhanças. Dessas semelhanças emerge
um outro lugar ocupado no continente americano. Tais habilidades implicaram o uso de
várias estratégias de que resultaram a idiomatização da língua portuguesa. Esse
processo de idiomatização se qualifica no fluxo do tempo de colonização e, segundo
Bosi (2002, p. 15), “se explica por ações que reinstauram e problematizam o cultivo, o
culto e a cultura”.
1.2 As ações colonizadoras pelos sentidos de colo, culto e cultura — “O Colo de
Cultus (rus) na Colônia”
Os romanos designavam colo àquele que ocupa a terra, nela mora, trabalha e
cultiva os seus campos: aquele do qual provêm bens não materiais ou, melhor dizendo,
conhecimentos de mundo e destes provêm bens materiais: alimentos, utensílios em
geral. Ao herdeiro, antigo habitante da terra, chamavam íncola e àquele que ocupa
terra alheia, inquilinus, de modo que a base dos significados primeiros de colo – verbo
transitivo que tem cultus como particípio passado e culturus como particípio futuro está registrada em Colônia: grupo de imigrantes que se estabeleceu em terra estranha.
Afirma Bosi (2002, p. 13) que esse valor de transitividade do verbo “colo” implica o
significado de “deslocamento”, de modo que o “inquilino” – estranho que chega à terra
do íncola, seu herdeiro natural – ocupa-se em cultivá-la e, por meio desse trabalho de
18
“cultivo”, faz-se colono: - trabalhador que cultiva terras em lugar de seu dono. Tem-se,
ainda como produto desse deslocamento a mudança de sentidos e do valor de “posse”,
na medida em que o “cultivador” transforma a terra que o íncola herdara, visto ser ela
transmudada pelo colono e com ela seu antigo proprietário, na mesma proporção em
que ele muda seu estado de antigo inquilino. Nessa acepção, a colônia é um lugar que
se faz ocupado por meio do cultivar idéias, conhecimentos, pontos de vista diferentes,
alimentos, objetos ou utensílios, de modo que esse trabalho de cultivo deve ser
compreendido não só na dimensão do solo, mas também do seu antigo proprietário, ou
seja, a terra e o homem.
Observa-se que esse ato de trabalhar o “outro” tem por fundamento a
socialização que é indissociável da aculturação: trocas de bens culturais, de saberes
entre homens que se estranham, mas buscam por meio do uso da linguagem se
compreender, comunicar uns com os outros, ainda que façam uso de sinais
rudimentares como os gestos. O código gestual é ponto de partida para a reconstrução
de seus respectivos sistemas de referências, com vistas a torná-los comuns; todavia
tais sinais, na medida em que se tornam significativos, auxiliam na construção de
modelos de representação do mundo, pois esse processo exige a reelaboração dos
códigos culturais de que cada um deles faz uso como o da alimentação, do vestuário,
da música, da dança e, dentre eles, aquele que transcodifica todos os demais: a língua.
Assim, o português, que era navegante, aprende a caçar animais que lhe eram
desconhecidos, pois assar o peixe já era de domínio do seu conhecimento alimentar,
por exemplo.
É nessa rede de relações instituída pelos significados do “habitar”, do “cultivar” e
do “colonizar” que os íncolas vão se deslocando no espaço do solo por eles cultivado e,
nele, passam a ocupar outros lugares, ao mesmo tempo em que o europeu português,
íncola em seu país, foi se fazendo colono na travessia do oceano que o afasta cada vez
mais de sua terra natal e, aqui chegando “inquilino”, se fez colono pela lavoura, e pela
ocupação do solo. Logo, pelo “lavrar”, o europeu é transmudado em um outro homem
reconstruído pelo íncola que aqui habita, e vice-versa.
19
Esse português que irá se construir como “brasileiro”
1
(eiro = trabalhador do
Brasil) arrasta no seu inquilinato suas representações do mundo da vida, incorporando
a ele aqueles do seu mundo do trabalho, ou seja, modelos de produção que lhe
asseguram viver em companhia de outrem e com eles estabelecer relações de poder,
fundadas no mundo político e econômico de uma formação sociocultural de caráter
medieval, que está sendo transmudada e modernizada. Esse processo de
transmudação,
(...) não se esgota na reiteração de esquemas originais: há um plus estrutural
de domínio, há um acréscimo de forças que se investem no desígnio do
conquistador emprestando-lhe às vezes um tonus épico de risco e de aventura.
A colonização dá um ar de recomeço e de arranque a culturas seculares.
(BOSI, 2002, p. 12).
A busca por essa tonalidade épica levou a Espanha, em 1556, a proibir por
decreto o uso das palavras conquista e conquistadores que deveriam ser substituídas
por descobridores, descobrimento, descoberta, povoadores e habitantes.
Assim
procedendo, a Espanha visava a impedir que se sedimentassem significados que
habitam a matriz de colo do tipo “cuidar”, “mandar”, “tomar conta”, em razão dos usos
freqüentes dessas formas vocabulares, naquela época, com tais sentidos que faziam
remissão a modelos de processos de socialização dos quais são cancelados os de
aculturação para privilegiar valores que emergem do “poder de controle” do mais forte
sobre o mais fraco.
Os significados de cultus, focalizados como particípio passado são mais densos,
pois neles se inscrevem os significados de colo – cultivar, lavrar a terra por séculos
afora – mas se estendem para além deles, pois abarca outras dimensões de sentidos
cristalizados: o conjunto de ações vivenciadas por meio do trabalho, bem como a
1
Corrêa (2004) afirma que entre os países do mundo, apenas o Brasil tem adjetivo pátrio construído com sufixo que
designa trabalho, razão pela qual se institucionalizaram sentidos de ser o Brasil lugar para se trabalhar e enriquecer,
contudo as riquezas aqui produzidas são investidas na pátria distante: a Europa.
20
qualidade já incorporada à terra lavrada. Assim, funde-se a esses significados a
concepção de trabalho sistemático, bem como o de valorização dos agentes que por
ele respondem de modo qualitativo e quantitativo, no espaço da vida social pública, ou
seja, do mundo do trabalho, dele excluído o mundo da vida. Logo, não só os esquemas
sociais dos processos de produção, mas também os seus valores sociais são
arquivados na memória de longo prazo. Por conseguinte, o cultus traz consigo os
sentidos de lavrar e com eles aqueles do suor coletivo, derramado na luta travada
diariamente entre o homem e a terra que, agora cultivada, possibilita narrativas de
histórias desse cultivo.
Tais narrativas têm a terra como espaço, o homem como personagem e o
passado distante que, indexado ao presente do mundo narrado do Brasil Colônia,
constrói o fio de uma história por meio da qual passa a evocar e invocar, pelo exercício
da fala, os mortos que habitam as lembranças. Considera Bosi (2002, p. 14-15) a
necessidade de
(...) amarrar os dois significados desse nome-verbo que mostra o ser humano
preso à terra e nela abrindo covas que o alimentam vivo e abrigam os mortos:
a) cultus (1): o que foi trabalhado sobre a terra; cultivado; b) cultus (2): o que se
trabalha sob a terra; culto; enterro dos mortos; ritual feito em honra dos
antepassados e, os mortos se fazem heróis evocados e invocados em cada
presente nas lembranças.
O culto é, quando assim concebido, o ato de enraizar as experiências do
presente no passado por meio de gestos, de cantos, de danças, de rituais, de orações
e de falas que o evocam e o invocam, para tornar o “outrora” em “agora”; razão pela
qual nessas ações culturais estão tecidos e entretecidos nos laços da comunidade: as
matrizes que possibilitam a criação de sua identidade em um novo tempo. Entretanto, é
preciso ainda considerar que esses significados do particípio passado se
complementam com aqueles do particípio futuro “culturus”, em latim, por meio do qual
se dá forma à concepção de vir a ser, do porvir: o que aponta para uma direção que
possibilita situar o agente para além do presente em suas vivências. Esse ir além são
21
fundamentos de projetos a sere m planificados por meio de recursos que garantam
executá-los. Tal execução implica elaborar planos de ações que, estratégica e
taticamente organizados, assegurem a conquista de metas configuradas por propósitos
e/ou objetivos gerais que se busca conquistar. (TURAZZA, 2005, p. 62-63).
Nessa acepção, a mola propulsora das projeções humanas é o presente;
contudo, nele está fatalmente incrustado o passado, de modo que os significados de
cultura sempre se inscrevem num dado tempo do presente que, se por um lado, enlaça
o passado, por outro, projeta -o para além de si. Essa tessitura entre passado e futuro,
incrustada no presente, é garantia de que o termo “cultura” seja genericamente definido
como conjunto de práticas, símbolos, valores e técnicas que, socialmente
compartilhadas, são transmitidas entre gerações para tornar certa a reprodução da
coexistência social por meio da conjunção passado-futuro, sem o que não se define e
tampouco se compreende o presente de uma dada contemporaneidade.
Entende-se, neste contexto de considerações, que a cultura brasileira tem suas
raízes entrelaçadas às motivações dos íncolas portugueses, moldados pelo projeto de
dilatação da Fé e do Império de que resultou a viagem por mares nunca dantes
navegados. Esses mares, depois de transpostos, tornaram-se o Oceano Atlântico:
águas salgadas que facultaram a implantação do Império Mercantil em Terras da
América, pelo cultivo de seu solo e dos seus habitantes, pelo modelo Salvacionista
Medieval. É no fluxo dessa viagem que os portugueses e espanhóis se fizeram
inquilinos e, por meio de várias outras que os foram desalojando do mundo Europeu e
os fixando no mundo brasileiro das Américas, colonos. Agora, aqui alocados não só
ocuparam o solo americano, exploraram os seus bens, mas também se aculturaram e
foram aculturados, respectivamente, na com-vivência com os nativos que aqui
habitavam. Desta feita, o colono português trouxe consigo, na arca de sua memória
social, as vozes dos seus mortos e, sob essa perspectiva, não se pode qualificá-los
apenas como suportes físicos de operações econômicas. (BOSI, 2002).
22
Nesse processo de transmudação, cujo marco é o encontro com o desconhecido
e o esforço para compreendê-lo e dominá -lo, emergiu uma outra/nova consciência
entrelaçada na trama de uma história, cuja resolução dos conflitos de seus episódios
explica-se por variadas estratégias. Dessas estratégias tem -se a formação de um novo
povo e da língua portuguesa como variação do sistema lingüístico do português.
Entretanto, em se tratando do século XVI, ao qual esta investigação faz referência, não
se pode falar sobre a existência de uma comunidade lingüística, pois para Martinet
(1964) o termo “comunidade lingüística” deve ser empregado para designar a existência
de uma ou mais línguas capazes de assegurar a comunicação efetiva entre homens
que habitam um dado espaço territorial. Por conseguinte, “comunidade” e “língua” são
concepções asseguradas pela prática da comunicação: um empreendimento, um
trabalho a várias mãos que tem como marco inicial o século XVI, mas que nele não se
esgota.
1.3 Ações colonizadoras e estratégias de colonização
Tratar de ações colonizadoras em terras americanas implica considerar que,
segundo registros dos historiadores, há dois tipos de projetos de colonização: um, cujas
ações são ordenadas pelo propósito de ocupação; o outro, pelo de exploração. O
primeiro tem por objetivo o uso do solo herdado por outrem em benefício do próprio
colono que nele passa a habitar; o objetivo do segundo é fazer do inquilino um colono
cuja riqueza do trabalho, circunscrita à produção de bens materiais, é partilhada com
aqueles de seu solo de origem, e não com os nativos da terra descoberta. Entende-se
pelas leituras realizadas serem os atos de ocupação e exploração indissociáveis da
esfera do agir colonizador. Assim sendo, a distinção entre essas duas concepções
parece estar circunscrita a uma questão de gradação, pois sempre o solo ocupado é
explorado por novos cultivos e outros/novos modos de cultivá-lo. (BUENO, 1998 e
RIBEIRO, 2002).
23
Por tais considerações pode-se compreender que, entre 1500 — tempo de
descoberta — e 1532 — tempo da primeira expedição comandada por Martim Afonso
de Souza, o modelo colonizador brasileiro se qualifica muito mais como ocupação do
que exploração propriamente dita. Tal modelo aliado ao o fato de a coroa Portuguesa
não ter recursos para explorar as terras descobertas no continente africano e
americano e, ao mesmo tempo, comercializar com as Índias fez com que ela optasse
por usar estratégias de ocupação e só posteriormente a essa data revertesse suas
ações colonizadoras para o modelo de exploração. Todavia, essa interpretação dos
modelos de projetos de colonização por que se busca traçar limites entre a colonização
da América do Norte e o da América do Sul não se sustenta quando se focaliza a
colonização brasileira para melhor compreendê-la por uma dessas modalidades de
projeto. (BUENO, 1998).
1.3.1 Propósitos e objetivos da travessia do Atlântico
Afirmam os historiadores que a planificação do projeto português de que resultou
o evento extraordinário das grandes navegações se deveu à busca de soluções para
dois grandes problemas vivenciados pelo novo reino ibérico, formado a partir do
condado de Porto Cale, em 1097, no século XI, que teve o conde D. Henrique como
seu idealizador: o abastecimento e a sustentação do reino. Assim, no século XV, ano
de 1419, o Infante D. Henrique, “O Navegador”, projetava explorar o mar Tenebroso,
ciente de que por ele estenderia o poder do seu reinado para além dos limites que esse
mesmo mar impunha ao seu reino.
Tal objetivo expansionista do poder real pela extensão do próprio reino visava a
encontrar
solução
para
aquelas
duas
necessidades
do
novo
território
e,
conseqüentemente, para sua realeza, para o seu reino e povo: a) a primeira referente
ao abastecimento, pois as porções de solo fértil eram e são bastante reduzidas naquela
região do mundo; b) a segunda referente à produção de riquezas em espécie capazes
de sustentar o novo reino. Essa última meta era uma exigência do novo modelo
24
econômico e de organização estatal instituída com a queda da Idade Média, de modo a
garantir a inserção dos povos medievais na Idade Moderna. Tornava-se inviável a
conquista dessa meta em razão do fechamento dos caminhos para o comércio no mar
Mediterrâneo, decorrente de taxas exorbitantes cobradas pelos turcos para que as
embarcações pudessem circular pelos caminhos do Mediterrâneo, o que exigia a
produção cada vez mais crescente de valores em espécie pelos reinos da Ibéria.
(LEAL, 2001 e MAZZEO, 1997).
1.3.2 Estratégias para mudança de modelo de representação: buscas de novos
conhecimentos
Nesse contexto de dificuldades, o olhar de D. Henrique recaía sobre o mar Tenebroso:
obstáculo milenar para as navegações, devido às lendas que impediam os navegantes
ibéricos de nele lançarem suas embarcações em busca de novas paragens e
aventuras. Mas o rei acreditava que a solução para tais problemas estava diante dos
olhos portugueses; contudo, aquela seria uma tarefa para visionários, visto ser
necessário transpor o mar imaginário dos navegantes do seu tempo. Para tanto, eles
precisariam deixar de crer na possibilidade de que ao navegá-lo cairiam no abismo que,
supostamente, haveria nele quando se cruzasse a linha do seu horizonte traçada pelo
olhar em terra firme. Os seres marinhos gigantescos que habitavam esse mar
Tenebroso e que devorariam aqueles que ousassem ultrapassar essa linha lendária
eram um produto da imaginação, de uma crença que só o conhecimento poderia diluir.
Tal era o problema com que se deparava o rei português. (BUENO, 1998).
A consciência de quem sabia serem as lendas — produtos cristalizados de
modelos de representações, visões de mundo criadas para interpretar o desconhecido
— a fonte que justificava o medo e impedia o navegante português de se la nçar à
descoberta de novos espaços leva D. Henrique a ordenar que seu irmão, D. Pedro,
vasculhasse todas as bibliotecas da Europa em busca de outros conhecimentos sobre o
mar Tenebroso. Tal empreitada de D. Pedro deslocou, para a corte portuguesa, livros e
mapas, dentre os quais os de Marco Pólo em que se registravam descrições de suas
25
viagens pelas terras do mundo de sua época. D. Henrique também se incumbiu de
trazer para sua corte sábios, cartógrafos, astrônomos e astrólogos – especialmente
judeus que, desde meados do século XIV, fugiam das perseguições que se
desencadeavam na Espanha. Dentre esses perseguidos estava Jehuda Cresques, filho
de Abraão Cresques, brilhante cartógrafo e autor o célebre Atlas Catalão. Com esses
refugiados, D. Henrique fundou a Escola de Sagres, em 1433, assim chamada por se
situar na vila de Sagres. Ali, construíram um observatório astronômico, oficinas para
construção de embarcações, bem como salas de estudo. (BUENO, 1998 e
ENCICLOPÉDIA DIGITAL “O ESTADÃO”, 2005).
Os conhecimentos produzidos pelos estudiosos de Sagres foram assegurando
um conjunto de informações que garantiam a exploração dos caminhos do mar
Tenebroso, de modo a que esse fosse gradativamente explorado pela arte da
navegação: um feito resultante da sabedoria de um rei que, para planificar um conjunto
de ações de seu projeto de governo, compreendeu ser necessário valer-se de novos
conhecimentos para reconstruir velhos modelos de representação do mundo do seu
próprio povo. Esses novos conhecimentos facultaram a tra nsformação das galés,
birremes e trirremes portuguesas em naus e caravelas que se valendo da força dos
ventos foram possibilitando aos navegantes explorar, a princípio, as costas portuguesas
e se defrontarem com várias ilhas deles desconhecidas até então. E, por fim, descobrir
a costa do continente africano: o grande achado daquela época. (BUENO, 1998 e
ENCICLOPÉDIA DIGITAL “O ESTADÃO”, 2005).
A exploração gradativa dessa costa continental do mar Tenebroso assegurou a
descoberta de outras terras, outros povos e, com ela, o deslocamento para a Coroa
Portuguesa de bens de consumo da época do que nelas se produzia. Ressalta-se que,
ao mesmo tempo, também se dava a conversão de seus habitantes em escravos da
nova coroa. Esse processo de escravização era feito por meio de estratégias que
implicavam o uso do próprio modelo cultural das estruturas sociais que organizava a
vida no mundo tribal. Assim, os escravos conquistados pelas tribos – homens de tribos
rivais que perdiam o combate com outros e eram por isso escravizados – eram
26
negociados com os portugueses, de modo a lhes servir de mão-de-obra para o trabalho
braçal: razão pela qual a escravatura é matriz da formação do Estado Português
Moderno e, conseqüentemente, do sistema de produção nas suas colônias. Há de se
considerar, ainda, que a aquisição de escravos também era obtida pela força bélica dos
portugueses, superior àquela dos povos nativos que não haviam alcançado domínio
sobre tecnologias de que se valiam os portugueses, pois os nativos ainda faziam uso
da lança, arco e flecha, tacape para suas conquistas por meio da guerra. (SOUTO
MAIOR, 1972).
Nesse contexto de reinterpretação da história oficial, o feito de D. Henrique – um
monge guerreiro, cavaleiro da ordem de Cristo, herdeiro das tradições e conhecimentos
dos Templários - garantiu a seus sucessores outras descobertas de novas terras,
habitadas por íncolas desconhecidos dos ibéricos, bem como a expansão dos reinos de
Portugal e de Castela. Tal expansão teve como fundação e fundamento os negócios da
coroa e da fé cristã, pela qual foi moldada a formação educacional daquele rei
visionário e de um reinado que alcançou o continente americano: espaço em que se
situam as fronteiras do Brasil.
1.3.3 Estratégias de rupturas de contrato
Transcorrido
um
século
dessas
explorações
costeiras,
os
navegantes
portugueses ousam se aventurar em descobertas de outras correntes marítimas que já
haviam transformado o Mar Tenebroso em Mar Salgado: segundo Fernando Pessoa,
“muito desse sal são lágrimas de Portugal” (apud CADORE, 1998). Essas correntes
trariam para as terras da América uma primeira frota de dez naus e três caravelas
redondas, sob o comando do almirante Pedro Álvares Cabral, no século XVI. Este
almirante, também cavaleiro da Ordem de Cristo, recebeu de Vasco da Gama um
conjunto de documentos em que se registravam informações sobre as viagens de
Vasco às Índias. (BUENO, 1998).
27
Tal informação também se faz presente no seguinte registro:
(...) quando Cabral partiu para a Índia, não só por cálculo e estudo, como por
uma viagem anterior de que guardara sigilo, os portugueses sabiam da
existência de terras a oeste. Por estudos vindos a lume recentemente, está
averiguado que Pedro Álvares Cabral, desviando-se do roteiro de sua viagem,
sabia muito bem o que queria, porque o grande navegador que foi um dos
maiores nomes da epopéia marítima de Portugal, não ignorava a existência das
vastas regiões por ele descobertas e de que imediatamente tomou posse, em
nome do seu rei. Seu avô Fernão Álvares Cabral foi guarda -mor do Infante D.
Henrique, fundador da Escola de Sagres. (LELLO UNIVERSAL, s/d)
Segundo informações da história oficial, Cabral e sua frota zarpam em direção às
Índias orientais; contudo, para Bueno (1998), em um dado momento e lugar,
previamente estabelecido nos documentos de Vasco da Gama, a esquadra muda o
curso da viagem, que duraria quarenta e quatro dias. A tripulação, dias antes de 22 de
abril, enche -se de esperanças ao identificar naquele mar certos tipos de algas como as
“botelhos” e as “rabo de asno”, interpretadas como “proximidade da esquadra com a
terra firme”. A esses sinais, no alvorecer da manhã seguinte, acrescentam-se aqueles
referentes à leitura do grasnar de aves marinhas, no vôo entre os mastros e as velas da
esquadra, confirmando a interpretação dada à presença no oceano das algas. Esses
indícios garantiriam a explosão de alegria registrada no enunciado “Terra à vista”,
quando os olhos dos marinheiros pousaram sobre o Monte Pascoal na Bahia, em 22 de
abril de 1500, assim designado por ser domingo de Páscoa: um tempo em que se
comemora a vida pela ressurreição do Cristo crucificado. Desta feita, depois de meses
no mar, submetidos a privações e à doenças, distantes de suas famílias e da terra de
origem, encontram a Terra dos Papagaios, o Paraíso já registrado em mapas da Idade
Média. Assim, tal qual o Cristo ressuscitado que ascendeu ao céu, os portugueses
alcançam a nova terra: fonte de uma nova vida. Plantam no solo da nova Terra, que
acreditavam ser uma ilha, a Cruz verdadeira de Cristo, assim concebida em razão do
dia da sua descoberta, e designam à nova terra Ilha de Vera Cruz. (CORREA, 2004).
O registro da viagem, as belezas da terra, o perfil de seus habitantes, a primeira
missa, as dimensões da cruz, a presença do estandarte da Ordem de Cristo está
28
descrita na redação, em língua portuguesa do século XVI, na carta de Pero Vaz de
Caminha. Nela o capelão-escrivão Pero Vaz de Caminha descreve o nativo da terra,
determina -lhe a raça, o idioma e a religião que seria aquela que o povo Ibérico legaria
ao continente sul-americano. A terra recém-avistada, a ilha como supunham, foi
batizada de Vera Cruz e, logo em seguida, de Santa Cruz, conforme a determinação do
rei D. Manuel. Esse monarca herdeiro da sagacidade de D. Henrique envia novas
expedições para registrar rios, cabos, ancoradouros naturais, ilhas, as quais seriam
batizadas com nomes do calendário litúrgico, como as realizadas por Gonçalo Coelho e
Américo Vespúcio em 1501 e, depois, em 1503. (BUENO, 1998).
Várias expedições chegaram a esta nova terra para mapeá-la e determinar sua
posição nas linhas dos meridianos terrestres. Para tanto, fez-se uso dos instrumentos
da época: o astrolábio, para indicar a latitude; as Tábuas da Índia – espécie de
“balestrilha” usada pelos pilotos árabes para avaliar a latitude à noite e para medir a
altura das estrelas. Constituída por duas réguas, uma horizontal (o virote), com escala
em graus, outra vertical (a soalha), alinhava-se à extremidade inferior da soalha com a
linha do horizonte, enquanto a superior era alinhada após esse alinhamento, de modo a
marcar a altura da estrela em graus, precisando a latitude mais adequada, durante a
navegação. Esses navegantes também faziam uso de outros instrumentos como: a)
agulha de marear (espécie de bússola); b) os portulanos - antigos mapas náuticos feitos
pelos árabes em peles de carneiro ou em pergaminhos; c) o nortulábio - espécie de
astrolábio usado à noite. Tais instrumentos facultavam a leitura da nova posição em
relação à terra e astros que habitam o firmamento. Assim, desse hemisfério austral
descobriu-se a primeira constelação que viria a funcionar como ponto de referência,
para os habitantes desse novo espaço: o Cruzeiro do Sul. (BUENO, 1998).
1.3.4 Estratégias para o domínio dos caminhos do mar: tratados de soberania
As descobertas das Grandes Navegações envolveram muitas disputas entre os
dois reinos da Península Ibérica, não só para assegurar o poder e o controle das novas
29
terras, mas também o domínio dos caminhos do mar. A fonte dessas disputas, segundo
Vainfas (2000), deve ser considerada em relação aos conhecimentos náuticos,
cartográficos e topográficos da época, bastante avançados, se comparados àqueles da
Idade Média. Desse modo e à medida que se descobria uma nova rota oceânica ou se
chegava por elas a um outro pedaço de Terra, confirmavam -se as projeções medievais
de que o mundo não se circunscrevia à Europa e à Ásia. Entretanto, novos mapas
precisavam ser construídos; mas, para tanto, fazia-se necessário precisar com exatidão
a extensão dessas out ras terras. Esses conflitos entre os dois Estados Ibéricos eram
mediados pela Igreja que buscava, por meio de bulas, dissolvê-los para assegurar a
convivência o mais pacífica possível entre ambos os reinos.
Por um lado, Portugal buscava garantir seus interesses mercantilistas com as
“Índias orientais” e as rotas traçadas por seus navegadores no Atlântico, assegurando
que sua frota mercante não fosse atacada por corsários: capitães que, defendendo os
interesses
de
seu
monarca,
atacavam
embarcações
consideradas
inimigas,
promovendo o saque de mercadorias, afundando as embarcações saqueadas e, com
elas seus marinheiros. Esse procedimento dos corsários franceses e espanhóis
resultava em grandes prejuízos econômicos para o reino saqueado. Observa-se que
também os comandantes portugueses, não raramente, utilizavam esse mesmo
procedimento para saquear embarcações espanholas e francesas. Assim, o rei D.
Manoel buscava, insistentemente, assegurar para si as rotas para as Índias,
asseverando que tal caminho pertencia aos portugueses. O argumento de prova de que
fazia uso era o feito de um português e não de um espanhol haver dobrado o cabo das
Tormentas: Bartolomeu Dias. Tal feito garantiu ao reino português investir na viagem de
Vasco da Gama, cujo sucesso dava àquele reino direito de propriedade sobre tais rotas
que cortavam o Atlântico, o Índico e o Pacífico. Contudo, a cada nova expedição os
navegantes se afastavam da linha divisória estabelecida pelas bulas papais,
deslocando-se mais e mais para o ocidente, seguindo as ordens do rei. (VAINFAS,
2000).
30
Por outro lado, o reino espanhol convivia com a presença constante dos
portugueses no Ocidente e se esforçava por dividir o comércio das especiarias com o
Estado vizinho, não poupando tempo ou ocasião para assegurar o controle de rotas no
Pacífico e reivindicar direitos sobre aquelas do Atlântico. Valia-se, para tanto, de
argumentos fundamentados na viagem de circunavegação do globo: um feito de
Fernão de Magalhães (1519-21), realizado sob a bandeira de Espanha. Assim, a
Espanha exigia dos portugueses o dever de respeitarem esse feito histórico, bem como
os limites traçados pelas bulas papais. É nesse contexto de disputas que se firma o
tratado de Toledo entre D. João II, rei de Portugal, e D. Fernando de Aragão e Isabel
de Castela, reis de Espanha, assinado em 1480, por meio do qual se atribuía a
Portugal direito sobre as terras situadas ao sul das ilhas Canárias.
Afirma Romero de Magalhães (apud VAINFAS, 2000) que esse tratado, como as
bulas papais até então publicadas, não diminui as relações de conflito entre as coroas
portuguesa e espanhola, pois quando Colombo faz uma escala no porto de Lisboa, em
1493, é advertido de que as terras situadas ao sul das Canárias eram território
português, consoante o tratado de Toledo. D. João II, ao tomar ciência do fato acima,
envia uma embaixada aos Reis Católicos de Espanha e, ao mesmo tempo, ordena a
preparação de uma esquadra que, sob o comando de D. Francisco de Almeida, deveria
tomar posse das novas terras situadas abaixo desse marco territorial. D. Fernando de
Aragão e Isabel de Castela recorrem ao papa Alexandre VI para legitimar novos
domínios das terras que a Espanha buscava ocupar em nome da fé. Esse papa publica
nova bula e estabelece o limite de 100 léguas tendo como ponto de referência o
arquipélago de Cabo Verde e, assim procedendo, revoga os privilégios dos
portugueses, assegurados nas bulas anteriores. A reação do rei de Portugal, diante
desse novo traçado da linha meridional, resultará no Tratado de Tordesilhas: um dos
primeiros realizados diretamente entre dois soberanos temporais que prescindiu da
mediação do representante de Deus na Terra dos homens. (VAINFAS, 2000 e
RIBEIRO, 2002).
31
Firmado na pequena cidade de Tordesilhas, ao norte da Espanha, em sete de
junho de 1494, a Capitulación de la partición Del Mar Oceano dividiu as zonas de
influência dos países ibéricos – Espanha e Portugal – em dois hemisférios,
demarcados de pólo a pólo, cabendo a Portugal as terras “descobertas e por
descobrir”, desde que situadas aquém da linha demarcada a 370 léguas a oeste de
Açores e Cabo Verde. À Espanha cabiam as terras que ficassem além desta linha.
Esse Tratado, na verdade, alterava o estabelecido pela bula Inter Coetera , de 1493,
pelo arbítrio do papa Alexandre VI (espanhol, da família Bórgia) que concedia à
Espanha a posse das terras “descobertas ou por descobrir” desde que estivessem
localizadas a partir de uma linha demarcada a 100 léguas a oeste de Cabo Verde.
Observa-se que o Tratado de Tordesilhas limitava consideravelmente a área de
influência de Portugal; pois, até então, era ele o beneficiário exclusivo do poder de
dominação e cristianização dos territórios e povos conquistados em terras de infiéis
que, agora, deveria ser partilhado com o poder do Estado Espanhol. Nesse contexto de
interpretação dos documentos históricos, cabe ressaltar que
(...) antes mesmo do achamento do Brasil, o Vaticano estabelece as normas
básicas de ação colonizadora, ao regulamentar, com os olhos ainda na África,
as novas cruzadas que não se lançavam contra hereges adoradores de outro
Deus, mas contra pagãos e inocentes. É o que está registrada na bula
Romanus Pontifex de oito de janeiro de 1454, do papa Nicolau V, e mais tarde,
o Vaticano através da bula Inter Coetera, de quatro de maio de 1493, quase nas
mesmas palavras que a bula anterior, assegura, que também o Novo Mundo
era legitimamente possuível por Espanha e Portugal, e seus povos também
escravizáveis por quem os subjugasse. (RIBEIRO, 2002, p. 39-40).
Por conseguinte, os herdeiros naturais das terras descobertas, designados
“pagãos” e “inocentes”, segundo o fragmento acima transcrito em 1457, já eram
projetados como possível força de trabalho escravo pela Igreja que, no exercício do
poder político-econômico partilhado com o Estado, atri buía lhe o direito de poder
escravizar ou não esses outros homens. Tal documento admite não só o direito à
posse das terras descobertas pelos dois Estados Ibéricos, mas também sobre o
homem que nela habita, por meio do trabalho escravo: modalidade por meio da qual se
atribui ao íncola das Américas, nesse caso, uma outra identidade, moldada pelo poder
32
do Estado Nacional. Essa identidade implica a transferência e o deslocamento de
categorias não só de posse da terra, mas também do homem livre para o homem
escravo. Esse modelo de transferência se inscreve, portanto, no projeto da Igreja,
planificado pelo Estado Português. Nessa acepção, torna-se bastante complexo
considerar que as matrizes dos projetos de colonização desses Estados Católicos
visaram apenas à ocupação; razão por que, se a princípio as terras do Brasil foram tão
somente ocupadas, tal fato se devia a questões de ordem econômica. E, assim, por
deliberação dos comandantes da Igreja Católica e por decisão dos Estados Ibéricos, se
fez a América luso-espanhola (cf. item 1.3 deste capítulo).
1.3.5 Estratégias de ocupação
Observam os historiadores do século XVI que a coroa portuguesa se depara com
a necessidade de ocupar as terras da América; entretanto, devido à extensão territorial
sob o seu domínio na Península Ibérica, ser reduzida e a população demográfica ser
pequena, não era possível despovoar o próprio território o qual era sede central do
reino. Acrescenta-se a esta questão, as constantes investidas do reino espanhol para
estender seus limites territoriais e ocupar terras sob o domínio do reino português. A
solução para o problema de ocupação foi encontrada no “degredo”.
1.3.5.1 O desterro
A ação de banir aquele que praticava um crime contra a sociedade ou o Estado
português, já era uma prática do Direito instituído pela coroa portuguesa no século XIV.
Todavia, é no século XV que essa modalidade de pena torna tal castigo comum. O
condenado ao degredo era levado para uma das possessões ultramarinas e ali
permanecia por toda a vida, se o degredo fosse perpétuo, ou pelo tempo declarado na
33
sentença, neste caso seria temporário e não poderia ser menor de três anos, nem
exceder a quinze anos. (CALDAS AULETE, 1948).
Assevera Bueno (1998) que esses personagens degredados, nem sempre eram
assassinos ou ladrões comuns, mas homens que, a serviço da nobreza, praticavam o
peculato – desvio de bens públicos em benefício próprio; razão pela qual eram
mantidos como funcionários da corte, na nova Terra. Em 1500, o comandante da frota
Pedro Álvares Cabral deixou nas terras do novo mundo dois desses personagens,
embora devessem eles cumprir a pena de degredo na Índia. Mas, por decisão de
Cabral e seus comandantes, aqui eles foram deixados. O não respeito à decisão judicial
da coroa foi justificado pela necessidade de que eles aprendessem a língua e os
costumes dos nativos, de modo a poderem colaborar com os comandantes de novas
expedições que aqui chegassem, transmitindo informações, por meio das quais os
portugueses viessem a se sentir mais seguros e a ter maior acesso e domínio sobre os
bens que a nova terra lhes poderia oferecer. Em 1502, esses degredados, Afonso
Ribeiro e, possivelmente, João de Thomar – foram recolhidos por Gonçalo Coelho e,
em razão dos seus relatos, perdoados pelo rei D. Manuel.
Afirma Porchat (1993) que, possivelmente, o misterioso Bacharel da Cananéia
seria Cosme Fernandes, também condenado ao degredo em 1501 e que aqui
chegando, juntou-se a outros degredados sob sua liderança. Desta feita, o Bacharel ou
um de seus homens é responsável pelas informações transmitidas a Martim Afonso de
Souza sobre as riquezas e a rota para se chegar à “Sierra de la Plata”, possivelmente
uma alusão ao Império Inca. Esse Bacharel prestou inúmeros serviços à Coroa
Portuguesa, auxiliando a todos aqueles que o procuravam. Vivia cercado de náufragos
e desertores e, assim, detinha conhecimentos preciosos para aqueles novatos que aqui
chegavam, pois era um ponto de referência para se aprender a sobreviver na nova
Terra ou se deslocar por ela.
Outro colaborador de Martim Afonso de Souza foi João Ramalho: uma
personagem da história brasileira de que não se sabe, ao certo, se fora degredado pela
34
coroa ou vítima de um naufrágio, mas vivia com os indígenas em “Guaiahó”, na ilha de
São Vicente, por quem era respeitado e temido. Colaborou com Martim Afonso de
Souza na edificação do povoado de São Vicente. Genro do cacique Tibiriçá, o fundador
do Povoado de Santo André da Borda do Campo, Alcaide-mor dessa mesma vila. Em
1562, é eleito pelo povo e pela câmara “capitão de guerra da vila de São Paulo”; e em
1562 se torna vereador dessa mesma câmara, tendo falecido em 1580. (PORCHAT,
1993).
Ressalta -se que, em terras do Brasil, uma outra personagem significativa teria
sido Antônio Rodrigues: um dos náufragos que chegara à Ilha dos Porcos e fora salvo
em 1503 ou 1508. Associou-se a João Ramalho e ao Bacharel da Cananéia na venda
de índios e nas pequenas indústrias da terra: cera, mel, óleo, resinas, peles de animais,
aves e madeiras ... produtos que eram trocados por artigos europeus. Fabricavam,
ainda, bergantins: embarcação a vela ou a remo e reabasteciam os navios que
transitavam pelas praias paulistas. É a partir do ano de 1525 que o número de
degredados enviados ao novo mundo passa a se tornar cada vez mais intenso, o que
justifica o povoamento da costa brasileira. (BUENO, 1998 e RIBEIRO, 2002).
1.3.5.2 Estratégias de miscigenação
A sociedade nativa acolheu degredados, náufragos, desterrados, corsários, tanto
portugueses, espanhóis como franceses, porque no mundo daqueles ind ígenas, o mais
belo era dar que receber. O costume do povo da terra era oferecer uma moça índia
como esposa ao estranho. Esse costume muito antigo, de acordo com os antropólogos,
tinha como objetivo incorporar o estranho à família. Assim que ele assumisse a relação
marital com a sua temericó estabeleceria os laços de parentesco. Esses laços, por sua
vez, não se restringiam ao grupo da aldeia, mas a todos os membros de um povo.
Assim, o europeu poderia ter muitas temericó, dessa forma ele poderia contar com
milhares de parentes, que poderiam estar a seu serviço, seja para seu conforto
pessoal, seja para a produção de mercadorias, seja para a luta.
35
A função do cunhadismo com a chegada de europeus se modificou passando às
guerras de captura de escravos, isso por ocasião da grande necessidade de mão-deobra indígena. Outra conseqüência desse sistema social é a geração de milhares de
mamelucos, ou seja, fruto da união de europeus e índios. Esses degredados
aprenderam a língua daqueles agrupamentos que os acolheu como membros de sua
própria família ou como hóspedes e se uniram aos nativos para defendê-los de outros
nativos hostis e criaram raízes nessas aldeias. Esses homens tornaram -se os línguas
da terra, os mediadores e negociadores. (RIBEIRO, 2002).
1.3.5.2.1 O valor da prole mameluca
Tais homens, ao se unirem aos nativos por laços de família, acabavam tendo
uma prole muito grande - o fruto mestiço da terra -, dando origem ao lusotupi ou como
foram chamados, mamelucos, pois segundo o costume eles poderiam ter várias
esposas. Assim, aqueles que aqui chegavam posteriormente sem família, como no caso
dos portugueses que se estabeleceram em São Vicente, em 1532, privados quase
todos, em seus primeiros tempos, de mulheres européias foram obrigados a seguir o
exemplo de João Ramalho: procurar contactos com a brasilíndia, conceber uma prole
lusotupi, construir uma geração semiguerreira, em cujo sangue luso-americano se
plasmam as qualidades virtuais dos bandeirantes. Propaga-se a família luso-brasilíndia.
Tempos mais tarde, têm a missão providencial e terrível de serem os
devassadores dos sertões, de partir as resistências do indígena, de preparar a
transição entre a cultura lusitana, de facilitar as relações entre os povoadores e a gente
da terra. A estrutura bandeirante é apoiada na organização familial mameluca, nesses
filhos de lusos e brasilíndios, produtos nativos da primeira hora, bilíngües, porque falam
o português, o idioma paterno, e o tupi, a língua materna. E se no aspecto físico são
brasilíndios autênticos, na alma, na inteligência e no espírito guardam a formação
psíquica européia. (RIBEIRO, 2002 e FERREIRA, 1970, p. 25).
36
No lusotupi estão as características de sua descendência, neles se fixam as
capacidades férreas de resistência ao ambiente e se implanta e desenvolve uma alma
brasileira. Ele é o elemento social preponderante no povoamento português para servir
de passagem entre a barbárie e a civilização, para unir as duas raças sob o sol dos
trópicos.
O plano de D. João III, ao fixar à terra os povoadores portugueses e permitir a
formação de proles mamelucas, era a formação de um novo fruto gerado entre o velho
mundo e novo mundo. Por isso mesmo, o lusotupi é um forte campeão da
nacionalidade futura, o conquistador do território e formador de uma sub-raça
necessária à tarefa sobre-humana de embalar o Brasil-Menino e de prepará-lo para as
lutas da vida.
Coloca-se desde logo, na defesa de seu pai, contra seus parentes
nativos. Fundador da raça, o luso-tupi de Piratininga afasta os selvagens, “(...) gente
tão carniceira que parece impossível viver sem matar”, diz o Irmão Anchieta, na carta
ao Padre-Mestre Diogo Laynes, em 16 de abril de 1563.
Orgulha -se o lusotupi de sua ascendência lusitana. Desse entusiasmo natural
vai resultar uma pátria. Meio-selvagem, quer ser civilizado. Homem, prepara-se
para ser povo. E povo, será nação, pela sua independência indomável, pela sua
insensibilidade heróica, pela sua sinergia psicossomática. (FERREIRA, 1970, p.
25).
O papel desses mamelucos foi de grande importância, quase se confundindo
com o papel dos bandeirantes paulistas, sendo que o primeiro adentrava os sertões em
busca de escravos e, o segundo não apenas caçavam escravos, como adentravam os
sertões em busca de metais preciosos, traficavam com as aldeias e contribuíram para o
alargamento das fronteiras coloniais. Em São Paulo, a ação dos mamelucos era vista
como um bandeirante intrépido e heróico, pois como viveu até certa idade nas aldeias e
depois passou ao convívio dos povoados coloniais, eram bilíngües, batizados na Igreja,
até casados, porém tinham seu papel social dentro do seu povo, assim tinham esposas
ou temericó em várias aldeias. Usavam as tinturas e tatuagens e participavam das
37
cerimônias antropofágicas. Também eram reconhecidos pelo conhecimento da
medicina tradicional indígena. (RIBEIRO, 2002).
1.3.5.3 O patrulhamento e o uso das feitorias
Em 1516, 1521 e 1526 Cristovão Jaques comanda várias expedições costeiras,
cuja função era patrulhar a costa atlântica brasileira e, assim, desmotivar corsários
franceses e espanhóis, que se ocupavam do tráfico do pau-brasil. Essas expedições
não só percorriam a costa do país, mas também buscavam edificar construções em
lugares estratégicos para armazenar víveres e riquezas colhidas na nova terra como o
pau-brasil. Constroem-se, entre 1502-1504, as feitoras de Pernambuco, Bahia e Cabo
Frio, sendo que a feitoria do Rio de Janeiro foi transferida para Pernambuco, devido ao
saque feito pelos espanhóis, 1517. (BUENO, 1998).
Observa Bueno (1998) que, apesar dos tratados firmados entre D. João III e
Francisco I, nos entrepostos, o comércio dos bens da terra eram mantidos em grande
escala com os franceses, mediante autorização do rei de França. Náufragos,
degredados e indígenas, na ausência de autoridades portuguesas ou em comum
acordo com elas, mantinham no mar carregamentos do pau-brasil e outros bens, mas
nem sempre esse era meio de que se valiam os corsários franceses para se
apoderarem dos bens da Terra. Assim, em 1531, a nau La Pèlerine é capturada
próximo ao estreito de Gibraltar, no Mediterrâneo e, com ela, três mil peles de onça,
seiscentos papagaios e 1.8 toneladas de algodão, produzidas pelos nativos; além de
óleos medicinais, amostras de minerais e pau-brasil. Nesse caso, Pèlerine atacara a
feitoria localizada na ilha de Itamaracá em Pernambuco e obrigaria os prisioneiros a
reconstruir a que haviam destruído e nela colocar a bandeira francesa. Por esse ato de
invasão, a coroa francesa pagou à portuguesa sessenta e dois mil ducados.
Observa-se que algumas feitorias tiveram vida longa como a de Cabo Frio;
outras foram reconstruídas devido a ataques de nativos ou de corsários franceses e
38
espanhóis, como foi o caso da feitoria de Pernambuco, destruída em 1531 e
reconstruída por Pero Lopes; após a sua reconstrução, os portugueses que ali se
encontravam foram repatriados.
As feitorias eram construções rústicas que, administradas por um feitor,
armazenavam o pau-brasil e outros bens da terra até que fossem embarcados para o
reino. O feitor que por elas respondia tanto estava no comando da exploração da
madeira, como também, em outras ocasiões, falava em nome do rei; o feitor era, na
verdade, um embaixador da coroa. Todavia, no Brasil, eles não se viam obrigados a
negociar com as chefaturas ou realezas africanas, tampouco com samorins ou chefes
mulçumanos, como na Índia. Nas terras brasileiras, além do exercício do papel de
comerciantes eles também exerciam muito mais o papel dos militares ou dos
diplomatas. Assim, em situações de conflito entre os indígenas e os corsários, ora se
aliavam aos indígenas para aumentar o número de guerreiros, ora se predispunham a
sentar com o chefe da tribo e com o comandante corsário para mediar acordos ilegais
estabelecidos entre ambos, de forma a prevalecer os direitos da Coroa portuguesa.
(BUENO, 1998)
1.3.5.4 A implantação de vilas
Há de se observar que os náufragos e degredados que aprenderam a se
comunicar com os indígenas, por meio de um domínio elementar do sistema de
codificação por eles utilizado, esforçavam-se por não difundir entre os colonos tal
conhecimento. Esses, temerosos da floresta e de seus habitantes, não se aventuravam
por caminhos desconhecidos e permaneciam no espaço da Terra que cultivavam.
Desse modo, a chamada “língua geral”, que já garantia o contato desses portugueses
com os indígenas, só será aprendida e divulgada pelo trabalho de catequese dos
jesuítas.
39
Essa estratégia de não divulgação do meio de comunicação com os indígenas,
bem como a do conhecimento das trilhas da floresta e dos caminhos dos rios, garantirá
aos comandantes das expedições zelarem e preservarem a vida desses homens.
Nesse contexto, Pero Corrêa – um português traficante de escravos – já explorava as
terras situadas entre os rios Itanhaém e Peruíbe, quando da chegada de Martim Afonso
de Souza ao Brasil.
Desse modo, ele, Martin, e Namorado, comandante de sua
esquadra, fundam a vila de Itanhaém nas terras exploradas por Pero Coelho que ali já
edificara uma capela de boas proporções, explorada pelos jesuítas para catequizar os
nativos. Esses transformam a capela em colégio, erguido a 1 km da praia, do qual se
podem encontrar vestígios até o século XIX. Uma outra Vila, situada na praia do
Flamengo, com uma casa forte, uma ferraria e um estuário, cercados de paliçada –
tapume com estacas enterradas no chão – também foi obra desse homem da nobreza
portuguesa e desse seu comandante Namorado. (BUENO, 1998).
João Ramalho, conforme já enunciado, foi outro assessor de Martim Afonso de
Souza na criação da vila de São Vicente, no planalto paulista. Afirma Castro (1941) que
para chegar a esse planalto, Martim Afonso navegou pelo braço de um rio que ia dar ao
Peaçá: porto de João Ramalho, onde começava o primeiro caminho serrano. Subiram
por caminhos de lama ou tijuco, com o propósito de atingirem o cume da serra do mar,
tendo por referência o Itutinga: salto branco da cachoeira. Batizaram o cume de onde
se avistava o mar de Paranapiacaba – Paraná: braço de rio caudaloso, deste separado
por uma ilha + piá: entranhas de cavidades das pedras onde se acumulam águas da
chuva + caba: insetos; logo: lugar aonde se chega pelo paraná e pelos caminhos do
tijuco: estradas de pedras e lama (devido ao piá) pelas trilhas da floresta povoada de
insetos. (AURÉLIO, 1975).
E, assim, o português ia aprendendo a designar o novo mundo pelo uso das
palavras indígenas e não pelos nomes de santos, conforme ditara o rei. Navegaram, a
seguir, em canoa pelo Jeribatuba ou Jeribatiba: jeribá (fruto) + tuba (tiba): muito,
abundante = lugar onde há muitas palmeiras jiribá, produtoras do fruto geribá (cf.
40
Castro, 1941), em cujas margens e em certas passagens encontravam essas palmeiras
e delas saboreavam os jeribás: cocos adocicados. Entravam, assim, pelos campos de
Piratininga: região onde o rio e seus afluentes transbordavam e, após o refluxo das
águas, ali deixava depositado grandes cardumes de peixes. E, assim, João Ramalho –
conhecedor dessas trilhas, líder de comunidades indígenas e negociante de escravos
índios - faz-se condutor dos caminhos da fundação de São Vicente, já São Paulo dos
tempos da colonização, situado nos campos de Piratininga.
Pero Lopes registra nestas palavras a obra de Martim Afonso:
A todos nós pareceu tam bem esta terra, que o capitam Martim Afonso
determinou de a povoar, e deu a todolos homês terras para fazerem fazendas:
e fez hûa villa na ilha de Sam Vicente e outra 9 leguas dentro pelo sartam, á
borda d’hum rio que se chama Piratininga: e repartiu a gente nestas 2 villas
nellas officiaes: e poz tudo em boa obra de justiça, de que a gente toda tomou
muita consolaçam, com verem povoar villas e ter leis e sacreficios e celebrar
matrimônios e viverem em comunicaçam das artes; e ser cada um senhor do
seu: e vestir as enjurias particulares; e ter todolos outros bens da vida sigura e
conversável. (RIBEIRO, 2002, p. 87).
1.3.6 Estratégias administrativas na Colônia
A planificação de ações para a área administrativa da Coroa Portuguesa, por um
lado, visava a povoar as terras da América e, por outro, garantir o controle dos bens de
produção nelas explorados; como a cana-de-açúcar, por exemplo. Assim, o Estado
português opta, em primeiro momento, pela implantação do sistema de Capitanias
hereditárias e, posteriormente, pelo dos chamados Governos Gerais para exercer tal
controle na colônia.
1.3.6.1 O sistema de capitanias hereditárias
A administração das Ilhas do Atlântico – Madeira, ilhas do Cabo Verde e
Canárias – por meio do sistema de capitanias, rendia à coroa lucros vantajosos. Esse
41
sistema administrativo fundado na relação entre o rei e a nobreza, no período medieval,
consistia na concessão feita pelo rei aos nobres de sua corte de largos domínios de
terras a serem por eles ocupados, de modo a lhes renderem proventos e privilégios
particulares, incluindo o direito de soberania sobre seus habitantes. Assim, nessas
terras cabia-lhes fundar povoados, nomear funcionários para a administrarem os
mesmos, cobrar impostos e, neles praticar a justiça. Em 1532, no palácio de Évora, a
corte portuguesa decidiu por ajustar esse “modelo de senhorio” ao contexto
ultramarino, ou seja, para ocupar toda a extensão do território brasileiro e,
posteriormente, para a ocupação de Angola. (VAINFAS, 2000).
As cartas de doação registravam tanto os deveres e direitos dos donatários,
quanto os dos colonos em relação ao Capitão e à Coroa. Assim, as capitanias eram
hereditárias, o que impedia a divisão das terras doadas, bem como sua alienação, em
caso de pagamento de dívidas à justiça. Todavia, cabia ao capitão-donatário o direito
de dividi-las em Sesmarias, entre seus herdeiros, mas ainda em vida. A ele era
reservado o direito de escravizar e vender os indígenas sem pagar à corte qualquer
tributo, de nelas fundar ouvidorias e tabelionatos e nomear os ouvidores e tabeliães
para melhor administrá -las. Podiam, ainda, tributar a navegação nos rios, nas salinas,
nas moendas d’água e quaisquer outros engenhos existentes em suas respectivas
capitanias, pois “por direito, tudo lhes pertencia, não sendo lícito a ninguém construí-los
sem sua licença”. (VAINFAS, 2000, p. 93).
Essas cartas foram editadas entre 1534 e 1536, de modo a abarcarem doações
de terras que se estendiam de Pernambuco ao Rio da Prata; num primeiro momento e,
num segundo, de Pernambuco ao Maranhão. Tais doações foram feitas aos membros
da pequena nobreza e visavam a recompensar funcionários que havia se destacado
e/ou enriquecido com a expansão ultramarina no Oriente. Desta feita, a capitania de
Pernambuco foi doada a Duarte da Costa; a de Porto Seguro, a Pero de Campo
Tourinho; a do Espírito Santo, a Vasco Fernandes Coutinho; a de Itamara cá, a Pero
Lopes de Souza; a de São Vicente, a Martim Afonso de Souza; a do Maranhão, o
42
primeiro lote a João de Barros e a Aires da Cunha e, o segundo, a Fernão Álvares de
Andrade, além da capitania de Ilhéus, a Jorge de Figueiredo Correia. Em 1536, a
capitania do Ceará foi cedida a Antônio Cardoso de Barros. (VAINFAS, 2000).
Faz-se necessário observar que, por ocasião da criação das Capitanias
Hereditárias, o rei D. João III, por meio dos forais, também atribuía ao capitão-donatário
e a seus sucessores a responsabilidade de dividirem as terras doadas com colonos
portugueses valendo-se do regime de Sesmarias. Embora as Sesmarias fossem isentas
de pagamento de impostos reais, o que nela fosse produzido deveria ser entregue à
Ordem de Cristo obedecendo à proporção do dízimo, ou seja, dez por cento da
produção. (VAINFAS, 2000).
Observa-se que o termo “sesmaria” designa “colégio feudal”, composto por seis
membros encarregados de repartir o solo entre os moradores e o seu objetivo era tornar
todas as terras férteis agricultáveis de modo a diminuir as importações de grãos, como
o trigo. A implantação desta lei em solo português implicou a criação de vilas, cidades e
comarcas para que os sesmeiros pudessem registrar quais terras estavam sendo ou
não cultivadas. Esse procedimento facultava fiscalizar o cumprimento da lei. No Brasil,
todavia, as terras distribuídas como sesmarias eram áreas nunca lavradas, povoadas
por animais, répteis e insetos desconhecidos, matas virgens. (VAINFAS, 2000).
Nesse sentido, a medida real, em terras do Brasil, não resultou em histórias de
sucesso quanto à povoação do novo território, pois – exceção feita às capitanias de
Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e Itamaracá, - as
demais fracassaram em razão dos constantes ataques dos nativos influenciados pelos
franceses ou pelo repúdio ao europeu que escravizava o povo de suas tribos ou tribos
amigas, além de usufruírem os benefícios de suas terras. Em algumas delas a
geografia dificultava o desbravamento de modo que alguns donatários jamais chegaram
a ver as terras doadas.
43
Esse fracasso no empreendimento colonizador leva o Estado português a optar
pelo sistema de governos gerais para melhor administrar a colônia. Contudo, para
Capistrano de Abreu, o sucesso das capitanias hereditárias de Pernambuco, São
Vicente, Itamaracá, Espírito Santo, Porto Seguro, Santo Amaro e Ilhéus, contrastava
com as capitanias reais do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande, Ceará,
Maranhão e Pará. Observa-se que, muito embora não se deva menosprezar o fato de o
sistema de capitanias haver revelado a precariedade do espírito de aventura e
desprendimento de alguns donatários, ele também evidenciou que apenas a coroa
estava apta para assumir os riscos inerentes ao avanço do processo de colonização.
Assim, entre os anos 1718 a 1759, a administração pombalina extinguiu definitivamente
o sistema de capitanias hereditárias, encerrando um processo que há muito se
arrastava na burocracia portuguesa. (VAINFAS, 2000).
1.3.6.2 O sistema de governos gerais
No ano de 1548, D. João III decidiu incorporar aos bens da sua coroa a capitania
da Bahia, tornada devoluta devido à morte do seu capitão-donatário Francisco Pereira
Coutinho, transformando-a em “capitania da coroa”. Sem abolir o sistema das
capitanias, criou o sistema de governo geral, nomeando Tomé de Souza o primeiro
governador da sede administrativa portuguesa em terras do Brasil. (VAINFAS, 2000).
Tomé de Souza chega ao Brasil em companhia do Ouvidor Geral do Reino, de
um provedor da Fazenda dos negócios do Rei, de oficiais e soldados para defender as
terras ocupadas pelo governador geral e artífices: carpinteiros, ferreiros, mecânicos,
mestres e edificações e meirinhos para policiar o mar. Também trazia gado para formar
fazendas, mudas de cana-de-açúcar para abastecer os engenhos a serem construídos
e artilharia para montar fortalezas que ali seriam construídas. Os degredados que o
acompanhavam eram 400: responsáveis para ajudar no povoamento da nova cidade
que, sem demora, construiu a primeira Santa Casa de Misericórdia.
Os jesuítas,
44
responderiam pela salvação das almas perdidas dos indígenas que habitavam aquela
região e também, sem demora tem início a ação punitiva contra os tupinambás: suas
aldeias são destruídas e parte de seu povo é morta ou se torna cativa, para servir de
exemplo a qualquer outra tribo que ousasse investir contra o poder real da coroa, assim
dizia o regimento real. (MONTEIRO, 1992, p. 29).
Essas ações foram ditadas pelos sinais de crise que afetava o sistema de
capitanias que se tornavam cada vez mais despovoadas – salvo a de São Vicente e a
da Nova Lusitânia – quer pelo ataque dos indígenas, quer pelos corsários franceses. A
elas se deve acrescentar a farta distribuição de terras feita por Tomé de Souza, a
mando do rei, através da instituição da prática das “Sesmarias”. E, assim, tiveram início
no nordeste brasileiro, os grandes latifúndios cujos donos comandarão por muito tempo
os destinos políticos do Brasil. Desse modo, Tomé de Souza fundamentando-se no
regimento do rei – que atribuiu ao governador geral a responsabilidade de distribuir
terras – passa a editar cartas de Sesmarias para colonos de sua confiança. Esses
teriam plenos poderes sobre tais terras desde que as explorassem e as cultivassem,
podendo também arrendá-las.
Nesse sentido, a colonização passa a ser motivada e a sua intensificação é
garantida cada vez mais pelo tráfico de escravos, agora, incentivado e pela vinda de
colonos açorianos para o Brasil. Essas notícias chegam a Portugal e passam a atrair
cada vez mais os portugueses em busca de melhores condições de vida. A eles se
agregam aqueles que são perseguidos pela Inquisição do clero português, acelerando o
processo de povoamento do solo brasileiro. Contudo, nesse mesmo tempo, Portugal
assistia ao acelerado processo de despovoamento de seu território natal, em razão: a)
desse processo de imigração, também decorrente das necessidades econômicas do
reino que se tornava cada vez mais dependente das importações; b) das epidemias que
assolavam aquela região da Europa. Deve-se salientar que a excessiva importação
levava Portugal a entregar as riquezas e conquistas resultantes da expansão
ultramarina aos ingleses e banqueiros holandeses: judeus expulsos de Portugal pelo
seu próprio clero. Assim, sua pequena população era distribuída entre o solo da terra
45
natal, a África, Brasil, China e Japão para manter as fortificações que edificara nessas
suas terras distantes. (RIBEIRO, 2002).
Três foram os governadores gerais no século XVI: Tomé de Souza (1549-1553),
Duarte da Costa (1553-1557) e Mem de Sá (1557-1572). Em 1572, o Brasil teve dois
Governos Gerais: um ao norte, em Salvador, presidido por Luís de Brito; outro ao sul,
sob o mando de Antônio Salema. Em 1578 houve a reunificação do Governo Geral;
assumiu o cargo Lourenço da Veiga. Durante o seu governo morre D. João III e, por
não ter herdeiro, Felipe II, de Espanha, ascendeu ao trono português como Felipe I, em
1580. Por conseguinte, Portugal perderia a sua independência política. (VAINFAS, 2000
e RIBEIRO, 2002).
Pode-se considerar que, se Pedro Álvares Cabral toma posse oficial da Terra de
Santa Cruz, se Cristovão Jaques faz a limpeza dos mares, Martim Afonso de Sousa
inicia o seu povoamento. Essas ações implicam três tempos de um compasso
rigorosamente medido pela Coroa Portuguesa que não improvisa, mas estuda, prepara
e concretiza a posse das terras do novo continente. Este papel é atribuído pelos
historiadores consultados à inteligência dos estadistas do reino português a 300
pessoas do reino portug uês que se estabelecem em São Vicente. Esses imigrantes
estão na esquadra de Martim Afonso de Sousa, o primeiro governador das terras de
Santa Cruz, a qual ainda não era Brasil.
1.3.7 Estratégias de exploração
As ações colonizadoras, conforme já afirmado nos registros que antecedem a
esse, não têm por marco um modelo de projeto capaz de facultar a compreensão
dessas mesmas ações em relação a metas devidamente configuradas por valores
históricos referentes às colônias portuguesas, quando tomadas em si e por si. Desse
modo, quando se busca estudá -las, observa -se que elas inserem-se no projeto das
Descobertas da Coroa Portuguesa, conforme já foi apontado, sem que se possa falar
46
de projeto, propriamente dito, de colonização do Brasil. Por conseguinte, as metas em
relação a essa colonização vão sendo instituídas em relação ao aqui e agora, com
vistas a solucionar problemas imediatos vivenciados pela Coroa Portuguesa que,
segundo dados dos historiadores, são de caráter político-econômico. (RIBEIRO, 2002 e
VAINFAS, 2000).
Compreende-se, assim, que o projeto colonizador brasileiro parece associar-se a
uma concepção mais técnica do que aquela normalmente atribuída aos projetos. Nesse
sentido, tais projetos não podem ser concebidos como um desenho que mantém uma
relação mais direta com as concepções de plano, de criação, de esboço ou design.
Esses abarcam sentidos referentes a estilo e, quanto à concepção de caráter mais
técnico, abarcam a concepção de cópia. Assim, reproduz-se, no Brasil, o que dera
certo, ou melhor, lucros, em outras regiões colonizadas. Nesse sentido, se o projeto se
qualifica como design e este deve ser compreendido por uma relação associativa
capaz de garantir a criação individual por meio do qual se reproduz a cópia, mas de
forma inovadora, caberá ao povo brasileiro a tarefa individualizada de criação dessa
cópia, no fluxo do tempo desse processo colonizador e para além dele.
Nessa acepção, a colonização brasileira, no século XVI, tem por ancoragem um
modo de proceder da Coroa Portuguesa qualificado pelo abandono ou por ações
emergenciais, pois a iniciativa do projeto era não perder as terras descobertas e, na
medida do possível, torná -las lucrativas sem grandes custos. Por conseguinte, as
estratégias de exploração no século XVI circunscrevem-se à exploração do pau-brasil e
ao cultivo da cana-de-açúcar, com vistas a abastecer o mercado europeu.
Todavia, esse quadro muito mais voltado para questões de caráter econômico
tem como suporte a exploração da mão-de-obra indígena e da mão-de-obra africana,
ambas asseguradas por estratégias parcialmente diferenciadas. Essa diferenciação se
deve ao fato de o neoportuguês haver compreendido sobre como deveria proceder em
relação aos nativos da nova terra, devido a com ele conviver e ter de sobreviver. É
47
nesse sentido que se buscará diferenciar estratégias referentes ao escambo daquelas
referentes à escravidão africana, propriamente dita, ainda que ambas possam ser
qualificadas como exploração; entretanto, por meio do escambo, o nativo participa das
leis de troca de bens materiais, já o africano nada troca em termos de bens materiais.
Por conseguinte, as trocas com os africanos estão mais circunscritas àquelas relativas
às matizes da cultura negra. Esses matizes sobrevivem, por um lado como substrato
“do vocabulário do idioma brasileiro” e, por outro lado, são assegurados no
caldeamento do processo de miscigenação e no sincretismo religioso do povo
brasileiro. (RIBEIRO, 2002 e BUENO, 1998).
1.3.7.1 O escambo e a exploração do pau-brasil
No período que se estende de 1500 a 1530, a economia na nova colônia
centrou-se na exploração do pau-brasil: madeira avermelhada, conhecida desde a
Idade Média, da qual se extraía o corante para tecidos e móveis. Segundo Bueno
(1998), o pau-brasil era uma árvore da mata atlântica que se estendia do Rio Grande
do Norte até o Rio de Janeiro e, já nos primeiros anos do século XVI, após a chegada
de Cabral, franceses e portugueses utilizavam a mão-de-obra indígena para a
exploração comercial dessa madeira. Os nativos trocavam com eles o pau-brasil e
algumas especiarias por mercadorias que o colonizador trazia consigo.
Observam alguns historiadores que os europeus não impunham aos indígenas
quaisquer obrigações, ou seja, quaisquer limites à liberdade dos nativos, pois
retribuíam o trabalho da derrubada e carregamento dessas árvores para as
embarcações com objetos de pouco valor, mas desejados pelos indígenas. Entretanto,
nesse tempo, muitos deles eram aprisionados e levados como escravos para a Europa,
o que reitera a opção do português pelo escravismo sem qualquer preocupação em
compreender o modo de vida diferenciado entre povos de culturas diferentes.
48
Na época do descobrimento, segundo Bueno (1998), havia exemplares
extraordinários de ibirapitanga – ïmbira : aquela que tem fibra + pï’tanga, isto é, o
vermelho da cor do cobre. Esses exemplares, de até 30 metros de altura, já eram
usados pelos índios para construir arcos e para uso medicinal. Ressalta-se que do
tronco revestido por casca tanífera os indígenas dele já sabiam extrair tinta
avermelhada de que faziam uso para colorir as penas brancas das aves para enfeitar
seus corpos com cocares, braçadeiras e tangas. Observa-se que ibirapitanga não era a
única designação empregada para nomear o pau-brasil no continente; logo arabutã,
arubatã, ibirapiranga, ibirapitá, ibirapitanga, ibirapuitá, imbirapatanga, muirapiranga,
murapiranga eram parassinômos na língua dos nativos, todavia, para os portugueses,
elas são chamadas de “pau-de-tinta”, no século XVI. (RIBEIRO, 2002; VAINFAS, 2000
e HOUAISS, 2001).
As toras de pau-brasil, embarcadas para Lisboa, eram reembarcadas para
Amsterdã, onde eram reduzidas a pó, o qual era usado para tingir os tecidos. Esse pó
era vendido na França e na Itália. A tarefa de cortar e raspar a madeira até se
transformar em pó era dos prisioneiros holandeses, de modo que essa indústria era
monopólio dos holandeses. Um quintal de pau-brasil (60 kg) era vendido em Lisboa, por
cerca de 2,5 ducados. Para Fernando de Noronha — o primeiro nobre a fazer um
contrato com o Rei D. Manuel, para a exploração do pau-brasil — esse era um negócio
rentável, especialmente porque o rei comprometeu-se a proibir a importação do paubrasil do Oriente, garantindo ao consórcio o monopólio do trato do pau-de-tinta.
Ressalta -se que a extração dessa madeira estava baseada no estanco: um
monopólio real, de modo que o direito de explorá -la era concedido pelo rei; todavia, a
exploração era feita por conta e risco do donatário. Assim, embora a Coroa não
investisse nenhum recurso nesse processo de exploração, dele recebia uma parcela
dos lucros. Tal exploração por ter sido feita de forma predatória esgotou-se
rapidamente, pois não houve a preocupação em replantar sequer uma dessas árvores.
Essa relação de trabalho era designada por escambo: uma modalidade de troca de
serviços prestados, instituída no século XIII, sem o uso de moedas.
49
Afirmam os historiadores que o uso da estratégia do escambo é decorrente do
primeiro contato entre portugueses e indígenas; pois, quando os primeiros chegaram à
praia para encher os tonéis com água fresca, os tupiniquins, prontamente auxiliaram
Coelho Dias nessa tarefa. Em retribuição à ajuda foram ofertados guizos e miçangas
aos nativos que demonstraram grande alegria e felicidade com os presentes. Naquele
momento os portugueses descobriam como converter o interesse dos nativos aos seus.
(BUENO, 1998).
No início desse processo exploratório, os nativos aceitavam como troca
espelhos, quizos, contas; contudo, ao observarem a derrubada das árvores com
machados de ferro pelos portugueses e compararem àqueles de pedra que usavam,
entenderam que a tarefa exigiria deles menos esforço se tivessem o mesmo tipo de
machado. Passam, assim, a exigir aquele machado como moeda de troca. À medida
que observavam a função de outros instrumentos usados pelos portugueses, como as
facas, as foices, as navalhas, os anzóis, os panelões, as tesouras, e comparavam
àqueles por eles usados, incluíam-nos como moeda de troca. Esse procedimento
facultou às comunidades nativas saírem da Idade da Pedra e entrarem na Idade do
Ferro, num piscar de olhos.
1.3.7.2 Estratégias de resgate
No período de colonização propriamente dita, quando o cultivo da lavoura de
subsistência nas capitanias e povoados passou a fazer uso da mão-de-obra indígena, o
colono trocava, com os indígenas, porções de milho e farinha por mão-de-obra escrava.
A princípio, os indígenas trocavam com os colonos seus prisioneiros de guerra: índios
de tribos rivais, o que acabou incentivando as guerras entre tribos para, cada vez mais,
trocar os inimigos com os colonos. Essa estratégia, designada “resgate”, se prolonga
até o ano de 1570 aproximadamente quando a firme oposição dos jesuítas leva a coroa
Portuguesa a proibir a escravização dos silvícolas e aceitar a posição assumida pela
Igreja para que eles fossem catequizados e não escravizados. Contudo, no conjunto
50
das leis, era possível aos colonos romper com esta proibição da coroa, além do que o
indígena fazia-se um “trabalhador ideal”, na medida em que ele transportava cargas e
pessoas por terra e por água, visto ser conhecedor dos caminhos da floresta. O
indígena também colaborava nas atividades da pesca e da caça contribuindo para
enriquecer e variar a alimentação do colono. (VAINFAS, 2000).
Embora as estratégias de resgate se estendam por todo século XVI, essas
dificuldades acrescidas dos ataques que as tribos indígenas faziam aos colonos para
libertar seus guerreiros ou dos contra-ataques dos colonos feitos a essas tribos, os
neoportugueses encontram na mão-de-obra africana a solução para tais problemas. O
escravo negro não se negava a trabalhar no ritmo exigido pelos colonos e à medida
que o tráfico de escravos é intensificado os colonos passam a ser pressionados pelos
traficantes com o objetivo de aumentar o lucro pela venda de tal mercadoria. A Igreja,
por sua vez, não impõe nenhuma restrição à escravidão do negro, interpretando-a
como necessária para que eles pudessem purgar seus pecados e, assim, converter-se
ao reino de Deus. Essa posição da Igreja é justificada pelo fato de muitos grupos
africanos haverem se convertido à religião mulçumana, de modo que, deslocados para
as terras da América, ali poderiam ser também catequizados. Nesse sentido, durante o
século XVI, não é possível afirmar que a escravidão negra superou a indígena, pois
esse índice só pode ser constatado no século XVII. Por conseguinte, se os indígenas
mesmo defendidos pela Igreja são transformados em escravos, os africanos são
abandonados à sua própria sorte; mas aqueles colonos que não eram grandes
proprietários das terras e não podiam arcar com a compra do escravo negro
continuaram a adquirir o escravo indígena como força de trabalho, pois o valor do
segundo era cinco vezes menor que o primeiro. Essa cultura de escravização do
indígena é a razão dos conflitos entre os neoportugueses e os jesuítas. (RIBEIRO,
2002).
51
1.3.7.3 A escravidão e as lavouras da terra
A implantação da lavoura da cana -de-açúcar no início do século XVI, bem como
a moagem, fervura, o processo de purgação para converter a cana -de-açúcar em
rapadura, no início é sustentada pela escravidão indígena e gradativamente substituída
pela escravidão africana. Essa substituição vai garantindo aos indígenas o
desenvolvimento de suas habilidades de trabalhos manuais ou artesanais, de maneira
que durante a catequese eles vão se mostrando ótimos tipógrafos, artistas plásticos e
músicos, mas jamais cultivadores das terras para produção de excedentes para bens
de consumo como queriam os neoportugueses.
Para Ribeiro (2002) essa dificuldade de conversão decorria do fato de os nativos
não terem incorporado à sua visão de mundo a concepção de produção excedente do
plantio e, assim, para eles esse tipo de produção comercial, do cultivado pela terra
jamais poderia funcionar como moeda de troca. Produziam apenas para o sustento do
seu povo, de forma que as colheitas não ultrapassassem as necessidades de
consumo. Adaptar-se à visão de mundo capitalista do europeu exigia deles mudança
de posição no mundo da vida, pois a terra deveria ofertar o alimento para sustentar
apenas à fome da aldeia. A cada colheita comemorava-se, tal procedimento visava a
louvar os frutos da terra como fonte de prazer do homem bem alimentado, festejava-se
a colheita e a continuidade da vida.
A escravidão dos nativos trouxe como conseqüência a destruição das bases da
vida social, a negação de todos os seus valores, o despojo, a bravura, a vontade de
beleza, a criatividade, a solidariedade, de sua língua e de seus xamãs. O paraíso
agonizava, quem podia fugia, sem saber que já estava contaminado e levava doenças
a povoados mais distantes – dizimando-os. Apesar de seus conhecimentos medicinais
da flora, os quais foram usados por muitos europeus para se curarem, eles não sabiam
como combater os males trazidos pelos estrangeiros, nem mesmo como combater a
ganância dos estranhos e a de seu povo. Durante os dois primeiros séculos de
52
colonização, as guerras, as expedições para captura de indígenas como escravos, as
epidemias e a fome dizimaram os Tupi-Guarani. Em 1562, houve uma epidemia e em
três meses morreram 30 mil índios na Baía de Todos os Santos. No ano seguinte, a
varíola matou de 10 a 12 índios por dia; em 1564 foi a fome. (RIBEIRO, 2002).
Os primeiros homens negros chegavam da costa ocidental africana e eram
membros das culturas sudanesas, principalmente os grupos Yoruba – chamados nagô,
pelos Dahomey – designados como gegê – e pelos Fanti-Ashanti – conhecidos como
minas -, além de muitos representantes de grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa,
Costa da Malagueta e Costa do Marfim. A importação de africanos para o Brasil
também foi bastante significativa no século XVII, XVIII e por fim no início do século XIX
e já era um hábito da Coroa Portuguesa desde o século XV, quando estes já eram
mãos-de-obra em Portugal e ilhas atlânticas. (ELIA, 2003 e RIBEIRO, 2002).
Observam os historiadores que os escravos que aqui chegavam não só
pertenciam a diferentes etnias como também eram membros de formação
socioculturais diferenciadas, pois alguns tinham grande domínio sobre a produção
agropecuária, os artesanatos referentes ao manuseio de metais e, assim, superavam
as técnicas dos portugueses. Aqueles que eram caçadores hábeis foram manipulados
pelos neoportugueses, de modo a se especializarem na captura de prisioneiros e na
venda dos “escravos fujões” aos traficantes.
Faz-se necessário ressaltar ainda que no século XVI, juntamente com os negros,
desembarcavam no Brasil muitos portugueses acompanhados de seus familiares. Os
primeiros que aqui chegaram iam diretamente para a lavoura; os segundos tornavam-se
empregados assalariados nos engenhos de seus conterrâneos. Muitos desses
assalariados se tornaram proprietários de sesmarias, conforme apontado anteriormente,
em função dos serviços prestados aos donos dos engenhos e, por extensão a coroa
Portuguesa.
53
Observa-se que esse processo escravocrata, associado ao trabalho assalariado
e à distribuição de terras por meio das capitanias hereditárias e por sesmarias, vai
estabelecendo as matrizes fundadoras da sociedade brasileira. Assim, a implantação
dos primeiros engenhos açucareiros está vinculada aos antigos núcleos extrativistas
que garantiram o abastecimento do mercado mundial e viabilizaram as condições
sócio-econômicas sobre as quais é edificada a sociedade portuguesa: aquela
qualificada pelo escambo e pelo trabalho escravo. Desta feita, com a intensificação da
mão-de-obra escrava, os canaviais passam a prosperar a partir de 1560, na medida em
que os negros e portugueses imigrantes adaptavam-se à Nova Terra e recorriam a
tecnologias adequadas para cultivá-las.
O transporte do produto era garantido pela navegação transoceânica que já
integrava o novo mundo à economia mundial, favorecia o deslocamento dos produtores
de mercadorias de exportação, os importadores e os produtos de mão-de-obra escrava,
bem como os próprios escravos e os produtos do seu trabalho na colônia. Os barcos
que aqui chegavam para o embarque do açúcar, apesar de navegarem com a bandeira
portuguesa, na verdade, eram navios holandeses que faziam o transporte, isso porque,
foram os banqueiros holandeses, na maioria os mesmos judeus que foram expulsos de
Portugal, que financiaram a instalação dos engenhos e o transporte. Detentores do
segredo do refino do açúcar e possuidores de inúmeros entrepostos comerciais
espalhados pela Europa, os holandeses monopolizaram a lucrativa comercialização do
açúcar no continente. (RIBEIRO, 2002).
O funcionamento dos engenhos de açúcar, baseado nos procedimentos
agrícolas
bastante
complexos,
já
dependia
do
uso
de
produtos
químicos;
posteriormente, esse uso será este ndido à mineração do ouro e diamante. O gado
introduzido, a princípio, na agricultura de subsistência passa a ser usado como animal
de transporte e de tração. Observa-se que também havia no século XVI à criação de
gado de corte e leiteiro, a criação de porcos e galinhas ensinados aos índios, para
abastecer os núcleos coloniais.
54
Nesse contexto, à singela tecnologia de produção de telhas, sapatos, chapéus,
sabão incorpora-se a produção de cachaça. É ainda esta tecnologia que assegura a
construção da roda dos carros de boi, de pontes, as engrenagens de madeira de lei, as
pontes e barcos de navegação nos caudalosos rios brasileiros. São os Bandeirantes
que dela fazem uso para penetrar no interior e fundar novas povoações na mesma
proporção em que iam explorando a terra escravizando os indígenas e recolhendo
pedras preciosas. (RIBEIRO, 2002).
1.4 Considerações finais
A plantação da cultura brasileira pelo plantio do colono português em terras da
nova América teve por ancoragem contratos entre a Igreja e o Estado ou entre o
Estado e a nobreza e também entre o Estado português e outros Estados europeus:
todos eles de caráter mercantil salvacionista para assegurar interesses dessas
instituições sociais e, conforme demonstrado, o alicerce desses contratos foi o sistema
escravocrata.
Distante do reino e do rei, o neoportuguês ao cultivar a nova terra cultiva seu
habitante natural e é por ele cultivado e, na medida em que a habita, coloniza-a e é por
ela colonizado. Desta feita, o português aprende a cultivar idéias do reino distante e as
recontextualiza pelas idéias dos íncolas naturais para garantir os processos de
socialização, regidos tanto por parâmetros de afetividade quanto por parâmetros de
sobrevivência. Aprende a amar, a rejeitar, a aceitar o seu outro, na medida em que com
ele tem de conviver, fazendo uso de inúmeras estratégias. Assim, aprende não ser
possível violar a cultura indígena, sem que esse o índio se rebelasse, razão por que
esse processo de violação do espaço já ocupado pelo indígena tem uma mescla que
vai implicando diferentes estratégias das quais vão resultando mudanças “do modo de
ser” do índio no Brasil. No fluxo do século XVI, o uso dessas estratégias vai facultar ao
55
indígena tornar-se artesão, tipógrafo, artista, marceneiro, carpinteiro, oleiro... Mas,
nesse espaço de permissão, o português também se torna caçador, pescador, aprende
a cobrir a sua morada com sapé e, ao mesmo tempo, muda a arquitetura da oca
indígena, pois o mestiço, agora oleiro e pedreiro, aprende a fazer para si casas de paua-pique, substitui a arquitetura ovalada da morada indígena pela retangular do
português.
O português aprende a dormir em redes, a fazer uso do fogo para afastar
animais ferozes que habitavam a floresta que rodeava sua casa e incorpora à sua
alimentação o milho, a farinha de mandioca e a carne de animais exóticos. Também
aprende a se banhar todos os dias e a fazer-se amigo das tribos indígenas e, assim,
conquistar mulheres indígenas para suprir a ausência das que não trouxe consigo de
Portugal.
Trata -se de um amplo processo adaptativo que rompe os limites dos contratos
sociais. Esse processo adaptativo, segundo Ribeiro (2002), também deve ser
considerado quanto ao uso de tecnologias e quanto aos modos de organização da vida
sócio-econômica da colônia no século XVI. Nessa acepção, é preciso considerar que a
implantação dos primeiros engenhos açucareiros está vinculada aos antigos núcleos
extrativistas que, conforme registrado, garantiram o abastecimento do mercado mundial
e viabilizaram as condições sócio-econômicas sobre as quais o Estado Português se
edificava. Essa edificação qualificada pelo escambo e pelo trabalho escravo teve por
garantia a intensificação desse tipo de mão-de-obra nos canaviais cuja prosperidade
tem como marco o ano de 1560, quando os negros e portugueses imigrantes, já
adaptados à nova terra, passaram a recorrer a tecnologias avançadas para cultivá -las.
Segundo Ribeiro (2002), essa adaptação tecnológica é proporcional à
construção do novo português e dos novos nativos, já mestiços e melhor conhecedores
da geografia regional. Observa esse autor que, para compreender o processo de
adaptação e uso de tecnologias da época, é preciso diferenciar duas modalidades de
56
engenho: aquele movido a energia hidráulica e o movido por tração animal, fosse ela
circunscrita à força de bois e cavalos propriamente dita ou pela força do escravo negro.
Havia, assim, uma hierarquia entre estes dois tipos de engenho:
a) aqueles movidos à energia hidráulica tinham alta produtividade, de modo a
responderem por quatro mil pães de açúcar a cada colheita, além de moerem a cana
plantada em suas próprias terras e aquela plantada por seus vizinhos. Esses
proprietários tinham em torno de si uma grande variedade de mão-de-obra
especializada: o mestre de açúcar, o purgador, os calafates, os carpinteiros, os
pedreiros, os carreiros, os oleiros, os vaqueiros, os pastores, os pescadores, os
caixeiros, os feitores - bem como um grande número de escravos para os trabalhos
da lavoura e domésticos e instrumentos de trabalho como: enxada, foice, moenda,
arado, pá, picareta...
b) aqueles movidos a tração animal-humana eram desprovidos da maioria desses
recursos, de modo que a sua produtividade era bastante baixa, pois alguns deles
dependiam da tecnologia dos engenhos reais até mesmo para moer a cana. Os
proprietários desses engenhos deixavam de se entusiasmar com a cultura da cana
diante das dificuldades que encontravam não só para derrubar a mata, preparar o
solo para o cultivo da cana e transformá-la em produto manufaturado, de modo que
havia grande rotatividade dos proprietários desse tipo de engenho.
Observa Vainfas (2000) que o engenho de Mem de Sá, fundado após a sua
chegada ao Brasil, estivera por um período em mãos de sua irmã, Condessa de
Linhares, e posteriormente fora transferido aos jesuítas: uma prática bastante comum,
no século XVI, que transformou muitos jesuítas em Senhores de Engenho.
Já na dimensão associativa, segundo Ribeiro (2002), observam-se os modos de
organização da vida social e econômica, devido à substituição da solidariedade
57
elementar, fundada no parentesco do mundo tribal, por meio de formas de estruturação
social do mundo capitalista que teve o engenho como marco de sua fundação.
O encontro de um novo mundo com a velha Europa, portanto, não significou para
os europeus apenas a ampliação de suas rotas, mas também o novo processo de
aprendizagem e de ensino, pois eles se viram obrigados a interagir com povos nunca
antes vistos e a se voltarem para a aprendizagem de línguas desses povos nativos,
descobrirem novas espécies animais e vegetais. De esse descobrir e interagir com o
novo mundo, não só ambas as línguas foram enriquecidas, como também os costumes
de cada mundo representados na língua por designações que se remetem a novos
recortes culturais.
58
CAPÍTULO 2 AS MATRIZES SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAIS DO
SÉCULO XVI: LÍNGUAS EM CONTATO, LÍNGUAS DE CONTATO E
EMPRÉSTIMOS
2.1 Considerações iniciais
O século XVI, aos olhos dos estudiosos da Língua Portuguesa, caracteriza-se
pela busca em construir um modelo de socialização fundado na transposição da Língua
Portuguesa das terras d’além mar para as terras dos papagaios: um vasto território
continental, a princípio interpretado como se fora uma ilha, mas designado,
posteriormente, Terra de Santa Cruz. Essa transposição, conforme apontado no
capítulo I, implicará um processo de dialetação ou idiomatização do português arcaico,
bastante complexo, na medida em que ele está inexoravelmente associado a um
projeto político de caráter mercantil-salvacionista ou político-econômico-religioso.
Esse projeto — fundamentado na expansão da fé, dos bons costumes e da moral
segundo a visão religiosa — faz-se sustentáculo de um vasto império religioso e laico
que transplanta para o Brasil usos, costumes e línguas européias; contudo, não
transplanta para a Europa esses mesmos elementos aqui encontrados. Nesse contexto
de transplantação, observa -se que, se não houve a assimilação da língua portuguesa
por grande parte dos nativos, fazia-se
necessário encontrar estratégias que
garantissem a criação de um espaço que facultasse a interação entre o povo de lá e os
de cá. Se a eliminação de muitos desses nativos é um acontecimento registrado em
textos oficiais da História do Brasil ou de Antropologia, o afastamento para o interior da
população nativa - à medida que o português embrenhava -se nas matas em busca de
riquezas minerais e de braços escravos - levaria ao deslocamento desses mesmos
nativos para os limites do Rio da Prata. Segundo Porchat (1993), produto desse
59
processo de afastamento são as nações do Paraguai e do Uruguai que, hoje, fazem
fronteiras com a nação brasileira e têm os guaranis e os charruas como alicerce
fundador daqueles povos.
Entretanto, ao mesmo tempo, nas costas brasileiras, emerge a chamada “língua
geral”, ou “franca”, cuja matriz seriam as línguas do grupo tupi, dentre tantas outras
faladas no novo território. Essa língua geral será usada, no século XVI, ao lado da
portuguesa e outras do ramo tupi, de modo a se poder qualificar a nova colônia como
um território bilíngüe. Dessa convivência têm-se os empréstimos léxico-gramaticais do
tupi e do africano que responderão pelos alicerces do que se denomina dimensão
adstrata do português brasileiro. Tais empréstimos são configurados morfologicamente
e sintático-semanticamente pelo sistema lingüístico do português e, assim,
(...) No século XVII (...) o transplante lingüístico já estava inteiramente realizado,
penetrando brasileiros e português, no século XIX, falando a mesma língua,
mas já com duas vertentes nacionais (...), pois todo sistema admite variações
regionais e nacionais (AZEVEDO FILHO, in LIMA SOBRINHO, 2000, p. 10).
Ressalta -se que, desse processo de dialetação ou idiomatização, também
participam, no século XVI, os negros em suas condições de escravos; logo, forçados a
aprenderem à língua de seus donos, ao mesmo tempo em que contribuíam com a
renovação das matrizes do português, em terras do Brasil, isto é, com o seu “outro”
adstrato. Por conseguinte, a sociedade colonial brasileira do século XVI, encontra-se
em fase de edificação e, com ela, vive-se o esforço de construção de uma língua de
comunicação, entre tantas outras em contato.
A bibliografia pesquisada possibilita compreender que a imposição da Língua
Portuguesa sobre as demais decorrerá, mais marcadamente, de um modelo de política
centralizadora assumido por Portugal no século XVIII e, implantado no Brasil pelo
marquês de Pombal. Produto dessa ação política, que visava a um maior controle
sobre o território pelo Estado Português, foi a expulsão dos Jesuítas e,
60
conseqüentemente, a reforma do sistema de ensino, até então sob a coordenação e o
poder de várias ordens religiosas. Segundo Orlandi (2001), esta intervenção do Estado
Português se explica em função dos seguintes fatos: a) Frei Vicente de Salvador haver
registrado, já no século XVI, que as línguas nativas brasileiras eram muito mais ricas
do que a portuguesa, em termos de vocabulário; b) o padre José de Anchieta haver
criado um dicionário e uma gramática para planificá-las e, assim, delas se valer para o
ensino oficial da língua geral na colônia, o que fazia do português uma segunda língua;
c) a produção de dicionário e gramática atribuía à língua geral o mesmo status de
língua oficial, podendo ser ensinada e aprendida por todos; d) os monges-guerreiros
que vieram para o Brasil até o ano de 1752, se ocuparem da aprendizagem da língua
geral.
Portugal trazia, em sua memória histórica, experiências vividas durante o
processo de romanização fundado na implantação do latim como língua oficial na
Península. Aprendera que os grandes impérios se construíam nos alicerces de uma
única língua oficial e, nesse sentido, no século XVI, para se sobrepor ao bilingüismo, a
lexicalização e a gramaticalização da língua geral passou a concorrer com o português
na sua condição de língua oficial. Entretanto, o século XVI, conforme apontado, marcase pelo confronto de memórias históricas, cujos sentidos são antagônicos e, por
conseguinte, o modelo de contexto situacional se qualifica por um alto grau de
assimetria, em relação à interação. Essa assimetria é observada pelo afastamento de
línguas localizadas na costa do território para o interior, ao mesmo tempo, em que se
busca construir uma modalidade de uso capaz de assegurar maior grau de semelhança
entre memórias históricas distintas.
O fato de os portugueses terem melhores condições políticas e jurídicas para se
imporem e se legitimarem, por meio da língua e de outras forças institucionais, é
bastante significativo, conforme já apontado no capítulo 1. Ressalta-se também, os
procedimentos já assumidos pelos náufragos, degredados e marinheiros que aqui
chegaram e, obrigados a aqui permanecerem, viram-se forçados a construir um espaço
61
de convivência com os nativos para assegurar a própria sobrevivência. A
sistematização desse espaço, um trabalho a várias mãos, caberá aos jesuítas, que
transformarão o produto dessas línguas em contato num primeiro modelo de descrição
desse modo de falar: a língua geral. Têm-se, assim, duas forças atuando,
concomitantemente, nesse novo espaço lingüístico: uma desagregadora; outra
agregadora. (LIMA SOBRINHO, 2000).
2.2 O processo de idiomatização ou dialetação do português em terras de
Portugal: retrospectiva
Faz-se necessário observar que, embora o termo idioma seja empregado para
fazer referência a uma unidade lingüística nacional, de forma a tornar a língua como
qualificativo dos Estados Nacionais, a construção dos idiomas e da unidade lingüística
é um processo lento que se estende na linha do tempo. Assim, embora o sistema
lingüístico do português se mantenha articulado e uno durante todo o período de
extensão do reino português para d’além mar, segundo Gladstone (1974) é preciso
considerar que em cada região conquistada ele foi sendo dialetizado ou idiomatizado,
de modo diferente, em razão do contato que foi estabelecido nessas novas regiões
com outras línguas, outras memórias, outras histórias. É nessa acepção que se
emprega o termo idiomatização nesta Dissertação, para compreender como se deu a
formação do idioma português brasileiro que garantiria, no século XIX, a formação do
Brasil - Estado, cujo alicerce foi o Brasil Colônia. Lima Sobrinho (2000) designa a esse
processo por dialetação. Por conseguinte, está se compreendendo o idioma para além
dos limites da língua padrão: uma variante de prestígio isenta de regionalismos,
ensinada na escola, ou seja, como padrão ideal.
Entende-se, desta forma, que a construção dessa variante resulta de uma
complexidade de elementos de caráter sócio-político-econômico e cultural e, segundo
Celso Cunha (1964) ela funciona ideologicamente para impedir o uso de recursos
62
expressivos de que os usuários se servem em suas práticas lingüísticas coloquiais.
Nesse sentido, tem-se por propósito verificar, no século XVI, questões de formação ou
de modelo da língua como patrimônio histórico-social do povo português e,
posteriormente, do brasileiro.
O bilingüismo faz parte da história de Portugal e de outras nações européias,
tanto quanto do Brasil, pois a fundação e o fundamento dos idiomas são as línguas de
contato. Nessa acepção, estudos referentes à ocupação da Península Ibérica apontam
ter sido aquele território ocupado, desde a pré-história, por homens que falavam
diversas línguas. Arqueólogos, etnógrafos e lingüistas, por meio da pesquisa de campo,
afirmam ser esta Península bilíngüe e, entre seus habitantes estariam os fenícios, os
cartagineses, os gregos, os germanos, os árabes e os romanos, mesmo antes do
processo de romanização, cujo marco inicial é o século II a.C e, posteriormente, a
invasão pelos árabes.
Para Silveira Bueno (1955), a idiomatização do que viria a ser a área lingüística
circunscrita ao falar designado por galego-português, no século II a.C, já estaria
delimitada, de modo que o processo de romanização se faria de maneira mais rápida e
completa na região sul do que naquela ao norte da Península. Os gallaeci, em
particular, que habitavam a zona mais setentrional, se comparados aos outros povos,
conservaram por mais tempo elementos da sua própria cultura. No final do século XI e
início do século XII, a região entra na esfera de influência da Abadia de Cluny, sob o
patrocínio de Afonso VI, que mantinha estreitas relações com o ducado de Borgonha:
um senhor feudal vassalo do rei de França, conforme já apontado no capítulo 1.
A reconquista da Península, invadida pelos árabes em 711, é gradual e conta
com a colaboração de povos da Europa. Assim, por exemplo, Lisboa é reconquistada
em 1147 com a ajuda de cruzados alemães, franceses, ingleses e flamengos e, só no
século XIV, as terras do sul são incorporadas ao reino português. Entretanto, a língua
era o galego-português que vinha do século VIII e os primeiros documentos
63
inteiramente em língua vulgar datam do século XIII. No século XII, contudo, pode-se
encontrar registros de documentos em galego-português, como comprova o fragmento
referente a “Legislação antiga do Foral da Guarda”:
(...) Aquel que casa fezer ou uinha ou sa herdade onrrar e per I ano em
ella seuer, se depoys en outra terra morar quiser, seru [i] a a el toda sa herdade
u quer que morar. E, se as quiser uender, uenda a quem quiser per foro de
uossa cidade. ... Homëes da Guarda non pagen pen[h]ora polho(1) sem[h]or da
Guarda, nõ por meyïlho, në seyã pennorados seno por seu uizïo. (Nunes,
1970, p. 3).
Observa-se que o uso da “língua vulgar”, já diferenciada do galego, é oficializado
por uma imposição do rei D. Dinis que tornou o seu uso obrigatório nos registros
oficiais, para poder elegê-la à condição de língua nacional, de modo que ela fosse o
alicerce de um novo estado de realeza. Assim procedendo, D. Dinis se faz o primeiro
planificador de uma política lingüística, em terras de Portugal, para diferenciar aquele
seu reino do espanhol, criando entre eles uma fronteira lingüística. Esse rei colocava
em prática a mesma estratégia política do modelo fundador dos grandes impérios, cujo
maior suporte é a unidade lingüística. Designado Rei Trovador, D. Dinis passa a fazer
uso da língua vulgar para registrá -la em trovas, nas quais inscrevia sentimentos,
amores, conflitos vivenciados pelos seus súditos ou nobres. (SILVEIRA BUENO, 1955
e MONGELLI, 1995).
Destaca-se que, por volta de 1350, as cantigas em galelo-português são
bastante raras, de modo que, na medida em que o eixo do poder político-cultural vai
sendo deslocado para o sul e a língua vulgar vai se firmando como língua oficial, o reino
vai se tornando cada vez mais independente. Assim, a fronteira entre o galeloportuguês e a língua vulgar é de ordem política, isto é, o estabelecimento de uma
norma padrão, o que garante a Lisboa se tornar a capital do novo reino.
A sedimentação do falar lisboeta, como língua oficial ou norma padrão, é
garantida pela implantação de instituições de caráter religioso ou laico, que passam a
desempenhar papel fundamental no ensino formal da escrita dessa modalidade de uso
64
da língua vulgar. Dentre tais instituições estão os mosteiros de Alcobaça e Santa Cruz
em Coimbra e, a Universidade criada entre 1288 ou 1290, por D. Dinis, em Lisboa, mas
posteriormente deslocada para Coimbra. (LIMA SOBRINHO, 2000)
.
Apesar de a fronteira entre as línguas galego-portuguesa e a vulgar ser de
caráter eminentemente político, ambas carregam contribuições dos povos que
passaram ou permaneceram na Península Ibérica e, assim sendo, se inscrevem no
idioma ascendente, ou seja, o português arcaico que viria a ser planificado por meio da
construção de um dicionário e de uma gramática para poder ser ensinada oficialmente.
Essa língua planificada será empregada no Brasil, apenas nos documentos oficiais,
durante o século XVI e os subseqüentes.
2.2.1 Lexicalização e gramaticalização da língua portuguesa
Os estudos referentes ao aportuguesamento ou idiomatização da língua latina,
na Península Ibérica, estendem-se ao longo dos séculos XIV e XV; mas somente no
século XVI são sistematizados por meio de descrições léxico-gramaticais. Observa-se
que este processo exigiu que os estudiosos se voltassem para as origens das palavras
constitutivas do vocabulário do português arcaico, de modo a assegurarem suas
matrizes fundadoras, quais sejam: o grego, o latim, o celta, o árabe e o germano. Desta
feita, localizam em vários mosteiros ou abadias glossários para favorecer a
compreensão de textos arcaicos, bem como tratados e listas de vocábulos organizados
por temas ou assuntos relevantes para a época, registrados, quer em grego ou em
latim, sob a forma de rolos de papiros ou pergaminhos. Na verdade, esses documentos
compreendiam tratados de agricultura, de engenharia, de medicina, de caráter militar
ou jurídico, entre outros; razão pela qual são designados de enciclopédias. Tais
registros apontavam para variações do uso escrito dessas formas vocabulares, se
comparados àquelas da língua original, ou seja, o latim clássico. Tais variações de
65
significado e/ou de sentidos foram sedimentados pelo povo por meio do uso efetivo da
língua que falava. (VERDELHO, 1995 e BASSETO, 2000).
Esses tratados de caráter enciclopédico datam do período em que o Império
Romano não só invadiu a Grécia, mas também reformou pela cultura grega os
parâmetros da cultura latina. Segundo Basseto (2000), os imperadores, cônsules,
censores e questores procuravam conquistar a simpatia junto ao povo subjugado,
realizando obras públicas que beneficiariam a todos como: estradas pavimentadas e
com serviços constantes de manutenção, tanto que existem até hoje trechos delas,
mas todas convergiam para Roma. A água, desde a sua captação até a sua
armazenagem, chegava a seus usuários por meio de canais, pontes, sifões invertidos,
e distribuída através de reservatórios para fontes públicas, termas, banhos, saunas e
consumidores particulares. Mas, não se cobrava nenhuma taxa por esse serviço
público, cabendo à província cuidar da manutenção desse sistema. Assim, a
construção desses aquedutos além de mudar a arq uitetura peninsular, contribuiu para
a implantação do saneamento básico na Península. Acrescenta-se a essas obras, a
construção de teatros, edifícios públicos, basílicas, monumentos e bibliotecas nas
cidades maiores; porém, as escolas públicas eram poucas e apenas para a elite.
Também havia o serviço de padaria pública, ou seja, levava-se o pão para assar nos
fornos públicos, consoante esse mesmo hábito existente até hoje em muitos países
árabes. (SOUTO MAIOR, 1972).
Os romanos, assim procedendo, conquistavam o povo vencido pelos serviços e
melhoria de sua qualidade de vida e, como contrapartida, os grupos que partilhavam o
poder na Península, de certa forma, com os romanos, esforçavam-se para aprender a
língua latina. Esse esforço decorria de dois propósitos: manter o prestígio de que
gozavam antes da invasão e se mostrarem agradecidos pelo trabalho realizado. A
cidadania romana era concedida como honra àqueles que se romanizavam, em todos
os aspectos, principalmente quanto ao uso da língua latina, na esfera pública,
lembrando que, raramente, era uma cidadania plena. O latim vulgar era usado pela
66
administração das províncias, no comércio, na indústria. Seus emissários, em sua
maioria comerciantes, percorriam todo o Império e colaboraram com a latinização,
difundindo a língua além dos limites do próprio Império romano. Embora esses
emissários utilizassem uma terminologia própria e técnica, quando no âmbito comercial,
normalmente usavam o latim vulgar; mas, mesmo assim, permeado de alguns desses
termos técnicos da época, contribuindo para a vulgarização dos mesmos. (BASSETO,
2000).
Esses contatos entre as línguas faladas na Península e o latim vulgar
implicavam empréstimos de formas vocabulares para designar os “novos objetos” ou
“construções”, por meio das quais os romanos alteravam o espaço habitado por esses
povos. Ao mesmo tempo, o uso de terminologias deslocava-se para o uso popular,
resultando numa vulgarização dos conceitos de termos empregados pelos especialistas
ou técnicos da época. Pode-se compreender, portanto, que esses glossários e esses
vocabulários já eram produtos de processos de novas lexicalizações, ou seja, de novos
sentidos que foram sendo cristalizados por novos usos, no fluxo do tempo, que se
estendem desde a invasão da Grécia até a invasão da Península Ibérica. Nessa
acepção a leitura compreensiva desses textos se distanciava dos usos e processos de
compreensão moderna, razão pela qual tais enciclopédias e glossários eram de grande
valia para se compreender tais textos. Dessa forma, os estudiosos dos mosteiros e
abadias buscaram, por um lado copiar tais documentos e, por outro, registrar os
sentidos mais freqüentes com que eram empregados, em seus tempos, por meio de
definições para facultar leituras desses textos clássicos. (VERDELHO, 1995 e
BASSETO, 2000).
Entre os séculos XV e XVI, observa-se um esforço para relatinizar o português
arcaico, de modo a convertê-lo em idioma nacional. Desse esforço emerge a primeira
Gramática da Língua Portuguesa de Fernão de Oliveira (1536), com vistas a definir
normas para a pronúncia da língua portuguesa e alguns aspectos relevantes da sua
ortografia. Paralela à construção dessa gramática, encontram -se as primeiras
67
tentativas para a elaboração de um dicionário, de modo a institucionalizar os sentidos
de alta freqüência do vocabulário que formava a base significativa do novo idioma. Tal
dicionário produzido por Jerônimo Cardoso, em 1562, garantiria a institucionalização
dos processos de lexicalização e gramaticalização das formas lexicais, necessários
para a conversão do português arcaico, em língua de cultura, constitutiva da unidade
nacional.
Observa-se que os processos de gramaticalização da língua portuguesa, no
século XVI, estão registrados nas gramáticas de Fernão de Oliveira e João de Barros e,
segundo Fávero (1996), na visão dos ortografos Pero de Magalhães Gandavo e Duarte
Nunes de Leão, o objetivo desses lingüistas era expressar o sentimento patriótico da
língua portuguesa, principalmente, diante da castelhana. Nesse sentido no século XVI
vive-se a preocupação em estabelecer semelhanças entre a gramática portuguesa e a
latina, em razão do prestígio do latim como língua de cultura. Esse sentido de
superioridade da língua portuguesa e o esforço para diferenciá-la da castelhana
explica-se pelo esforço de criação de normas ortográficas, bem como estudos lexicais
de que resultou a produção de glossários e dicionários.
Para Buescu (1983) é preciso considerar que a gramática de Fernão de Oliveira
é obra de um fonólogo, de um ortografo e de um lexicógra fo, visto que nela há apenas
um capítulo dedicado à morfologia e à sintaxe; o capítulo quarenta e nove. Mas para
Fávero (1996) em verdade, é um mau lexicógrafo, pois suas explicações etimológicas
sobre o conteúdo e a origem das formas lexicais são não só incorretas como ingênuas.
Nesse sentido, afirma Buescu (1983, p. 15) “um compêndio gramatical sistemático e
segue o esquema tradicional transmitido pelos gramáticos latinos (...) um conjunto de
curiosas e judiciosas reflexões, de tipo ensaístico; (...) uma miscelânea lingüística e
cultural.”
As pesquisadoras já citadas, principalmente Buescu (1983), apontam ter sido
João de Barros o primeiro estudioso da língua portuguesa a elaborar uma gramática,
68
propriamente dito, da língua falada pelos homens doutos e a ser ensinada aos homens
de outros continentes e aos alunos das escolas secundárias. É nesse sentido que sua
gramática descreve a língua portuguesa pelas categorias da gramática latina, de modo
a ter sido o primeiro a colocar nessa “linguagem em arte”. Os estudos lexicais na obra
de Barros são descritos pelo foco da morfologia, atribuindo relevo ao latim como fonte
da base vocabular da língua portuguesa.
O primeiro lexicógrafo português, a se ocupar dos registros dos processos de
lexicalização foi Jerônimo Cardoso. Ao fixar pela primeira vez uma nomenclatura
vernácula, poderia ter acompanhado os modelos latinos, como faria André de Resende
e outros estudiosos do Renascimento; porém, preferiu dicionarizar o português normal
de seu tempo. Nesse sentido e contrário à preocupação dos puristas, propõe uma
ortografia simplificada, próxima da transcrição fonética, até o ponto de recusar a
utilização do “h” na ordenação alfabética. Do mesmo modo o significado do conteúdo
do vocabulário por ele descrito é simples e facilmente compreensível. Na verdade a
fixação lexicográfica do português feita por Cardoso, em repetidas edições, constitui
um contributo marcante para a codificação da memória ortográfica e lexical do
português arcaico e manifesta uma escassa receptividade à inovação latinizante.
Os
demais dicionaristas portugueses, até o século XVIII, consideram-se, sobretudo,
dicionaristas do latim e, como tal, as entradas de seus dicionários para registrar a
nomenclatura portuguesa se qualifica por um grande caudal dos neologismos latinos,
que já eram intensamente empregados na escrita vernácula erudita, desde meados do
século XVI. O dicionário de Jerônimo Cardoso é o primeiro, na Europa, a ser
organizado em ordem alfabética. (VERDELHO, 1995).
Os dados acima possibilitam considerar que a oficialização da língua vulgar,
construída por um processo de dialetação do galego-português, nos seus primórdios,
tem como marco a própria formação do reino português e decorrem três em situações
sociais das quais emergem, a princípio, o bilingüismo:
69
a) da formação de núcleos migratórios que praticam língua diferente daquela do
país que os acolheu;
b) das populações conquistadas por invasões de línguas diversas daquela do
povo vencido;
c) das populações de fronteira (s).
Essas situa ções, vivenciadas na Península, são qualificadoras do estado de
bilingüismo; contudo, ocorreram em tempos diferentes de sua história. Todavia, a
conversão desse estado bilíngüe em monolíngüe implicará a criação de um novo
modelo de formação sócio-cultural-ideológico. Tal modelo é assegurado pela edificação
dos chamados Estados Modernos, cujo suporte é a oficialização de uma modalidade de
uso como língua de prestígio social. Esse processo de oficialização tem como
sustentáculo a produção de dicionários e de gramáticas para normalizar a escrita do
uso escolhido, além de instituições de caráter educacional, conforme já apontado.
Assim, o português arcaico é produto de inúmeras invasões e o seu vocabulário,
de inúmeros empréstimos. Turazza (2005) afirma não se poder considerar os
empréstimos lingüísticos como criações de unidades lexicais, mas como adoções que
se integram ao vocabulário dos falantes de uma dada língua, a partir do momento em
que são integrados ao seu sistema. Assim, muito embora os etnologistas se ocupem
em registrar a origem estrangeira de tais vocábulos, é preciso considerar que o grau de
estranhamento desaparece à medida que o uso desses vocábulos é intensificado e se
estende à grande parte, se não à totalidade, de seus falantes. Assim, sendo, o
vocabulário do português oficial se qualifica por esse processo de adoções, cujas
matrizes não desaparecem, apesar da força dos processos de invasão e sobreposição
de uma língua às outras, por meio de imposições de caráter sócio-político-culturalideológico. Essas matrizes são estudadas pela sociolingüística que as explicam, quanto
ao estudo do vocabulário, por três perspectivas: substrato, superstrato e o adstrato.
70
2.2.2.1 Substrato
A romanização da Península Ibérica fez com que o latim se sobrepusesse às
línguas já existentes na Lusitânia somadas a influência celta: elemento de maior valor
matricial para a construção da estrutura do sistema lingüístico do português,
propriamente dito. Apesar de a língua latina ser a de maior prestígio cultural, a língua
do povo vencido não desaparece de todo, pois sempre deixa marcas de seus hábitos
na língua do povo vencedor. Esse tipo de interferência costuma ser denominado por
“influências de substrato”. Tal denominação foi cunhada por Graziadio Isaia e, logo
adotada por Albert Scheicher e Matteo Bártoli. (CÂMARA JR. , apud ELIA, 1974).
A ação do substrato depende de causas sociais, políticas, históricas e até
estilísticas, de forma a garantir as tendências populares como a busca pela
simplicidade, compreendida muitas vezes como descuido, e a busca de aprimoramento
por grupos de maior grau de instrução. Desse modo, até que um conjunto desses
fatores favoráveis permita o afloramento e a expansão definitiva das mutações
resultantes, a força de substrato pode ficar latente por séculos, durante os quais se tem
a duplicidade de formas coexistentes. É nesse sentido que se considera o vocabulário
dos celtas como substrato do português que resiste ao tempo, muito embora ele
permaneça até os dias atuais nos símbolos do Estado português. Exemplo desse
simbolismo é o Galo de Barcelos, que representa a fertilidade do campo e a identidade
portuguesa – que deslocado para a cultura religiosa dá origem ao vocábulo “Missa do
Galo”. No campo vocabular tal influência também se inscreve nos topônimos, como
Coninbriga > Coimbra; Brigantium > Bragança; Ebora > Évora; Lisbona > Lisboa,
Brácara > Braga, Durtus > Douro, Limia > Lima. Como exemplo de um novo processo
de lexicalização tem-se o vocábulo “briga” que significava fortaleza; o vocáb ulo “sego”
que significava vitória; “dunum” de que originou Douro de cuja base vocabular tem -se a
criação de “aldeia” e “bona” (segundo elemento de Lisboa) que significava cidade,
povoação. (SILVEIRA BUENO, 1955 e ALVES DOS SANTOS, 2005, p. 48).
No vocabulário geral, a contribuição celta é bastante considerável, como se observa
nos seguintes exemplos: camisia > camisa, salmo > salmão, leuca > légua, carrus >
71
carro, carpentarius > carpinteiro, mantica > manteiga, cattus > gato, caminum >
caminho, taratru > trado, lancea > lança, vassalus > vassalo, caballus > cavalo. (cf.
Silveira Bueno, 1955). Logo o celta sobrevive no idioma português brasileiro, aliás, o
próprio termo “Brasil” é de origem celta; todavia ele deixou de ter, incorporado aos seus
significados, o sema “vermelho”. As cores simbólicas do Brasil, o amarelo, o azul, o
verde, e o branco apagaram o significado “vermelho” dessa sua base vocabular. Nesse
sentido, o celta instituiu-se como substrato do vocabulário do idioma português
transposto da Europa para a América. De acordo com Silveira Bueno (1955), muitos
vocábulos celtas entraram na língua portuguesa através do latim que os recebeu e os
acomodou à sua fonética. Por isto evoluíram foneticamente como os genuinamente
latinos.
2.2.2.2 Superstrato
O termo superstrato foi criado por meio de um modelo de estudos já existentes
sobre o substrato, proposto por Walther von Wartburg para designar os vestígios e as
influências de um povo dominador, no idioma do dominado. Assim, como exemplo de
povo invasor, tem-se os godos que falavam a língua germânica, porém, conheciam o
latim vulgar, de modo que, ao invadir a Península Ibérica, utilizarão a língua do povo
dominado.
Aqui os fatores determinantes para a sobrevivência da língua remanescente são
o maior prestígio cultural, o grau de desenvolvimento tecnológico e lingüístico. Na
Península Ibérica, o superstrato visigodo não é encontrado em grande quantidade de
formas vocabulares, apesar de um domínio de dois séculos e meio. Essa reduzida
influência se explica pelo fato dos visigodos terem-se romanizado durante suas
andanças pela România, antes de se fixarem na Ibéria. Deixaram de falar a língua
gótica no século VII, por isso, os vários empréstimos são comuns nas duas regiões.
Exemplo: gótico stakka > estaca, além de muitos derivados. Exemplos: gótico wida
72
“condutor de estranhos” > “guia”, gótico gasalva (companheiro) “agasalhar” (acolher de
modo amigável).
Na Península Ibérica, poucos são os empréstimos indiscutivelmente visigodos,
por exemplo: gansus > “ganso”; hagva que, modificado para hegen, em alemão, >
“protetor” e, modificado em português para “aio”; lofa > “luva”; spehon, em alemão >
observar atentamente que, em português significa “espiar”. Sabe-se que o /w/ inicial em
germano passa a /gu/ nas línguas românicas, assim, por exemplo, windan, em
português significa “guindar”. (BASSETO, 2000).
Na morfologia são de origem germânica, especificamente franca ou lombarda,
certos empréstimos de sufixos, que se difundiram entre as línguas românicas, como:
-isk que passou ao provençal como –esc e daí ao italiano como -esco, difundindo-se
depois às demais línguas românicas, como em português: “burlesco”, “grotesco”,
“dantesco”, “parentesco”, “arabesco”. Na verdade, esse sufixo não era desconhecido
pelas demais línguas indo-européias; porém, no indo-europeu dispunha -se do sufixo
–isko, -iska que, no grego, considerava o sema de valor diminutivo, empregado para
designar “menininho”, “menininha”, “senhorzinho”, “homenzinho”. No latim, formava
adjetivos, embora mais raros, com –iscus, antigo mariscus, em português “marisco”; no
celta forma: a) nomes de povos, como Taurisci, Vivisca gens; b) nome de lugares,
como Viviscum, Matriscum . No germano esse mesmo sufixo indica: a) relação e
procedência; b) forma adjetivos, como guidisks, que significa em português “divino”,
fimisks, que em português significa “ardente”.
Outro sufixo emprestado dos visigodos é o -engo, sobretudo para a formação de
adjetivos, como “solarengo”, “realengo”, “abadengo”, “reguengo”, “monstreng o”. O
sufixo –ardo, herança visigótica, forma primeiramente nomes de lugares e de pessoas,
como Ricardo, Abelardo, São Bernardo, depois, passam a formar nomes comuns
difundindo-se e chegando à Ibéria, onde é empregado para designar nomes da classe
do adjetivo como galhardo, felizardo. (BASSETO, 2000).
73
Exemplo significativo desse processo de adoção das línguas visigóticas e, por
exemplo: bansts > “celeiro” , em português; mas > bastard , em francês que, deslocado
ou emprestado para o português, resultou no vocábulo “bastardo”: expressão jurídica
eufemística para designar o filho gerado fora do matrimônio legal, isto é, no celeiro e
não no palácio. Esse empréstimo sufixal se tornou bastante produtivo no português,
onde se mantém em: “galhardo”, “felizardo”, Bernardo”, “Abelardo”. Observa -se, ainda,
que as línguas românicas, geralmente, também recorrem ao latim eclesiástico e
medieval, como fonte de empréstimos de sufixos, prefixos e vocábulos propriamente
ditos, como papisa, sacerdotisa, abadessa, por exemplo.
No português, os termos emprestados ao grego, como asterisco “pequeno
astro”; menisco “pequena lua”, serviram de modelo a outras formações, como
“chuvisco”, “pedrisco”, bem como em verbos com denotação diminutiva do tipo
“chuviscar”, “bebericar”, “lambiscar”, “mordiscar”, “namoricar”. Observa-se, ainda, que
este sufixo mantém o /i/, enquanto –esco, semanticamente não diminutivo, vem com
/e/: “grotesco”, “picaresco”, “pitoresco”, “carnavalesco”, “nababesco”, “livresco”,
“animalesco” e traz certa conotação perojativa.
Tanto o aspecto semântico como o fonético mostra que se trata de empréstimos
oriundos de línguas diferentes: o esco vigente no português é de origem gótica e não
do grego, pois, se grega, teria sentido de diminutivo. Contudo, muitos estudiosos
ignoram essa origem singular do gótico e atribui a eles apenas a uma base única para
a formação do indo-europeu: o grego. No caso do prefixo –in, observa-se que, ao longo
do tempo, a linguagem literária, técnica e, a eclesiástica, em particular, ampliaram o
uso de in- na formação de adjetivos: “infeliz”, ‘inimigo”, “inerente”, ‘inerte”,
e de
substantivos: “infelicidade”, “inerência”, “invalidade”, “invalidação”. Essas matrizes
formadores do superstrato do português europeu transplantado para o Brasil mantêmse no nosso idioma, de modo bastante produtivo; logo, não permanecem “imexíveis”.
(BASSETO, 2000 e CÃMARA JR., 2002).
74
2.2.2.3 - Adstrato
O adstrato foi descrito por Câmara Jr. (2002), como toda língua que vigora ao
lado de outra, num território dado, e que nela interfere como manancial permanente de
empréstimos. Basta, portanto, que dois povos de idiomas diferentes sejam vizinhos e
mantenham relacionamento de qualquer tipo para a caracterização da situação de
adstrato. Nesse sentido, não há adstrato sem substrato e tampouco substrato sem
superstrato.
Exemplo significativo de adstrato na formação do vocabulário da língua
portuguesa, conforme Câmara Jr. (2002), é decorrente da invasão árabe. Desse
adstrato provém uma grande quantidade de arabismos encontrados na língua
portuguesa. Assim, a partir de 711, de forma mais intensa nas regiões do sul da
Península, os romances Ibéricos passam a conviver com a língua árabe. Nos oito
séculos de ocupação, surgem os “moçárabes”: nativos românicos que, por assimilarem
a cultura árabe, por meio da adoção da língua desse povo, tornam-se bilíngües. Os
moçárabes passam a fazer uso de caracteres ou recursos da língua árabe para falar ou
escrever no dialeto ou romance da região por eles habitada. Desta feita, os seus
escritos são qualificados por numerosos empréstimos. Entretanto, e apesar de quase
dois séculos de convivência num só território, não houve absorção de um povo pelo
outro e, conseqüentemente, das línguas por eles faladas. (ELIA, 1974).
A miscigenação entre os iberos e os árabes ocorreu de forma bastante
significativa, pois os árabes procuraram esposas entre a população local e, casados,
ensinavam a suas esposas e filhos sua língua, religião e costumes em geral.
Entretanto, a não absorção da língua árabe como um todo não ocorreu, porque eles
não se organizaram para instituir uma sociedade organizada e, em parte alguma,
fundaram escolas ou fizeram tentativa para propagar e ensinar essa sua língua.
A língua utilizada na administração e na religião era o árabe clássico; porém, no
dia-a-dia, falava-se um árabe mesclado com os vários dialetos latinos ou românicos
75
encontrados na Península Ibérica, dando origem a um dialeto árabe vulgar. Segundo
Nimer (1927), os judeus contribuíram de maneira particular na introdução de palavras
árabes à língua portuguesa e espanhola, pois eram eles os interpretes, tradutores e
mediadores entre os conquistados e conquistadores. Os árabes também favoreciam os
judeus convertidos ao islã e criaram um título de nobreza, o Najid, isto é o auxiliador.
A religião predomina sobre as outras causas de influência lingüística, na falta de
toda organização social metódica e, guia os conquistadores. Isso porque o árabe, ou
melhor dizendo, todo mulçumano considera a língua árabe como a maior, a mais bela
e a mais perfeita de todas as línguas, por ser a língua do profeta. Esse dogmatismo é
devido ao próprio profeta Muhammad, que nunca, no Alcorão, intervém em pessoa,
mas unicamente em sua qualidade de Mediador entre Alá e os homens. Mas toda
intervenção, como se sabe, implica no conhecimento da língua comum, no caso o
árabe clássico. O dever se cada mulçumano, “ou aqueles que se converteram é saber
a língua cujo conhecimento é agradável a Deus”. (NIMER, 1927, p. 172-173).
Afirma Câmara Jr. (2002) serem os árabes senhores de uma cultura diferente
oriunda de contatos com civilizações do Oriente por eles conquistadas, de forma a
legarem, no fluxo de sua permanência na Península, não só tecnologias, mas também
um léxico bastante significativo que formaria o adstrato do português. Para o autor tais
empréstimos são comparáveis em quantidade e importância àqueles legados pelos
germanos e pelos celtas, vindos da Gália. Observa que, entre os séculos IX e XII,
esses empréstimos são bastante significativos e se agrupam mais na classe dos
substantivos; mas, encontram-se entre eles poucos adjetivos e verbos. Esses
substantivos eram de caráter concreto, pois como substantivo abstrato tem-se apenas
“alvoroço”. Exemplos de poucos adjetivos são: “baldio”, “mesquinho”, “cadimo”,
“algavio” e nomes de cores como, azul, “de origem persa”, carmesim e escarlate.
Observa Basseto (2000), que, por vezes, os termos árabes formam grupos de
cognatos como: bátil, cujo significado de base vocabular se organiza pelo sema “inútil”,
de modo que esse valor de inutilidade, em português, faz-se extensivo a vocábulos
76
como baldio e debate”. Palavras como “alcachofra”, “aldeia”, “arrabalde”, “alcova”,
“tarefa”, “azul”, “alcáçar” etc., são legados árabes para o português. Embora esses
vocábulos se façam extensivos ao espanhol e ao francês, há aqueles como “açude”,
“alface”, “alfaiate” etc., que são exclusivos do sistema lexical português. Observa-se, no
caso de alcasser – forma arabizada do latim, significando fortaleza ou palácio real é
lexicalizado em português por “acicate” = espora com um só ponto de ferro.
Afirma, ainda, Basseto (2000) que, ao desenvolverem atividades na Península,
os árabes iam divulgando um conjunto de conhecimentos e uma nomenclatura
específica que foi incorporada aos romances da época, de modo a se integrarem ao
vocabulário do português arcaico. Assim, deixaram nomes de: a) produtos da terra,
como “acelga”, “algodão”, “açafrão”, “alfafa”, “abricó”, “azeite”, “arroz” [empréstimo
árabe ao grego que, por sua vez, empréstimo do iraniano], “limão”, e “laranja” [de
origem persa], “açúcar”; b) termos referentes à moradia, como “bairro”, “azulejo”,
“alfombra”, “almofada”, “jarra”, “taça”[de origem persa], “alvanel”; c) às vestimentas,
como “aljuba” [fr. jupe], “jibão”, “albornoz”, “alfaiate”, “recama”; d) à administração e a
guerra, como “alcaide”, “califa”, “aguazil”; “almirante”, “arsenal”, “atalaia”, “adail”,
“alfanje”, “aljava”, “alferes”, “acicate”, “ginete”; e) ao comércio, como “aduana”,
“armazém”, “arroba”, “almude”, “maravedi”, “quintal” [medida de peso]; f) na
matemática,
“restauração” e “redução”,
romanizado como “álgebra” por Leonardo
Fibonacci, célebre matemático de Pisa (1202); g) na Química “Alquimia”, esse
empréstimo no Ocidente tem o sentido de “pedra filosofal”; h) no “xadrez”, aprendera
com os persas que a haviam emprestado, por sua vez, dos indianos, a expressão “de
quatro membros”, ou “quatro tipos de armas”: “carros”, “cavalos”, “peões” e “elefantes”.
No aspecto fonético, contrariamente ao sucedido com o superstrato germânico,
a população românica assimilou a tônica em empréstimos proparoxítonos, como
“cáfila”, “sáfaro”, “almôndega”, “Alcântara”, entre outros; em paroxítonos com
consoante líqüida final, como “aljôfar”, “arrátel”, “âmbar”, “almocávar”; ao lado de
numerosos oxítonos, como “anafil”, “algeiroz”, “avanel”, “alamar”, “almofariz”, “alecrim”,
“borzeguim”, “baldaquim”, “alcatruz”, “arroz”, “atabal”, “anadel”, “javali” (< djabali,
77
“montês”). A conservação dessas tônicas, de certa forma, contraria tendências
acentuais do português de eliminar os proparoxítonos pela síncope da pós-tônica e
fazer coincidir a tônica com fonemas líquidos e nasais (BASSETO, 2000). Desse
adstrato participa o português brasileiro, de modo a se poder considerar que o
português do século XVI, transplantado para o Brasil, é produto de uma complexa rede
de inter-relações, interlínguas que se influenciaram mutuamente em grau maior ou
menor, conforme o prestígio da cultura dos povos que habitavam ou invadiram a
Península Ibérica. Observa-se ainda que, em se tratando do adstrato, nenhuma dessas
línguas desaparece, mas se auto -influenciam, deixando no léxico suas matrizes
fundadoras; contudo, as transformações são bastante complexas para se ajustarem ao
sistema fono-morfo-sintático e semântico da língua portuguesa.
2.3 O português implantado e transformado no Novo Mundo
O português falado na época do achamento do Brasil, conforme apontado no
item anterior, traz consigo marcos de substrato, adstrato e superstrato de diferentes
línguas que estiveram em contato, no fluxo do tempo de formação sócio-cultural do
reino luso. Apresenta uma notável unidade e arcaicidade, segundo Silva Neto (1951),
para quem se tratava de uma língua que apresentava aspecto camponês e provençal,
além de diferentes modos ou falares. Para o autor aqueles que aqui chegavam vinham
das mais diferentes regiões portuguesas: Viana no Minho, do Alentejo, de Lisboa, da
Serra da Estrela, na Beira Baixa, dos Açores, da Madeira, do Porto. Nessa acepção,
embora falassem a mesma língua, esta apresentava variações regionais o que
implicava um uso lexical diferenciado.
Transplantados para o Brasil, esses povoadores tinham seus vocabulários —
restringidos pela força da nova paisagem, do novo clima, da nova fauna, da nova flora,
do novo homem — ora bastante distantes, ora com diferentes graus de semelhanças
entre o que sabiam e conheciam — de modo que tal vocabulário lhes era insuficiente
para dizer o novo mundo pela velha língua.
78
O esforço para compreender e interpretar esse mundo novo pelo ponto de vista
do velho continente é registrado por Hoehne (1937), ao retratar, o seguinte “hino” feito
por Anchieta:
Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosques e não se vê em todo o anno
arvore ou herva secca.(1) Os arvoredos se vão ás nuvens (2) de admirável
altura e grossura e variedade de espécies (3). (4) Muitos dão bons fructos e o
que lhes dá graça é que há nelles muitos passarinhos (5) de grande formosura
e variedade e em seu canto não dão vantagem aos roxinoes, pintasilgos,
colerinhos e canarios de Portugal e fazem uma harmonia (6) quando um
homem vai por este caminho, que é para louvar ao Senhor, e os bosques são
tão frescos que os lindos e artificiaes de Portugal ficam muito abaixo. (7) Ha
arvores de cedro em quantidade, aquila, sandalos e outros páos de bom olôr e
varias cores e tantas differenças de folhas e flores que para a vista é grande
recreação e pela muita variedade não se cança de vêr. (HOEHNE, 1937, p.
108-109).
(1) na Europa em função do clima elas secam, no Brasil estão sempre viçosas;
explodem em vida;
(2) na Europa não há encontros entre o céu e as árvores;
(3) elas são baixas; troncos finos, pouca variedade de espécies;
(4) as árvores de lá não dão bons frutos e não são povoadas por pássaros de
grande formosura e variedade;
(5) o cantar desses pássaros desconhecidos é variado e harmônico;
(6) os bosques portugueses não têm frescor e beleza natural: são artificiais;
(7) as árvores são de numerosas espécies.
2
O Jesuíta faz observar, por meio do processo da comparação, a diferença entre
a fauna e a flora portuguesa em relação à brasileira, avaliando a primeira como artificial
e pouco rica e significativa em relação à segunda, quer quanto à suas variações e
variedades.
Os estudos de Hoehne (1937) apontam a dificuldade encontrada pelo Jesuíta
para designar árvores e plantas de gêneros diferentes:
2
Análise de responsabilidade do pesquisador
79
Os “cedros’ aqui referidos não são como supoz Ordoñez, so da Europa, são
antes do gênero Cedrella. A “aquila” foi resultado de confusão feita por
Anchieta, porque a Aquilaria agallochum Roxb. Que é conhecida por tal nome,
como a sua afim, A. malacensis Lm., planta do Velho Mundo e não natural da
América e muito menos do Brasil. (HOEHNE, 1937, p. 108-109).
Assim, Anchieta busca semelhanças de cores, de odores, formas ou de funções
para nomear o que lhe é estranho, para torná -lo familiar, por meio do vocabulário que
domina:
O nome deve ter sido aplicado por espírito de derivação. Acreditamos que, sendo
a confusão motivada pelo produto resinoso da árvore, que encontra empregos como
incenso e para embalsamar cadáveres, sem dúvida Anchieta teve em mira a
“Corohiba”, citada por Frei Vicente do Salvador, que, deve ser o “Myroxylon toluiferum,
H. B. K., cujo nome vulgar é “Cabureiba” ou “Balsamo” e fornece uma resina ou
balsamo fortemente aromático, utilizado para os fins em questão. O “Sândalo” foi nome
arranjado pelos padres, graças à semelhança do produto, porque o Santalum álbum L.
como o S. Freycinetum Gaud. Também não pertencem à flora americana, mas sim à
asiática. É possíve l que a árvore observada tenha sido uma espécie de Protium, que
fornece a “Almecega”, resina pastosa repetidas vezes aconselhada como excelente
sucedâneo para o “Sândalo”. Se a semelhança e conseqüente confusão foram
baseadas na madeira, deve, porém, ter sido a Ximenea americana L., a árvore que
Anchieta quiz referir-se nessa citação. (HOEHNE, 1937, p.108-109).
Desse processo de comparação e do princípio da deriva, criam-se designações
para nomear o que se desconhece. Nessa acepção, a língua portuguesa ia se
consubstanciando como meio para construir pela designação “as coisas do novo mundo”
pelo velho vocabulário, de modo que o português ia se fazendo presente no espaço que
se buscava dominar e conquistar. Por esse processo de nominalização, o plano da
expressão é enriquecido, quer pelo esforço acima mencionado, quer pela adoção de
inúmeros vocábulos indígenas e posteriormente africanos, pois no período de
80
colonização efetiva, os negros integravam os engenhos da cana-de-açúcar e conviviam
com os portugueses da Casa Grande. (LIMA SOBRINHO, 2000).
Assim, os vários usos da língua lusa vão aqui se mesclando e se fundindo
deixando alguns vestígios das peculiaridades regionais européias, porém se busca um
novo modelo de interação, o qual vai diluindo o português da Coroa, em uma
modalidade de uso de que se originará o uso do português no Brasil.
Observa, nessa acepção, o padre Antonio Vieira:
(...) falam (nas nações asiáticas) a língua portuguesa, mas cada uma a
seu modo, como no Brasil os de Angola, e os da terra... A língua portuguesa...
tem avesso e direito: o direito é como nós falamos, e o avesso como os falam
os naturais... meias línguas, porque eram meio políticas e meio bárbaras:
meias línguas, porque eram meio portuguesas, e meio de todas as outras
nações que as pronunciavam ou mastigavam a seu modo. (VIII, 165-6) (SILVA
NETO, 1951, p. 58).
Vieira faz referência, no caso do Brasil, conforme afirma Silva Neto (1951), ao
aparecimento do semicrioulo que se caracterizava pela adaptação do português
arcaico e provençal ao uso cotidiano pelos mestiços, nativos e negros que, na tentativa
de se comunicar deturpavam a pronúncia e simplificavam a estrutura gramatical da
língua portuguesa. Relata esse missionário o esforço que fazia para compreender o
que lhes diziam esses novos homens da terra:
Por vezes me aconteceu estar com o ouvido aplicado à boca do bárbaro e ai da
do intérprete, sem poder distinguir as sílabas, nem perceber as vogais, ou
consoantes de que se formavam, equivocando-se a mesma letra com duas ou
três semelhantes... (SILVA NETO, 1951, p. 59)
Desse esforço, propõe o padre, uma metodologia para descrever esse “outro”
modo de falar e usar o sistema lingüístico do português: “o primeiro trabalho é ouvi-la; o
segundo percebê-la; o terceiro reduzi-la a gramática e preceitos; o quarto estudá-la; o
quinto... pronunciá-la” (SILVA NETO, 1951, p. 59).
81
Assevera, por fim, tratar-se de línguas travadas que tanto o torturavam. Designa
a essas modalidades de falares por “o nheengaíba, o juruuna, o tapajó, o teremembé, o
mamaiana — que só os nomes parece que fazem horror”. (SILVA NETO, 1951, p. 59).
Nesse contexto de estranhamento e dificuldades, buscavam os portugueses
aprenderem à língua da terra e dessa aprendizagem, com vistas a comunicação, vão
emergindo as línguas travadas designadas pelo termo genérico “língua geral”, que, em
verdade, se explica por distinções entre o tupi, o guarani e o nhengatú. Para M. Mansur
o tupi e o guarani são dois aspectos de uma mesma língua comum que, embora sejam
discutidas como pertencentes ou não a uma mesma matriz lingüística, são
denominadas por esse estudioso como língua mãe. Observa Silveira Bueno (1998) que
convém considerar
(...) que por tupi entendemos exclusivamente a língua dos tupis, como a
registraram os Jesuítas nos séculos dezasseis e dezasssete. Ao lado dessa
língua policiada, desenvolveu-se uma fala popular, deturpada pela ignorância e
pelos vícios de pronúncia dos mestiços e alienígenas, que devia diferir ainda
um pouco de sul a norte. Que nos impede dar a esse tupi mestiço o nome de
brasiliano? Ao descendente amazônico do brasiliano conservamos o eufemismo
usual de nheengatú. (Introd. a 4 ed do Tupi na Geografia Nacional de Teodoro
Sampaio Salvador-Bahia-1955, p. 6 apud SILVEIRA BUENO, 1998, p. :667).
Nesse sentido, a designação língua geral ainda se faz bastante complexa, mas é
dela que se têm registros para o estudo do século XVI; razão pela qual o pesquisador
se aterá a esses registros.
2.4 A lexicalização e a gramaticalização da língua geral
Registram os documentos históricos o empenho dos novos íncolas para
aprenderem a língua falada na costa atlântica, atribuindo relevo ao fato de que as
populações que viviam nas feitorias buscarem aprender o nome dos peixes, da caça,
enfim, de tudo o que comiam para poder sobreviver. Essa aprendizagem também se
estendia às denominações de acidentes geográficos como os cabos, os ancoradouros,
82
as saliências e reentrâncias que as águas do oceano desenhavam na terra habitada.
Se “igara” era canoa “igaraçu” seria a “canoa grande” ou nau. Desta feita, a presença
constante das naus portuguesas nos ancoradouros dos rios, fez com que os mesmos
fossem nomeados por “igaraçu” ou “garaçu”.
Nesse contexto, os missionários responsáveis pela catequese, dentre os quais
se destaca Anchieta, aprenderam o tupi como estratégia para desenvolver esse
trabalho de evangelização e, ao mesmo tempo, ensinar-lhes o português. A língua
geral era simples e de reduzido material morfológico, não possuía declinações nem
conjugações. Tinha o aspecto das líng uas de necessidades, criadas para intercâmbio.
Constituiu-se, entretanto, numa ferramenta poderosa para unir os povos nativos
que aqui viviam, tendo sido possível desenvolver um trabalho junto aos aldeamentos,
no ensinamento da língua portuguesa em todo o território atendido pela Companhia de
Jesus. Esse ensino foi bem recebido, mas a aprendizagem dessa língua se fazia de
forma muito lenta e gradual, enquanto o da língua geral ou o tupi jesuítico, por ser mais
hegemônica, era facilmente assimilada. Adotada a língua geral, imposta pela empresa
colonizadora, por meio da catequese, tornou-se mais fácil exercer o controle sobre os
indígenas e garantir a interpretação dos textos religiosos. Essa estratégia jesuítica
contribuiu para evitar a polissemia. (SILVEIRA BUENO, 1998).
2.4.1 A extensividade do uso da língua geral
O tupi jesuítico ou língua brasílica estendeu-se do Maranhão até São Paulo e
trazia consigo uma uniformização léxica e racional fixada pela gramática e pelo
vocabulário elaborado por Anchieta. Resquícios do tupi jesuítico, segundo Lemos
Barbosa (1951), é o nhengatú amazônico: um dialeto civilizado ou crioulo, falado por
descendentes de aruaques e que, hoje, do tupi mal conserva o vocabulário, já bastante
alterado e reduzido. O nhengatú em tupi significa “língua boa”. Vale ressaltar que, ao
disciplinar a língua geral por meio de um dicionário e uma gramática, Anchieta
83
contribuiu para unir os povos que aqui viviam e para divulgar a língua portuguesa em
todo território nacional; mas este último objetivo é produto do trabalho do marquês de
Pombal e dos negros fugitivos que, por força da sobrevivência, aprenderam a língua
portuguesa. (ELIA, 2003 apud SILVEIRA BUENO, 1998, p. 669).
Observa-se que a língua geral ou brasílica era mais intensamente empregada
nas áreas mais afastadas dos centros administrativos que iam sendo implantados na
colônia. Predominava como língua comum entre os portugueses e seus descendentes,
ou seja, os mestiços luso -tupis, e, também, entre os escravos africanos. Afirma
Rodrigues (2002) que os índios incorporados às missões, às fazendas, às tropas e às
bandeiras, também, dela faziam uso, em outras palavras, toda a população que,
independentemente de sua origem, integrava o sistema colonial.
Ressalta -se que, essa língua foi implantada pelos Jesuítas no século XVI, com o
respaldo do governo colonial e, no século XVIII, com a expulsão dos jesuítas e a
efetivação do português como língua oficial, a língua nhengatú declinou; entretanto,
segundo Hohter (2005), hoje, o nhengatú é uma língua oficial no Amazonas e, como tal
autorizada a ser ensinada nas escolas locais, falada nos tribunais e usada em
documentos do governo. Aqueles que conservaram a memória lingüística, hoje estão
sendo contratados como intérpretes, professores e funcionários de saúde.
No século XVI, por meio do nhengatú e do tupi-guarani, o europeu conquistava o
seu objetivo, fosse religioso e/ou econômico, criando uma sociedade subserviente, que
muito lentamente tenta sair desse processo de manipulação, mas traz como hera nça,
até nossos dias traços da sociedade colonial.
2.4.2 O Dicionário e o seu papel
Afirma Turazza (2002) que a palavra é o elemento lingüístico que mais
rapidamente envelhece visto variar de grupo para grupo, de região para região, de um
uso para outro e, ainda, de um tempo para outro. Afirma a autora que esta variação faz
84
do vocabulário um campo instável, quando se busca verificar os seus significados no
fluxo das atividades de fala: lugar onde seus significados são transmudados em
sentidos e estes se fazem vagos e fluidos, razão pela qual muitos lingüistas afirmam
que os vocábulos não significam, mas têm a função de significar. Todavia, o registro
em dicionários dos sentidos de maior freqüência de uso apontam que eles não só
significam como também arrastam consigo cargas de sentidos históricos, conforme se
busca afirmar nos registros desta Dissertação.
Nessa acepção, a autora diferencia significado de sentido, considerando serem
os significados sentidos cristalizados pelo uso e, por isso, passíveis de serem descritos
pelos lexicógrafos nas páginas de um dicionário, que as registram, mas não as criam;
razão pela qual correr atrás das palavras e dos seus sentidos cristalizados é tarefa
desses especialistas. (TURAZZA, 2005).
Para essa autora, tanto o dicionário, quanto a gramática têm função normativa: o
primeiro funciona para regular os limites de produção de sentidos – significados
desmobilizados – remobilizados durante o ato de produção textual – a segunda
normativiza as regras combinatórias das unidades lexicais, também assegurando
limites para novas ou possíveis combinatórias. Afirma a autora que “dicionário e
gramática são fiéis depositários de uma língua e, embora se refiram mutuamente e
necessariamente, uma a outra, trata-se de obras que não se reduzem a si próprias e
nem tampouco uma a outra”. (TURAZZA, 2005, p. 154).
Assim, para tratar dos conhecimentos lexicais por um ponto de vista
lexicográfico é preciso estar ciente de que este é um foco reducionista, porque fora do
uso efetivo da língua - lugar de renovação, de dinamismo das unidades lexicais; mas
registrado em dicionário, têm -se apenas os sentidos de alta freqüência.
85
2.4.2.1 Alguns princípios do dicionário anchietano
Os registros lexicográficos feitos por Anchieta não tem por parâmetro a macro
estrutura (ME) dos dicionários contemporâneos, ou seja, ME = entrada do verbete +
informações gramaticais (classe de palavras), gênero gramatical + significado
etimológico + definições sob a forma de predicações, seguidas ou não de exemplos.
Nesse sentido, observa-se que as entradas ora dadas por meio de frases ou
segmentos frasais, de forma que o Jesuíta não define uma palavra pela outra, mas
estende conjuntos de conhecimentos condensados por esses fragmentos de
enunciados, propriamente ditos.
O corpus descrito, portanto, não pode fazer remissões às classes gramaticais da
língua descrita, ainda que, seja possível verificar o registro de substantivos, adjetivos,
verbos, preposições, etc. Desse seu texto, também não consta a origem das palavras
descritas e tampouco a correspondência entre a língua que descrevia e aquela que
dominava. A primeira era descrita para ser dominada, enquanto campo de
conhecimento; logo, não há remissões etimológicas. Assim, o que nele se registra são
significações formalizadas por meio de seqüências ou fragmentos de seqüências como,
por exemplo: abastado estar de qualquer cousa. – Xerecemõ, vel Xepoecemõ, tal ou tal
cousa; andar como cada hum destes ou fazelos andar. – Aimopîrîgrim; consolado
estar. – Xeapîcic, l, Xeapîcîc g uitecobo. (DRUMOND, 1953).
Afirma Orlandi (2001) que o jesuíta se esforça por registrar um modelo
situacional dos processos de enunciação da época, todavia esse esforço é
questionado, pois, em verdade, trata-se de uma busca por aproximar palavras e
possíveis significados entre a língua portuguesa e a língua geral.
O exemplo acima aponta que o dicionário anchietano busca traçar uma
equivalência de sentidos entre as entradas em língua portuguesa e palavras ou
fragmentos de seqüências enunciadas em tupi. Nas definições do tipo acima
exemplificado, observa -se a articulação intrínseca entre o léxico, a sintaxe e a
86
morfologia. Desta feita, a leitura das definições remete a uma incorporação das regras
e categorizações gramaticais da língua geral. Pode-se afirmar que o modelo de
dicionário anchietano se qualifica como de “equivalência”, mesclado com o modelo
enciclopédico, conforme exemplo abaixo:
Palma ou palmeira não tem gênero – As espécies são muitas, mas nenhüa se
nomea senão pola fruita, saluo a principal delas com q. se cobrem às casas que
se chama Pindoba. E o fruito della Ynajâ. As mais como são Jaraigbâ, cujo
fruito arremeda âs tâmaras. Marajaigbâ. Airig, q. tem espinhos etc. Nomeiam a
folha ou ramos, a de ser por seu próprio nome q. çoba i. folha comü, a toda a
folha, posto q. comumente o nome da fruita serue pa. tudo maxime porq. a
cousa, ou propósito pa. q. se nomeão distingue hüa cousa e outra. porq. se eu
digo q. tenho hüa linha de pescar de tucum, claro esta q. não he da fruita pois
não tem estopa, etc. (DRUMOND, 1953: 63).
A entrada – palma ou palmeira não tem gênero, aponta para duas designações:
a primeira primitiva “palma”, a segunda derivada “palmeira” que, na época, eram
parassinônimas. Todavia, prevaleceu no português brasileiro “palmeira”, pois o termo
“palma” ficou restrito a uma denominação que se refere ao lado interno da mão entre o
pulso e os dedos ou a batida das mãos de forma repetida, cujo sinônimo é aplauso.
Também, como termo, “palma” designa plantas de pequeno porte, cujo tronco é
indiviso, como, por exemplo, “espada de São Jorge”.
A afirmação “não tem gênero” impede Anchieta de construir uma definição para
“palma” ou “palmeira”, de modo que essa pudesse se remeter a um conceito geral
capaz de englobar todas as propriedades comuns que qualificam um dado grupo ou
classe dessa espécie de planta, como fazem os lexicógrafos modernos: Palmeira s.f.
(s. XIII ACGC). Angios 1.desig. comum às plantas da família das palmas; esp. Às de
porte arbório como palmeira-açaí, palmeira-anã, palmeira-andim, palmeira-areca,
palmeira-bambu, palmeira-barriguda, palmeira-brava, palmeira-buri, palmeira-chifre,
palmeira-cipó etc. (Houaiss registra quarenta e sete tipos de palmeira).
O fato de não se ter na época conhecimento científico capaz de identificar as
espécies “palmeira” do gênero “palma” leva o autor a afirmar a inexistência do gênero
87
e, conseqüentemente, da classificação. Assim, impedido de construir definições por
gênero e espécie, produz um texto descritivo, de forma a apontar ao leitor consulente
“o que é” o ser ou objeto, ao qual se refere valendo-se da estratégia descritiva que faz
remissão ao:
a) como é o objeto descrito: “as espécies são muitas”;
b) como se nomeia, ou seja:
b1) pelo tipo de fruta que produz cada espécie – palmeira-dendê, palmeira-doazeite, palmeira-de-óleo, palmeira de macaúba (HOUAISS, 2001) – mas
nenhüa se nomea senão pola fruita ;
b2) pelo uso que se fazia ou se faz das suas folhagens - saluo a principal delas
com q. se cobrem às casas que se chama Pindoba;
b3) pelo tipo de fruto que produz - E o fruito della Ynajâ. As mais como são Jaraigbâ,
cujo fruito arremeda âs tâmaras. Marajaigbâ. (Hoje: palmeira-açai, por exemplo);
c) pelo o que há ou não no caule ou folhas - Airig, q. tem espinhos etc;
d) pelo nome dado em tupi às suas folhas ou ramos - Nomeiam a folha ou ramos, a de
ser por seu próprio nome q. çoba i. folha comü, a toda a folha . Informa, ainda ao leitor
consulente, que para os nativos - nome da fruita serue pa. Tudo, de modo que é
em função do uso que os nativos fazem das frutas que elas distinguem uma
palmeira da outra - ou propósito pa. q. se nomeão distingue hüa cousa e outra.
Anchieta busca dialogar com o seu leitor consulente para discutir o processo de
nominalização de que os nativos fazem uso, ou seja, diferenciando as espécies de
palmeiras apenas pelo tipo de fruto que elas produzem, visto que - porq. se eu digo q.
tenho hüa linha de pescar de tucum, claro esta q. não he da fruita pois não tem estopa, o
processo de nomeação não tem por ancoragem o fruto, mas o uso que se faz de um
dado tipo de palmeira – palmeira-cipó – para fazer cordas ou linha para a pesca.
È por meio dos vocábulos pelos nativos empregados para designar o que os
portugueses não conhecem e não conseguem nominalizar. Observa -se nos registros
anchietano, no seu dicionário, um esforço que implica a prática de tradução e
88
interpretação. É nesse sentido que prevalecem dois critérios para a construção desse
dicionário: o enciclopédico e o de equivalência. Esse dicionário foi publicado
inteiramente em 1938 por Plínio Ayrosa, sendo a segunda edição, publicada em 1953,
revisada pelo Dr. Carlos Drumond, quando foram feitas correções que implicaram
equívocos tipográficos ou enganos de transcrições.
2.4.2.2 Alguns princípios da gramática anchietana
As dificuldades para fazer uma descrição da língua geral são de diferentes
ordens, conforme a bibliografia estudada, pois tanto no tupi como no guarani os
fonemas /r/, /f/, /l/ inexistiam. Por outro lado, para cada palavra pronunciada em
português, os usuários faziam corresponder várias outras. Assim, os missionários
registravam o que ouviam de acordo com os conhecimentos da gramática do
português. É por esta razão que, quando se comparam os escritos de suas autorias,
observa-se que cada um procurou reduzir o que ouvia da boca do nativo aos
conhecimentos da gramática que dominavam. Os sons que faltavam ao tupi-guarani
foram representados pelas letras f, l, v, e z, e pelos grupos lh e rr de modo que,
palavras grafadas com v e z refletem influências das línguas euro péias dos
colonizadores. (SILVEIRA BUENO, 1998).
Apresentam-se a seguir questões referentes ao vocalismo, consonantismo,
nasalização, morfologia, ao grau, aos verbos, para melhor explicitar as dificuldades de
descrição vivenciadas por Anchieta.
A) O vocalismo
As vogais eram quase as mesmas que as utilizadas no português, devido ao
fechamento fonético que o inglês traduz por U como Sumatra, do português Samatra;
tem-se, assim: a1) a vogal ã era mais nasalizada do que a sua correspondente no
89
português; a2) não havia ditongo ão, mas um on. Por exemplo, Yaguaron cujos
portugueses falavam Jaguará;. a3) a vogal “e” se pronúncia como em português.
Entretanto seu valor fonético é sempre ‘e’, jamais ‘i’ quando átono, ao final da palavra,
e não muda como em francês, tem o mesmo valor que Portugal na língua falada em
Coimbra, em Lisboa. Exemplos: que, cidade, bondade, de; no Rio de Janeiro são
pronunciados como: qui, cidadi, bondadi, di; em Coimbra: que, cidadeu, bondadeu,
deu; a4) a vogal e nasal (em) não forma ditongo ei, segundo a pronúncia brasileira. Por
exemplo: nheengatú (nhe – em- ga - tu) e não nheigatú (he – in – ga – tu); a5) O som
mais difícil era “i – y” seguido do ‘g’, por exemplo: yg, eau. Lemos Barbosa (Curso de
tupi antigo, p. 411) após ter revisado os esforços dos diversos gramáticos de nos
ensinar que ‘y’ é uma vogal articulada na zona laríngea ou mais na faringe (goela).
Guasch-SJ. (O Idioma guarani, p. 16) nos diz: “o ‘y’ gutonasal é fonema característico
que convém ouvir da boca de um paraguaio”. (SILVEIRA BUENO, 1998, p.671).
Esta escala vocálica, exceto o ápice do ‘u’ e ‘y’ (francês u) se reflete no
português do Brasil, não têm o â fechado de Portugal. Nós pronunciamos Maria, para ,
dando o mesmo timbre ao ‘aa’ que é encontrado em palavras que os portugueses
pronunciam Mâria, pâra, mâs quase Meria, pera, mês. É verdadeiro que no Rio de
Janeiro, Florianópolis e em outras localidades onde os portugueses são ainda muitos,
onde se pode ouvir a (a fechado).
Os Jesuítas transcreveram esse som com va lor, ao mesmo tempo, palatal e
velar, por exemplo, ig, yg. A vogal ‘o’ teve dois timbres; aberto (ó) e fechado (ô) como
na palavra francesa propos. Exemplo che pó, ma main; óca, maison; coema (ô) matin;
cororõ com o final on. Não havia d’ó com valor de u (ou) quando átono: era sempre ‘o’.
Por exemplo, bororo não Bororu ; rirerno, não riremu; pororo, não pororu etc. No tupi
soube de um ‘u’ com o valor de ‘u’ francês (vu, du, Jésus), escrito ‘y’ pelos Jesuítas.
Por exemplo, yasy, a lua; piryty (pirutu) em pro núncia francesa, leproso. Como este
som era de difícil pronuncia, desvia-se simplesmente para ‘i’. Havia um outro ‘u’ como
‘l’ ou du francês: caruru (carourou), jururu (jourourou); cassununga (cassounounga).
90
Os pesquisadores consideram que o português arcaico, precisamente o tipo de
língua que o Brasil colonial havia recebido, não tinha este “â” fechado. O ‘u’ mudo, final,
com o valor exato de “l” eu francês, se estranho para nossos ouvidos e assim comum
na pronúncia portuguesa, não existe em nossa pronúncia. É este mesmo som
característico na distinção do falar brasileiro e do falar português. Para nossos ouvidos
o som é perfeitamente comum ‘ eu’ da língua francesa. Assim, de que , em Portugal se
assemelha a deu, queu, seu queue, deus, seus. Nós todos dizemos simplesmente de
que, segundo a dicção espanhola. (SILVEIRA BUENO, 1998:672).
A nasalização é mais forte em nossa pronúncia e muito mais fraca no português:
cama, santo, irmão, manhã são pronunciadas pelos brasileiros câma, sâ -nto, ir-mã,
mã-nhã; ao contrário o português especialmente aqueles do norte: cáma, sá-nto, ir-má,
má-nhã. Esta forte nasalização deve ser atribuída a uma influência do tupi e do
guarani. Os ditongos ai, ei, ou são monotongados no falar brasileiro, não somente na
boca do homem rús tico, mas também daqueles que seguiram o curso do mundo, como
caxa (caixa), fexe (feixe), robo (roubo), estora (estoura). Esta tendência de
monotongação foi consolidada mais tarde, especialmente no sul, pelo contato com o
espanhol. (SILVEIRA BUENO, 1998:672).
B) O consonantismo
No tupi como no guarani não havia os sons representados por f, j, (palatal), l,lh,
rr e s (sonoros), v e z , são sempre fraco. O r é sempre fraco. O ‘s’ é sibilante, mesmo
entre duas vogais: easy (yassy); guasu (guassu), pirasunung (pirassanung). O ‘g’ é
sempre gutural como em alemão, corresponde ao italiano ‘gh’. Por exemplo, Mo-ingé
(Mo-in-ghé); mogy (moghy jamais mojy). O ‘y’ consoante o qual Montoya transcreve em
guarani por ‘j’ teve o valor de ‘g’ italiano na frente de ‘e’, ‘i’. Assim, yaguar, (cachorro,
onça), yasy (lua) eram pronunciados djaguar, djassi. Eis o ensinamento de Montoya: “A
quarta é o ‘y’ velar ‘j’ consoante; se diz consoante porque é precedido de outra vogal,
se há de pronunciar como consoante, golpeando a vogal que se segue, de maneira
91
como ‘eo’ é na língua latina o ‘j’ de jaceo, mas com mais força, da mesma maneira
como os italianos pronunciavam as sílabas: gia, ge, gi, gio, giu, etc”. (SILVEIRA
BUENO, 1998, p. 672-673).
Os indígenas, quando têm que aprender o português, em sendo leigo na base
fonética do tupi ou do guarani, fazem acomodações, de modo que: b1) o valor de ‘l’,
depois de algum tempo é substituído por ‘r’ simples: cavalo, cabaru porque não tinham
o ‘v’ nem ‘l’. A palatização ‘lh’ por ‘y’: filho – fiyo; mulher – muyé (r), palha – paya. b2) a
assimilação (yeismo) como se vê nesta acomodação fonética; b3) o ‘l’ laríngeo devido
ao português ser muito difícil porquanto o tupi e o guarani não possuíam nenhuma
destas consoantes. Eles substituíram pelo ‘r’ simples, mas com um valor que
aproximasse perfeitamente do ‘r’ inglês em murder, father, mother. Assim, alma- arma,
palma – parma; animal- animar. Está pronúncia do ‘r’ inglês é estendido a todos os ‘rr’
após vogal: verde, forno, curto, etc. A palatal portuguesa ‘j’, bem fraca, tem sido
pronunciada ‘dj’ como em italiano (fênetre): djanela; hoje - hodje bem próximo do
italiano oggi. (SILVEIRA BUENO, 1998, p.673).
Esta acomodação deixou traços na pronúncia do português pelos brasileiros,
traços que a escola procura eliminar, mas que estão muito vivos na boca do povo, do
dito rústico de todo o país. A assimilação (yeismo) é talvez a característica mais
evidente do falar português do Brasil, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Goiás, Minas Gerais, isto é, os estados mais populosos da nossa pátria. Uma
outra conseqüência que marca fortemente o português do Brasil é o valor do ‘r’ após
vogal seguida de uma consoante: carne, firme, inferno, cor, curto. Não há alternância r/l
ou l/r que se encontra na língua especialmente arcaica: pranta -planta, frauta - flauta;
púbrico-público, praneta - planeta, mas esta ‘r’ do inglês-americano, como já foi
observado, de murder, mother, father. Em nosso país, esta pronúncia se chama
‘caipira’, roceiro. Ele é muito comum no Estado de São Paulo. Mesmo aqueles que são
diplomados, médicos, advogados, sacerdotes, professores, todos têm esta pronúncia
incomum do português de Portugal. (SILVEIRA BUENO, 1998:674).
92
C) A nasalização
A nasalização do tupi e do guarani reforça a do português, de modo a assegurar
a distinção entre o idioma português brasileiro e o de Portugal. O guarani golpeia o final
das palavras: pirapó-pirapora, tinin-tininga, acan-acanga, etc. Na região de domínio do
som, este golpe no final, apócope, é muito comum comê – comer; jantá – jantar; morrê
– morrer; artá – altar; vegetá – vegetal. (SILVEIRA BUENO, 1998, p.674).
D) A morfologia
O tupi, como o guarani, é língua aglutinante, tem uma morfologia bem diferente
da língua portuguesa. Não há gênero. O conceito de masculino e feminino se baseia na
palavra apyaba e cunhã, isto é, homem e mulher. Exemplo mambyra apayaba - o filho,
mambyra cunhã – a filha. Para os animais, qualquer que seja, sabe-se que é
empregado s-acuãa-baé e cunhã. Ex.: yaguara s-acuãa-baé, a onça macho, uaguaracunhã, a onça; maracaiá s-acuãi –baé, o gato, maracaiá cunhã- a gata. O plural era
formado pelo acréscimo de uma palavra etá. Ex.: Pirá, peixe; pirá etá – peixes.
O brasileiro rústico não tem plural e distingue os gêneros da mesma forma que
os indígenas. Ex.: Fyo homem; fyo muié. Como os animais não há formas
diferenciadas para o masculino e para e feminino, a distinção se faz por adição das
palavras macho e fêmea: a cobra macho; a cobra fêmea. O plural não existe para a
gente do campo: dois pão, os pé , as mão; os filho. O nome é invariável.
A concordância no gênero e no nome não existe. Se a disposição das palavras
na frase não deixou traços na sentença rústica do Brasil, é muito diferente quando
considerado a concordância do adjetivo com o nome: o pé meu é fria, a mão meu é fria.
Em bom português seria dito da seguinte forma: o meu pé é frio, a minha mão é fria. A
93
frase: eu tenho os pés frios, as mãos frias é dito pelos rústicos do Brasil: Tó c’os pé fria
e c’as mão fria. Observe que Tô é redução de estou; que c’os pé fria (com os pé frios)
não se observa a marca do nome, do plural, o mesmo se passa com c’as mão fria, não
é a mesma marca do gênero. É a gramática do tupi e do guarani. (SILVEIRA BUENO,
1998, p. 678-9).
E) Os graus
O grau diminutivo se forma pelo acréscimo do adjetivo mirim ou simplesmente
im: itá – pedra, itá mirim – pedra pequena; mitang mirim ou mitangim – menino
pequeno; pirá mirim ou piraim – pescado ou peixe pequeno. O aumentativo se forma
por adição do adje tivo ussu para os nomes terminados por vogal átona; guassu,
quando a vogal é tônica, por exemplo: mitangussu – menino grande; piráguassu –
peixe ou pescado grande; mboi – cobra, mboiussú – cobra grande; ygara não pode ser
ygarussú (não pode ser barco); ygara – canoa, ussú - grande; tim – nariz, tinguassu –
nariz grande.
O superlativo era formado pelo acréscimo de eté ou catú (muito); yaguar (cão ou
onça), yaguareté (bastante, muita onça) porang (bonito) porangatu (muito bonito). Para
os graus de comparação não há formas presas àquelas carregadas do português.
Havia recursos como as perífrases e segundo a revista P. Lemos Barbosa (Curso de
Tupi Antigo,1956, p. 84 apud SILVEIRA BUENO, 1998: 679) o conceito gramatical da
comparação era pouco conhecido.
O português coloquial brasileiro traz consigo marcos dessa estruturação
morfológica; de modo a se poder considerar a preferência pelo uso dos graus analíticos
em relação aos sintéticos: livro pequeno; livro grande; mais pequeno, mais grande,
mais bonito, muito bonito. As formas sintéticas maior, melhor, pior, menor, ótimo, bem
como o emprego de sufixos íssimo, ílimo, rimo (boníssimo, facílimo, celebérrimo) não
94
apresentam registros na fala do povo. Tais empregos podem ser constituídos apenas
na fala daqueles que têm grau relevante de instrução escolar ou de letramento
bastante satisfatório; contudo, mesmo assim, e não raramente, é possível ouvi-los
dizer: mais melhor, mais pior, muito ótimo. Na linguagem das mulheres é observada
muita afetividade, empregando de preferência os diminutivos sintéticos: bonzinho,
pequenininho, bonitinho, dentinho, amorzinho, etc.
O pesquisador aponta duas influências que se encontram: a primeira do
português arcaico em que não são conhecidos os graus sintéticos, não são os mesmos
em relação aos diminutivos. O superlativo com formação sufixal era absolutamente
incomum. Somente a língua clássica, sob a influência do Renascimento, inaugura o
emprego das formas sintéticas. A outra influência vem do tupi e do guarani. Deve ser
observado que dentro da fala do povo a formação com guassú e mirim se encontra
muito freqüentemente: mandão guassú, mandão mirim; menino guassú, exatamente
como os indígenas designavam os curumim guassú. As outras formações não
deixaram traços no português brasileiro. (SILVEIRA BUENO, 1998, p. 675-676).
F) Os verbos
Não há uma flexão pessoal em tupi e no guarani, muito embora indique as
pessoas por meio dos pronomes. Exemplos:
Che marangatú
eu sou bom
Nde marangatú
tu és bom
Y marangatú
ele é bom
Yandé marangatú
nós somos bom
Pe marangatú
vós sois bom
Y marangatú
eles são bom
95
O adjetivo marangatú não sofre flexões, pois tais variações são funções dos pronomes
que indicam as pessoas e a qualidade com que a eles se agrega. Observa -se que na
conjugação dos verbos nominais, as formas do verbo “ser” não são empregadas.
Somente se encontra o pronome seguido de um adjetivo.
Che yucá
eu mato
Nde yucá
tu matas
Y yucá
ele mata
Yandé yucá
nós matamos
Pe yucá
vós matais
Y yucá
eles matam
É preciso esclarecer que yucá é o nome de uma árvore muito dura da qual se fazem os
tacapes, as armas de combates dos indígenas, usados para matar.
Ressalta -se que os habitantes dos sertões do Brasil conheciam duas pessoas do
verbo, algumas vezes três: a primeira do singular, a terceira do singular e a primeira do
plural.
Eu sô bão
eu sou bom
Ele é bão
ele é bom
Nois é bão
nós somos bons
Eles é bão
eles são bons
Eu vô
eu vou
Ele vai
ele vai
96
Nóis vai
nós vamos
Eles vai
eles vão
Essa redução das pessoas do discurso não deixa de ter certo grau de
equivalência com o uso das pessoas na língua indígena. O mesmo ocorre de forma
mais significativa, quanto ao uso do adjetivo não flexionado. Observa-se que a forma
sô por “sou” é muito comum dentro da língua de Gil Vicente, no português arcaico, o
bão em vez de “bom” é dialetal, ou seja, é próprio da variedade regional de uma língua.
Nóis por “nós” é igual. Vô por “vou” como tõ (estou), dô (dou) se encontra nos autores
pré-clássicos, isto é, arcaicos. Esta simplificação do verbo é reforçada pela influência
do tupi, pois que os povos do campo de Portugal não falavam da mesma maneira que
aqueles da cidade. (SILVEIRA BUENO, 1998, p. 676-678).
G) A sintaxe
A sintaxe do tupi e do guarani difere muito daquela do português, quer na ordem
das palavras numa sentença, quer dentro da concordância do adjetivo com o nome, do
verbo como sujeito. Observe -se o exemplo do Dicionário Anchietano: “Camanoçara
yaguara irumo caá upê oikê = o caçador de onça entra junto com sua pua (furador)”.
(SILVEIRA BUENO, 1998, p. 678).
2.5 Substrato e adstrato do português brasileiro
Os estudos acima apresentados apontam que, no novo mundo físico, na mesma
proporção em que os povos se miscigena vam as suas línguas se fundiam. A renovação
dialetal e a alteração fonética, são as duas operações distintas a que se subordina à
renovação das línguas faladas na colônia, em estreito contato.
97
Pode-se considerar que o tupi-guarani é o substrato lingüístico do português do
Brasil, visto haver interferido no aportuguesamento do idioma brasileiro, quanto à
fonética e ao vocabulário. No âmbito do vocabulário acrescenta-se o africano que se
tornaria mais significativo dentro do ciclo da mineração. Sua ação trans formadora
mesclou-se na língua do conquistador em toda a sua demonstração, especialmente na
fonética e no vocabulário.
Câmara Jr. (2002) acredita que esta ação de caráter
fonético é responsabilidade do brasileiro: um idioma musical, claro e, por isso, fácil de
ser distinguido do falado da metrópole. Apesar de ser a mesma língua, apresentam-se
duas acentuadas características: a diferenciação está na fala, onde no Brasil é
compassada; pronunciam-se todas as vogais, dando às consoantes portuguesas p, t, b,
d, n um valor mais fraco, mais doce. No português falado no Brasil não há os semitons
que poderia obscurecê-la. Estas diferenças permitiram a Eça de Queirós afirmar que os
brasileiros falam o português com açúcar. Por esta razão a pronúncia do brasileiro é
mais fácil de ser assimilada.
Todas estas diferenças não são devidas exclusivamente ao substrato indígena,
mas sim ao português transplantado do início século XVI para o Brasil, que se
comparado àquele arcaico e provençal do século XVI, evoluiu muito. Porém, aqui se
conservou aquele vocabulário repleto de arcaísmos. Portanto, a mescla do português
trazido a esta terra, somado ao tupi e ao guarani tornou-a diferente da metrópole e
essa diferença é possível de ser verificada na literatura que, devido às mesclas
recebidas inclusive das línguas nativas de outros povos como quichua, o caribe,
enriqueceu o nosso falar, por isso, a nossa literatura é tão rica se comparada à
literatura de Portugal. Os brasileiros, quando falam, orquestram uma linda sinfonia; já
em Portugal não há esse efeito. Por conseguinte, apesar de ser a mesma língua, as
influências são outras: o nosso falar é bem distinto e, principalmente nos dias atuais, a
linguagem é praticamente outra. (BASSETO, 2000).
O português do Brasil conta com substratos indígenas em áreas dialetais,
sertão adentro, em que a colonização portuguesa se diluiu numa população indígena,
que passou a falar português. Porém, o acervo de palavras de origem indígena na
98
língua comum são tupinismos provenientes do uso do tupi na catequese e no processo
de aculturação dos indígenas na época colonial, sob o aspecto de adstrato ao
português. (CÂMARA JR., 2002).
Alguns exemplos do convívio encontrado no léxico como nomes próprios ou
apelidos de pessoas: Araci, Iracema, Itú, Paraíba, entre outros. Os animais: cutia,
jibóia, paca, jaburu, arara, sabiá, etc. Frutos: abacaxi, jabuticaba, mandioca, etc.
Vegetais: jequitibá, imbaúba, imbuia, ipê, etc. Fenômenos naturais: piracema, pororoca,
saci, caipora, etc. Doenças: catapora, etc. Verbos: empipocar, capinar, empaçocar,
encaiporar, moquear,
etc.
(GLADSTONE,
1974).
A
incorporação
de
muitos
indigenismos à língua portuguesa foi tão perfeita que eles se tornaram produtivos,
servindo para a formação de compostos e derivados: tiê-sangue, sabiá-da-praia,
jabuticabeira, capinzal, cajuada, chorar pitanga etc.
Destaca Silveira Bueno (1998) a existência de expressões correntes na fala do
brasileiro, absolutamente incomum para o português de Portugal, em razão da herança
da língua indígena. Exemplo: um sujeito pacova > um indivíduo sem energia, bobo. Por
está expressão marca a construção de um sujeito “banana”. Outra expressão Estar,
viver na pindaíba > estar sem dinheiro, com os bolsos vazios. Pinda é uma palmeira e
os nativos usam para fazer anzóis e por esta razão pinda é sinônimo de estar no
gancho. Quando o gancho ou anzol não está bom para a pesca, o nativo se sente
pobre, isso porque sem a pesca ele não tem como sobreviver. Estes foram alguns
exemplos de expressões de um rico acervo. (RIBEIRO, s/d).
O substrato africano é decorrente das levas de escravos negros trazidos para o
Brasil na sua fase de colônia e primórdios de um país independente, evidente nos
africanismos que são essencialmente empréstimos lexicais, também com adaptação à
fonologia e à morfologia portuguesa, já configurada pela indígena – exemplo: cochilar,
camundongo, marimbondo, molambo, quitute, entre outros; existem tanto na língua
popular como na língua culta, constituindo os brasileirismos. São especialmente
curiosos os africanismos em sentido lato, decorrentes dos termos para senhor e
99
senhora no português, crioulo dos negros escravos e vigentes como hipocorísticos, no
português do Brasil: sinhô (>senhor), com o feminino sinhá (>senhora), as reduções
nhô, nhã, e as reduplicações nhonhô, nhanhã, ou por iotização ioiô, iaiá. (CÂMARA
JR., 2002).
Segundo Renato Mendonça (1948 apud ELIA, 2003), a influência Africana é
possível ser encontrada já no século XVI, porém não de forma sistematizada e já
integrada totalmente ao vocabulário português. Entretanto, tal influência faz-se sentir
nas seguintes áreas:
-
Culinária: abará, acarajé, angu, fubá, quindim etc.
-
Religião, deuses e deusas: babalaô, Iansã, Iemanjá, Orixá, Xangô etc.
-
Objetos, Instrumentos Musicais: berimbau, cachimbo, calunga, miçanga, tanga
etc.
-
Animais, Vegetais: chuchu, jiló, quiabo, marimbondo etc.
-
Danças: samba, maracatu etc.
-
Bebidas: aluá, cachaça.
-
Doenças, Defeitos físicos, partes do corpo: banguela, corcunda, caxumba etc.
-
Lugares: cacimba, quilombo, quitanda, senzala etc.
-
Vida Social, Acontecimentos: caçula, calundu, dengue, moleque, muamba etc.
-
Verbos: engambelar, xingar, aquilombar, banzar, batucar etc.
E pela derivação, no falar brasileiro, dezenas de palavras se formaram, por
exemplo: anguseiro, angu-de-caroço, angu-duro, angu-de-vesperas, angu-de-cheiro
etc; o verbo balangar (de balango): bananada, bananaço, bananal, bananeira,
bananinha,
abananado;
bangüês
e
andar-de-banguê:
banguela,
bangueludo,
esbanguelado, banzar e banzeiro, a expressão banze-de-cúia; batucar, batucador,
batuqueiro; mal-de-bengo:
bingueira
e
bingueiro;
a
expressão
bodum-azedo;
cachaçada, cachaceiro, encachaçar; feitiço, feitiçaria, feiticeiro, enfeitiçar; molecada,
molecagem, molecar, molequice etc.
100
Também são encontrados vícios prosódicos, no falar do povo africano, desde o
abrandamento amolecido de certos sons, uma forma apocopada dos verbos
portugueses – invariavelmente pronunciados sem o “r” final do infinitivo, como: dá, fazê,
tocá, acendê, tomá, caminhá, pó, dizê etc; em vez de: dar, fazer, tocar, acender, tomar,
caminhar, pôr, dizer etc. (SENNA, 1921, p. 159-163).
Dessa maneira está traçada a formação da língua portuguesa do Brasil, um
triângulo, cuja base é o português e cujas lateralidades são, de um lado o tupi e o
guarani; e, do outro, as línguas nagô-quimbundo. (ELIA, 2003, p. 63 -64).
Ressaltam os autores pesquisados que as mulheres africanas tiveram um papel
de grande relevância na formação e transmissão de conhecimentos de suas culturas
nativas, por meio do trabalho na Casa Grande, ainda que nessas casas o falar
português tivesse influenciado, de modo particular, as vozes que elas traziam consigo
das terras da África. À proporção que passava da senzala à cozinha da casa Grande e
daí para a intimidade do lar e Ama ou Bá dos filhos do senhor rural, avançava a sua
contribuição lingüística ao idioma português.
Assim, o grande elemento caldeador era a Casa Grande, a infiltração da língua
mestiça já existente se faria sentir na sua contribuição vocabular do negro. Nas
cozinhas imensas, o angu, o anguzô, o guisado de quincombô e galinha, ou quenga,
passara a fazer parte do vocabulário brasileiro e da mesa do português. As iguarias em
que entravam gergelim, a farinha e o sal era chamado quimama; o quiabo associado ao
camarão criaria o zorô; a abóbora designada porongo ou abóbora passou a ser usada
para fazer doces ou salgados, de modo a se criar o quibebe. Dessa forma, novos
pratos não só saciavam os prazeres da boa mesa do colonizador e de seus
descendentes, como também acresciam ao idioma, pois estes falavam e contribuíam
para que estas vozes passassem da cozinha para a sala de jantar da Casa Grande. A
mesma influência se fez sentir na sua língua, mesclando lendas de seu povo com as
indígenas e européias, quando as conhecia, de modo a exercerem o papel de amasde-leite: aquelas que ofereciam às crianças brancas o leite de seus peitos e povoavam
101
suas memórias com histórias. (GLADSTONE, 1946 e 1974). Em síntese, é bem maior
do que se imagina a colaboração dos africanos na formação do adstrato do vocabulário
do idioma português brasileiro.
2.6 Anchieta: o pesquisador
Anchieta, identificando-se com a terra, fazia suas investigações sobre Botânica,
Zoologia e a Geografia brasileira. Para tanto se valia da sua inteligência e curiosidade,
revestido de uma autoridade invulgar. Uma de suas cartas em São Vicente em 1560,
fala sobre a divisão das estações do ano, tal como se dá nos trópicos. Em outra explica
a piracema ou a saída dos peixes nas épocas das inundações ou das cheias dos rios,
em que os peixes nela são levados aos campos e em tempo de desova ali são
apanhados com facilidade. Referia-se a um tipo de pesca chamada pira-iquê (pirakê),
quando os peixes entram em lugares de pouca profundidade para desovarem e, os
índios, após embriagá-los com timbó – líquido de uma planta jogada na água, os
apanhavam.
Por guaraguá ou iguaraguá, segundo Anchieta, é o nome do peixe-boi;
sucuriuba ou sucuryuba é a serpente amarela, ou aquela de escamas amarelas, as
quais muitas vezes encontrou em suas caminhadas. Aponta o Jesuíta um conjunto de
outros termos indígenas, como capyi-uara - capivara; jacaré; jararaca, serpente de bote
venenoso; a boieininga, ou cobra que tem chocalho, ou seja, a cascavel; a boipeba:
uma cobra cujo corpo é achatado; a boiroçanga, cobra fria, porque sua picada produz
no corpo do homem um grande frio.
Anchieta registra entre as aves o guainumbi ou guanumbi: o “pássaro mimoso”
que segundo os nativos era mensageiro de outras vidas e que passou a ser designado
em língua portuguesa por o “beija-flor”. Guará era uma ave que, ao nascer, tinha as
penas acinzentadas e, durante o seu crescimento, essas penas se tornavam brancas
102
para posteriormente serem vermelhas, na cor púrpura, quando adultas. Esse termo foi
traduzido na língua portuguesa por “garça vermelha”. Nhandús são termos que,
posteriormente, são traduzidos por avestruz ou emas.
O Jesuíta, em suas cartas, faz referência à medicina indígena por meio da
descrição de árvores, frutos, raízes utilizadas para a cura, ou seja, elementos naturais
a ipecacuanha ou poaia que significa raiz saudável. Também os demônios que
acometiam os índios como o curupira, o boitatá e outros. (CASTRO, 1941).
2.6.1 Os jesuítas educadores
Os jesuítas, em suas tarefas diárias, também se ocupavam em elaborar cartilhas
para o ensino das primeiras letras. Esse trabalho era manuscrito, isso devido à falta de
livros. Também transcreviam orações e o próprio catecismo, traduzidos em língua
geral, de modo que todos aqueles que se candidatassem ao trabalho colonial, na
condição de membros da Companhia de Jesus obrigavam-se a conhecer a língua
geral: instrumento de doutrinação e meio para o ensino básico. (MORAES, 1979).
2.6.1.1 Os jesuítas e o ensino básico
Faz-se necessário ressaltar ter sido o padre Vicente Rodrigues o primeiro
mestre-escola do Brasil, de modo que, após quinze dias de sua chegada, já ministrava
a sua primeira aula de ler e escrever. Assim os jesuítas procuravam adequar-se a vida
do novo mundo buscando integrar-se à vida cotidiana e se fazer, ao mesmo tempo
presentes na vida da comunidade. Dessa forma, logo pela manhã um sino chamava os
fiéis à missa e à comunhão, antes que eles tomassem o caminho da roça ou das
praias. Era ainda o sino que chamavam os curumins e as cunhãtens, bem como aos
meninos reinóes - nascido no reino, mazambos - os estrangeiros nascidos no Brasil,
103
para as aulas de ler, escrever, contar, rezar e de bons costumes. Nessa acepção, a
sala de aula jesuítica era heterogênea, cabendo ao mestre criar um ambiente de
simpatia e entendimento entre as crianças tão distintas entre si. (CASTRO, 1941).
Havia dias maiores, em que, jogando com os dois idiomas, tornava-se
interessante ver curumins cantando e tangendo instrumentos musicais, a seu modo,
faziam suas escaramuças, ou seus motins de guerra com arcos e flechas, pintados de
várias cores, mas para louvar a Deus. Os meninos brancos, por outro lado, envolviamse numa dança de escudos à portuguesa, ao som de viola, pandeiro, tamborim e flauta
para entoar cantigas pastoris, tanto na língua indígena, quanto em português e
castelhano. Essa prática de docência heterogênea visava a conquistar e a reeducar os
pais. Por conseguinte, os jesuítas situavam o ensino além dos processos de
catequização, lançavam as sementes da base da educação popular, espalhando a fé, a
mesma língua, os mesmos costumes e, começava forjar a unidade espiritual, a unidade
política de uma nova pátria.
Esses religiosos, portanto, descobriram no século XVI e aqui implantaram uma
modalidade de ensino multicultural, pois entenderam que não poderiam educar povos
distintos, com culturas diferenciadas por meio de uma prática unicultural, é necessário
buscar meios diferenciados e abrangentes para lidar com culturas diferentes e torná-las
homogêneas, esse foi o desafio dos jesuítas. Mas esses ensinamentos se perderam no
tempo, de modo a ignorarem as diferentes matrizes culturais que implicam
conhecimentos prévios diferenciados para aprendizagem do idioma português.
(AZEVEDO, 1963 e CASTRO, 1941).
Mem de Sá em carta redigida em 1560 no Rio de Janeiro, faz referência a
escolas em que havia trezentos e sessenta piázinhos, sabendo ler e escrever; logo o
modelo pedagógico jesuítico era diferente. Em outro trecho, o governador geral faz
remissão à Bahia onde o colégio de jesuítas estava presente em três aldeias, o modelo
de ensino se matinha pelo princípio da inter-culturalidade:
104
Têm nelas suas casinhas, cobertas de palmas,... e também em cada uma
ensinam aos filhos dos índios a ler, escrever, contar e falar português, que
aprendem bem e falam com graça, ajudar às missas, e desta maneira os fazem
polidos e homens. Em uma delas lhes ensinam a cantar e tem seu coro de
canto de flautas para suas festas, e fazem suas danças à portuguesa com
tamboris e violas, com muita graça, como se fossem meninos portugueses...
(SILVA NETO, 1951, p. 34).
Os jesuítas trabalham com as crianças fazendo analogias e correspondências
simbólicas entre o mundo cristão e as crenças nativas, do que muitas vezes derivou
uma tupinização do catolicismo, ou uma tessitura de um complexo religioso híbrido.
Tupã era o deus que, na mentalidade nova do curumim, o jesuíta faria evoluir para
Deus cristão, anhangá seria o diabo para um índio já convertido. Assim, os Jesuítas
vão traduzindo os valores do cristianismo para aqueles dos pagãos. Desta feita os
nativos participavam das festas campesinas à sombra das mangabeiras ou dos
jequitibás gigantes. Acompanhavam as procissões, nas danças e nas cerimônias
entoavam cânticos ou hinos sagrados junto com os brancos, em língua geral que se
tornava língua corrente, bem como durante a missa rezavam o Padre Nosso e a Ave
Maria, também traduzidas nessa nova língua, estimulados à prática religiosa pelos
jesuítas. (CASTRO, 1941).
O papel das crianças nas escolas primárias foi fundamental para a propagação
da língua geral em seus lares, fossem tais escolas fixas ou ambulantes. Estas últimas
circulavam com os jesuítas em suas peregrinações pelas aldeias e sertões, divulgando
cartilhas, orações, peças de teatro por meio de textos manuscritos, que contribuíram
para divulgar a língua geral e propagar a fé cristã na colônia. Observa-se que essa
modalidade de ensino tinha por fundamento um plano de Estado elaborado por
Nóbrega.
2.6.1.2 O plano de estudo dos jesuítas
105
O padre Manuel da Nóbrega - desde que elaborou o plano de estudos em 1536,
ano das Constituições da Companhia de Jesus, até sua morte em 1570 - havia
elaborado o ensino, segundo Fávero (2000, p. 89) da seguinte forma:
Aprendizado do português
|
doutrina cristã
|
escola de ler e escrever
|
canto orfeônico
|
música instrumental
________________|________________
|
|
aprendizado profissional
e agrícola
gramática
latina
Ratio= curso de humanidades / curso de filosofia / curso de Teologia
Viagem à Europa
Esse modelo de planificação, visando ao aprendizado da língua portuguesa
como veículo da cultura e da ideologia cristã, topicalizava a prática da leitura e da
redução como eixo fundamental da docência jesuítica. O canto orfeônico e às
atividades referentes à música instrumental inseria a musicalidade, respeitada a cultura
de cada povo, eram estratégias fundamentadas na aprendizagem. O plano de Nóbrega
também privilegiava a formação profissionalizante como as práticas de agricultura,
processos de lavrar a terra. Contudo, o português acabou aprendendo com o índio que
106
a cada cultura a terra deve ser limpa por meio do fogo, de forma que as queimadas
passam a integrar a cultura da lavoura. (SERAFIM LEITE, 1938)
Ao colocar o aprendizado da gramática latina na mesma dimensão daqueles
referentes aos das práticas profissionais, o Jesuíta concebe a ambas como meios para
ensinar a língua e a cultura portuguesa.
Após 1570, houve a necessidade de alterações nesse plano de estudos
excluindo-se os aprendizados profissionais, agrícolas e musicais (canto orfeônico e
instrumental). Esse esboço de planejamento pedagógico data de 1586, após a consulta
de homens sábios e experimentados no ensino, imprimiu-se como manuscrito em
1591, e promulgado depois da impressão definitiva, como lei da Companhia de Jesus,
no dia 8 de janeiro de 1599. Nele havia certas ordenações, adaptadas aos diversos
países devido às circunstâncias locais. Uma outra esfera de atribuição dos Jesuítas, no
campo da educação, instituiu cursos superiores. (SERAFIM LEITE, 1938)
2.6.1.3 Os jesuítas e o ensino superior
O curso de “Letras” implantado no Brasil caracterizava -se por ser um ensino
eminentemente literário de base clássica, que constituía o verdadeiro alicerce de toda
essa estrutura do ensino jesuítico. Era dividido em três classes: Gramática,
Humanidades e Retórica e destinava-se a formar o homem in litteris humanioribus. O
curso de Filosofia e de Ciências, também chamado de artes, é dividido em três anos e
tinha por finalidade a formação de Filósofo, por meio de estudos de Lógica, Metafísica
geral, Matemática Elementar e Superior, Ciências Físicas e Naturais, além da Ética
Teodicéia, ou seja, Argumentação Teológica. O aluno candidato ao sacerdócio, além
dos dois primeiros cursos, faria o terceiro de Teologia e Ciências Sagradas, existentes
107
apenas nos seminários maiores e em casas prepostas à formação intelectual dos
jesuítas. (SERAFIM LEITE, 1938).
O importante a ressaltar é que a formação intelectual oferecida pelos jesuítas e,
portanto, a formação da elite colonial foi marcada por uma intensa rigidez na maneira
de pensar e de interpretar a realidade. A formação religiosa era extremada, buscando
com isso afastar seus pupilos das influências daquilo que é considerado nocivo.
Quanto à formação dos professores, estes somente estariam aptos a ensinar, após os
trinta anos, eram selecionados cuidadosamente os livros que exerciam rigoroso
controle sobre as questões a serem trabalhadas, especialmente em Filosofia e
Teologia.
Os cursos considerados inferiores, Humanidades, tinha por propósito o domínio
de uma prática voltada para o estilo literário de autores clássicos. Com essa
orientação, a formação da elite colonial adequava -se à política colonial, uma vez que a
orientação universal jesuítica era baseada na literatura antiga e na língua latina e, no
Brasil, esses cursos eram compostos de quatro séries para assegurar o domínio da
gramática e de conhecimentos humanísticos, de modo a propiciar ao aprendiz domínio
da expressão exata e clara associada à elegância e riqueza de uso de recursos
retóricos, voltados para a persuasão. A complementação desses estudos era feita na
metrópole. Desta feita a formação em Direito, Filosofia e Medicina, da grande maioria
dos homens graduados do Brasil ocorria na Universidade de Coimbra, conforme aponta
a história da intelectualidade brasileira no tempo do Brasil Colônia. (SERAFIM LEITE,
1938).
O privilégio do trabalho intelectual, em detrimento do manual, afastava os alunos
dos assuntos e problemas relativos à realidade imediata. A grande parte da população
era escrava e iletrada. Para os letrados, o mundo civilizado estava lá fora e servia de
modelo para os modos de ser e de agir na colônia. Dessa maneira os letrados
acabavam por rejeitar não apenas esta maioria iletrada, excluindo-os das decisões
108
político-sociais, de maneira a contribuir com a Coroa para exercer o domínio na
colônia. Essa atitude mantém o traço de dominação: problema com o qual o Brasil,
ainda, convive no século XXI. (SANTOS RIBEIRO, 1998).
2.7 Outras ações dos jesuítas
O contraste desse trabalho árduo foi a lenta e gradual substituição, no raio de
influência dos missionários, das línguas, costumes e usos da terra, de modo a se poder
considerar que os Jesuítas foram os agentes de desintegração de valores nativos e
também dos caboclos. Assim procedendo, eles procuravam substituir suas danças,
cânticos e festivais que, segundo a visão jesuítica, estavam em desacordo com a moral
católica e as convenções européias. Com o papel desempenhado pelos missionários, é
possível apreciar o valor enorme da catequese na formação do Brasil.
Os jesuítas, em sua rede de escolas, ao mesmo tempo em que desorganizavam
a cultura indígena, buscava nos colégios e nas igrejas restaurar e manter na sua
integridade a civilização ibérica que, conforme apontado, passara por profundas
transformações e, tendia a dissolver-se na Colônia, sob as poderosas influências
indígenas e africanas, além de ser ameaçada pelas invasões estrangeiras. Durante
dois séculos os jesuítas foram os guias sociais e culturais da Colônia, os guardiões da
civilização, da unidade do poder espiritual e político, representados nas pessoas do
padre Manuel da Nóbrega e Anchieta.
O fragmento abaixo de uma carta do padre Luís da Grã, informa a Santo Inácio
sobre as dificuldades desses padres que buscavam fazer com que os nativos
deixassem de ser nômades. Assim informa o padre Luís que, embora Nóbrega buscase “(...) conservar os nativos ao redor dos Jesuítas (...). A presença deles é precária,
109
instável e prontos para a mudança, na primeira oportunidade (...) difícil conservá-los
fixos na colina sagrada.” (FERREIRA, 1970, p. 91-92).
Essa qualidade de andejos dos brasilíndios tornava difícil o trabalho de
sistematização da catequese, além do que era difícil mantê -los casados com uma única
mulher, o que cria empecilhos para manter os habitantes das povoações fundadas no
mesmo lugar. Considera o padre Luís ser necessário evitar o perecimento de São
Paulo de Piratininga porque a aldeia é posto chave da civilização, da catequese e da
unidade do Brasil: um aldeamento continuamente atacado pelos tamoios incitados
pelos franceses. Diante dessas informações levadas a Mem de Sá, pelo padre Manuel
da Nóbrega, aquele governador
(...) transpõe a Serra do Mar sem perder tempo. Ambos estão em Santo André,
em casa do Patriarca dos Bandeirantes. Padre Manuel da Nóbrega expõe o
estado miserável da povoação fundada por ele. São Paulo de Piratininga, a seu
ver, precisa ser defendida. Se ela desaparecer, desaparecem a catequese, o
catolicismo e a civilização portuguesa, do Espírito Santo para baixo. É preciso
mudar a população lusitana de Santo André e a respectiva Câmara para junto
do Colégio de São Paulo. João Ramalho concorda (FERREIRA, 1970, p. 9192).
Segundo o relato desse padre, Mem de Sá ordena aos filhos de João Ramalho
que se mudem para a Vila de São Paulo de Piratininga que, como outras poderiam vir a
desaparecer (FERREIRA, 1970).
A bibliografia lida aponta não só a sistematização de uma política de ocupação e
povoamento do Brasil Colônia, controlada pelos Jesuítas e pelos representantes do
Estado Português, mas também a influência que eles exerceram junto a Casa Grande.
Informa-se que na família patriarcal, a única força que se contrapunha a ação educativa
dos Jesuítas era a de senhor de engenho. Este, com sua autoridade soberana,
dominava do alto não só a escravaria, mas a mulher e os filhos, mantidos à distância
da justiça e da polícia da região. Os Jesuítas não tardaram a penetrar e quebrar, em
proveito da Igreja, esse modelo de organização familiar, exercendo influência religiosa
sobre a mulher e filhos desses senhores. Segundo a tradição da família portuguesa os
filhos eram assim educados: o mais velho, o herdeiro, seguia o destino paterno; o
110
segundo, os estudos no colégio para ir concluí-los na Europa; e o terceiro entrava para
a Igreja, preparando-se para ser padre e, aos 15 anos, professava sua fé religiosa. Tal
tática também era empregada com as famílias indígenas e dos colonos brancos que
aos Jesuítas confiavam seus filhos para que eles os educassem. (AZEVEDO, 1963).
Essas crianças iam para os internatos religiosos e se tornavam “filhos dos
padres” ou “da Igreja”, deixando ser filhos do cacique, dos senhores de engenhos, bem
como das mães caboclas. O resultado desse procedimento, por vários séculos garantiu
a transmissão de uma cultura homogênea, fundada na religião católica e no uso da
língua portuguesa como matriz de uma identidade que se construiu ao longo da
colonização. Justifica-se, assim, a força agregadora da ação dos Jesuítas. Observa-se,
porém, como força desagregadora desse trabalho, a preparação para os jovens que
continuavam seus estudos na metrópole. Nesse caso, esses filhos da Colônia se
aproximavam uns dos outros quando chegavam a Coimbra, oriundos de suas
capitanias e em Portugal expandiam seus horizontes para além das fronteiras de suas
capitanias. Entenderam estarem sendo subjugados por hábitos morais e modos de
raciocinarem inerentes aos portugueses. (AZEVEDO, 1963).
As lembranças de suas famílias, a diversidade de costumes e tendências, bem
como a situação de inferioridade em relação aos estudantes reinóis, tendiam a uni-los
cada vez mais e a brotar um sentimento de amor em relação à terra de origem. Esse
sentimento nativista contribuiu para a concepção de uma pátria que, embora primitiva e
rude tinha suas fronteiras móveis, em formação. As descrições e os sentidos que
expressavam em relação a essa pátria atraiam para o Brasil seus colegas lusos que
aqui chegavam e ficavam. Nessa acepção, esse sentimento de nacional de caráter
nativo não se desenvolve apenas pela concepção de raça ou de língua, mas por uma
livre escolha refletida que proíbe a esses brasilíndios pensar que poderiam pertencer a
uma outra pátria que não àquela que os viu nascer: túmulo de seus antepassados, mas
o berço que os embalou e para qual sempre voltaram e consigo trouxeram muito de lá.
(AZEVEDO, 1963).
111
2.8 Considerações finais
A pesquisa registrada neste capítulo remete -se a um tempo em que a língua
portuguesa de caráter arcaico e provençal convivia comas línguas dos nativos
brasileiros, com aquelas de alguns poucos escravos dos engenhos da cana de açúcar e
as de outros europeus que por aqui passavam. Essas diferentes línguas em contato
fazem do território brasileiro um país bilíngüe e respondem pelo que Orlandi (2001)
designa como força desagregadora, visto que cada um desses sistemas lingüístico
mantém-se articulados, no período investigado. A força agregadora tem como matriz o
processo de idiomatização desse português arcaico-provençal que, conforme apontado
no corpo da pesquisa, é produto de várias outras línguas que se colocaram em contato
no fluxo da própria história da Península Ibérica. No percurso dessa história, apontouse que oficialização da língua vulgar por D. Dinis fez dela língua de uso obrigatório, de
sorte a assegurar a edificação do Estado Português.
Nesse sentido, pode-se asseverar que a força agregadora tem por suporte a
planificação de uma política lingüística voltada para a prescrição de uma norma — o
falar lisboeta, no caso de Portugal — capaz de assegurar o maior grau possível de não
variação do uso escrito. Essa política de implantação de instituições estatais, dentre as
quais se inserem aquelas voltadas para o ensino, responsáveis pela aprendizagem da
norma oficial.
A sistematização e consolidação desse processo de planificação, conforme
apontado, exigem a descrição gramatical e lexical da norma lingüística oficializada, de
que resulta a produção de gramáticas e de dicionários ou glossários: trabalho realizado,
a princípio, por abades e monges e cujo propósito era a compreensão de textos
arcaicos registrados em língua latina ou grega. (cf. p. 61)
112
Faz-se necessário ressaltar que, até o século XIV, não se tem a produção de
gramáticas e/ou dicionários desse português arcaico-provençal visto que tais obras
terão como marco de sua produção o século XVI. Entretanto, antecedendo à produção
das gramáticas de Fernão D’Oliveira e de João de Barros, os estudos filológicos e
lexicográficos da língua portuguesa se fizeram presentes para registrar traduções de
trabalhos de agricultura, de medicina, de jurisprudência, de engenharia herdados dos
greco-latinos. Tais traduções, com se sabe, implicavam a recontextualização das
formas léxico-gramaticais pela língua oficial portuguesa dos séculos XIII e XIV,
aproximadamente e delas resulta a latinização do português escrito (cf. p. 63-64).
Observa-se que a norma lisboeta, em fase de latinização, arrastava consigo matrizes de
significados lexicais oriundos do substrato, adstrato e superestrato o grego, o latim, o
celta, o árabe e o germano.
É nesse contexto que, à semelhança das gramáticas de Fernão D’Oliveira e de
João de Barros — que tomam a gramática greco-latina como modelo de descrição
lingüística do português — Jerônimo Cardoso produzirá a primeira obra lexicográfica da
língua portuguesa, composta por três volumes, na qual também usará como parâmetro
da língua latina para descrever as formas vocabulares da portuguesa. Esse dicionário,
de caráter bilíngüe, tem o vocabulário da língua latina como ponto de partida e o da
língua portuguesa como ponto de chegada para acentuar p sentido de pertença a uma
língua de civilização, conforme fora o latim. Como todo dicionário bilíngüe, descreve a
equivalência entre o vocabulário do português e aquele do latim, num segundo
momento.
Observa-se, nos registros da bibliografia consultada, que, desde o século VI e
em razão da imposição do latim como língua de cultura, se intensificam as traduções de
textos arcaicos, de sorte que o estudo das significações lexicais se torna relevante.
Advém da necessidade de compreensão desses textos, a produção de enciclopédias,
glossários e listas de palavras ou dicionários. Para Nunes (2002), os glossários já
podem ser diferenciados das listas temáticas de vocabulários que transitam em uma
113
língua para outra, dissociados dos textos originais, pois aqueles estão vinculados a
esses e têm por objetivo a prática da decodificação significativa desses últimos. Assim
sendo, os significados dos vocábulos de um glossário sempre estavam registrados no
meio ou à margem dos próprios textos, ou seja, circulavam com os textos e não
dissociados deles. Posteriormente, passam a ser organizados em ordem alfabética ou
por domínios temáticos — medicina, engenharia, agricultura... — É dessa autonomia do
glossário que emergem os dicionários, já presentes no ensino da língua latina do século
XI. Contudo, eles têm função didática.
Esse percurso historiográfico da forma e registro do vocabulário português, tendo
por parâmetro o latim, será reiterado na descrição do português brasileiro no fluxo do
tempo que se estenderá após o século XVI. Assim, é do século XVII o Dicionário
Brasileiro Português, de Frei Veloso e do século XIX o Vocabulário na Língua Geral, de
Frei dos Prazeres do Maranhão. A corpora desses dicionários é constituída por textos
de caráter religioso que são acumulados nos arquivos europeus após a expulsão dos
jesuítas das terras do Brasil.
No que se refere à formação do vocabulário português-brasileiro, no século XVI,
apontou-se serem os missionários os precursores de uma política lingüística em terras
da colônia, planificadas pela elaboração de uma gramática e de um dicionário. Essa
política teve como fundadores os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, mas o
segundo o responsável por tornar a língua indígena objeto de conhecimento, de
descrição e de interpretação.
Os jesuítas, portanto, ao constatarem a impossibilidade de exercer o papel de
catequizadores dos indígenas em língua latina, entendem ser necessário fazer uso das
línguas indígenas faladas na costa litorânea do continente. Mas, para tanto, era preciso
discipliná-las, homogeneizá -las e diferenciá-las da língua do colonizador. Esta é a razão
por que se pode considerar que o dicionário anchietano é do tipo bilíngüe, de sorte a
servir para o aprendizado dessa língua homogeneizada: a língua geral.
114
O aprendizado não estava circunscrito apenas à formação de novos mestres
para as escolas de ler, escrever e contar, mas também se estendia aos curumins e/ou
filhos de colonos que aprendiam o português pelo tupi-guarani, ou vice-versa. O método
de ensino, conforme apontado, era sustentado pelo princípio da intertextualidade —
orações, narrativas dos textos sagrados, canções indígenas e portuguesas, perguntas
em português, respostas em tupi-guarani ou vice-versa, mas sempre exigindo que
fossem reformulados em língua portuguesa. Por conseguinte, justifica-se o trabalho de
Anchieta em traduzir textos bíblicos para a língua geral e divulgá-los por meio de
catecismos e de encenações religiosas.
Os resultados desse trabalho de Anchieta levam o padre Luis da Grã a impor o
uso obrigatório da gramática anchietana nas escolas de ler, escrever e contar,
conforme registra Capistra no de Abreu (1975), em “A Obra de Anchieta no Brasil”.
Assim sendo, ao aprenderem a língua usada na costa, os missionários pregam em tupiguarani ou na língua geral e as ensinam nas escolas para serem compreendidos e
exercerem seu papel de catequizadores. Contudo, ao ensinarem o português pela
língua geral, contribuem com o processo de idiomatização do português arcaicoprovençal em terras do Brasil e, assim procedendo, desencadeiam a força agregadora
inscrita nos movimentos e desagregação de uma colônia bilíngüe.
Resta, por fim, considerar que os processos de lexicalização observados nos
textos anchietanos distanciam-se da técnica lexicográfica já praticada em Portugal, pois
as palavras de entrada no seu dicionário são sintagmas e não vocábulos isolados (cf. p.
85), ainda que possa encontrar uma ligação termo a termo: “parir >> xemembîrar”, mas
estes são casos mais raros. Esse distanciamento explica-se pela necessidade de
construção de novos/outros modelos de designação pelos quais os indígenas
designavam um outro mundo que, até então desconhecido dos portugueses, precisava
ser por eles conhecido. Por conseguinte, fazia-se necessário designar novas
referências fazendo uso do sistema da língua portuguesa. Para atender a essa
115
necessidade, conforme comprova Anchieta, o único meio era valer-se da produção de
textos de caráter enciclopédico e não lexicográfico.
Tal procedimento também se inscreve na literatura dos viajantes e na própria
Carta de Pero Vaz de Caminha, apontando a dificuldade de usar uma língua já
estratificada para funcionar como apoio para se compreender e dizer um outro mundo,
outras línguas. Conseqüentemente, o processo de lexicalização do português brasileiro
tem os seus registros nos primeiros documentos históricos, nos quais a sistematização
e oficialização desse vocabulário tiveram Anchieta como marco inicial de um trabalho
que duraria em torno de dois ou três séculos.
116
CAPÍTULO 3 A LEXIA E SUAS EXPANSÕES NO SÉCULO XVI: UMA
PROPOSTA DE ANÁLISE
3.1 Considerações iniciais
Os capítulos que antecedem a este buscaram registrar a articulação entre léxico,
memória e história, de modo a apontar que a construção do léxico do idioma português
brasileiro é produto de línguas em contato, quer em relação àquele transplantada para
o Brasil - por meio do português arcaico e provençal, falado pelos colonos que aqui
chegaram ao longo do século XVI - quer em relação às línguas que se fizeram em
contato na nova terra no referido período. Nesse sentido, buscou-se compreender que
a história do léxico está relacionada com a historicidade de um povo, o que implicou a
transformação dos fatos lexicais.
Essas línguas de contato e os diferentes discursos que nelas eram/foram
produzidos respondem pelo deslocamento, empréstimos e certo grau de estabilidade
das unidades lexicais, de modo a se poder dizer que o léxico se modifica no espaço da
interdiscursividade produzida por povos diferentes e dos quais resulta a formação de
um novo vocabulário pela incorporação de outros adstratos, substratos e superstratos.
Afirma Maingueneau (1997) que o interdiscurso3 pode ser operado com a concepção
de um conjunto de unidades discursivas com as quais ele estabelece relações. Tais
unidades podem abranger dimensões variáveis como locuções ou enunciados que
ligados às palavras contribuem para dar um valor simbólico.
3
Assume-se a concepção de interdiscurso proposta por Maingueneaus: um discurso tem por matriz outros
discursos, ou seja, discurso sobre outros; por isso é social
117
Entende-se que a interdiscursividade que qualifica o século XVI, reconstrói os
discursos dos jesuítas, dos colonos portugueses e dos nativos, ao longo de outros
séculos que se seguem à descoberta e invenção do território americano. Nesse
movimento de reinvenção, criam-se modelos para que os homens aqui chegados e
aqueles que aqui viviam possam se conhecer e se compreender. Uma dessas
invenções, conforme apontado no capítulo II, é a língua geral cuja descoberta arrasta
consigo a história de náufragos, navegantes, desterrados e escravos, dentre outros. As
matrizes dessas outras/novas histórias se inscrevem na reconstrução do vocabulário
desses homens, para se fazer remissão a elas. A discursividade dessas histórias
prefigura novos/outros campos discursivos:
(...) espaços em que um conjunto de formações discursivas – enunciados e
identificáveis por seguirem, num mesmo sistema de regras, historicamente
determinados (...) que se constituem e se mantêm no interdiscurso – estão, em
sentido lato, uma relação de co-ocorrência, delimitando-se reciprocamente
(MAINGUENEAU, 1997, p. 16 e 51).
Este capítulo trata da análise do vocabulário por campos lexicais, de modo a
verificar como diferentes vocábulos vão se remetendo a diferentes campos do
conhecimento para designar o velho e o novo ou o novo pelo velho (TURAZZA, 2005).
Como exemplo de expansão da base do vocabulário da língua portuguesa,
selecionou-se o campo das frutas, cuja análise apresenta o item lexical “manga”. No
fluxo desse procedimento analítico, buscam-se outros exemplos para apontar
mudanças e transformações do vocabulário da língua portuguesa, em função da
criação de outros campos de significação.
Tem-se por pressuposto que o vocabulário descrito por dicionários são
designações que condensam um conjunto de predicações que se remete a significados
de alta freqüência dos quais os usuários de uma dada língua fazem uso em suas
práticas discursivas. Nesse sentido, os significados descritos pelos lexicógrafos são
aqueles que estão em circulação numa dada comunidade, em uma dada
118
contemporaneidade. Os vocábulos descritos por Beaurepaire-Rohan, em 1881, a partir
de uma pesquisa realizada em textos do século XVI, apontam para os significados das
designações vocabulares remetendo-os a sentidos de maior freqüência. Observa-se
que este lexicógrafo incorpora vocábulos do Dicionário de José de Anchieta e os
expande por conjuntos vocabulares coletados em textos da literatura dos viajantes.
Ressalta -se que, no prólogo de sua obra, o autor registra que o seu dicionário de
vocábulos brasileiros poderia ser mais rico, diante das denominações vulgares dos
produtos naturais, das tribos dos aborígines que existiam e ainda existem, das
localidades cuja etimologia é rica e poética. Entretanto, não o fez por recear não poder
publicá-lo em vida, já que tinha idade avançada e, como ele mesmo coloca, “não é lícito
confiar na vida”. O seu desejo era que a obra servisse de base a outros trabalhos “tão
ricos e com grande proveito da nossa Literatura”.
O corpus contou com um grupo de lexias que faz nossas mentes se deliciarem
com a riqueza contida em suas páginas. São frutos da terra – a Terra Brasilis – rica em
todos os aspectos, nossa flora, fauna, cultura aborígine, a qual acolheu em seu seio,
africanos, europeus, asiáticos. Afirma o pesquisador que a língua portuguesa já no
século XVI era distinta da língua-mãe, talvez pelas línguas que, aos poucos,
mesclaram -se a ela.
Reitera as muitas dificuldades para representar sons completamente estranhos
ao nosso alfabeto, e assim nasceram convenções ortográficas que, no seu tempo, cada
um procurava justificar a seu modo. Os sons guturais, por exemplo, que alguns jesuítas
portugueses designaram por “ig”, o autor substituiu por “ÿ”, porém os editores, por
dificuldade de composição gráfica, conservaram nestes casos, a grafia jesuíta de “ig”. A
transcrição do grupo de vocábulos retirada do dicionário seguirá a grafia, pontuação e
acentuação, como também, algum provável equívoco constante da obra, em
consideração ao trabalho do autor.
119
Apresenta-se, no corpo deste capítulo, apenas um exemplo para indicar o
procedimento analítico adotado para tratar da organização do vocabulário da língua
portuguesa brasileira. Entretanto, a organização dos vo cábulos descritos por
Beaurepaire-Rohan na sua obra lexicográfica está sistematizada por campos
semânticos e consta dos anexos desta Dissertação. As definições apontadas pelo autor
fizeram referência a um universo vocabular bastante extenso razão por que, ainda hoje,
os registros dos dicionários contemporâneos da língua portuguesa prendem-se a elas.
3.2 A origem da concepção do termo campo
A bibliografia sobre teorias que se remetem ao desenvolvimento da concepção
de “campo” tem por marco os estudos de Trier (1934 apud Geckeler, 1984), em que se
registra a existência de uma “Babélica confusão terminológica” em relação a esse
conceito. Isso se deve ao fato de o termo “campo” ser adjetivado por expressões como:
campo lingüístico, campo lexical, campo semântico, campo conceitual, campo léxico ou
lexical e, hoje, campo discursivo.
Segundo Geckeler (1984), tal indefinição justifica-se quando se observa que
Tgnér (1874 apud Geckeler, 1984) antecipa a idéia de se elaborar uma teoria referente
ao campo dos estudos lingüísticos e faz uso dessa palavra pela primeira vez. Em 1910,
Meyer, (apud Geckeler, 1984), publica um artigo cujo título é “Sistemas Semânticos”,
demonstrando de forma bastante coerente e detalhada a idéia de campo. Nesse
trabalho, afirma que um campo se define como um sistema semântico que se explica
pelo agrupamento de um número limitado de expressões ou lexias, organizadas ou
relacionadas pelo princípio da semasiologia.
A semasiologia designa em semântica lexical, o estudo da significação dos
conteúdos das lexias da classe de designação, cujo ponto de partida é a análise de
desses conteúdos para se poder precisar o campo conceitual a que eles fazem
referência. Trata-se, portanto, de um procedimento que se opõe ao de onomasiologia:
120
aquele que parte do conceito ou noção, de modo a verificar como se manifesta em
língua, no plano do significado do signo. Assim, se o procedimento semasiológico tem
por matriz um movimento que vai do significado para o conceito, a onomasiologia se
explica pelo movimento contrário, a aquele que vai do conceito para o significado do
signo manifestado (GREIMAS, 1989).
Observa-se na medida em que os princípios da semasiologia e da onomasiologia
remetem-se aos movimentos complementares, cujos pontos de partida, a palavra e, o
de chegada, o conceito ou vice-versa, os quais não são suficientes para esclarecer a
concepção de campo. Afirma Turazza (2005) ser preciso considerar a distinção entre
palavra, vocábulo e lexia, para se compreender a noção de campo, quer semântico,
quer conceptual.
3.2.1 A distinção entre lexia, vocábulo e palavra
Fundamentando-se em estudos lexicológicos, Turazza (2005) assevera ser a
lexia ou signo lexical um elemento oferecido aos interlocutores que fazem uso de uma
dada língua para construir e revelar visões de mundo, ideologias ou valores, de modo
que a lexia é lugar de estabilidade, de regularidades inscritas nas variabilidades da fala
ou de diferentes discursos. Assim, empregada em diferentes discursos, a lexia ganha
em cada um deles graus de estabilidade, de maneira que, focalizada na dimensão
discursiva, ela se torna vocábulo e materializada pelo plano de expressão da fala ela se
faz palavra. Nessa acepção, a palavra é a materialização de uma lexia por meio do
vocabulário de uma língua.
Segundo esta autora, uma palavra pode corresponder a vários vocábulos como
é, por exemplo, o caso da palavra “manga”, que ao ser empregado no discurso da
moda, remete -se ao campo conceptual de vestimenta, mas ao ser empregada no
discurso da alimentação, remete-se ao campo conceptual de fruto comestível; contudo,
121
se empregada em discursos que fazem remissão à meteorologia, pode designar a
chuva que cai nos meses de agosto e setembro – chuvas rápidas, passageiras que
levam ao florescimento das mangueiras, razão pela qual chuva é designada “chuva de
manga”. O fato de a “manga”, ser um fruto tropical, própria de países ou regiões, cuja
temperatura raramente está abaixo de vinte graus, “a chuva de manga” é aquela que
não encharca o solo, pois seu nível pluviométrico é baixo. Nesse sentido, ela não se
confunde com “a chuva de inverno”: aquela que traz consigo não a florada das
mangueiras, mas o frio.
3.3 Organização dos conhecimentos lexicais na memória
As lexias da classe de designação, conforme apontado no exemplo acima,
jamais são empregadas de modo isolado, pois elas se encontram reunidas em grupos
semânticos. Nessa acepção a palavra “manga” quando é remetida ao campo
conceptual de vestimenta está associada à blusa, camisa, casaco, vestido, paletó, por
exemplo; quando remetida ao campo conceptual de frutas está associada a diferentes
espécies – manga manteiga, manga Bourbon, manga espada, manga coquinho, manga
rosa, manga coração-de-boi, etc., ou a outras frutas, como: melão, melancia, abacaxi,
banana, etc. Se remetida ao campo conceptual de chuva, associa-se a outras espécies
ou tipos, como chuva-de-vento, chuva torrencial, chuva moderada, chuva de granizo,
ou pedra, chuva congelante, chuvas equinociais – estação das chuvas próximas do
equador; chuvas zenitais – nas regiões tropicais e subtropicais. Acrescenta -se, ainda:
chuva de poeira, chuva de meteoros, chuva ácida, chuva de lama, chuva artificial,
chuva glacial, chuva de cinzas vulcânicas, chuva de convenção, oriunda do movimento
ascendente das massas de ar; chuva de pedra-pomes, chuva pirotécnica, entre outras.
Assim, a cada uso discursivo de uma palavra ela forma uma relação associativa com a
sistematização de outras, que resulta em um campo semântico, este, estruturado como
se fora um mosaico em que o conteúdo de um vocabulário faz remissão ao de outros
do mesmo campo semântico.
122
Observa Turazza (2005) que os conceitos não estão justapostos na memória
humana, pois eles estão integrados e estruturados, de modo que, ao serem acionados
por uma palavra, eles se tornam rapidamente acessíveis uns a partir de outros. Nessa
acepção os dados da memória se qualificam por conjuntos de atributos, de maneira que
uma palavra apresenta relações seletivas com algumas outras, em função dos atributos
comuns a duas ou mais palavras a que se referem. Tais relações são do tipo semântico
e possibilitam associar, por exemplo, mesa a cadeira; martelo a prego e prego a
parede, bem como a quadro ou ainda coco a cabeça e cabeça ao papão. Como
exemplo, no século XVI, o vocábulo “coco” é assim definido:
CÔCO (1°), s. m., nome com que se designa geralmente a fruta de qualquer
espécie de Palmeira, quer indígena, quer exótica, acompanhando-o sempre de
um epiteto especifico: Côco da Bahia (Côco nucifera); Côco de dendê (Elaeis
guineensis); Côco de catarro (Acrocomia sp.), etc. || Etim. É vocábulo
estrangeiro, talvez africano ou asiático.
CÔCO (2°), s. m. Espécie de vasilha feita do endocarpo do Côco da Bahia, no
qual se embebe, perto da boca, um cabo torneado. Serve para tirar água dos
potes. Por extensão, dá -se o mesmo nome a vasilhas análogas feitas de metal
ou de outra qualquer materia: Um côco de prata, de cobre, de folha de
Flandres, de madeira, etc. (BEAUREPAIRE-ROHAN, 1881)
Nesse caso, tanto no primeiro, quanto no segundo conjunto definitório, o
vocábulo coco tem por matriz de significado na sua base vocabular a propriedade de
“contedor”. No primeiro conjunto o coco contém água, cujas propriedades equivalem
ao soro, isto é, solução líquida orgânica ou mineral empregada na reabitação ou
alimentação de pessoa enferma; logo água medicamentosa: coco-da-baía. No caso de
coco-de-dendê ou coco-de-catarro, o contedor é uma castanha da qual se extrai o óleo
de dendê; já o coco-de-catarro ou macaúba, ele é assim designado em razão da polpa
que envolve a castanha, usada como medicamento expectorante pelos indígenas.
Ressalta -se que, por analogia com o crânio humano, a cabeça cujo conteúdo é o
cérebro, passou a ser designado por coco. Segundo Houaiss (2001), já no século XVI
esta era uma designação hiperonímica, visto que por ela os portugueses designavam
diferentes tipos de palmeiras e por “coco” o fruto dessa palmeira, eles recorreram a
123
semelhança existente entre esses frutos e a cabeça. O fato de eles usarem
reproduções de cabeças para assustar as cri anças, implicava o uso da palavra “papão”:
cabeças que papam as crianças, daí a associação entre papão – cabeça e coco.
Afirma, ainda, Houaiss (2001) que o termo “papão” teria origem no vocábulo
calcãre do francês, cujo significado é “pressionar”, “apertar”; já empregado por esse
povo com vistas a fazer referência à concepção de “fantasia” ou “espírito”. Em alemão,
designa-se Alpdruck ao espírito chamado Alp: “aquele que pertuba o sono”. Assim, o
termo “papão” está na constituição do português provençal que tem como origem
calcãre+mar lexicalizado em alemão como “espírito noturno”, transplantado para o
português como “papão”: bicho que tem cabeça semelhante ao coco: fruto redondo do
coqueiro que é encontrado pela primeira vez por Vasco da Gama em território Asiático,
tendo sido designado por “papão”. Observa-se que a qualidade de contedor permeia
todas essas significações.
Nessa acepção, as relações entre propriedades são do tipo semântico e
possibilitam associações como as já mencionadas anteriormente Por conseguinte, é
preciso compreender que há dois tipos de dicionários: um, cuja organização está
centrada nas formas significantes do signo e que são produtos do trabalho do
lexicógrafo, ou seja, pela ordem alfabética; o outro é o dicionário mental, cuja
organização está centrada no significado das formas significantes. Tais discursos
organizam-se, conforme demonstrado acima, por relações associativas de caráter
funcional, ou de cada item lexical se associar a outro (s) por critérios diversos: na
mesma propriedade semântica, ou funções semânticas (martelo-prego-quadro-parede).
Essa pesquisa privilegia o dicionário cognitivo, isto é, concebido como processo,
mas tem como ponto de referência o dicionário produto, aquele referente à obra de
Beaurepaire-Rohan, editado em 1881.
124
3.3.1 Os conhecimentos lexicais e os processos de categorização
Para os psicolingüistas, as categorias são aprendidas, de modo natural, tal qual
a própria língua, e delas, o homem faz uso tão freqüente, de modo que ele sequer se
dá conta da sua existência. Esse uso automatizado faz com que se deixe de questionar
se todo animal que tem o corpo coberto de penas, que é ovíparo, tem asas e voa é de
fato um pássaro, pois o pingüim, por exemplo, embora tenha todos esses atributos, não
voa, mas nada. Todavia, o fundamental é o fato de usarmos essas categorias como
eixo na/para a compreensão dos sentidos que atribuímos ao mundo, de maneira que as
categorias se fazem presente nas mais variadas formas de conhecimento.
Para os cognitivistas as categorias são propriedades mentais compartilhadas e
elas decorrem de modelos culturais regionais ou universais. Como as culturas humanas
são variáveis, as categorias também o são; de forma que a vaca pode ser categorizada
como animal sagrado, como fonte de alimentação, visto que ela fornece leite e carne.
Desta feita, uma fazenda produtora de leite ou carne bovina, dependendo do preço do
leite ou da carne estabelecido pelo mercado, levará os produtos a classificar a vaca
como fonte de lucro ou de prejuízo.
Compreende-se, assim, que as categorias são socialmente construídas e elas
funcionam não só para organizar e compreender o mundo, mas também para falar
sobre ele e, nesse sentido, elas são empregadas para produzir visões e versões
variadas sobre conhecimentos de mundo. Logo, elas dão sentido à existência humana
e não são fixas, ainda que parte dos seus atributos jamais possa ser negada: o
pingüim, embora tenha o corpo coberto de penas, tenha bico e seja ovíparo é uma ave,
muito embora as suas asas associadas a seus pés, de nadadeiras contribuam para ele
nadar, e não voar. Por conseguinte, o pingüim é um pássaro que tem maior grau de
similaridade com o pato, que também não voa, mas é tão ave quanto ele.
É nessa acepção, segundo Lepot-Froment (1999), que se de ve compreender as
propriedades de um conceito, ou seja, “ter asas” é uma propriedade do conceito de
125
pássaro: todavia, ele não se constrói por uma única propriedade, mas por várias que
englobam todas as aves, razão pela qual o conceito de pássaro abarca uma relação de
todas essas propriedades extensivas ao conceito de diferentes espécimes de pássaros.
Observa a autora ser necessário considerar o grau de relação entre as
propriedades de um conceito extensivas a várias espécies de seres ou objetos, pois a
relação entre mesa e cadeira é mais forte do que aquela existente entre mesa e
armário. Assim, para organizar um campo conceptual por meio do léxico é preciso ter
como critério o maior grau de adesão entre aquelas propriedades que facultam
identificar um dado campo conceitual. A autora também chama a atenção para
conceitos que se relacionam pela reciprocidade, ou seja, “manga” é uma designação
genérica que se remete ao campo conceptual “frutas”, de forma que quando se busca
organizar campo semântico de “manga”, para configurá-lo pelo campo semântico de
frutas, é preciso tomar manga como hiperônimo: designação genérica que abarca os
seguintes hipônimos – manga coquinho, manga rosa, manga espada, manga coraçãode-boi, manga Bourbon, entre outras, conforme já apontado, cada tipo de “manga”
designará um nó que por sua vez estará vinculado ao nó que tem por designação
“manga” e esta ao nó de frutas, conforme se aponta abaixo:
126
Esse processo de categorização e recategorização de caráter cultural,
responderá pela sua manutenção ou remoção do vocabulário do português brasileiro.
Observa-se o seguinte fato, quando se recorre:
a) ao tupi-guarani, em que o uso do vocábulo caá pyir, empregado pela tribo dos
tupinambás remete-se ao significado de “limpar o mato baixo”. Assim, caá significa
“mato” e pyir “varrer”. Já os guaranis expressavam essa mesma concepção pelo uso
do vocábulo caá pyir . Ressalta Ribeiro (2002) que, para preparar a terra para o cultivo,
os indígenas derrubavam as árvores com machados de pedra e faziam a coivara =
queimada.
Logo, a terra capinada era aquela invadida pelo mato após uma dada
colheita. Observa o autor que os homens indígenas preparavam o solo; todavia, eram
as mulheres que se ocupavam em preservar as sementes para cada nova plantação,
cabendo a elas o próprio plantio, bem como a colheita e o cozimento dos alimentos.
Segundo Vilas Boas (2000), tal fato se deve em razão de o mundo primitivo ser
estruturado pelos quatro elementos naturais: a água, o ar, a terra e o fogo. Se os
homens eram representantes da água e do ar, cabia a eles caçar e pescar; às
mulheres, em razão de ser elas aquelas que simbolizam a fertilidade, associavam-se à
terra e ao fogo, visto também em ser as responsáveis pela transformação e criação do
127
homem – cabia-lhes, portanto, plantar, colher e cozer. Assim, o mandubi ou membudi, o
aipim ou macaxeira, o jerimum ou jerimu, (pi’poc) pipoca ou poporoca – grão de milho
que explode, o fumo, etc.;
b) ao português provençal que desloca para o Brasil o vocabulário:
b1) “carpir”, do latim carpo = arrancar, desprender, repreender, atormentar;
b2) “carpir” do latim carpere = arrancar a erva que afogava o trigo no campo
para poder colhê-lo.
Nesse sentido, a base lexical dos dois termos latino-portugueses, “carpir”,
pela origem de carpo, categoriza a “carpideira” como mulher mercenária que tem a
função de prantear os mortos durante os funerais. A carpideira, por conseguinte, é paga
para arrancar do peito lamentos de modo a produzir lágrimas por um defunto que não é
um dos seus, de maneira a representar o lamento da perda. Sabe-se que o número de
carpideiras em um velório no século XVI, e subseqüentes, sinalizava a importância
social do morto. Tal costume povoa, ainda hoje, os sertões nordestinos, configurando o
campo discursivo da morte, avaliado como tempo de tormento que, uma intersecção
com o campo do capital material, fez-se profissão da qual sobrevivem as carpideiras:
na categoria de mulher.
O “carpir”, pela origem do carpere, assemelha -se ao caá pyr ou aicaápi e,
no campo discursivo da agricultura, categoriza o processo de preparar o solo para um
plantio – indígena - ou arrancar o mato que cobre a lavoura – portugueses. Assim,
“carpir” recobre, hoje, as duas dimensões significativas desse campo, de modo que,
para Beaurepaire-Rohan (1881), houve uma permuta entre os fonemas da língua tupi e
da portuguesa, seguindo de uma síncope e uma acomodação entre os três vocábulos.
Dessa acomodação, o verbo “carpir” passa a recobrir os dois sentidos: limpar o terreno,
arrancando o mato baixo.
128
3.3.2 A organização dos conhecimentos lexicais por redes
O modelo por redes tem caráter composicional e está fundamentado na
concepção segundo a qual um campo semântico se organiza por um conjunto
vocabular que compreende uma combinação de características ou traços invariantes.
Trabalhados pela semântica da língua, os campos semânticos não se confundem com
os campos discursivos, pois na língua o vocabulário não está apreendido como espaço
de interlocução, razão pela qual um campo semântico organizado em língua não
apresenta variação. Já no discurso haverá variação, visto que ao significado do
vocabulário em uso são indexados sentidos inerentes ao modelo de contexto
situacional e, conseqüentemente, mudança de categorização, implicando mudança de
campo conceptual: “O seringueiro caminhava pela manga da floresta” = caminho ou
ramal de uma estrada num seringal que tem o formato curvado, ou a expressão
“arregaçar as mangas” para fazer uma tarefa com empenho. Nesses casos, a relação
com o fruto da mangueira ou com a vestimenta é mais fraca, já que tais expressões ou
lexias foram criadas por analogia, implicando deslocamento entre conceitos de campos
diferentes.
A facilitação semântica de acesso a um conceito decorre do fato de ele em geral
abarcar diversos conceitos específicos, de modo que esse efeito facilitador depende da
subcategoria considerada: a aprendizagem do conceito de pássaro facilita o tratamento
daquele de pardal, muito mais facilmente do que o de avestruz. Do mesmo modo, o
conceito de roupa facilitará a aquisição daquele de blusa, por exemplo, e este, facilitará
a aquisição do de manga comprida, curta, japonesa, raglã, etc. Se pedirmos a grupos
de pessoas que citem exemplos de frutas constata-se que as espécies citadas são
bastante desiguais e mais desiguais, ainda, serão as respostas ao pedirmos que citem
tipos de mangas.
O uso de um conceito implica a sua ativação, de modo que quando a designação
ativa o nó mais genérico, ele se estende por proximidade com os nós específicos. Logo,
129
a ativação vai se estendendo por proximidade e, à medida que um atributo é
designado, o conhecimento desse atributo por outros ou em relação a outros, vai
levando a uma propagação dos significados. Definidos quanto sua extensão, os
conceitos são tão amplos quanto mais genéricos forem; definidos em torno de atributos,
ou seja, da sua compreensão, os conceitos são complexos quanto mais específicos
forem tais atributos. Todavia, eles formam uma malha de leitura e tornam possível o
reconhecimento dos objetos no mundo.
Nessa acepção, os conceitos se organizam por campos semânticos na memória
humana e tais campos têm por nó central um protótipo, ou seja, suas características
mais representativas, codificadas como categorias mais gerais. Por consegui nte, os
conceitos pertencem a campos semânticos não porque possuem todos os atributos do
conceito ordenador que define um dado campo, mas por apresentar atributos comuns a
outros elementos do campo e poucos atributos comuns com elementos de outros
campos.
É nesse sentido que os campos semânticos se organizam em torno de um
conceito prototípico, de modo que os processos de categorização não exigem que o
sujeito possua uma definição exaustiva de categorias mais gerais. Assim, o campo
semântico de ave está organizado em torno de um protótipo – pardal, rolinha, etc., de
modo que para construir o de avestruz não será necessário compará -lo àquele de
pássaro, mas sim, ao de pardal e de rolinha para decidir em que medida avestruz
possui qualidades similares as desses dois pássaros.
Dessa forma, afirma Trier (1934 apud Geckeler, 1984) que os campos
semânticos não são estruturas parciais de uma estrutura maior, mas lugares
estruturados somente no pensamento ainda não formalizado em língua. Para esse
autor, as palavras concebidas na sua individualidade determinam mutuamente os seus
significados pelo número e situações que ocupam na totalidade do campo. Desse
modo, a exaustividade da compreensão de uma palavra isolada, depende da presença
psíquica de todo o campo e da estruturação particular de seu conteúdo. Assim sendo, a
130
compreensão de uma palavra isolada implica a projeção do número de situações em
que ela funciona como signo lingüístico de um campo conceptual, pois é por meio de
relações de contrariedade, e não de contradição, que se organiza um campo
conceitual, visto que, se a palavra não participar de um campo conceitual, ela será
desprovida de sentidos.
Geckeler (1984) resgata os estudos de Trier (1934) e considera que o
vocabulário de uma língua é estruturado por relações hierárquicas, de modo a ser
concebido como um conjunto articulado em que cada elemento ou vocábulo está em
relação com a totalidade de um campo de conhecimento, mas não de maneira
imediata. Logo, existe um escalonamento para se considerar um vocabulário como
meio que faz referência a um campo de totalidade articulado conceptualmente. Para o
autor o campo é a divisão conceptual de uma determinada esfera do conhecimento, de
modo que a cada campo corresponde um conjunto do vocabulário.
Apresentam-se, abaixo, os campos semânticos do vocábulo “manga” — item
lexical selecionado para demonstrar a expansão da base do vocabulário da língua
portuguesa no século XVI — a partir de definições do Dicionário de Vocábulos
Brasileiros de Beaurepaire-Rohan (1881). Algumas extensões de sentidos foram
completadas por meio da leitura do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001).
Analisando-se as remissões que esse dicionário faz aos significados descritos como
sendo já do século XVI.
Relacionando por campo lexical:
1. campo da vestimenta: todos os tipos de mangas (vestidos, casacos, blusas,
camisas etc); fato histórico século XIII;
2. campo da espacialidade: pastos (1596), cercados, curral (forma afunilada);
RS fileira de pessoas postadas a pé ou a cavalo, que dirige o gado a uma
mangueira ou a outro lugar qualquer; ramal de estrada num seringal;
3. campo da Botânica: mangueira e seus frutos; fato histórico (1554);
131
4. campo da meteorologia: chuva -de-manga, chuva-de-vento, chuva torrencial,
chuva moderada, chuva de granizo, ou chuva de pedra, chuva congelante,
chuvas equinociais – estação das chuvas próximas do equador; chuvas
zenitais – nas regiões tropicais e subtropicais. Acrescenta-se, ainda: chuva
de poeira, chuva de meteoros, chuva ácida, chuva de lama, chuva artificial,
chuva glacial, chuva de cinzas vulcânicas, chuva de convenção, oriunda do
movimento ascendente das massas de ar; chuva de pedra -pomes, chuva
pirotécnica, entre outras.
5. expressões idiomáticas:
a) arregaçar as mangas - entregar-se inteiramente a um
trabalho, a uma tarefa; pôr-se a fazer algo com empenho
e resolutamente.
b) botar as mangas de fora; atrever-se; exceder-se; tomar
atitudes censuráveis. Aquele que parecia incapaz de
fazê-lo; pôr as mangas de fora; botar as manguinhas de
fora; dar mangas. Oferecer condições para ou permitir
que algo se realize.
132
A) Representação geral dos campos:
Expressões idiomáticas:
1) Arregaçar as mangas (século XVI).
2) Botar as mangas de fora (s/data).
B) Representação específica dos campos:
b1) campo da vestimenta
b1.1) representação por relações hierárquicas, segundo Trier (1934).
? Base lexical: manga
133
? Origem: século XIII
? tipo de designação:
a) metonímica (blusa, camisa, casaco, vestido, paletó).
b) designações específicas = parassinônimos = manga curta, manga comprida,
manga ¾, manga japonesa, manga com punho, manga sem punho, manga
raglã.
Hipônimos { com manga, sem manga, comprida, curta, ¾, raglã, japonesa}
Nesse caso, o senti do de “manga”, por um lado, é extensivo a todos os tipos de
hipônimos e, por outro, a compreensão de cada um deles é garantida pelo domínio
conceptual do hiperônimo.
b1.2) representação por redes:
Obs.: com manga, pois o “sem manga” = destituído de manga = nega a rede.
134
b2) campo da espacialidade = lugar ocupado
b2.1) representação por relações hierárquicas
? base lexical: manga
? deriva:mangueira.
? origem: s/data.
? parassinônimo: lugar ocupado por gado; proteger; lugar cercado; lugar para contar,
prender o gado; cercado, curral, mangueira.
? designação metonímica = parte ocupado de um espaço menor = fazenda de criação
de bovinos
135
b2.2) representação do campo por redes:
b2.2.1)
136
b2.2.2)
b3) campo das frutas
b3.1) representação por relações hierárquicas
? base lexical: manga
? deriva: mangueira; mangueiral.
? origem: malaio, 1554.
Tipo de designação:
? designação genérica = tipos de fruta, dentre várias.
? designação específica = processo de composição; manga coquinho, manga rosa,
manga espada, manga bourbon, manga manteiga.
137
b3.2) representação por rede:
138
b4) campo de clima = chuva
b4.1) representação do campo semântico de chuva, por um critério hierárquico para
situar as diferentes modalidades de chuva. Observa-se que “chuva-de-manga” é um
dos tipos de chuva.
? base lexical: manga
? tipos de ocorrência
Campo de clima = chuva: chuva-de-manga, chuva-de-vento, chuva torrencial, chuva
moderada, chuva de granizo, ou chuva de pedra, chuva congelante, chuvas equinociais
– estação das chuvas próximas do equador; chuvas zenitais – nas regiões tropicais e
subtropicais. Acrescenta-se, ainda: chuva de poeira, chuva de meteoros, chuva ácida,
chuva de lama, chuva artificial, chuva glacial, chuva de cinzas vulcânicas, chuva de
convenção, oriunda do movimento ascendente das massas de ar; chuva de pedrapomes, chuva pirotécnica, entre outras.
139
B4.2) representação do campo por rede
No fluxo desse procedimento analítico, a título de exemplo, cabe, ainda,
observar que o modelo de organização por relações hierárquicas, que facultou a
sistematização dos campos semânticos apresentados nos anexos, aponta que a
designação do tipo “fandango”, empregada para nomear a dança campestre em
Portugal, torna-se um hiperônimo, ao ser transposto para o Brasil. De origem
espanhola, a palavra sinaliza um tipo de dança em que o som produzido pela guitarra é
conjugado àquele produzido por castanholas e pelo sapateado que acompanham a
140
melodia do canto. Mas em Portugal, o som fica circunscrito apenas ao som da viola,
além de não se ter o centro e estar circunscrito apenas às comunidades rurais.
Na conjunção do som da viola e do movimento do corpo e dos pés para dançar
o fandango, e substituindo a batida das castanholas por aquele sapateado e das
palmas das mãos, próprias das danças ameríndias, surge a catira. Incorporando a
esse batuque movimentos rítmicos africanos, tem-se o cateretê. Se em vez, de o olhar
incidir sobre o som ritmado da viola e daquele produzido pelos pés e mãos, ele se fixar
sobre o modo como as pessoas, dos pares, bailam:
a) alternando a posição dos pares e girando em sentido horário = chico-puxado;
b) cantando e intensificando a batida dos pés = pega-fogo;
c) cantando e dançando em compasso binário = quero-mana;
d) variando a coreografia e/ou requebrando os quadris = “recortada” e/ou
“retorcida”; mas:
d1) “sarambá”, quando o requebrado é dos negros e se incorpora ao som da
viola o chocalho (de sarambaqué);
d2) “sarababulho”, no sul do país (fronteira com países rioplatenses, de
colonização espanhola) pelo uso de castanholas + palmas + sapateado.
e) revezamento na roda entre homens e mulheres, mas só os homens
sapateiam no centro do círculo, formadas pelas mulheres = anu.
f) homens e mulheres dançam em torno de um par de solistas que culmina sua
execução com uma umbigada – o fandango já dançado pelos negros – bambaquerê ou
bamba (no Rio Grande do Sul);
g) formado na roda e, ao dançar, aproximam os umbigos uns dos outros –
umbigada (dunga, punga, tungada - africanismos) etc.
Assim, no Brasil, a palavra “fandang o” vai se tornando um hiperônimo, ao
conjugar som e ritmo das danças ameríndias e africanas à portuguesa. Os outros
instrumentos musicais como o chocalho e o tambor. Mantém-se a roda formada pelos
pares, mas à coreografia portuguesa agregam-se os indígenas e africanos. Dessa feita,
já no século XVI, surgem novas designações para nomear essa variação: os
141
hipônimos, conforme apontado acima. Logo, essa variação de comportamento musical,
de ritmos, de sons aponta para relações entre homens diferentes que são capazes de
reunirem entre si aspectos de uma vida, cuja organização diferenciada resultará em
novos/outros momentos constituídos a partir das matrizes com que representam o
modo de proceder no mundo da dança e da música.
3.4 O funcionamento sígnico e simbólico no século XVI
Turazza (2005) considera ser necessário observar que a língua se qualifica por
um funcionamento sígnico e outro simbólico. No primeiro, as unidades lexicais de que
fez uso o produtor de discursos é selecionado para funcionar de modo a fazerem
remissões a campos semânticos de discursos institucionalizados. Desse modo, no
século XVI, o vocábulo “cavalhada” já era empregado para remeter-se a qualquer
“porção ou conjunto de cavalos”; quando tal conjunto era formado por porção de éguas,
usava-se “eguada”; se de mulas, “mulada”. Já o funcionamento simbólico, segundo a
autora, não se define apenas por predicações lingüísticas, visto que eles arrastam
consigo sentidos historiográficos que incorporam outros de caráter cultural; por
exemplo, o vocábulo “cavalhadas”.
O morfema “s” não equivale ao plural de cavalhada, pois se trata de um outro
vocábulo que fez referência a torneios praticados como exercício militar por nobres e
guerreiros que, no período entre guerras, dedicavam-se à prática da galanteria. Na
Idade Média, esse vocábulo designava uma empresa arriscada, um feito heróico
qualificado pela proeza de um herói, ou seja, suas façanhas. Em Portugal, o termo
passa a designar festas cívico-religiosas da qual participam cavaleiros para representar
episódios que tematizavam a reconquista do território cristão, controlado pelos árabes
de religião mulçumana, ou seja, a vitória do Cristianismo.
142
O termo, deslocado para o Brasil, passa a designar um tipo de folguedo que se
estende por três dias para relembrar as “cavalhadas” medievais. A perda dos sentidos
da “Reconquista” se estende ao longo dos séculos, de modo que os cavaleiros
brasileiros que participam, ainda hoje, desse tipo de “folguedo” exibem trajes coloridos
e reproduzem, por meio da dança movimentos semelhantes às lutas entre cavalheiros
dos torneios medievais. Esses movimentos se organizam na seqüência que se qualifica
pela galhardia da conquista da mulher amada.
É nessa acepção que Turazza (2005) considera o fato de o léxico estar mui to
mais circunscrito a um funcionamento sígnico nos discursos de especificidades; já nos
discursos da literatura predomina o funcionamento simbólico. Por conseguinte, esses
tipos de funcionamentos das unidades lingüísticas não são opositivos; mas, numa
gradação, são complementares, o que possibilita considerar que o grau de
funcionamento simbólico nos discursos de especificidades são menos usuais. Afirma a
autora que as palavras jamais são vazias para um texto, pois elas arrastam consigo os
seus significados institucionalizados sejam eles de caráter sígnico ou simbólico.
No exemplo tratado acima, observa-se que a perda, manutenção e mudança do
significado estruturam a base do vocábulo “cavalhadas”. A perda decorre da construção
de um outro episódio da história portuguesa no novo território, ou seja, de memória
histórica, pois a guerra da Reconquista habitava a memória do colono português do
século XVI, mas não a memória do indígena. Assim, a reconquista vai se
consubstanciando com a conquista da mulher, razão pela qual, os sentidos
sedimentados são os da galhardia da Idade Média: luta entre cavalheiros, agora sob a
forma de encenação por meio da dança: uma dança de conquista não de território, mas
da mulher. É nesse sentido que o léxico não é estável, mas te m estabilidade nas
mudanças. Para Turazza (2005) nele se depositam conceitos de modo, arquivados na
memória social de longo prazo. O resgate desse depósito de conhecimentos implica
assumir uma posição historiográfica, como se busca registrar nessa Dissertação.
143
Faz-se necessário ressaltar que, para Guiraud (1983), o funcionamento sígnico se
qualifica pelo uso convencional, arbitrário, objetivo, racional e social, do signo não
motivado; já o funcionamento simbólico se tipificaria pelo uso do signo motivado,
analógico, subjetivo, afetivo do vocabulário de língua. O simbólico, ao contrário do
signo, não pode ser definido, assim como não se define “consciência”.
(...) nós próprios podemos saber que é a consciência, mas não podemos, sem
confusões, comunicam aos outros uma definição do que em nós mesmos
apreendemos claramente (...)>> << O que nós somos cada vez menos quando
gradualmente mergulhamos num sono pesado ... o que somos cada vez mais
quando o ruído nos acorda aos poucos, é o que se chama consciência>>.
(GUIRAUD, 1983, p. 20).
Observa-se que o símbolo está fundado sobre uma relação convencional inscrita
nas matrizes das histórias vividas, das quais se tem consciência quando se busca
resgatar seus sentidos, de modo a defini -los pela enciclopédia e não pelo dicionário. A
incorporação do conhecimento dessas histórias cria uma relação natural entre do o
significante e o significado, por meio da analogia e não da definição:
A analogia (...) possui graus; ela é mais ou menos – sólida ou imediatamente
evidente. Sob a sua forma mais completa, a analogia é uma representação: a
fotografia, o retrato, a representação dramática (...) o valor econômico da
representação toma em geral na forma mais esquemática ou mesmo abstrata
um plano, um mapa, um guia de estudos. (GUIRAUD, 1983, p.40).
Por conseguinte, o colono português do século XVI trazia em sua memória o
mapa do território reconquistado, mas esse mapa não coincidia com aquele do novo
território que agora habitava. O drama era outro, a guerra não era com os mouros e o
entre guerras exigia outros movimentos, outras danças e entre mouros e índios, as
cavalhadas passam a ter outro ritmo, outros sentidos, mas são dançadas em território
do Brasil.
144
3.5 Considerações finais
As análises realizadas apontam que o léxico do português provençal arcaico,
embora tenha seus registros nas matrizes de uma memória sociocultural construída no
longo do tempo da história desse povo, transforma-se, ao ser deslocado para terras do
Brasil, em decorrência da necessidade de se designar outras/novas referências que,
necessariamente, implicam a construção de outros campos semânticos e discursivos.
Assim, até o século XVI, o vocábulo “manga” não se integra ao campo discursivo
dos conhecimentos botânicos designados pelo português provençal, na medida em que
ele desconhecia esse tipo de fruta comestível. Mas tal conhecimento não só estendeu o
campo semântico da alimentação desse povo-colono, como também passa a ser
incorporado às suas práticas discursivas cotidianas e, conforme apontado nos
apêndices, passam a incorporar um vasto vocabulário uma vez que o número de frutas
se faz bastante significativo.
Desse modo, as designações hiperonímicas desse campo, ou de outros, (ver
danças e bailes, por exemplo) exigem a construção de novos vocábulos para se poder
falar de modo compreensivo sobre as novas formas ou modalidades de alimentação.
Se, a princípio, essas designações são indígenas, posteriormente, a elas são
acrescidas aquelas de origem africana.
Essa incorporação implicando a extensividade dos campos semânticos e,
conseqüentemente, discursivos apontam não só para o aportuguesamento desses
vocábulos estrangeiros, mas também para o desdobramento de formas vocabulares
materializados: a) por uma única palavra manga = parte do vestuário, fruta, curral,
mangueira, pasto; b) pela transmudação de formas vocabulares simples em compostas
para designar um tipo de chuva, por exemplo, em que o segundo elemento da
composição tem caráter classificatório e faz remissão não só à “água que cai do céu”,
como também a outros elementos que despencam sobre a terra: mangas, por exemplo.
Há de ressaltar que, nem sempre, a designação recorta o que “cai do céu”, mas
145
também o que “cai do alto” como é o caso de “chuva vulcânica” — aquela expelida por
um vulcão — e “chuva de lama” — aquela que transforma o solo em lama em razão de
sua longa duração.
Trata -se de outros olhares, de outras redes de significações; contudo, o que não
se pode negar é o fato de o “velho vocabulário arcaico-provençal” entrar em novas
composições de que resultam novas designações que, segundo Turazza (2002),
formam lexias compostas: manga-rosa, manteiga, Bourbon, espada... São construções
que têm a analogia do suporte para a produção de novo/outro vocabulário.
Por conseguinte, o mapa lexical dos arquivos da velha memória é redesenhado
de modo a construir a memória de um outro território. Nesse redesenho, a língua
portuguesa colonial ganha flexibilidade e, conforme demonstrado, o morfema de plural
“-s” perde, por vezes, esse seu caráter gramatical para fazer remissão a um campo de
significâncias vividas (ver cavalhadas), de sorte a rememorar pelo folguedo lembranças
do que está para além do Atlântico: aquelas do mar salgado. Contudo, essa carga
simbólica das reminiscências da memória de longo prazo são pode ser recuperada por
investigações de caráter historiográfico.
146
CONCLUSÃO
Ao final desta Dissertação, faz-se uso da habilidade de síntese para discutir os
resultados obtidos por esta investigação desencadeada pelo propósito de compreender
como se deu a constituição do vocabulário da comunidade lingüística brasileira, bem
como a criação de seu idioma, cujas bases estão ancoradas no sistema lingüístico do
português.
Adotou-se, para tanto, a distinção proposta por Elia (1987) para quem é preciso
diferenciar a concepção de língua histórica daquela proposta por Ferdinand Saussure
como estrutura focalizada por um ponto de vista sincrônico e, portanto, atemporal e ahistórico. Nesse sentido, pôde se estabelecer uma distinção entre língua e idioma, qual
seja: as estruturas são projeções de sistemas imanentes, explicitados por elementos e
regras combinatórias finitas que facultam infinitos usos. Por conseguinte, o sistema
lingüístico do português é uma estrutura que subjaz a todos os seus possíveis usos
existentes em todas as comunidades que dele fazem uso. Esse sistema formal de
relações opositivas é configurado por falares psico-sociolingüísticos e sócio-históricosculturais próprios de cada comunidade de usuários, de sorte a se apresentarem por
diferentes modelos arquitetônicos, ou seja, fazem uso de uma mesma estrutura para
organizar novos espaços de representação de velhos conhecimentos de mundo,
criando modelos que são dissociados dos velhos, mas que os recontextualizam. Assim
sendo, cada idioma se apresenta como um modelo arquitetônico de uma mesma
estrutura lingüística. (cf. Introdução, p. 12).
Tal procedimento possibilitou conceber o idioma não só como língua de uma
nação ou povo, mas também como uma construção arquitetônica que , edificada no
fluxo de uma história de longo tempo, vai facultando a construção da sua própria
identidade. Observa-se que a identidade está concebida como o que é semelhante,
mas não igual e que ela – a semelhança – se inscreve em diferenças. Logo, o
português brasileiro é semelhante àquele de Portugal – tem a mesma estrutura – mas a
147
sua singularidade se explica pela pluralidade de arquiteturas que qualificam seus usos
idiomáticos por diferentes povos, habitantes de diferentes territórios, hoje, convertidos
em nação que buscou assegurar a consciência da diferença do modelo arquitetônico
de uma mesma estrutura ao eleger uma norma escrita como língua oficial e a torná-la
padrão de prestígio. Ressalta -se que essa diferença decorre do processo de
idiomatização, cuja construção só se explica por um tempo histórico de convívio entre
línguas diferentes.
Postulou-se que a idiomatização do português brasileiro se inscreve no léxico e
data do século XVI: quando o português arcaico-provençal entra em contato com as
línguas indígenas e africanas e o território americano se faz bilíngüe. Nesse contexto, o
idioma brasileiro se explica como produto de contato entre tais línguas, da mesma
forma que o português arcaico-provençal é produto de contato entre línguas e povos
ibéricos, celtas, latinos, árabes, germanos... (cf. Capítulo 2).
Na conjunção de outras histórias, outros modelos de formações socioculturais,
outras psicologias emerge a necessidade de reconstruir velhos modelos de
representação de conhecimentos de mundo, para assegurar a interação entre homens
diferentes que precisavam se igualar para se compreenderem e sobreviverem numa
mesma terra por eles partilhada. (cf. Capítulo 1).
Nesse contexto, retoma-se o objetivo geral — conhecer o processo de
idiomatização da língua portuguesa, por meio da explicitação das permanências e dos
deslocamentos de seus modelos de estruturação e organização — para compreender
como o português arcaico-provençal, transplantado para a América Portuguesa, foi
reinterpretado ou reconstruído para se adaptar a novos/outros povos habitantes desse
território, de sorte a se constituir em um outro idioma, cuja semelhança se inscreve nas
diferenças entre a cultura indígena e a africana.
148
A construção desse caminho implicou a produção de inúmeras informações
de caráter teórico e historiográfico que, se por um lado, possibilitaram ao pesquisador
compreender a extensão do problema que investigava — a constituição do sistema
lexical do português no Brasil — por outro lado, exigiram dele empenho para
estabelecer objetivos específicos que pudessem se remeter ao geral, apontando se
poderia ou não tomá-lo como realizado. Nesse sentido, optou-se por considerar esse
conjunto de informações por duas focalizações: uma primeira que configurasse o
caráter histori ográfico da constituição do idioma na terra dos papagaios. Uma segunda
focalização referente aos quadros dos estudos lingüísticos que privilegiam o léxico
como instância capaz de apontar semelhanças nas diferenças entre modelos de
organização e representação de conhecimentos de mundo formalizados por um mesmo
sistema lingüístico. Traçaram-se, assim, os objetivos que orientaram a produção
textual-discursiva impressa nos capítulos 1 e 2, visando delinear procedimentos
capazes facultar uma análise do vocabulário que constituiu o léxico do século XVI em
Terras do Brasil.
O objetivo proposto para o desenvolvimento do tema do capítulo 1 configurou-se
pela necessidade de “compreender as matrizes histórico-sociais fundadoras de um
novo território que, habitado pelo português a partir do século XVI, se faz espaço de
ocupação no qual são negociadas suas diferenças e semelhanças, implicando o uso de
estratégias, de onde emergirão novos matizes culturais, registrados nos significados de
base do vocabulário do Português Brasileiro”. Isto posto, tomou-se como ponto de
partida a elaboração do projeto de expansão do recente reino português de autoria do
conde D. Henrique, no século XI, planificado por seus predecessores, do qual resultou
as construção do Império Mercantil Salvacionista, sistematizado no século XVI.
Apontaram-se as estratégias empregadas pelo Infante D. Henrique para mudar o
modelo de representação dos conhecimentos que navegantes portugueses tinham do
“mar salgado”, fundados em crenças de que se originavam várias lendas. Tais lendas
não só povoavam o imaginário do novo reino, mas também impediam que os
149
navegantes se lançassem ao mar para descobrir outros espaços reais, situados além
da linha do horizonte das águas salgadas. Esse abismo povoado por monstros
marinhos fazia do Atlântico um mar Tenebroso.
A criação da Escola de Sagres, de que resultou o aprimoramento da cartografia,
da bússola e das próprias embarcações, viria a garantir a extensão da navegação
costeira do continente africano e, por ela, assegura va-se o domínio desse outro
território e dos povos que nele habitavam. São esses mesmos conhecimentos que vão
dar garantias aos navegantes ibéricos para transporem o Cabo das Tormentas, ao Sul
do
Continente Africano. Essa transposição implicou o reconhecimento de uma
geografia marítima formada por picos de montanhas que as águas do Pacífico
encobriam quando era tempo de maré alta. Nesse tempo, o encontro entre as águas do
Pacífico e do Atlântico – dois oceanos com diferentes correntes marítimas, com
temperaturas diferentes, velocidade diferente dos ventos – quebrava, nas pedras
costeiras, e naufragava as embarcações. Assim, na maré baixa, foi possível desviar as
embarcações dos picos dessas montanhas e fazer a travessia entre as águas do
Atlântico e do Pacífico. E o Cabo das Tomentas se fez o “Cabo da Boa Esperança”, do
mesmo modo que o mar Tenebroso vai se fazendo Salgado, tal qual as lágrimas das
famílias que perdiam pais e filhos.
É nesse mesmo contexto de descobertas de novos conhecimentos que o mar
Tenebroso se torna o Atlântico, quando navegantes vão transpondo as linhas do
horizonte e comprovam a não existência de abismos para além de suas costas, pois o
que havia eram ilhas – Cabo Verde, Açores, madeira – e terras como as do Brasil. E,
assim o conhecimento transforma o imaginário lendário em imaginário aventureiro:
sabedoria de um rei que, cavaleiro da Ordem dos Templários, acreditou que a
produção de novos conhecimentos destrói mitos fundadores de falsas crenças.
Descobriu-se que a mudança de nomes atribuídos às “coisas no mundo” implica
a aquisição de novos conhecimentos que alteram o ponto de vista humano. Também
150
se compreendeu que uma língua não morre, a não ser quando aqueles que a usam
desaparecem da face da terra, como foi/é o caso de várias tribos indígenas que
habitavam/habitam o Continente Americano. Nesse sentido, o colono português trouxe
consigo, para a terra dos papagaios, a sua língua que, aqui, foi submetida a outros
processos de gramaticalização e de lexicalização.
Observou-se que, para domesticar as novas descobertas, se fazia necessário
escolher matrizes da cultura já implantada em solo americano para suprir aquelas que
a cultura portuguesa trazia consigo. Assim, dormir em redes, caçar animais
desconhecidos, aprender a comer suas carnes, pescar peixes de outros rios, colher
frutos desconhecidos para saciar a fome, transpor a floresta desconhecida e construir
nela caminhos, foi um aprendizado que exigiu interação com o indígena. Dessa
interação, o colono português se aculturou na mesma proporção em que o indígena foi
aculturado. Para tanto incorporou termos indígenas e africanos, aportuguesou-os e
ocupou o território fazendo uso de reais estratégias e, assim procedendo, fez do índio
escravo e artesão e de si mesmo proprietário de terras.
O capítulo 1 apontou que a força agregadora da colonização não está na língua
portuguesa, pois o território era bilíngüe, o que contribuía para impedir a desagregação
entre aqueles humanos. Por conseguinte, a agregação estava nas estratégias
encontradas para sobreviver e se imporem em terras descobertas, para fazer uso dos
conhecimentos indígenas que eram negociados por meio de mercadorias: facas,
machados de ferro, miçangas, espelhos... Contudo, no fluxo dessas negociações,
emergia uma modalidade de língua de contato, rude e incompreensível para os
portugueses que aqui chegavam, como demonstrado no capítulo 2, por documentos
históricos de Nóbrega.
O objetivo do capítulo 2 — “diferenciar sistema lingüístico de idioma, com vistas a
verificar o processo de idiomatização da língua portuguesa em terras do Brasil, bem
como compreender o movimento circunscrito entre as línguas nativas e da metrópole,
151
cujo marco é o século XVI” — foi configurado pela necessidade de se explicitar a força
agregadora que assegurou uma ocupação realizada às custas da língua indígena.
Assim, buscou-se resgatar a formação do português arcaico-provençal, o processo da
sua formação, mais especificamente, aquela referente ao seu vocabulário.
Descobriu-se que esse idioma: a) é produto de línguas e povos em contato que
habitaram, ocuparam ou deixaram resquícios culturais quando passaram pela
Península Ibérica; b) teve sua matriz latina enriquecida por vários adstratos e
substratos, tal qual se daria com o idioma brasileiro; c) no tempo da descoberta, já
dispunha de literatura e já fora oficializado como língua no reino português para
garantir a sua unidade e diferenciá-lo do reino de Castela.
Nesse contexto de formação e oficialização, em terras do Brasil, fazia-se
necessário construir uma unidade lingüística para superar a diversidade das línguas
indígenas e de suas respectivas variações. Esse trabalho foi desenvolvido pelos
jesuítas que, no século XVI, perceberam a necessidade de compreender a língua dos
indígenas habitantes da costa do Atlântico brasileiro, já alteradas pelo contato com os
portugueses, antes de impor a língua portuguesa como modelo de representação e de
comunicação. Dedica-se a esse trabalho de compilação e descrição José de Anchieta e
dele resulta a produção de uma gramática e de um dicionário: duas tecnologias que
têm da função de sistematizar os meios capazes de assegurar a aprendizagem de uma
língua.
Delimitado ao estudo do dicionário anchietano, o capítulo 2 apontou que essa
obra anchietana foi organizada pelo critério da equivalência: fazer equivaler frases do
português a palavras ou expressões nominais indígenas. Ressalta-se que, quando o
vocábulo indígena designava espécies da flora ou da fauna totalmente desconhecidas
dos portugueses, Anchieta opta por procedimentos descritivos de modo a mesclar o
modela descritivo de equivalência com o do saber enciclopédico (cf.p. 81-83).
152
Elaborado para a aprendizagem da língua indígena pelos missionários que aqui
chegavam, para convertê-los à fé cristã, esse dicionário traz come ntários gramaticais
ou lingüísticos sobre a estrutura e uso da língua “mais falada na costa brasileira”.
Observa-se que os comentários lingüístico-gramaticais asseguram compreender o
vocalismo, o consonantismo, a nasalização e a morfologia e sintaxe dos no mes e dos
verbos dessa modalidade da língua indígena. (cf. p. 85-93).
Compreendeu-se que os jesuítas também se ocuparam com a produção de
material didático — cartilhas, textos para serem representados, registros de músicas e
jogos infantis — para poderem socializar a doutrina cristã e ensinar a língua portuguesa
aos indígenas, ao mesmo tempo em que aprendiam as faladas por eles. Esse material
didático asseguraria o ensino do português e da doutrina cristã nas escolas de ler e
escrever por um procedimento d idático intercultural.
O objetivo proposto para o desenvolvimento do capítulo 3 – “verificar a
organização dos conhecimentos de mundo por campos semânticos e, assim, precisar
as diferenças, inscritas nas designações, entre o uso da língua portuguesa na colônia e
na metrópole” – configurou-se pela necessidade de compreender, por meio de
procedimentos analíticos, mudanças e transformações no vocabulário da língua
portuguesa para designar outras/novas referências. Essas transformações, conforme
demonstram as análises realizadas, decorreram da criação de um outro, novo sistema
de relação por meio das quais aspectos da vida sócio-cultural dos indígenas e dos
africanos foram se mesclando àquelas que o colono português trouxera consigo.
Refletido no léxico, esse processo de mesclamento implicou a extensionalidade de
redes semânticas do português-provençal, conseqüentemente, de novas designações,
ampliando o campo conceptual das categorias “frutos”, “árvores”, “arbustos” e
“animais”, bem como a reconfiguração do campo da música”, no baile ou de danças e
da alimentação, entre outros. Assim, de acordo com o apresentado (cf. p. 139-141), o
vocábulo “fandango”, que designava tipo de dança campestre portuguesa, é deslocado
da sua condição de hipônimo e se torna um hiperônimo, em terras do Brasil. As
153
designações hiponímicas de “fandango” deslocam-se do vocabulário tupi ou africano e
são aportuguesados, de modo a serem reconfigurados pelo sistema morfológico do
português: catira, cateretê, puracê, punga, anu, bambaquerê, bamba, umbigada, tunga.
No caso de “meia-canha”, “chamarrita”, por exemplo, o fandango do Rio Grande do Sul,
o aportuguesamento é da língua espanhola, por ser região de fronteira.
No caso de anu, por exemplo, esse vocábulo também se torna designativo de
um tipo de pássaro, designado por anu-guassú em língua tupi, cujas penas são negras
ou brancas. O fato de predominarem aqueles que tinham penas pretas fez com que se
nomeie apenas “anu branco” para marcar a diferença com o de penas pretas chamado
apenas de “anu”.
Os frutos desconhecidos têm como base designativa, as palavras do tupi,
submetidos às regras da morfologia do sistema lingüístico do português no campo da
alimentação, quer sólida ou bebível, como manipuera , paiauarí, tarubá, tiquira, garapa
(indígenas) ou aluá, quimbebé (africana). Observa-se que, no caso de aluá, esse
vocábulo também designa o doce feito de leite, açúcar e amêndoas pisadas, ao qual se
acrescenta manteiga. Mas a amêndoa é substituída pelo coco, castanha-de-cajú ou
gergelim, no Brasil. Para alguns lexicógrafos a origem do termo não é africana, mas
hindu, para outros ele é vocábulo de origem chinesa, para outros, do árabe. Todavia,
no caso de alimentos sólidos, como acarajé, abará, bobó, já empregados no século
XVI, são africanos.
Nesses casos, tem-se a extensão dos campos semânticos de alimentação,
subdivididos em alimentos sólidos e líquidos, ampliando a tipologia do português
provençal. O mesmo ocorre com os tubérculos, com os grãos (jeruva – tipo de feijão),
de modo que, ainda hoje, se usa em regiões brasileiras o termo tupi jerimum para
designar “abóbora” (provençal), o que comprova a coexistência de nomes para
designar um mesmo produto; contudo, para alguns lexicógrafos o jerimum é a abóboramoranga e não qualquer abóbora.
154
No caso de “manga”, o termo e o fruto são de origem malaia, mas introduzida no
Brasil, aqui se descobriram outras espécies e a elas a importação de mudas foi
acrescentando outras, de forma a se dar a extensão da sua tipologia. Essa tipologia,
deslocada para o campo meteorológico passou a designar um tipo de chuva: a de
manga. (cf. p. 138-139).
Em síntese, os campos lexicais do português provençal ganham uma
extensionalidade bastante significativa, já no século XVI, a ele incorporando
designações cuja matriz é a do vocabulário tupi. As matrizes do vocabulário das
línguas africanas parecem se fazer mais extensivas com a sistematização da
escravidão e da mão-de-obra escrava, mais acentuada nos séculos subseqüentes ao
estudado. Ainda que o território fosse bilíngüe, a necessidade de conhecê-lo e designar
alimentos,
bebidas,
sementes,
instrumentos
agrícolas,
necessários
para
a
sobrevivência e o cultivo da terra, garantia certo grau de comunicação entre brancos e
índios. À semelhança das crianças que aprendem a se comunicar por palavras – fase
holofrástica – esse vocabulário assegurava certo grau de interação. Nesse sentido, o
aportuguesamento das formas vocabulares indígenas e não a tupinização ou
guaranização do vocabulário português parece apontar não a supremacia do branco
sobre o indígena, mas a necessidade de o português se garantir e se sustentar para
sobrevier em território desconhecido, num primeiro momento. Por conseguinte, dessa
transformação decorre a ressignificação do vocabulário do português provençal
“fandango” e, ao mesmo tempo, a sua extensionalidade e reclassificação de velhos
conhecimentos pelos novos, por exemplo. Esse movimento de reclassificação tem por
ancoragem o vocabulário do tupi; contudo, as categorias mais genéricas são aquelas
da língua portuguesa.
A leximização – reconhecimento de novos conceitos pelas matrizes dos velhos –
e a lexicalização — seleção e uso das formas vocabulares do português provençal,
para inserir a cultura, conhecimentos dominados pelos indígenas, nas matrizes do
sistema lexical do português — tornam a língua tupi-guarani substrato do português.
Tais movimentos transformadores configuram a idiomatização do português-brasileiro,
155
já no século XVI. A idiomatização, nesse caso, antes de se tornar extensiva às
regularidades da gramática do português, na dimensão da sua sintaxe, inscreve -se no
léxico, formalizado pela morfologia e é uma das forças agregadora de línguas em
contato, de que resultam línguas de contato. As línguas de contato são idiomatizações,
novas arquiteturas de sistemas genéricos destituídos de história, de cultura e dos
marcos de uma sociologia em que os homens estão uns com os outros, buscando se
compreenderem.
As análises apontaram que, embora o léxico do português arcaico-provençal
tivesse seus registros na memória de longo prazo, ao ser transplantado para o Brasil,
ele foi adaptado e expandido, conforme foi demonstrado, conforme foi demonstrado
pela teoria dos campos. Os resultados obtidos apontam que os vários campos de
designação lexical estão em intersecção, ou seja, eles são comuns em algum aspecto
e se diferem em outros, segundo as especificações de cada um. Os campos em
comum são frutos da adaptação dos colonizadores ao novo mundo e das designações
já cristalizadas de cada vocábulo enriquecidas por meio de procedimentos
metonímicos, metafóricos, onomatopaicos, entre outros, seguindo um padrão por
analogia de acordo com o contexto situacional.
Por conseguinte, tem-se que o português arcaico-provençal, implantado em
território brasileiro, idiomatiza-se e, nesse processo de longa duração, faz-se língua
oficial de uma colônia transmudada em Estado Nacional no século XIX. Se se pode
dizer que as línguas morrem, apenas quando aqueles que as falam desaparecem —
como foi o caso de várias tribos indígenas que habitaram o território brasileiro — podese dizer também que elas se gramaticalizam e se lexicalizam no fluxo do tempo de uso
para funcionarem como meio de representação e de comunicação entre os homens.
Logo, não é possível afirmar que existam rupturas entre o português brasileiro e
aquele que era falado em Portugal, antes e depois do descobrimento da América
Portuguesa; contudo, a idomatização ou dialetação traça diferenças que, se no âmbito
gramatical, são pouco significativas e não permitem considerar a existência de línguas
156
diferentes; no âmbito lexical esse processo de idiomatização, implicando a construção
de pontos de vista diferenciados pelos quais os conhecimentos de mundo são
organizados, estruturados e formalizados por categorias de línguas, vai diferenciando
vários idiomas e um mesmo sistema lingüístico, como é o caso da língua portuguesa.
Sua riqueza explicita-se pela sua genealogia, cujo marco é o latim de que o português
herdou a riqueza das flexões; mas a essa riqueza acrescentam-se aquelas resultantes
dos contatos entre os povos distintos e diferentes, inscritas no seu léxico que estrutura
a base do sistema vocabular do português.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, J. R. Pires de. (2000). Instrução Pública no Brasil (1500-1889) História e
Legislação. São Paulo. Educ da Puc -São Paulo.
ALVES, Ieda M. (1994). Neologismo. 2 ed São Paulo. Ática. São Paulo.
ALVES DOS SANTOS, Pe. Pedro. P. (2005) O Galo já Cantou. São Paulo. Abril
Cultural. Revista Bons Fluídos nº. 68 de janeiro/2005. Texto de Wilso n F. D. Weigl.
AMARAL AZEVEDO, A. C. do, (1999). Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos
Históricos. Rio de Janeiro. Nova Fronteira
157
AURÉLIO, F. de Holanda. (1975). Novo Dicionário Aurélio. 14ª impressão. Rio de
Janeiro. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.
AZEVEDO, Fernando de. (1963). A Cultura Brasileira. 4 ed Distrito Federal:
Universidade de Brasília.
BASÍLIO, Margarida. (2000). Teoria Lexical. 7 ed São Paulo. Ática.
BASSETO, Bruno Fregni, (2000). Elementos da Filologia Românica. São Paulo. Edusp:
Universidade de São Paulo.
BASTOS, Neusa, B. e Palma, Dieli V. (org.) (2004). História entrelaçada: A construção
de gramáticas e o ensino de língua portuguesa do século XVI ao XIX. Rio de Janeiro.
IP-PUC/SP – Lucerna.
BATISTA, R. De Oliveira. (2002). “Das letras que se verão nesta língua e das que
faltam”. Descrição das unidades sonoras em artes de gramática jesuíticas. In:
FRANÇA, Ângela (org.) 2002. Afinal, já sabemos para que serve a Lingüística?
Departamento de Lingüística – Faculdade de Filosofia, letras e Ciências Humanas. IV
ENAPOL. P. 87 – 99.
BATISTA, R. De Oliveira. (2001). A nossa língua e outras: o tratamento da diversidade
lingüística em Fernão de Oliveira. In IMAGUIRE, Lígia M. C. (org.) As Línguas do
Brasil – tipos, variedades regionais e modalidades discursivas. FFLCH – Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ENAPOL III Encontro dos alunos de Pósgraduação em Semiótica e Lingüística Geral. São Paulo. P. 53 – 62.
BEAUREPAIRE-ROHAN. (1881). Dicionário de Vocábulos Brasileiros. Rio de Janeiro.
Imprensa Nacional. (Fac-Simile da 1ª edição) 1889. 2 ed (1956) Salvador.
BECHARA, Evanildo. (2000). Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed Rio de Janeiro.
Lucerna. Edição Revista e ampliada.
BIZZOCCHI, Aldo. (1998). Léxico e Ideologia na Europa Ocidental. São Paulo.
Annablume .
158
BONFANTE, Larissa, (1996). Lendo o Passado. São Paulo. Cia Melhoramentos de São
Paulo e Edusp. P. 393 – 466.
BORBA, F. da S. (2003). Organização de dicionários. Uma introdução à Lexicografia.
São Paulo. Unesp.
BORIS, Fausto. (2003). História do Brasil. 11 ed São Paulo. Edusp.
BOSI, Alfredo. (2002). Dialética da colonização. São Paulo Companhia das letras.
BUENO, Eduardo, (1998). A Viagem do Descobrimento. Rio de Janeiro. Objetiva Ltda.
Volume I e II.
BUESCU, Ma. Leonor Carvalhão. (1983).
Portugal. Livraria Sá da Costa.
Historiografia da Língua Portuguesa.
CADORE, L. Agostinho. (1998). Curso Prático de Português. 7 ed São Paulo. Ática.
CALDAS AULETE, F. J. (1948). Dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa. 3 ed
Lisboa: Sociedade Industrial de Tipografia Ltda.
CALVET, Louis-Jean. 2002. Sociolingüística – Uma Introdução Crítica. São Paulo.
Parábola.
CÂMARA JR. J. Mattoso. (2002). Dicionário de Lingüística e Gramática. 23 ed Rio de
Janeiro. Vozes.
______. (1975). História e Estrutura da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro. Padrão.
CARLOTA ROSA, Mª. (2003). A Língua mais Geral do Brasil nos séculos XVI e XVII. In:
Línguas Gerais – Política Lingüística e Catequese na América do Sul no Período
Colonial. Bessa Freire, J. Ribamar. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
CARNEIRO, Agostinho Dias (Org). (1996). O Discurso da Mídia. Rio de Janeiro. Oficina
do Autor.
159
CASAGRANDE, Nancy dos S. (2001). A Implantação da Língua Portuguesa no Brasil
do Século XVI: Um Percurso Historiográfico. Tese de Doutorado em Língua Portuguesa
– PUC- São Paulo.
CASCUDO, Luís da Câmara.. (2004). História da Alimentação no Brasil. São Paulo.
Global.
______. (2001). Dicionário do Folclore Brasileiro. 3 ed São Paulo. Global.
CAPISTRANO, de Abreu. Capítulos de História Colonial. Itatiaia Ltda. Uma Coleção
Folha de são Paulo – Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro.
CASTRO, Eugenio. (1941). Ensaios de Geographia Lingüística. 2 ed aumentada. São
Paulo. Cia Editora Nacional.
CELSO CUNHA, Ferreira da. (1964). Uma Política do idioma. Rio de Janeiro. Livraria
São José.
CHAVES, Nelson. (1969). Trópico e Nutrição. Recife. Universidade de Pernambuco.
CIVITA, Victor (editor). (1973). Dicionário de Mitologia Greco-Romana. São Paulo. Abril
Cultural.
COSERIU, E. (1979). Teoria da Linguagem e Lingüística Geral. Trad. Agostinho Dias
Carneiro. Rio de Janeiro. Presença/USP.
CÔRREA, Pires, Leda. (2004) – Léxico Discurso e Identidade cultural: das Margens ao
Interior do Brasil (EIRO). Tese de Doutorado em Língua Portuguesa – PUC-São Paulo.
COUTINHO, Israel de Lima, (1976).Gramática Histórica. Rio de Janeiro. Ao Livro
Técnico.
COUTO, Hildo H. (2003). Portugueses e Tupinambás em Porto Seguro, 1500:
interação, comunhão e comunicação. In: RONCARATI, Cláudia e Abraçado, Jussara.
Português Brasileiro. Contato, lingüístico, heterogeneidade e história. Rio de Janeiro. 7
Letras.
160
CUNHA, Antônio Geraldo da. (2002). Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua
Portuguesa. 2 revisão 1986, 15 impressão, Rio de Janeiro. Nova Fronteira.
DIAS, Luiz Fr. (1996). Os Sentidos do Idioma Nacional. – As bases enunciativas do
Nacionalismo lingüístico no Brasil. São Paulo. Pontes.
DIJK, T. van. (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona, Espanha.
Paidós.
DRUMOND, Carlos. (1953). Vocabulário na Língua Brasílica. São Paulo. Boletim Nº
161. Universidade de São Paulo – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
ELIA, Silvio. (2003). Fundamentos Histórico-Lingüísticos do Português do Brasil. Rio de
Janeiro. Lucerna.
______. (2000). A Língua Portuguesa no Mundo. 2 ed, 2 impressão. São Paulo. Ática.
______. (1987). Sociolingüística: uma introdução. Rio de Janeiro. Padro. Universidade
Federal Fluminense
______. (1974). Preparação à Lingüística Românica. Rio de Janeiro. Acadêmica.
FÁVERO, Leonor Lopes. (2000). Heranças – A Educação no Brasil Colônia. Rev.
ANPOLL, n° 8, p. 87-102, jan/jun.
______. (1996). As concepções Lingüísticas no século XVIII - a gramática portuguesa.
Campinas. Unicamp.
FERREIRA, Tito Lívio. (1970). Nóbrega e Anchieta em São Paulo. São Paulo.
Conselho Estadual de Cultura.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. (2002). História. São Paulo. Ática.
FIGUEIREDO, J. Ricardo, (2004). Modos de ver a Produção do Brasil. São Paulo.
Educ- da Puc -SP, Autores Associados.
161
FRANÇA, Ângela (org.) (2002). Afinal, já sabemos para que serve a Lingüística?
Departamento de Lingüística – Faculdade de Filosofia, letras e Ciências Humanas. IV
ENAPOL.
FREIRE, José R. B. e Rosa, Maria C. (2003). Línguas Gerais. Política Lingüística e
Catequese na América do Sul no Período Colonial. Rio de Janeiro: Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
FREIRE, Laudelino. (1957). Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa. 3
ed Rio de Janeiro. Livraria José Olympio.
FUNARI, Pedro. P. e Noeli, Fco S. (2002). Pré-História do Brasil, São Paulo. Contexto.
GECKELER, H. (1984). Semântica Esctrural y Teoria del campo léxico. Madrid.
Gredos.
GERVASONI, Alessandra D. Análise contrastiva da variedade da Língua Portuguesa
no Brasil e em Portugal in: FILHO, Leodegário A. De Azevedo (org.). (2000). Brasil 500
anos de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro. Agora da Ilha.
GLASDSTONE, C. De Melo. (2001). Iniciação à Filologia e à Lingüística Portuguesa. 11
ed Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.
______. (1974). Origem, Formação e Aspectos da Cultura Brasileira. Lisboa: Centro do
Livro Brasileiro.
______. (1946). A Língua do Brasil. Livraria. Rio de Janeiro: Agir.
GOMES, Alfredo. (1973). Educação e Religião. São Paulo. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo v. LXX.
GORZ, André. (2004). Misérias do Presente, Riqueza do Possível. Tradução Ana
Montoia. São PAULO. Annablume.
GRAVE. João e Neto, Coelho. S.d. Lello Univesal. [Dicionário Enciclopédico LusoBrasileiro] Porto. Livraria Chardron.
162
GREIMAS, A.J. E Courtés, J. (1989) Dicionário de Semiótica. 21 ed São Paulo. Cultrix.
______. (1979). Dicionário de Semiótica. São Paulo. Cultrix.
GUIMARÃES. E., ORLANDI, Eni P. (1996). Língua e Cidadania. O Português no Brasil.
São Paulo: Pontes.
GUIRAUD, Pierre. (1983). A Semiologia. Lisboa. Presença Ltda.
HALL, Stuart. (2000). A Identidade cultural na Pós-Modernidade. Tradução de Tomaz
Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro.4 ed Rio de Janeiro DP&A .
HEALEY, W. V. (1996). Lendo o Passado. São Paulo. Cia Melhoramentos de São
Paulo e Edusp. BONFANTE, Larissa, (1996). Lendo o Passado. São Paulo. Cia
Melhoramentos de São Paulo e Edusp. P. 245-315.
HIGOUNET, Charles, (2003). História concisa da Escrita. São Paulo. Parábola.
HOEHNE, F. C. (1937). Botânica e Agricultura no Brasil no século XVI (Pesquisas e
Contribuições). São Paulo: Nacional. Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5ª
Brasiliana, Vol. 71.
HOOKER, J. T. (1996) (introdução e org.) Lendo o Passado. Cia Melhoramentos de
São Paulo e Edusp. São Paulo. BONFANTE, Larissa, (1996). Lendo o Passado. São
Paulo. Cia Melhoramentos de São Paulo - Edusp. P.9-17.
HOUAISS, Instituto Antonio. (2001). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro. Objetiva.
ILARI, Rodolfo. (2001). Lingüística Românica. 3 ed, 3ª reimpressão. São Paulo. Ática.
LEÃO, Duarte Nunes. (1606). Origem da Língua Portuguesa. Estudo preliminar e
anotações de José Pedro Machado 4 ed Lisboa. Pro Domo.
LEAL, Mª Leonor de Macedo. (1998). A História da Gastronomia. Rio de Janeiro.
Editora SENAC.
163
LEPOT-Froment, Chistiane (Org.) (1999). Educação Especializada – pesquisa e
indicações para a ação. Tradução de Cristina Murachco. São Paulo. Universidade do
Sagrado Coração.
LIMA, Maria C. (colaboradora) Duarte, P. M. T. (2000). Classes e Categorias em
Português. Fortaleza. Edições UFC.
LIMA SOBRINHO, B. Lima. (2000). A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil. 2 ed
Rio de Janeiro. Nova Fronteira.
LUCAS, Fábio. (2002). Expressões da Identidade Brasileira. São Paulo. Educ – da PucSão Paulo.
MACHADO, Nilson J. (2002). Educação: Projetos e Valores. 3 ed São Paulo.
Escrituras.
MAINGUENEAU, Dominique; (1997). Novas Tendências em Análise do Discurso. 3 ed
São Paulo. Editora da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Pontes.
MARIANI, Bethânia. (2004). Colonização Lingüística. São Paulo. Pontes.
MARTINET, André. (1964). Éléments de Linguistique Générale. Paris. Armand Colin.
MATTOSO, José. (1998). A Identidade nacional. Lisboa. Gradiva. Fundação Mário
Soares. Cadernos democráticos 1.
MAZZEO, A. Carlos. (1997). Estado e Burguesia no Brasil (Origens da Autocracia
Burguesa) 2 ed revista. São Paulo. Cortez.
MENDONÇA, Renato. (1948). A Influência Africana no Português do Brasil. 3 ed Porto.
Livraria Fiqueirinhas.
MONGELLI, Lênia M. (1995) Do Cancioneiro de D. Dinis. São Paulo. FTD.
164
MONTEIRO,Hohn. (1992). Colonização e Despovoamento São Paulo e Maranhão no
século XVII. artigo– Pesquisador visitante do Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento. Ciência Hoje v. 15/ nº 86, nov/dez. p.29.
MORAES, R. B. de. (1979). Livros e Bibliotecas no Brasil colonial. Rio de Janeiro.
Livros Técnicos e Científicos.
MORAIS, M. Mendes de. (1950). Repertório da Réplica de Rui Barbosa. Casa de Rui
Barbosa.
NASCIMENTO, José g. De O. (2001). A Língua Portuguesa no Século XV: Fernão
Lopes.São Paulo. TCM-Comunicação.
NEVES, M. H. de Moura. (1987). A Vertente da Gramática Tradicional. São Paulo.
Hucitec.
NIMER, Fowad. M. (1927) Esboço de um Plano para Estudo das Palavras Árabes na
Língua Portuguesa. Artigo da Revista de Língua Portuguesa nº 47-48-9, maio.
Publicação da Academia Brasileira de Letras.
NUNES, José H. E Petter, M. (org.) (2002) História do saber lexical e constituição de
um léxico brasileiro. São Paulo. Humanitas FFlCH/USP.
NUNES, Dr. J. Joaquim. 1970. Crestomatia Arcaica. Excertos da Literatura Portuguesa
desde o que mais antigo se conhece até ao século XVI. 7 ed Lisboa: Livraria Clássica.
OLIVEIRA. Ana Maria. P. P. E Isquerdo, Aparecida N. (2001). As Ciências do LéxicoLexicologia, Lexicografia e Terminologia. Campo Grande - MS. Editora UFMS
ORLANDI, Eni. P. (Org). (2003). A Linguagem e seu Funcionamento. 4 ed 3 impressão.
Pontes.
ORLANDI, Eni. P. (2001). História das idéias Lingüísticas: Construção do Saber
Metalingüístico e Constituição da Língua Nacional. Mato Grosso. Unemat.
PORCHAT, Edith. (1993). Informações Históricas sobre São Paulo no século de sua
fundação. São Paulo: Luminuras.
165
RAMOS, Fábio P. (2004). No Tempo das Especiarias. O Império da Pimenta e do
Açúcar.São Paulo. Contexto.
RIBEIRO, Darcy. (2002). O Povo Brasileiro – a formação e o sentido do Brasil. São
Paulo. Companhia das Letras.
RIBEIRO, João s/d. A Língua Nacional – Notas Aproveitáveis. São Paulo. Edição da
“Revista do Brasil” Monteiro Lobato & Cia.
RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. (2002). Línguas Brasileiras. 4 ed São Paulo. Loyola.
SALVADOR, Frei Vicente. (1964). História do Brasil 1500-1627. São Paulo.
Melhoramentos.
SANTOS RIBEIRO, Mª Luisa. (1998). História da Educação Brasileira. 13 ed Campinas.
Autores Associados.
SANTOS, S. S. Berti. (2001). Proposta para uma análise lexical numa pesquisa
geolingüística: a lexia “florada”. In IMAGUIRE, Lígia As Línguas do Brasil – tipos,
variedades regionais e modalidades discursivas. Ms. FFLCH – Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, ENAPOL III Encontro dos alunos de Pós-graduação em
Semiótica e Lingüística Geral. São Paulo. P.85 – 94.
SCHMITT, Jacques Le Goff e Jean – Claude. (2002). Dicionário Temático do Ocidente
Medieval. Vol I e II,São Paulo. Edusc.
SENNA, Dr. Nelson. (1921) Africanismos no Brasil. Artigo da Revista de Língua
Portuguesa nº 11-12, maio. Publicação da Academia Brasileira de Letras.
SERAFIM. Leite, S. I. (1938). História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa.
Civilização Brasileira. RJ, Libraria Portugália, Tomo I.
SEVERINO, Antônio J. (2003). Metodologia do Trabalho científico. 22 ed revista. São
Paulo. Cortez Editora.
SILVA NETO, Serafim da (1951). Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil.
Rio de Janeiro. Departamento de Imprensa Nacional.
166
______. (1977). Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil. Rio de Janeiro.
Presença.
SILVEIRA BUENO, Francisco da. (1998). Vocabulário Tupi-Guarani-Português. 6 ed
São Paulo Éfeta.
______. (1955). A Formação Histórica da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro.
Acadêmica.
SILVEIRA, Regina Célia P. da. (2000). Opinião, marco de cognições sociais e a
identidade cultural do brasileiro: as crônicas nacionais. In: Português/Língua
estrangeira: leitura, produção e avaliação de textos. Júdice, Norimar. Intertexto Editora
e Consultoria Ltda. Rio de Janeiro. P. 9-35.
______. (1998). Português Língua Estrangeira – Perspectivas. São Paulo. Cortez.
______. (1998). Leitura: produção interacional de conhecimentos. In Bastos, Neusa. B.
(org). Língua Portuguesa. História, Perspectivas, Ensino. São Paulo. Educ – da PUC –
São Paulo. P. 135-152.
SAPIR, Edward. (1971). Linguagem. Rio de Janeiro. Acadêmica.
STEPHANOU, Maria e Bastos, M. H. Camara. (2004) Histórias e Memórias da
Educação no Brasil. Rio de Janeiro. Vozes. V.1
SOUTO, Maior. A. (1972). História Geral para o ensino de Segundo Grau. 15 ed São
Paulo. Cia Editora Nacional.
TEYSSIER, Paul, (1997), História da Língua Portuguesa. São Paulo. Martins Fontes.
TURAZZA, Jeni S. (2005). Léxico e Criatividade. 2 ed São Paulo. Annablume
______. (2002). O Dicionário e suas Funções. Artigo in Língua Portuguesa – uma visão
em Mosaico Org. Bastos, N. Barbosa. São Paulo. Educ. p.153 – 171.
______. (2001). O Verbo. São Paulo. Annablume.
167
VAINFAS, Ronaldo. (2000). Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro.
Objetiva.
VERDELHO, Telmo. (1995). As origens da Gramaticografia e da Lexicografia LatinoPortuguesas. Aveiro, Portugal. Instituto Nacional de Investigação Científica.
ViILAS Boas, Orlando. (2000). Arte dos Pajés – Impressões do Universo. Porto Alegre.
Globo.
VILELA, Mário. (1994). Estudos de lexicologia do Português. Coimbra, Portugal.
Almedina.
WALKER, C. B. F. (1996). Lendo o Passado. São Paulo. Cia Melhoramentos de São
Paulo e Edusp. BONFANTE, Larissa, (1996). Lendo o Passado. São Paulo. Cia
Melhoramentos de São Paulo e Edusp. P.19-94
WILLIAM V. Bangert, S. J. (1972). História da Companhia de Jesus.Livraria A. I. –
Porto, São Paulo. Loyola.
Outras consultadas
http://fautomoraesjr.sites.uol.com.br/aconteceu
Mesopotâmia)
(Romana,
Grega,
HOTHER, Larry. (2005) São Gabriel da Cachoeira http://by
106.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg?msg=804EC095-89E5-4C19-...
Enciclopédia Digital Estadão, 2005.
Fenícios,
106fd.bay
168
ANEXO 1
Organização do Dicionário de Vocábulos Brasileiros de Beaurepaire -Rohan (1881),
selecionados por campos semânticos: Ordem Temática
CAMPO SEMÂNTICO DE FRUTOS
A
Tipos
1 de Árvores
ABACATE, s.m. fruta do abacateiro, árvore do gênero Persea (P. gratissima) da família
das Lauraceas, oriunda do México e de outras partes da América, geralmente
cultivada, não só no Brasil, como em todos os países compreendidos na zona
intertropical. Etim. Corruptela do mexicano Aguacáte.
Obs.: Originária da língua náuatle (língua dos Astecas, já extinta) ‘awwa’kati,
provavelmente por influência do espanhol “aguacate” (1560), fato histórico, 1776
ibacate (HOUAISS, 2001)
ACAÍA, s. m. (Mato Grosso) o mesmo que Cajá.
AMEIXA, s.f. nome que, acompanhado sempre de algum epíteto, se dá a diversas
frutas, embora não tenham a menor afinidade com as plantas do gênero Prumus, que
nos vieram da Europa; tais são: a Ameixa de Madagascar (Flacourtia Ramontchi) da
fam. Das Bixineas; Ameixa da terra (Ximenía americana) da fam. das Olacineas;
Ameixa do Japão a que também chamam Ameixa amarela e Ameixa do Canadá
(Eriobotrya japonica) da fam. Das Rosaceas; Ameixa de Porto-Natal (Carissa
Carandas) da fam. das Apocineas; Ameixa do Pará, do gen. Eugenia, fam. das
Myrtaceas; e outras mais.
ARAÇÁ, V. Arassá.
Obs.: Etim. Tupi ara’sa (HOUAISS, 2001).
ARASSÁ, s. m. Fruta do Araçazeiro, nome comum a diversas espécies de plantas do
gênero Psidium, da família das Myrtaceas. || Etim. é voc. Tupí. || Geralmente se
169
escreve Araçá; mas eu prefiro a ortografia que adotei, a qual fica ao abrigo dos êrros a
que a outra tem dado lugar.
ARATICÚ, s. m. Fruta do Aaraticuzeiro, de que há diversas espécies pertencentes ao
gênero Anona e Rollinia, da família das Anonaceas. || Etim. É voc. Tupi.
ATA, s. f. (Ceará, Maranhão, Pará) fruta da Ateira, planta do gênero Anona (A.
Squamosa) da familía das Anonaceas. Nas colonias francêsas chamam-se Atte; no Rio
de Janeiro Fruta de conde; na Bahia e Pernambuco Pinha.
1.1 Medicinais
ABÍORANA, s.m. (Vale do Amazonas) fruta de uma árvore do mesmo nome (Lucuma
lasiocarpa), da família das Sapotaceas. || Etim. É vocábulo tupi, significando
semelhante ao Abío.
Obs.: árvore de até 15m; da família das sapotáceas, nativa da Amazônia, de madeira
de grande durabilidade, casca latescente com propriedades adstringentes, e bagas
amarelas, comestíveis; m.q. Acá; m.q. maçarandubarana; Etim. tupi *awiu’rana < *
da’wiu ‘abup’ + rana ‘parecido, semelhante’ (HOUAISS, 2001).
2 de Arbustos
ABÍO, s. m.. fruta do Abieiro (Lucima Caimito), arvoreta da família das Sapotaceas,
natural da América equatorial, e cultivada no Brasil, desde o Pará até o Rio de Janeiro
Obs.: Etim. Tupi *a’wiu ‘fruto de polpa adocicada de uma planta cultivada da família
das sapotáceas; as primeiras averbações grafaram o vocábulo com –iu, talvez por
fidelidade à pronúncia dialetal, e a retificação consta do “Vocabulário ortográfico da
língua Portuguesa. Rio de Janeiro (HOUAISS, 2001).
2.1 Bromélias
ABACAXI, s.m. primorosa variedade do Ananás, da qual se contam diversas
qualidades, geralmente cultivadas no Brasil. Dantes essa cultura limitava-se ao Pará e
Maranhão; mas nos primeiros anos dêste século o naturalista Arruda, em suas
excursões botânicas, trouxe do Maranhão para Pernambuco mudas desta planta, e daí
se propagou a outras províncias. Etim. Em relação a êste assunto, farei apenas
observar que há um afluente do Amazonas chamado rio Abacaxis. Não sei se desta
circunstância deveremos inferir que as margens daquêle rio são a pátria desta fruta.
ANANAZ, s. m. Fruta do Ananazeiro (Ananassa sativa) da família das Bromeliaceas,
indígena do Brasil e em geral da América intertropical, e não da Ásia, como
170
erroneamente o dizem Moraes, Aulete e outros. || Etim. Do tupí Naná (Voc. Bras.
Thevet.). Os Guaranís lhe chamavam Nãnã (Montoya). Léry escreveu Ananas.
3 de Palmeiras
ASSAHÍ, s. m. (Vale do Amaz.) Palmeira do gen. Euterpe (E. oleracea) de que ha mais
quatro espécies determinadas (Flor. Bras.). Também lhe chamam, em algumas regiões
do Brasil, Jissára, Jussára e Palmito. Com a polpa da fruta macerada em água, fazem
uma espécie de alimento, a que chamam também Assahí, ao qual ajuntam açúcar e
farinha de tapióca ou de mandióca, e passa por ser nutriente e é agradável á
generalidade dos paladares, apesar de um certo posto herbaceo, que repugna aos
novatos. || Etim. Do tupí Uassahi, nome ainda mui usado, tanto no Vale do Amazonas,
como na província de Mato-Grosso.
Obs.: Etim. tupi ïwasa’i ‘fruto que chora, isto é, que deita água; fruta ácida’; segundo
A.G. Cunha (DHPT), ‘espécie de palmeira da subfamília das ceroxilíneas, cujo fruto é
comestível e fornece uma bebida fermentada muito apreciada; açaizeiro’ (HOUAISS,
2001).
3.1 Oleosos
ANDIRÓB A, s. f. (Pará) fruta oleosa da Andirobeira (Carapa gujanensis) da fam. das
Meliaceas. || Etim. é corruptela de Jandiróba, que, em língua tupí, significa óleo
amargo. || Na Bahia e outras províncias do norte há outra planta chamada
indiferentemente Andiróba, Jandíroba, e Nhandiróba, pertencente ao gênero Fevillea
da família das Cucurbitaceas, e cuja fruta tem as mesmas propriedades que a
antecedente.
Obs.: Etim. tupi ña’ndi ‘óleo, azeite’ + rowa ‘amargo’; tb. Adaptado ao português como
jandiroba, jendiroba (HOUAISS, 2001).
AZEITE-DE-CHEIRO, s. m. (Bahia) azeite de dendê fabricado no país, por um
processo diferente do da África.
AZEITE-DE-DENDÊ, s. m. óleo extraído da fruta de Dendenzeiro (Elaeis guineensis).
E’ aquilo a que os Portuguesês chamam óleo de palma.
4 de Ervas
4.1 Leguminosas
4.1.1 Sementes
AMENDOIM, s. m. o mesmo que Mandubi.
171
Obs.: Etim. tupi mandu’wi ‘nome comum a diversas plantas da fam. das leguminosas.
Grafado em Nascentes mãdu’bi, menduí, mãdu’i; adaptado ao português mandubi,
mendubi, mendubim, menduí, mimdubi; as formas amendoim e amendoí sofreram
interferência de amêndoa. O ovário da flor após fecundado se curva para dentro do
solo e mamadurece, dando origem a uma vagem reticulada que contém de uma a três
sementes comestíveis (HOUAISS, 2001 e MELHORAMENTOS, 1965).
5 de Tubérculos
AIPIM, s. m. (Províncias Meridionais) planta brasileira da família das euforbiaceas
(Manihot aypi ), cuja raiz assada ou cozida é excelente alimento. Em Pernambuco e daí
até o Pará lhe chamam Macaxeira. || Etim. Do tupi Aipi, que Montoya e Léry
escreveram Aypi.
Obs.: macaxeira, macaxera, mandioca, mandioca-doce, mandioca-mansa [Nativo do
Brasil, é muito semelhante à mandioca (Manihot esculenta) e tb. Cultivado, com
inúmeras variedades, pelas raízes tuberosas, de elevado teor alimentício e geralmente
menos venenosas.] Etim. tupi ‘o que nasce ou brota do fundo’ (HOUAISS, 2001).
B
Tipos
1 de Árvores
BATATÁ, s. m. (S. Paulo) nome vulgar da fruta de uma árvore do gen. Lucuma (L.
Beaurepairei Raunkjar et Glaz.) da família das Sapotáceas. || Etim. é evidentemente de
origem tupí; mas vacilo muito quanto á sua significação primitiva. Póde acontecer que
seja a corruptela de igbá-tatá, fruta-fôgo, por causa de sua côr rubra, ou a de igbáatan, fruta dura, fruta empedernida. (não foi possível identificar a que fruto se refere).
BIRIBÁ, s. m., fruta do Biribazeiro, planta do gênero Rollinia (R. Cuspiadata?) da
família das Anonaceas.
Obs.: sin. De aberêmoa, ameiju, ameju, cortiça, corticeira, em beu, meiju, perovana,
pindabuna, pindaíba, pindaíba-branca, pindaíba-de-folha-grande, pindaibuna, pindaíva,
pindaubuna, pindaúva, pindauvuna, pindavuna, pinhão. m. q. Araticum-pitaiá. Etim. tupi
ïmbïra formado de ï’mbïra ‘fibra, embira’ + ï’wa ‘fruta’; var. decorrentes de queda e
flutuações no port. das sílabas e das vogais pretônicas, de alt. –mb->-b-/-v-/-m-/-p-, de
tratamento da assilábica –w->-b-/-v- ou –u-/-i- ou supressão etc (HOUAISS, 2001).
2 de Palmeiras
BACABÁDA s. f. (Pará) espécie de alimento feito com a fruta da palmeira Bacaba,
preparada pelo mesmo processo do Assahí.
172
Obs.: Refresco preparado com a polpa do fruto da bacaba. Etim. bacaba + -ada
(HOUAISS, 2001).
BACURÍ, s. m. Nome vulgar da Platonia insignis, árvore da família das Guttíferas,
notável pela beleza do seu porte, pela sua utilidade como madeira de construção, e
pela excelência de sua fruta.
Obs.: Etim. ver guacuri [Etim. segundo registro de DHPT, do tupi ‘ïwaku’ri’ espécie de
palmeira; der. De ‘ïwa” fruta, árvore] Obs.: com polpa amarelada, de que se fazem
refrescos e doces, e sementes cujo sabor lembra a da amêndoa; bacurizeiro,
landirana. [Br. Informal bebê do sexo masculino; menino pequeno. Etim. orig. Obscura;
não se exclui ligação com bacorinho/bacorim] (HOUIASS, 2001).
BURITI, s. m. Palmeira do gênero Mauritia, de que ha duas espécies (M. Vinifera e M.
armata). Além dêste nome, que é o mais geral, chamam-lhe tambem, no Vale do
Amazonas, Muriti e Muruti e no Maranhão Muritim.
Obs.: Etim. Tupi mbïrïtï ‘espécie de palmeira’; var. Com mb>b- ou m- (HOUAISS, 2001)
BUTIÁ, s. m. Palmeira do gênero Cocos, de que ha duas espécies (C. capitata e C.
eriospatha) Produzem uma fruta, cujo mesocarpo acidulo é mui estimado. || Etim. É
provavelmente voc. Tupi.
C
Tipos
1 de Árvores
CAJÁ, s. m. Fruta de Cajazeira, árvore do gênero Spondias, família das
Terebinthaceas, de que há várias espécies. A esta fruta chamam no Pará Taperebá, e
em Mat. Gros. Acayá. Além das espécies indigenas, temos mais o Spondias dulcis da
Índia, a que dão vulgarmente no R. de Jan. o nome de Cajá-manga. Há outra espécie
indigena de Spondias, que tem o nome particular de Imbú.
Obs.: Etim. tupi aka’ya que, segundo Teodoro Sampaio, significa ‘fruto de caroço cheio,
fruto que é todo caroço’ (cf. HOUAISS, 2001).
CAJÚ, s. m. Fruta de diversas especies do Cajueiro, árvores, arvoretas e até plantas
rasteiras do gênero Anacardium (A. occidentale, A. curatellifolium, A. humilde, etc) da
família das Terebinthaceas. O Cajú se compõe de duas partes bem distintas: da
castanha, que é verdadeiramente a fruta e se come assada ou confeitada, e do seu
receptaculo polposo e sumarento de que se usa crú, guisado, em doce, em xarope ou
em vinho.|| Etim. do tupí Acajú.
173
Obs.: Etim. tupi aka’yu; a acepção de ‘ano de idade ou de existência’origina-se prov.
Da contagem indígena do ano, relacionada à frutificação do caju (cf. HOUAISS, 2001).
CAMBUCÍ, s. m. (S. Paulo) fruta de uma árvore do mesmo nome, pertencente ao
gênero Eugenia (E. cambuci) da família das Myrtaceas. || Etim. é vocábulo tupi.
Obs.: fruto dessa árvore. Etim. tupi kau’si ‘vaso, pote; urna funerária dos tupis e
aruacos’;o nome proviria do fato de ter a ´lanta o mesmo formato dessa urna (HOUAISS,
2001).
CAPINÂN, s. f. (Bahia) espécie de Myrtacea, que produz uma fruta comestível. Foi
introduzida no Rio de Janeiro pelo Conselheiro Magalhães Castro, e é cultivada na sua
chácara do Engenho-Novo. [palavra encontrada apenas no LELLO UNIVERSAL,
MELHORAMENTOS, 1965 e LAUDELINO FREIRE, 1957]
CASTANHA, s. f. nome vulgar de diversas frutas indigenas, embora nenhuma relação
tenham com a Castanea vulgaris proveniente da Europa; tais são, entre outras, a
Castanha de Cajú, fruta do Cajueiro; a Castanha do Maranhão, semente da Bertholletia
excelsa, que se deveria antes chamar Castanha do Amazonas; a Castanha do Pará ,
semente da Pachira insignis etc.
Obs.: (1269) Angios fruto capsular espinescente do castanheiro -da-europa. Etim. Latim
castanea ‘castanha, castanheiro’ (HOUAISS, 2001).
2 de Arbustos
CAMBUCÁ, s. m. (R. de Jan.) fruta do Cambucazeiro, planta de que ha duas espécies
pertencentes aos generos Myrciaria e Rubachia, da família das Myrtaceas (Fl. Bras.)
Obs.: Etim. tupi kamu’ka; o fruto desta planta (HOUAISS, 2001).
CAMBUÍ, s. m. Fruta do cambuzeiro, planta de diversas espécies, pertencentes
geralmente ao gênero Eugenia, da família das Myrtaceas. || Etim. É voc. Tupi.
Obs.: bagas vermelhas, diminutas e também numerosas, muito apreciadas pelos
pássaros; cambui -preto, cambuizeiro, cambuizinho, murta-do-campo. m. q. Aroeiravermelha; do tupi kã’mbui (HOUAISS, 2001).
CUMARIM, s. m. Pimenta do genero Capsicum (C. frutescens) da família das
Solaneas). || Etim. É vocábulo do tupí (G. Soares)
174
3 de Palmeiras
CATOLÉ, s. m. (Provs. do N.) nome comum a Palmeiras de gêneros diversos. O catolé
do Piauí pertence ao gen. Cocos (Comosa); o de outras províncias ao gen. Attalea (A.
humilis). A esta última espécie também chamam indiferentemente Catolé e Pindóba no
Rio de Janeiro (Glaziou).
Obs.: [Dic. melhoramentos: palmeira silvestre do Brasil, de cuja amêndoa se extrai
óleo. Fruto dessa árvore.] Etim. tupi katu’re; segundo Teodoro Sampaio ‘não parece de
procedência tupi; é voc. Do sertão com que se denomina palmeira. m.q. guariroba,
andaía. Além do óleo, é comestivel e doce. ] (HOUAISS, 2001).
COCO (1°), s. m., nome com que se designa geralmente a fruta de qualquer espécie
de Palmeira, quer indígena, quer exótica, acompanhando-o sempre de um epiteto
especifico: Côco da Bahia (Côco nucifera); Côco de dendê (Elaeis guineensis); Côco
de catarro (Acrocomia sp.), etc. || Etim. É vocábulo estrangeiro, talvez africano ou
asiático. [CÔCO (2°), s. m. Espécie de vasilha feita do endocarpo do Côco.]
3.1 Medicinais
CÔCO-DE-CATARRO, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que macahuba.
Obs.: palmeira de aspecto muito variável, geralmente tronco ereto, robusto, revestido
de espinhos finos, e drupas globosas, de um tom amarelo-pardacento, bocaiúva-desão-lourenço, bocaiúva -dos-pantanais, macaibeira, macajubeira, macauveira, mucajámirim, micajá-pequeno, micajazeiro, mucajeiro. A polpa do fruto é doce, dela se extrai
gordura com propriedades medicinais e, da amêndoa, óleo de qualidade superior
(HOUAISS, 2001).
4 de Tubérculos
CARÁ (1°), s. m. Nome comum a diversas espécies de Dioscoreas indigenas
produzindo tuberculos comestiveis: Cará mimoso, Cará roxo; Cará do ar, etc.
5 de Ervas
CAMAPÚ, s. m. (Pará) fruta de uma planta herbacea do gênero Phisalis, família das
Solanaceas, da qual há várias espécies no Brasil, todas comestíveis.
Obs.: também conhecida como: bate-testa, camambu, camaru, físalis, juá, bucho-derã, juá-de-capote, mata -fome, mata-peixe, juapoca. Etim. tupi kama’pu ‘planta da
família das solanáceas (HOUAIS, 2001 e MELHORAMENTOS, 1965).
F
Tipos
1 de Arbustos
175
FRUTA-DE-CONDE, s. f. (Rio de Jan.) o mesmo que Ata.
Obs.: fruta – frutos sincarpícos, com polpa doce e macia, adstringentes e laxativos
quando verde, anona, anoneira, ata, ateira, fruita-de-condessa, fruta -de-conde, fruteirade-conde, nona, pinha, pinha=ata, pinha-da-baia. m.q. araticum-pitaiá.
G
Tipos
1 de Árvores
GUAIÁBA, s. f. Fruta da Guaiabeira, de que ha varias espécies indigenas, pertencentes
ao gênero Psidium , da família das Myrtaceas, e se compõe de arbustos, arvoretas e
árvores. || Etim. Não sei se êste vocábulo, geralmente usado no Brasil, é indigena ou
exótico. O certo é que os mais antigos escritores das coisas do Brasil, como G. Soares,
Gandavo e outros, não o mencionam e só falam do Araçá, nome ainda vulgar entre
nós, designando a fruta de outras espécies de Psidium.
Obs.: m.q. goiabeira, m.q. goiaba (fruto). Etim. o fruto da goiabeira, araçá-guaçu,
araçá-mirim, araçauaçi, guaiaba, guaiava, guava, guiaba, mepera. Orig. contrv., prov.
Do espanhol guayaba (1550) fruto da goibeira de orig. atribuída ao taino da ilha de S.
Domingos, ou ao aruaque, há ainda autores que apresentam outras hip. Cândido de
Figueiredo deriva do guarani cuiapa; Teodoro Sampaio considera alt. Do tupi ‘acoyã’
ou acayaba, a-coyaba, o ajuntamente de caroços; agregado de caroço, pinha de
grãos’, com a variação guayaba; Sulveira Bueno também parte do mesmo étimo tupi
‘acoyaba’, o agregado de caroços, alusão ao grande número de sementes que se
encontra no interior desta fruta (HOUAISS, 2001).
1.1 Leitosos
GUACÁ, s. m. (S. Paulo, Rio de Jan.) nome vulgar de duas espécies de Sapotaceas
frutíferas. || Etim. É voc. Tupí.
Obs.: m.q. mata-olho (pachystroma longifolium ), m.q. fruta -de-manteifa (Poutena
ramiflora), também conhecida como árvore -de-Sta-Luzia. [fruta -de-manteiga = figo-deveado, guacá, joão, joão-de-leite, leitosa (cf. HOUAISS, 2001).
1.2 Felpudos
GUABIRÁBA, s. f. Fruta da Guabirabeira, nome comum a duas espécies de Myrtaceas,
pertencentes ao gênero Abbevilia e Eugenia, sendo esta natural do Ceará, e a outra da
Bahia e Pernambuco. || Etim. É voc. Tupi.
Obs.: m.q. guabiroba. Ewtim. Segundo JM tupi wa’bi ou gwabi’ ‘comida’ + rab ‘felpuda,
peluda’; gwabi’rab (HOUAISS, 2001).
176
2 de Arbustos
GRUMIXAMA, s. f. Fruta da Grumixameira, arvoreta do gênero Eugenia (E.
brasiliensis) da família das Myrtaceas. || Etim. do tupí Igbámixâna (Voc. Braz.)
GUABIJÚ, s.m. (R. Gr. Do S.) fruta do Guabijueiro, arvoreta do gênero Eugenia (E>
Guabijú”, da família das Myrtaceas. || Etim. É voc. Tupi.
GUAJERÚ, s m. Arbusto frutifero do gênero Chysobalanus (C. Icaco) da família das
Rosaceas. Também lhe chamam Guarujú, e no Pará Uajurú . E’ o abajerú de Gab.
Soares. Vegeta nos areais do litoral. || Etim. E’ voc. De origem tupi.
Obs.: Br. m.q. guajuru (cf. HOUAISS, 2001).
GUAJURÚ, s.m. o mesmo que Guajerú.
GUAPURUNGA, s. f. (S. Paulo, Paraná) fruta da guapurungueira, arbusto do gênero
Marliera (M. Tomentosa) da família da Myrtaceas. || No Paraguai e em Bolivia é êsse o
nome que dão à jabuticaba, outra Myrtacea do gênero Myrciaria. || Etim. É voc. de
origem tupí.
GUAQUICA, s. f. (Rio de Jan.) planta frutífera pertencente ao gênero Eugenia da
família das Myrtaceas. || Etim. É provável que êste vocábulo seja de origem tupí.
2.1 Medicinais
GUABIJÚ, s. m. (R. Gr. do S.) fruta do Guabijueiro, arvoreta do gênero Eugenia (E.
Guabijú), da família das Myrtaceas. || Etim. É voc. Tupí.
Obs.: árvore de até 12m, da família das mirtáceas, nativa da Argentina, Brasil (RS) e
uruguai, de madeira fina, cpmpacta e de grande durabilidade, casca ramúsculos e
folhas taníferas, flores brrancas e gabas comestíveis; Etim. DHPT, tupi de ïwa ‘fruta,
árvore’; para JM e Nascentes gwa’bi ‘comestível, comida’ + -yu (de) ‘yuwa’ ‘amarelo’,
por ser essa a coloração do fruto (HOUAISS, 2001).
2.2 Trepadeiras
GUARANÁ, s. m. Espécie de massa durissima feita com a fruta de uma planta do
Amazonas chamada guaraná (Paullinia sorbilis). É invenção dos índios Maués, os
quais faziam disso um mistério. Hoje, porém, está no domínio de todos. Usa-se desta
preparação como bebida refrigerante. Para isso rala-se de cada vez uma colherada da
massa, a qual se deita em um copo com água e açúcar, mexe -se e toma-se. As
propriedades medicinais do Guaraná são notáveis.
177
Obs.: Etim. tupi wara’ná (cf. HOUAISS, 2001).
2.3 Leguminosas
GUANDO, s. m. (Rio de Jan.) fruta do Guandeiro (Cytisus cajanus), arbusto da família
das Leguminosas. Em Pernambuco lhe chamam Guandú, e na Bahia Andú. É planta
exótica e provavelmente introduzida da Àfrica.
Obs.: Etim. quicongo uandu ‘ervilha’; sin/var em todas as acp. andu, tb. Ervilha-deangola, ervilha -de-árvore, ervilha-de-sete-anos, ervilha-do-congo, feijão-de-árvore,
feijão-do-congo, feijão-figueira (Cabo Verde), feijão-guando, quinsonje (Angola),
tantaraga.
GUANDÚ, s. m. (Pern.) o mesmo que Guando.
3 de Palmeiras
GUABIRÓBA, s. f. Fruta da Guabirobeira, nome comum a diversas espécies de
Myrtaceas pertencentes aos gêneros Psidium e Eugenia. || Etim. é voc. Tupí.
Obs.: palmeira de até 20m, com cerca de 15 a 20 folhas, dispostas em espiral, nativa
do Paraguai e do Brasil (BA ao PR, MS, GO) e muito cultivada como ornamental, pelos
frutos verde-amarelados comestíveis, e pelo palmito amargo, com propriedades
medicinais e muito usado em culinária; catolê, catulé, coco-babão, coco-catulê, coco da-quaresma, coco-da-quarta, coqueiro-amargoso; m.q. jerivá; m.q. palmito-amargoso.
Etim. Tupi gwari´rowa (sendo rowa ‘amargo’); variedade de palmeira (HOUAISS, 2001).
I
Tipos
1 de Árvores
IMBÚ, s. m. (Provs. Do N.) fruta do Imbuzeiro (Spondias tuberosa), árvore da família
das Terebinthaceas. Também dizem Umbú.
1.1 Leguminosas
INGÁ, s. m. Fruta da Ingazeira, árvore do gênero Inga da família das Legumisosas, de
que há várias espécies. || Etim. É nome tupi G. Soares lhe cama Engá.
Obs.: São 350 spp., polpa doce dos frutos. Etim. Lat científico gênero Inga; este
calcado no tupi ïnga ‘nome comum a diversas plantas da família das legumisoas”. Lit.
Fruto úmido, prov. Ligado ao tupi ï’´agua e tupi üwa “fruta, fruto”, com alteração da
sílaba final –wa>-gwa>-ga (HOUAISS, 2001).
178
2 de Palmeiras
INAJÁ s. m. (Pará, Maranhão) palmeira do gen. Maximiliana (M. regia). || Etim. É voc.
tupí, identico a Indaiá, bem que se apliquem às vêzes a palmeiras de gêneros diversos.
|| Os tupinambás davam também o nome de Indajá a fruta da palmeira Pindóba.
Obs.: de estirpe anelado, com ótimo palmito, folhas dispostas em cinco direções,
inflorescências interfoliares, frutos com polpa suculenta, comestível e amêndoa de que
se extrai óleo amarelo, tb. Comestível; anaiá, anajá, aritá, inajazeiro, maripá, najá.
Etim. tupi ina’ya ‘palmeira; o fruto desta planta’ (HOUAISS, 2001).
INDAIÁ, s. m., palmeira do gênero Attalea (A. Indayá). || Etim. é voc. Tupí.
Obs.: palmeira nativa do Brasil, de folhas penada, eretas e crespas, inflorescências
interfoliares, e frutos de cor amarela, com polpa comestível, assim como as amêndoas
oleosas; camaribga, coco-de-indauá, coco-indaiá, inaiá, naiá, palmito -do-chão. m.q.
catulé. Etim tupi inda’ya (forma paralela de ina’ya) (HOUAISS, 2001).
INDAIÁ -RASTEIRO, s. m. (Goias) palmeira do gênero Attalea (A. Exigua).
Obs.: o caule ou estipe curto, nativa do Brasil, com frutos vermelho -alaranjados e
sementes oleosas e comestíveis, usado no fabrico de doces caseiros; catolé, catulé,
idaiá-do-campo, indaiá-mirim, pindoba; m.q. acumã-rasteiro (HOUAISS, 2001).
J
Tipos
1 de Árvores
JUÁ, s. m. (Bahia e outras provs. do N.) fruta do Juazeiro, Árvore do gênero Zizyphus
(Z. Juazeiro) da família das Rhamnaceas. || Tem o mesmo nome nas provs. do Sul
diversas frutas da família das Solaneas.
Obs.: m.q. camapu, juciri; Etim tupi yu’a , segundo Teodoro Sampaio ‘fruta do espinho”;
(HOUAISS, 2001).
JURUTÊ, s. m. (S.Paulo) nome de uma planta frutífera da família das Cordiaceas.
1.1 Medicinais
JARACATIÁ, s. m. Nome comum a duas ou mais espécies de árvores do gênero
Caryca, da família das Papayaceas, e cuja fruta é comestível.
Obs.: m.q. Jacaratia (Jacaratia spinosa) [Jacaratiá, frutos amarelos comestíveis e látex
com propriedades vermífugas. Etim tupi yarakati’a ‘planta da família das caricáreas’ ;
179
cp. Jaracatiá. Sin/var barriguda, jaracatiá, mamaurana, mamoeirinho, mamoeiro-bravo,
mamoeiro -de-espinho, mamoeiro-do-mato (HOUAISS, 2001)].
1.2 Farináceos
JATOBÁ, s. m. O mesmo que Jatahi (2°).
Obs.: Jatobá árvore do gênero Hymenaea da fam. das leguminosas de frutos
comestíveis e de que se extrai resina conhecida como copal; jataí, jataicica, jati, jatubá,
jetaí, jetaicica, jitaí, jutaí,jutaicica. Árvore de aré 40m (Hymenaea courbaril), principal
fonte para a produção de copal, nativa do México ao Brasil e comum na Amazônia
Seus frutos quase negros, cilíndricos, duros, com polpa farinácea, amarelo-clara, doce,
nutritiva e laxante, consumida por animais silvestres e pelo homem. Árvore de até 20m
(Hymenaea courbaril var. stilbocarpa) nativa do Piauí ao Norte do Paraná, muito
semelhante à sp. Anterior, com os mesmos usos e tb. Em arborização e
reflorestamento; jatobá-da-catinga, jatobá—morom, jatobazinho, jetaí-do-piauí, jutaímirim, quebra-facão. Etim. tupi yeti’wa < yeta’i ‘jataí’ + ïwa ‘fruta (HOUAISS, 2001).
1.3 Bebíveis ou Licorosos
JABUTICÁBA, s. f. Fruta da Jabuticabeira, de que há várias especies, árvores,
arvoretas e arbustos pertencentes ao gênero Myrciaria, da família das Myrtaceas. || No
Paraguai e em Bolivia lhe chamam Guapurunga, nome que no Brasil pertence a outra
espécie de Myrtacea. || Etim. É voc. De origem tupí.
Obs.: segundo Nascentes , de yawoti’kawa ‘fruto da jabuticabeira’; ainda segundo
Nascentes, de ïapoti’kaba ‘frutas em botão’ (HOUAISS, 2001).
JENIPÁPO, s. m. Fruta do Jenipapeiro, árvore do gênero Genipa, da família das
Rubiaceas, de que ha varias espécies. || Etim. E vocábulo de origem tupi. || No Pará
lhe chamam Janipápo (Baena), e assim se encontra em alguns cronistas antigos.
Também se tem escrito Janipába e Genipápo.
Obs.: fruto do jenipapeiro, uma baga subglobosa, geralmente amarelo-pardacenta, com
polpa aromática, comestível, de que se fazem compotas, doces, xaropes, bebida
refrigerante, bebida vinosa e licor, e de que se extrai tinta preta, usada pelos indígenas,
há milênios, em petróglifos, cerâmica, cestaria, tatuagens, pintura corporal. Etim tupi
yandi’’óleo de madeiras, de frutos’ pawa] ; pode acorrer alt. Da vogal tônica fechada
central -ï-, -u- ou –a-; a assilábica –w- às vezes se mantém como semivogal –uformando ditongo como o –a- final, mas geralmente a assilábica –w- desenvolve -se
como consoante, quer oclusiva bilabial sonora –b- quer fricativa labiodental sonora –v-;
há ainda, casos de simples supressão da vogal –ï- e outros, em que também o –w- se
reduz a –o-, donde as formas adp. Ao português janipaba, janipapo, jenipá e der.
Janipabeiro, jenipaparana (HOUA ISS, 2001).
2 de Arbustos
180
JILÓ, s. m. Fruta do Jiloeiro, planta hortense do gênero Solanum (S. Gilo), da família
das Solaneas. || Etim. É de origem africana tanto o produto como o respectivo nome. ||
Também se tem escrito Giló.
Obs.: Nascentes deriva do quibundo njimbu; já Nei Lopes, do quioco julo ‘beringela de
fruto oval’, citando o quimbundo luó ‘muito amargo’ (HOUAISS, 2001).
2.1 Leguminosas
JEVURA, s. m. (S. Paulo) nome que dão ao feijão plantado em fevereiro ou março, que
é a estação da seca (S. Villalva).[ apenas no Lello e Melhoramentos, Houaiss não
apresenta essa lexia].
3 de Palmeiras
JATAÍ (2°), s. m. Nome comum a diversas espécies de árvores do gênero Hymenaea,
da família das leguminosas. Há espécies congeneres, a que chamam Jatobá.
Obs.: palmeira nativa das planícies arenosas, com estipe de que se extraí fécula (a
farinha de jataí), inflorescência com duas espatas e drupas ovóides, usado para a
produção de álcool, com sementes vermífugas e de que se extrai óleo alimentar; butiá,
butiaxeiro, coqueiro-jataí, iataí, iatí. M.q. jataí-guaçu, m.q. jatobá (designação comum),
m.q. muirajuba. Etim. segundo A. G. Cunha (DHPT), tupi yeta’i ‘planta que fornece
madeira’; Teodoro Sampaio e Silveira bueno registram o voc. Tupi ya-atã -yba contrato
em ya-atã -y ‘a árovre de fruto duro’ (HOUAISS, 2001).
JERIVÁ, s. m. (R. Gr. do S.) Palmeira do gen. Cocos (C. Martiana, Drude, Glaziou).
Etim, Origina-se do tupi Jaraigbá nome que também lhe davam, ou a alguma espécie
congenere os Guaranis do Paraguai. Entre nós há quem lhe chame Jarivá. No Rio de
Jan. é mais conhecido por Baba-de-boi. Na prov. de mato-Grosso lhe chamam
indiferentemente Jerivá ou Juruvá.
JISSÁRA, s. f. O mesmo que Assaí.
Obs.: m.q. juçara. Etim. tupi yi’sara (yei’sara) ; também adaptado jiçara. Brasil informal
aguardente de cana, cachaça (HOUAISS, 2001).
JURUVÁ, s. m. (Mato-Grosso) o mesmo que Jerivá.
JUSSÁRA, s. f. o mesmo que Assaí. || No Pará dão o nome de Jussára á fasquia do caule
da palmeira Assaí de que se fazem ripas.
4 de Ervas
181
4.1 Trepadeiras
JACATUPÉ, s. m. planta trepadeira do gênero Pachirrhisus (P. Angulatus) da família
das Papilionaceas, e cuja raiz tuberosa é comestível. || Etim. é provavelmente de
origem tupí.
Obs.: segundo Nascentes do tupi yakatu’pe; das túberas subterrâneas se faz amido
finíssimo. Das vagens achatadas, com sementes vermelhas, tóxicas é usado como
inseticida; feijão-batata, jacutupé, jocotupé; m.q. folha-de-bol (HOUAISS, 2001).
JIRIMÚ, s. m. Nome que, sobretudo nas províncias do Norte, dão á abobora amarela,
espécie de cucurbitacea de que existem muitas variedades. || Etim. é voc. De origem
tupi, que se pronuncia diversamente segundo as localidades: Jirimú, Jirimum, Jurumú,
Jurumum. Gabriel Soares, tratando das variedades indigenas desta planta, a chama
Gerumú. É essa sem duvida a origem do iromon dos Francêses, embora Larousse a vá
procurar no Japão.
Obs.: m.q. abóbora-moranga (fruto). Etim. ver em jurimum (HOUAISS, 2001).
JIRIMUM, s. m. (Pern. Alagôas) o mesmo que Jirimú.
Obs.: m.q. abóbora (fruto), abóbora-moranga. Etim. tupi yuru’mü ‘fruto do jerimuzeiro;
abóbora (HOUAISS, 2001).
M
Tipos
1 de Árvores
MANGA (1°), s. f. Fruta de Mangueira (1°). [MANGA (2°), s. f. (Bahia) pequeno pasto
cercado, onde se guardam cavalos e bois. || (Piaui) extenso cercado com pasto, onde
se põe o gado em certas ocasiões (Meira).
Obs.: Etim. malai manga, este do tâmul mãnkãy ‘fruto da mangueira’ (HOUAISS,
2001).
MANAPUSSA, s. m. (Ceará) arvore frutífera, talvez do gênero Mouriria, da família das
Melastomaceas.
Obs.: m.q. Ma ndapuça. [Nativa do Brasil, de madeira muito dura, folhas elípticas,
coriáceas, flores alvas, em fascúculos axilares e bagas globosas, escuras, comestíveis;
cafezinho, xiputa. Etim.. segundo Nascentes, tupi nanapu’sa, também doc. Manapuça,
manipuçá (HOUAIS S, 2001).]
MARIA -MOLE, s. f. (Paraná) o mesmo que Umbú (2º).
182
MARIMARI, s. m. (Pará) nome vulgar de uma árvore frutífera do gênero Cassia (C.
Brasiliana). || Etim. Pertence ao dialeto tupi do Amazonas.
Obs.: m.q. castanha-de-anta. Etim. segunfo Nascentes, do tupi ma’ri ma’ri [ma’ri=
árvore espinhosa] (HOUAISS, 2001).
MASSARANDÚBA, s. f. Nome comum a diversas árvores pertencentes á família das
Sapotaceas, e cujas frutas são comestíveis. || Etim. É vocábulo tupi.
MATURÍ, s. m. (Piauí, e Pernambuco até o Ceará) castanha ainda verde do cajú, de
que se fazem diversas iguarias e confeitos. Na Bahia lhe chamam Muturi. || Etim. é
provavelmente de origem tupí.
Obs.: matu’ri ‘o que está por vir’ (HOUAISS, 2001).
2 de Palmeiras
MACAÍBA, s. f. (Pern.) o mesmo que Macaúba.
Obs.: m.q. coco-de-catarro (fruto), m.q. pameira-barriguda. Etim. tupi maka’ïwa ‘nome
de palmeira’, também macaúba (HOUAISS, 2001).
MACAÚBA, s.f. (Minas -Gerais) palmeira do gênero Acrocomia, de que se contam três
espécies em todo o Brasil intertropical, variando, porém, de nome vulgar conforme as
províncias: No Pará e Maranhão, Mucajá; em Pernambuco, Macaíba; em Mato -Grosso,
Bacaiuba e Bocaiuba; e finalmente no Rio de Jan. Coco de catarro. || Etim. Afóra êste
último nome, são os mais de origem tupi. O de Côco de catarro, vem, segundo dizem,
de se empregar a polpa mucilaginosa dessa fruta no tratamento do catarro.
MARIA -ROSA, s. f. (Minas-Gerais) palmeira do gen. Cocos (C. Procopiana, Glaz.). || O
nome especifico desta palmeira lhe foi dado pelo ilustre classificador, em memória de
Mariano Procopio Ferreira Lage, em cujas terras a encontrou.
Obs.: sin. Baba-de-boi-grande, guariroba, jururá, mariroba; fato histórico 1899
(HOUAISS, 2001).
MARAJÁ, s. m. (Pará) nome comum a duas palmeiras, sendo uma do gênero
Astrocaryum (A. Aculeatum) e outra do gênero Bactris (B. Marajá), e cujas frutas são
comestíveis. || Etim. É vocábulo tupi.
Obs.: As drupas ovóides são roxas quase pretas, comestíveis, de que se faz refresco
e se extraí óleo (HOUAISS, 2001).
183
3 de Arbustos
3.1 Bebíveis ou licorosos
MANGÁBA, s. f. Fruta de Mangabeira, arbusto do gênero Hancornia (H. Speciosa),
família das Apocyneas. || Etim. É termo tupi.
Obs.: Etim tupi ma’ngawa planta da fam. dasapocináceas. [us. No fabrico de bebida
viscosa; cachaça (HOUAISS, 2001)].
4 de Tubérculos
MANDIÓCA, s. f. Planta do gênero Manihot (M. utilíssima) da família das Euforbiáceas,
da qual ha muitas espécies. || Etim. E’ voc. De origem tupi, hoje universalmente
adotado, ainda que variando de fórma de uma para outra língua européia; em francês e
inglês manioc, em italiano manioca; Os espanhóis lhe chamam, porém, yuca, nome
que não se deve confundir com o gênero yucca, da família das Liliáceas.
MACAXEIRA, s. f. (provs. do N.) o mesmo que Aipim.
Obs.: m.q. mandioca. Etim. tupi maka’xera ‘mandioca mansa, aipim’, cp. Macaxera
(HOUAISS, 2001).
MANGARITO, s. f. Planta do gênero Caladium (C. Sagittaefolium) da família das
Aroídeas, cujos tuberculos são comestiveis. || Etim. É vocábulo de origem tupi. Seu
nome primitivo era Mangará -mirim.
MANGARÁ (1°), s. m. Nome que davam os Tupinambás aos tuberculos comestíveis de
diversas espécies de plantas do gênero Caladium, família das Aroideas.
[Obs.: de acordo com Silveira Bueno Voc. Tupi-guarani – mangará é uma espécie de
cará (HOUAISS, 2001)].
5 de Ervas
5.1 Trepadeiras
MARACUJÁ, s. m. Fruta do Maracujeiro, planta do gênero Passoflora, da família das
Passifloraceas, de que ha inumeras espécies, umas sarmentosas e outras arboreas. ||
Etim. Alteração do tupi Murucujá.
Obs.: Segundo Silveira Bueno (Voc.Tupi-guarani) o vocábulo maracujá é alteração do
guarani mbaracay’a , propriamente, gato. A flor cujas tintas lembram a cara de um gato.
(cf. HOUAISS, 2001).
184
MURUCUJÁ, s. m. Nome antigo do Maracujá. || Etim. é vocábulo tupi. || Os guaranis do
Paraguai lhe chamam Mburucuyâ (Montoya).
5.2 Leguminosas
5.2.1 Sementes
MANDUBÍ, nome tupi do Arachis hypagoea, planta da tribu das Papilonaceas, família
das Leguminosas. Hoje dizem geralmente Mendubi e também amendoí, como já no
seu tempo o fez G. Soares. || No Ceará lhe chamam Mudubim (P. Nogueira).
MENDUBI, s. m. O mesmo que Mandubi.
MUDUBIM, s. m. (Ceará) o mesmo que Mandubi.
5.3 Caule Rasteiro
MAXIXE (1°), s.m. fruta hortense de gênero Cucumis (C. Anguria) da família das
Cucurbitaceas.
Obs.: planta anual (Cucumis anguria) da família das curcurbitaceas, nativa da América
Central, de caule rasteiro, folhas com cinco lobos, flores pequenas, bagas ovóides
apresentam numerosos apêndices, semelhantes a espinhos flexíveis, e pequenas
sementes brancas. É cultivada desde a Antigüidade pelos frutos comestíveis, ainda
verdes, crus, em saladas, ou refogados, com um cultivar prov. Derivado da subespécie
longipes, nativa da África. Etim quimbundo maxixer; segundo Renato Mendonça, pl. De
rixixe; sin/var cornichão-das-antilhas, maxixe -bravo, maxixe -do-mato, maxixo, pepino castanha, pepino-da-américa, pepino-das-antilhas, pepino -de-burro, pepino-espinhoso
(HOUAISS, 2001).
N
Tipos
1 de Arbustos
1.1 Bromélia
NANÁ, s. m. Nome tupí do Ananaz (Ananassa sativa).
185
P
Tipos
1 de Árvores
PITOMBA, s. f. Fruta da Pitombeira, árvore do gênero Sapindus (S. edulis, SaintHilaire), da família das Sapíndaceas.
PITOMBO, s. m. (Bahia) fruta do pitombeiro, árvore do gênero Eugenia, da família das
Myrtaceas. Em Pern. lhe chamam Ubáia.
PINHA (1°), s. f. (Bahia, Pern.) o mesmo que Ata.
PUSSÁ (2°), s. m. (Piauí, Ceará) fruta do Pussazeiro, planta do gênero Mouriria (M.
Puça), da família das Melastomaceas. [Pussá (1°), s. m. como instrumento de pescar
camarões.]
Obs.: m.q.q mandapuçá. Bagas globosas comestíveis; cafezinho, xiputa; jabuticaba-docampo, jabuticaba-do-cerrado, manapuçá, manipuçá, puçá, minduru, mumdururu,
moroso-cigano (HOUAISS, 2001).
1.1 Bebíveis ou licorosos
PIQUÍ, s. m. Fruta de diversas espécies de plantas do gênero Caryocar, representado
por árvores e arbustos. No Pará lhe chamam Piquiá (2°).
PIQUIÁ(2°), s. m. (Pará) o mesmo que Piquí.
PIQUIÁ (3°), s. m. (Bahia) nome da fruta de uma árvore, cuja classificação não me é
conhecida.
2 de Arbustos
PITANGA (2°), s. f. Fruta da Pitangueira, planta de várias espécies e dimensões,
pertencentes ao gênero Stenocalyx, da família das Myrtaceas. || Etim. É contração de
igbápitanga, vocábulo tupi significando fruta vermelha.
2.1 Sementes
PIMENTA -DA-COSTA, s. f. (Bahia) espécie de fruta africana, cujas sementes são
empregadas como condimento e têm o ardor da pimenta.
Obs.: m.q. malagueta; m.q. pimenta-da-África (HOUAISS, 2001).
186
3 de Palmeiras
PALMITO, s. m. rebento central das palmeiras, de que se usa como legume, tanto nos
guisados, como nas empadas, e até crú em salada. Bem que todas as plantas desta
família produzam palmitos comestíveis, todavia algumas espécies há a que se dá a
preferência, e a estas dão por excelência o nome Palmito; tais são o Palmito-mole
(Euterpe edulis), o Palmito-amargoso (Cocos Miksnisns), aos quais também chamam,
o primeiro, Assaí, Jissára ou Jussára, e o segundo Guáriróva. || O voc. Palmito é bem
antigo na língua portuguêsa, e ha perto de quatrocentos anos que dêle se serviu Vaz
de Caminha, na carta que, de Porto-Seguro, em 1° de Maio de 1500, dirigiu a el-rei D.
Manuel, relatando-lhe a descoberta do Brasil.
Obs.: Etim. palma + -ito; do lat. palma ‘palma da mão; tronco da palmeira, palmeira;
der. E comp. Latinos palmus ‘palmo, medida de comprimento; Botánica seg. AG
Cunha, diz-se de qualquer órgão foliáceo subdividido até o eixo, estando os segmentos
no ápice; palmito (1500) (HOUAISS, 2001).
PUPUNHA, s. f. Palmeira do gênero Guilielma (G. speciosa) cuja fruta cozida é mui
apreciada, e é cultivada em todo o vale do Amaz., e em princípio de cultura no Rio de
Janeiro.
4 de Ervas
4.1 Gramínea
PIPÓCA, s. f. Grão de milho arrebentado ao calor do fogo, e que se come á guisa de
biscoutos. No Pará dão a isso o nome de Póróróca (2°). || Milho de pipóca é uma
espécie ou variedade desta graminea mais apropriada à feitura da Pipóca. Também
chamam pipócas ás pistulas cutaneas: Estou com o corpo coberto de Popócas. || Etim.
do verbo tupí Apoc ou Poc, arrebentar, estourar, estalar.
Obs.: erva anual de até 3m (Zea mays), da família das gramíneas, com folhas
lanceoladas, espiguetas famininas axilares, gerando espigas com grãos brancos,
amarelos, avermelhados ou azulados [Nativa da América do Sul com inúmeras
variedades e hídridos (cf. HOUAISS, 2001).
PÓRÓRÓCA (2°), s . f. (Pará) mesmo que pipóca.
4.2 Arborescene
PACÓBA, s. f. Nome que davam os povos da raça tupí, ás espécies de Bananas
naturais do Brasil e do Paraguai. Êste nome, sob a fórma Pacóva, ainda é usual no
Piauí, Maranhão e Pará. Nesta última província, só dão o nome de Banana ás espécies
exoticas. No Rio de Janeiro se aplica exclusivamente o nome de Pacóba a uma
espécie notável pelo grande desenvolvimento da fruta. No Paraguai dizem Pacová, e
187
bem que Montoya tivesse escrito Pacobá, cumpre atender a que o b espanhol é igual
ao v português.
PACÓVA, s. f. O mesmo que Pacóba.
Q
Tipos
1 de ERVA
QUIÁBO, s. m. Fruta do Quiabeiro, planta hortense do gênero Hibiscus (H. esculenus)
da família das Malvaceas, de que ha diversas variedades. || Etim. Sendo êste produto
de origem africana, é provavel que seu nome tenha também vindo de alguma região
daquêle continente. || Também lhe chamam Quingombô, nome que tem sua origem na
língua bunda.
QUINGOMBÔ, s. m. (Rio de Jan.) o mesmo que Quiabo.
S
Tipos
1 de Árvores
SAPUTÁ, s. m. (S. Paulo) fruta do Saputazeiro, planta do gênero Tontelea, da família
das Hippocrateaceas, e da qual ha várias espécies (Martius).
Obs.: m.q. bacupari-do-campo, m.q. boca-de-velha. Etim talvez tupi sapu’ta, segund o
Nascentes (HOUAISS, 2001).
SAPUTÍ, s. m. Fruta do Saputizeiro, árvore do gênero Sapota (S. Acras) da família das
Sapotaceas, geralmente cultivada no Brasil, desde o Pará até o Rio de Janeiro, além
de ser comum a todos os países da América situados na zo na intertropical. || Etim. É
vocábulo de qualquer das línguas indigenas da América, donde é natural êste produto.
T
Tipos
1 de Árvores
TAPEREBÁ, s. m. (Pará) o mesmo que cajá.
Obs.: m.q. cajá (fruto); m.q. cajazeira (Spondias mombin); m.q. Umbuzeiro (Spondias
purpurea); m.q.Umbu (fruto de Spondias purpurea). Etim. ver em taperibá. [taperibá
188
etim. tupi *taperï’wa ‘fruto’, adaptação também ao português taperebá (HOUAISS,
2001).
U
Tipos
1 de Árvore
UBAIA, s. f. (Pern.) o mesmo que Pitombo. || Eti. E’ voc. De origem composto de igbá,
fruta, e aya, azeda.
UMBÚ (2º), s. m. (Paraná, S. Catarina e R. Gr. do S.) grande árvore do gênero Pircunia
(P. Dioica, Moq.) da família das Phytollacceas (Glaziou). Esta árvore também vive
também no Paraguai e na República Argentina; e, imprópria para qualquer obra, dá,
todavia, cinza mui carregada de potassa. No Paraná, lhe chamam também Maria-mole.
189
ANEXO 2
CAMPO SEMÂNTICO DE BAILE
Origem Indígena
PURACÊ, s. m. (Vale do amaz.) espécie de baile em que folgam os índios, depois da
festa que celebram, por ocasião da admissão dos mancebos às filas dos guerreiros,
festa que consiste em se açoutarem alternadamente com duros azorragues, por
espaço de oito dias, durante os quais as mulheres preparam os licôres e comidas (L.
Amazonas). || Etim. É voc. De origem tupi. No dialeto amazoniense puraçai significa
dansa..
Obs.: encontrado apenas no LELLO UNIVERSAL s/d e LAUDELINO FREIRE (1957).
Origem Portuguesa com suas Adaptações Regionais
FANDANGO, s. m. (provs. merid.) nome de certos bailes ruidosos, de que usa a gente
do campo, cantando, dançando e sapeteando ao som da viola. São muitas as
variações destes bailes, e se distinguem pelos nomes de Anú, Bambáquerê,
Bemzinho -amôr, Cará, Candieiro, Chamarrita, Chará, Chi co-puxado, Chico-da-ronda,
Feliz-meu-bem, João -Fernandes, Meia-canha, Pagará, pega-fogo, Recortada,
Retorcida, Sarrabalho, Serrana, Tatú, Tirana e outras, cujos nomes se resentem da
origem castelhana (Coruja).
Obs.: dança, música, dança e canto espanhóis de origem árabe, em compasso
ternário, acompanhado de guitarra ibérica e castanholas. MG SP S Brasil, baile
popular; festa animada, com danças. Etn. Brasil N. E. Auto ou representação de Natal
em que os personagens aparecem vestidos de marinheiros e oficiais e cantam e
dançam ao som de instrumentos de corda, barca, chegança, marujada, marujos. Brasil
confusão barulhenta. Etim. espanhol fandango séc. XVIII baile introduzido pelos que
estiveram nos reinos das Índias; de orig. controv. Talvez derivado do português fado na
acp. música que acompanha o baile popular, cuja letra comenta o destino (fado) das
pessoas. [FADO etim. latim fãtum ‘predição, profecia, oráculo’ (HOUAISS, 2001).]
BEMZINHO-AMÔR, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres, a que chamam geralmente Fandango (Coruja)
Obs.: festa em que se bailam danças regionais ao som de cantigas populares
(HOUAISS, 2001).
190
CANDIEIRO (1°), s.m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades dêsses bailes
campestres, a que chamam geralmente Fandango. [LELLO UNIVERSAL s/d –
CANDEEIRO Ant. archote em assaltos nocturnos às fortalezas. Prov. do Minho e
Angola. Bailarico, espécie de fandango.]
CHAMARRITA s. f. (r. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres, a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: m.q. Chama-Rita, m.q. chimarrita. [Chama-rita dança tradicional dos Açores
introduzida no Sul do Brasil, como uma modalidade de fandango; chamarrita. Açores
informal: composição de má qualidade (HOUAISS, 2001).
CHICO-DA- RONDA, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamamos geralmente Fandango.
CHICO-PUXADO, s.m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: dança de roda; uma das modalidades de execução do chico também se diz
apenas ‘puxado’. [CHICO: modalidade de fandango brasileiro, em que os pares,
girando em sentido horário, alternam de posição. Etim. espanhol (séc. XII) ‘pequeno’,
de criação expressiva, vocábulo que, segundo Corominas só indiretamente estaria
relacionado ao latim ciccus, ‘membrama que separa os grãos da romã; pouca coisa,
coisa de pouco valor (HOUAISS, 2001).]
FELIZ-MEU-BEM, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
bailes campestres a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: [FELIZ – elemento de composição antepositivo, do latim felix, ‘feliz, ditoso,
venturoso, rico, abastado, opulento, próspero, fecundo, fértil; ocorre em cultismos e
vulgarismos do séc. XIV em diante (HOUAISS, 2001).]
JOÃO-FERNANDES, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango.
MEIA -CANHA, s. f. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango. No Paraguai há também uma dança
a que chamam Media-caña.
Obs.: Dança de roda do fandango brasileiro na qual em determinado momento, a
música é interrompida e o cavalheiro, ao centro, recita uma quadra para sua dama;
meia-cana. Etim. Segundo Nascentes, do platense mediacanã (HOUAISS, 2001).
191
PAGARÁ, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres,
a que chamam geralmene Fandango.
PÉGA -FÓGO, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres, a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: espécie de dança de roda . Dança rural gaúcha, cantada e de intenso bate-pé.
Etim. A datação é para a acepção de dança, música (HOUAISS, 2001).
QUERO-MÂNA, s. m. (R. Gr. do S.) uma das variedades dêsses bailes campestres, a
que chamam geralmente Fandango (Cesimbra).
Obs.: QUERO-MANA - variedade de fandango em compasso binário com canto,
palmas e sapateado (HOUAISS, 2001).
RECORTÁDA, s. f. (R. Gr. do S.) uma das variedades dêsses bailes campestres, a que
chamam geralmente Fandango.
Obs.: Eti m. fem. De recortado. [Recortado (4) dança, mús. Tipo de dança cantada e
sapateada, independente ou ligada ao cateretê, com muitas variantes coreográficas,
dependendo da região; contradança; m.q. recorte. Em Goiás canto popular,
complemento da moda, porém de andamento vivo e de assunto humorístico
(HOUAISS, 2001)].
RETORCIDA, s. f. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades dêsses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: dança sapateada do fandango brasileiro, desenvolvida no campo [similar à
Chula, esp. no que se refere aos requebros do dançarino solista.] Etim. fem. Substv. de
retorcido (HOUAISS, 2001).
SARRABÁLHO, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: Dança, música SP, RS, dança do fandango (dança de roda) com palmas,
sapateado e castanholar dos dedos; sarrabaio. Etim. origem obscura (HOUAISS,
2001).
SERRÁNA, s. f. (R. Gr. do Sul) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: (1) aquela que nasceu ou vive nas serras. (2)Lit. Portugal m.q. serranilha. (3),
música RS dança do fandango brasileiro. Etim. fato histórico séc. XIV serrana, 1615
serrana (HOUAISS, 2001).
192
TIRANA, s. f. (R. Gr. do S.) variedade desses bailes campestres a que chamam
geralmente de Fandango (Coruja).
Obs.: na península Ibérica, originalmente dança com canto em compasso binário
composto e andamento moderado, posteriormente limitado ao canto (HOUAISS, 2001).
Origem Indígena
ANÚ (2°), s. m. (R. G. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres
a que chamam geralmente Fandango (Coruja)
Obs.: Br SP, S. dança ou baile rural, marcados por coreografias; modalidade de
fandango. Primeira marca do fandango, em que mulheres e homens se reve zavam na
roda (se bem que só estes sapateiem), as palmas substituem (nos intervalos) o
sapateado e o passo principal (o oito) é realizado pelos homens, tendo as damas por
centro dos dois círculos. || Etim. tupi a’nu. [Segundo Dic. da Academia de Letras – a
palavra a’nu significa em tupi ‘parecido’ (HOUAISS, 2001)]
CARÁ(3º), s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres
a que chamam geralmente Fandango.
Obs.: encontrado no LELLO e DIC. MELHORAMENTOS.
TATÚ (3°), s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres, a que chamam geralmente Fandango (Coruja).
Obs.: No RS espécie de fandango (brasileiro), em que os pares entoam trovas
populares sobre o tatu, com sapateado e bater de esporas dos cavalheiros. Brasil
Sergipe e Centro-Oeste do Brasil dança de roda, virtuosista e de caráter satírico em
que um dos participantes narra, cantando, uma caçada ao tatu. MG m. q. pau-marfim
(Agonandra brasiliensis. RS m. q. carijo. Etim. tupi ta’tu. Designação de mamíferos
desdentados. fato Hist. 1560 tatú, 1576 tatús, 1586 tactus, 1592 tatu (HOUAISS, 2001).
Baile de Origem Africana
BAMBÁQUERÊ, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes
campestres a que chamam geralmente Fandango (Coruja).
Obs.:Br. m.q. Bambá (dança de negros, conflito, confusão). RS dança do fandango em
que homens e mulheres dançam em torno de um par solista, que culmina sua
execução com uma umbigada. Etim. segundo Nei Lopes, quimbundo mbamba
‘variedade de dança ou jogo’, com term. Ligada ao último elemento do refrão ‘bambá,
sinhá, querê’(HOUAISS, 2001).
193
[BAMBÁ, s. m. (Bahia) sedimento que fica no fundo do vaso em que fabricam essa
variedade de azeite de dendê a que chamam azeite-de-cheiro.]
SARAMBA, s. f. (R. Gr. do S.) espécie de fandango. || Etim. Virá de Sarambéque,
dança alegre e buliçosa usada pelos pretos?
Obs.: dança de roda. Etim. provavelmente de origem africana; de acordo com Nei
Lopes, há duas hipóteses: uma segundo a qual o voc. procederia do nhungue
ntsaramba ‘guizo, chocalho’; segundo a outra, seria redução de sarambequé; alude
ainda o citado africanologista à hipótese de John T. Schneider, para quem o étimo
poderia ser salamba, do ajava (HOUAISS, 2001).
FÓRRÓBÓDÓ, s. m. (Rio de Jan.) baile, sarau chinfrim. O baile dado pelos
carnavalescos não passou de um fórróbódó.
Obs.: Etim. segundo Evanildo Bechara, variação atual do galego forbodó, termo
privativo da região, mas comum a todo o Portugal, associando-o Joseph Piel a
farbodão, do fr. faux-bourdon, figuradamente ‘sensaboria, desentoação’; a ligação
semântica entre fabordão e forrobodó decorre de que, na região pesquisada, segundo
registra Bouza-Brey, a gente ‘danza con absoluta seriedad a golpe de bombo, los
puntos monorrítmicos monótonos de eses baile que se llama forbodo’. Sin. Confusão e
forró (cf. HOUAISS, 2001).
SÃO-GONÇALO, s. m. (Piauí) espécie de baile no qual os festeiros dançam, cantam e
se embriagam, e tudo isso á noite, ao lar livre e em frente de um altar com a efige de
S. Gonçalo. Êste baile tem muitas vezes por objeto o cumprimento de uma promessa
feita áquêle santo pelo curativo de algum enfermo, ou por outro qualquer motivo de
regosijo.
CAMPO SEMÂNTICO DE DANÇA
Origem Européia
BAHIANO (3°), s. m. (Ceará) o mesmo que Baião.
[BAIÃO, s. m. (Ceará) espécie de divertimento popular, a que também chamam
Bahiano (3°), e consiste em danças e cantos ao som da música instrumental. (j>
Galeno). || Etim. Talvez seja êste vocábulo a corruptela de Bailão, termo português que
significa bailador, ou a alteração de Bahiano, e nêste caso deveriamos escrever
Bahião. ]
Obs.: Br. N. E. dança popular originada do ‘baiano, ou o canto popular que a acompanha,
geralmente entoado ao som de viola e de outros instrumentos (sanfona, acordeão etc);
baiano, lundu-chorado, choradinho; m.q. rojão (HOUAISS, 2001).
194
[BAHIANO, A (2°), s. m. (Piauí) o mesmo que Caipira.]
Dança de Origem Africana
CANDOMBE (2°), s. m. (provs. merid.) espécie de batuque com que se entretêm os
negros em seus folguedos. || É analogo ao quimbête, ao caxambú, ao jongo, ao
maracatú de Pernambuco. Talvez seja semelhante ao Candomblé da Bahia, mas sem
exercícios de feitiçaria. [CANDOMBE 1° espécie de rêde de pescar camarões,
manejada ordináriamente por um só homem.]
Obs.: Olga Cacciatore propõe o híbrido quimbund o ka ‘costume’ + ndombe ‘negro’ (no
sentido de costume de negros): Nei Lopes, o quimbundo Kiandombe ‘negro’
(HOUAISS, 2001).
CATÊRÊTÊ, s. m. (Provs. merid.) espécie de batuque, que consite em danças lascivas
ao som da viola.
Obs.: dança rural muito difundida em que os participantes formam duas filas, uma de
homens e outra de mulheres e, ao som de música sapateiam e batem palmas; caatira.
Etim. orig. controv. Segundo A. Geraldo da cunha de prov. Orig. africana, mas de étimo
indeterminado; segundo JM, ori gem onomatopáico (HOUAISS, 2001).
CAXAMBÚ, s. m. (Minas Gerais) espécie de batuque de negros ao som do tambor. É
semelhante ao Quimbête, com a diferença de que êste se exerce nas povoações, e
aquêle nas fazendas.
Obs.: Geo GO morro em forma de tambor. Miner. Brasil C. –O. acumulação em monte
do cascalho extraído do gorgulho, nas faldas das montanhas. Lud. Inform. Situação em
que uma ou mais cartas, ao serem embaralhadas, ficam erradamente dispostas em
relação às outras, face ou costas. Dança afro -brasileira, semelhante ao batuque e com
canto responsorial, ao som do caxambu (tambor) e de cuícas, cacumbu. Etim. prov. De
origem africana; segundo Nei Lopes, de orig. banta; AGC afirma ‘de provável orig.
aficana mas de étimo indeterminado’; Luiz Caldas Tibiriça, s.v. Caxambu (top.) registra
‘de caxambu’, esp. De tambor, que os escravos usavam em suas danças (HOUAISS,
2001).
CÔCO-INCHADO, s. m. (Ceará) nome de uma certa dança popular.
[CÔCO: Br. N. Br. N.E., tipo de dança de roda, em compasso binário ou quaternário,
cantada em coro que corresponde ao coqueiro (cantor) e acompanhada por percussão;
pagode. Música cantiga independente que às vezes, acompanha a dança.] [CÔCO
agalopado tipo de coco que não tem estrutura poética fixa.] [COCO, s. m. cantiga
popular, ao som da viola e que, as vezes, serve para dança; ‘um côco ou um
choradinho tinha seu lugar’ (Afrânio Peixoto in LAUDELINO FREIRE, 1957)].
195
COCUMBÍ, s. m. (provs. Merid.) espécie de dança festival própria dos Africanos. ||
Também sae diz Cucumbi.
CUCUMBI, s. m. (Provs. Merids.) o mesmo que cocumbi.
[CUCUMBÍ (1762) tipo de dança dramática com cortejo e coreografias guerreiras de
que não restou documenntação musical. Etim. segundo Nei Lopes do quimbundo
kikumbi ‘puberdade, festa da puberdade, rito de passagem para a adolescência”
(HOUAISS, 2001).] [CUCUMBI, ou CUCUMBY, sm. Festa popular, de origem africana,
que consta de bailados e músicas acompanhadas de cantaria: “o auto do “Congado”,
que na Baía toma o nome de cucumbi” (Afonso Arinos in LAUDELINO FREIRE, 1957).]
CURURÚ (2°), s.m. (Mato-Grosso) espécie de batuque usado pela gente da plebe, no
qual os homens e às vezes as mulheres formam uma roda e volteando burlescamente
cantam à porfia, ao som de insipida música, versos improvisados, e tudo animado pela
cachaça (Ferreira Moutinho). [CURURÚ (1°) nome generico do sapo na língua tupí.
Hoje só o aplicam a certas espécies destes Batráquios.]
FARINHA=QUEIMADA, s.f. (Ceará) espécie de bailado popular (Araripe Junior).
FURRUNDÚ (2°) s. ml (S. Paulo) espécie de dança de que usam os camponeses.
[Furrundú (1°) s. m. (S. Paulo) espécie de doce feito de cidra ralada, gengibre e açúcar
marcavo.]
Obs.:Etim. segundo Nei Lopes, prov. Orig. banta, cf. Quicongo mfulu ‘reunião’ e
ndungu ‘panela’ (cf. HOUAISS, 2001).
FURRUNDUM, s. m. (S. Paulo) o mesmo que Furrundú (1°)
JONGO, s. m. (Rio de Jan., Minas Gerais, S. Paulo) espécie de dança de que em seus
folguedos usam os negros nas fazendas. É acompanhado por seus rudes instrumentos
musicais, como a puita, o tambor, etc. (B. Homem de Mello). || É análogo ao
candumbe, que se pratica nas mesmas provincias, e ao Maracatú de Pernambuco.
Obs.: dança de roda de origem africana do tipo batuque ou samba, com
acompanhamento de tambores, solista no centro e eventual presença da umbigada, e
cujo canto é do tipo estrofe e refrão; caxambu, corimá, tambu Etim. origem controv.;
Nascentes deriva do quimbundo jihungu ‘nome de um instrumento musical dos negros’,
assim como Angenot et alii; Nei lopes dá como étimo o umbundo onjongo ‘nome da
dança de um povo banto da região de Angola’ (HOUAISS, 2001).
196
LUNDÚ (1°), s. f. Nome de uma dança popular que se executa ao som de música mui
atraente. Entre gente grosseira é dança mais ou menos indecente; mas, entre pessoas
moralistas, é sempre praticada de modo conveniente. O mesmo nome tem a música
que a acompanha. || Etim. Segundo Moraes, é voc. da língua congueza e bunda. Póde
ser que assim seja; mas Capello e Ivens não a mencionam em parte alguma da sua
obra.
Obs.: designação de várias canções populares inspiradas em ritmos africanos que
foram introduzidas em Portugal e no Brasil a partir do século XVI. Dança de par
separado, em compasso binário com primeiro tempo sincopado; mulundu. Etim. origem
controversa; Nei Lopes aventa o top. Quicongo Lundu ‘nome de um país perto de
Kingoyi’ (segundo o Dictionnaire Kikongo-Français de K. E. Lamn, Bruxelas, 1936), a
região de origem dos quiocos, e também um top. Lundu em Moçambique (HOUAISS,
2001).
MARACATÚ, s. m. (Pern.) especie de dança, com que se entretêm os negros boçaes
(Abreu e Lima). || É analogo ao candombe e ao jongo das províncias meridionais. ||
Etim. Deve talvez seu nome ao uso que fazem do maracá, como instrumento musical.
Obs.: dança em que um bloco fantasiado, bailando ao som de tambores, chocalhos e
gonguê, segue uma mulher, que leva na mão um bastão em cuja extremidade tem uma
boneca ricamente enfeitada (acalunga) e executa evoluções coreográficas. Etim.
origem africana provavelmente banta (HOUAISS, 2001).
QUIMBÊTE , S. M. (Minas Gerais), o mesmo que Candombe (2°), espécie de batuque de
escravos, ao qual chamam também Caxambú, quando é exercido nas fazendas. || Etim. È
Provavelmente de origem africana.
Obs.: a dança é acompanhada por instrumentos de percussão, batuque (HOUAISS,
2001).
REVIRA, s. m. (provs. do N.) espécie de bailado de negros de gente da plebe.
Obs.: Etim. Regressão de revirar (HOUAISS, 2001).
SAMBA, s. m. Espécie de bailado popular.
Obs.: dança de roda semelhante ao batuque, com dançarinos solistas e eventual
presença da umbigada, difundida em todo o Brasil com variantes coreográficas e de
acompanhamento instrumental. Etim. banto, mas de étimo controversa (HOAUISS,
2001).
SARANDEAR, v. intr. (r. Gr. do S.) saracotear, menear o corpo na dança (Cesimbra). ||
Etim. É vocábulo mexicano.
197
Obs.: Saracotear-se, menear o corpo (na dança); executar um sarandejo. Brasil Sul,
dançar a sarabanda; Etim. saranda + -ear. [saranda mo Brasil aquele que não tem
ocupação e não gosta de fazer coisa alguma; vadio, vagabundo. Etim. orig. obsc.;
Figueiredo, no entanto, assevera ser alteração de ciranda. [Sarandejo- movimento de
dança em que a dama segura a saia enquanto o cavalheiro executa o sapateado. Etim.
regressão de sarandear (HOAUISS, 2001).]
198
ANEXO 3
CAMPO SEMÂNTI CO DE BEBIDAS
BEBIDAS FERMENTADAS
Origem européia
BEBÍDA, s. f. (Pern. e outras Provs. do N.) nome que dão a certos e determinados
mananciais ou depositos de água pluvial, onde costumam beber os animais, quer
domésticos, quer silvestres. Na estação da sêca, quando é geral a falta d’água, são as
Bebidas lugares idôneos para as caçadas, pela multidão de aves e outros animais que
ali se reunem. || Etim. Em linguagem portuguêsa chamam a isso Bebedouro.
Obs.: (s. XIII) qualquer líquido bebível. M.q. Tisana (medicamento) P. Inform. mistura
de café e vinho com açúcar. P. Cr. Murro, soco, bofetada violenta (HOAUISS, 2001).
AGÜAPÉ, s.m. nome que dão ás diversas espécies de vegetações que se criam à
superficie dos lagos e outras águas mortas. || Etim. É vocábulo comum a todos os
dialetos da língua tupi. || Morais não o menciona. No seu artigo Agua, encontra -se
Agua pé significando uma espécie de vinho mui aguado e fraco, produzido pela mistura
da água com o suco da uva já expremida. Aulete escreve Agua-pé, tanto no sentido
português, como no sentido brasileiro da palavra, a nêste último caso é erro manifesto.
Obs.: Água -pé em Portugal bebida de baixo teor alcoólico, que se obtém adicionando
água ao pé (bagaço) das uvas da primeira espremedura, e fermentada. Por extensão
no Brasil informal aguardente de cana; cachaça; fato histórico 1440 agua pee
(HOAUISS, 2001).
BICHA, s. f. (Pern. E outras Provs. do N.) o mesmo que Manduréba.
CACHAÇA, s. f. Aguardente feita com o mel ou borras do melaço, diferente da que
fabricam com o caldo da cana, á qual chamam aguardente de cana ou caninha. || Etim.
Aulete atribui a êste vocábulo uma origem exclusivamente brasileira, entretanto que
Moraes, citando a autoridde de Sá de Miranda, o dá como português, significando
vinho de borras. Diz mais Aulete que também lhe chamam tafiá, o que não é exato,
quanto ao Brasil, onde êsse têrmo, puramente francês, é completamente desconhecido
do vulgo. || Obs. Na Bahia, e outras províncias do Norte, são também o nome de
cachaça á escuma grossa, que, na primeira fervura, se tira do suco da cana na
caldeira, onde se alimpa, para passar ás tachas, depois de bem depurado, e ajudado
com decoada de cal ou cinza (Moraes). Esta espécie de cachaça é distribuída ao gado,
199
e muito concorre para engorda-lo || Fig. Paixão dominante: A cultura das flôres é a
minha cachaça.
Obs.: Do vocábulo no séc. XIII como cachaça ‘parte do pescoço dos (HOAUISS, 2001).
CANINHA, s. f. Aguardente de cana de açúcar.
LARANJINHA (1°), s. f. Aguardente de cana aromatizada com casca de laranja.
Obs.: m.q. limão-de-cheiro (cf. HOAUISS, 2001).
MADÚRO, s. m. (R. de Jan.) espécie de bebida fermentada feira com mel de tanque
misturado com água. Constitui uma espécie de cerveja que dizem ser pouco sadia. ||
Etim. Em Portugal dão nome de vinho maduro, ao que é feito em geral de uva bem
madura; mas isto não me parece poder ser a origem do nosso vocábulo. Quero antes
crer que seja o metaplasmo de Maluvo, que na língua bunda significa vinho, tanto mais
que o Maluvo dos Africanos é feito com mel fermentado.
Obs.: [Maluvo bebida obtida da fermentação da seiva de uma palmeira conhecida
como bordão, muito apreciada em alguns países africanos; lutombo. Por ext. Bebida
fermentada em geral. Etim. Bundo maluvu; as diversas formas cariantes são dialetais
ou provêm de equívoco no registro (HOAUISS, 2001).]
Origem Indígena
CATIMPUÊRA, s. f. (Alagôas) espécie de bebida fermentada feita com a mandioca
mansa ou aipim cozido, reduzido a pasta passada pela peneira e posta dentro de um
vaso novo de barro ou pote, de mistura com uma quantidade suficiente de água, à qual
se ajunta mel de abelhas. Deita -se o vaso em lugar aquecido, ordináriamente junto ao
fogão e não mui longe do fôgo. Depois de alguns dias, manifesta-se a fermentação, e,
terminada ela torna-se potável a bebida. Usam da catimpuêra como regalo e como
remédio (B. de Maceió). Esta bebida é, mais ou menos, a mesma que o Cauim. || No
Pará dão o nome de Guariba ou Beijú-assú a uma espécie de Catimpuéra.
CAUIM, s. m. Espécie de bebida preparada com a mandióca cozida, pisada e posta
com certa quantidade de água, dentro de um vaso, onde a deixam fermentar.
Corresponde ao que em Alagôas chamam Catimpuéra e no Pará Guariba ou Beijúassú. Era o cauim a bebida predileta dos selvagens do Brasil, no tempo da descoberta,
e ainda hoje é usada na província do Esp. Santo e em outras. Os selvagens
preparavam a massa de mandióca por meio da mastigação. Também o faziam com
milho cozido e igualmente mastigado. Segundo Saint-Hilaire, no Esp. Santo,
chamavam -no igualmente cauába; mas cauába ou caguába é mais propriamente o
vaso que contém o cauim. O voc. cauim se encontra no Dic. Port. Bras. O Voc. Bras.
200
Escreve caõy, e Montoya Cagui. No Pará dão os índios à aguardente o nome de cauim
(B. De Jary) ou cauen (Seixas). O cauim preparado com o milho é justamente o que
chamam Chicha em Bolivia.
Obs.: Etim. tupi ka’wï ‘vinho qualquer’; denominação genérica das bebidas fermentadas
preparadas pelos indígenas com a mandioca, o milho e com diferentes frutas
(HOAUISS, 2001).
CAXIXÍ, adj. (Alag., Pern., Par. do N., r. Gr. do N. Ceará) diz-se da aguardente de
qualidade inferior: N’aquela taverna não se vende senão aguardente caxixi.
CHICHA, s. f. O mesmo que Cauim.
Obs.: Etim. espanhol chicha ‘espécie de cerveja da américa do Sul e da América
Central feita principalmente de milho fermemntado’, em muitos países da América
Latina; no México, ‘aguardente de cana’, prov. De chicahh (co-pah), lit. ‘bebida de
milho’, na língua dos índios cunas (Colômbia e Panamá (HOUAISS, 2001).
COTRÉA, s. f. (Serg.) o mesmo que Manduréba.
Obs.: aguardente de cana; cachaça. Etim. orig. obscura; para Nascentes, voc.
Expressivo (HOUAISS, 2001).
GUARÍBA (2°), s. f. (Pará) o mesmo que Catimpuêra. [GUARÍBA (1º), s. m. Nome
comum duas espécies de Quadrumanos.]
JEREBITA, s. f. O mesmo que Manduréba. || Moraes e Aulete escrevem Gerebita .
MANDURÉBA, s. f. (Ceará) nome chulo de cachaça (Araripe Junior). Também lhe
chamam em diversas províncias do norte Branca, Branquinha, Bicha, Jerebita, Poloia,
Teimosa, Cotréa, etc.
PARATÍ (2°) s. m. Aguardente de cana de primorosa qualidade, fabricada no município
dêste nome. [PARATÍ (1º), s. m. Nome vulgar de uma espécie de peixe.]
PILÓIA, s. f. (Ceará) o mesmo que manduréba.
TARUBÁ, s. m. (Pará) espécie de bebida mui usada entre os Tapuios, os quais a
preparam do modo seguinte: ralam a mandioca, expremem -lhe o suco, côam a massa,
com a qual fazem uma espécie do beijú grande, a que por isso chamam beijú-assú. Ao
201
depois reduzem a pó folhas da árvore Curumim, e com ela polvilham o beijú-assú, e
em seguida abafam com folhas e guardam por espaço de oito dias, no fim dos quais
dissolvem-o em água, côam e bebem (F. Bernardino).
TEIMOSA, s. f. (Ceará) o mesmo que Manduréba.
TIQUÍRA, s. m. (Maranhão) aguardente de mandioca (B. de Mattoso). || No Pará esta
espécie de aguardente é produzida pela fermentação do Beiju-assú (J. Verissimo).
BEBIDA REFRIGERANTE
Origem européia
MÁTE, s. m. Folha de Congonha, que, convenientemente preparada e posta de
infusão, constitui uma bebida usual em grande parte da América Meridional. || Máte
chimarrão é aquêle que se toma sem açúcar. || Obs. No Paraguai, onde me achei
anteriormente á guerra dão ao Máte o nome de yerba , e chamam Máte a vasilha em
que o tomam, e a que damos no Brasil o nome de Cuia. Segundo o sr. Zorob.
Rodrigues, o vocábulo Mate ou Mati pertence á língua quichua e significa cabaça.
Obs.: Etim. do espanhol mate – 1570 ‘cabaça vazia para vários usos domésticos,
particularmente, para tomar erva-mate’, ‘infusão da erva mate’, derivado do quichua
‘mati’ ‘cabacinha’ (HOUAISS, 2001).
Origem Indígena
BACABÁDA s. f. (Pará) espécie de alimento feito com a fruta da palmeira Bacaba,
preparada pelo mesmo processo do Assahí.
Obs.: Refresco preparado com a polpa do fruto da bacaba. Etim. bacaba + -ada
(HOAUISS, 2001).
CAJUÁDA, s. f. Bebida refrigerante feita do sumo do cajú, água e açúcar.
CALDO, s. m. Nome que dão ao sumo da cana de açúcar: Caldo de cana. Em S. Paulo
e Pará o chamam Garápa; mas êste termo tem outra significação em algumas
províncias do norte.
202
CUNCA, s. f. (Ceará) espécie de tuberculos sumarentos com cerca de 0,m20 de
diametro, que se desenvolvem nas raizes horizontais do Imbuzeiro. Na estação
calmosa, quando mais se faz sentir a falta de água, são as Cuncas o refrigerio dos
vaqueiros e caçadores, que com elas matam a sêde. Chupam-na como se faz com a
cana de açúcar (P. Nogueira).
GARÁPA, s. f. Nome comum a diversas bebidas refrigerantes. Em S. Paulo, Goiás e
mato-Groso dão esse nome ao caldo da cana, e também lhe chamam Guarápa. Em
algumas províncias do norte Gárapa picada é o caldo da cana fermentado, e o nome
de Garápa se aplica também a qualquer bebida adoçada com melaço. Segundo Simão
de Vasconcelos, Garápa é o termo com que os Tupinambás esignavam uma certa
bebida feita com mel de abelhas. Em Angola, no dizer de Capello e Ivens, entende-se
por Garápa uma espécie de cerveja feita de milho e outras gramíneas, à qual dão
também os nomes de Ualúa e quimbombo, conforme as terras.
GUARÁPA, s. f. (S. Paulo) p mesmo que Garápa.
MÓCÓRÓRÓ(1º), s. m. (provs. do N.) nome comum a siversas bebidas refrigerantes. A
de que usam no Ceará é feita com o sumo de cajú (Santos Souza). No Maranhão é
preparada com arroz contudo de que se fazem papas grossas pouco cozidas, as quais
deitam em uma vasilha de barro com água e algum açúcar e fica a fermentar durante
dois dias: corresponde ao Aluá das outras províncias (D. Braz). No Pará é feita de
mandioca e dela usavam os aborigenes (Thes. do Amazonas). [MOCORÓRÓ (2º)
nome do limonito concrecionado.]
PAIAUARÚ, S. M. (Pará) espécie de bebida feita do sumo de frutas, de mistura com
beijú, e da qual usam os selvagens (Baena).
TIQUÁRA, s. f. (Pará) o mesmo que jacúba. || (Maranhão). Nome de qualquer bebida
refrigerante. Nêste sentido é o mesmo que a garapa de outras províncias. || Etim.
Tanto em tupi, como em guarani, ticú signiica líquido (Dicc. Port. Braz. Montoya). || É
êsse certamente o radical de tiquára.
Obs.: Pará Maranhão m.q. jacuba (papa e bebida) Brasil informal ‘aguardente de cana;
cachaça’. Etim. Tupi *ti’kwara ‘mistura de farinha de mandioca, água e açúcar ou mel’,
usado como bebida ou cozida como mingau (HOUAISS, 2001).
De origem Africana
ALUÁ, s.m. bebida refrigerante feita de arroz cozido, açúcar e sumo de limão.
Também a fazem de fubá de milho. || No Ceará preparam o Aluá com a farinha do
203
milho torrado e açucar J. Galeno). || No Maranhão dão a uma bebida semelhante o
nome de Mócóróró; em S.Paulo o de Caramburú; e em Pernambuco o de Quimbembé.
|| Etim. de ualuá, vocábulo da língua bunda que se aplica a uma espécie de cerveja
feita de milho e outros ingredientes (Capello e Ivens), também lhe chamam quimbombo
e garápa, conforme ao terras. || Moraes e outros lexicógrafos escrevem Aloá. Lacerda
consagra um artigo a Aloa e outro a Aluá. São da maior extravagância as etimologias
com que enfeitam os artigos respectivos. Aulete não menciona êste vocábulo.
Obs.: Etim. quimbundo walu’a. Var. Aruá; fato histórico 1578 oalo (HOUAISS, 2001).
QUIMBEMBÉ, s. m. (Pern.) nome que dão os Africanos a certa bebida preparada com
milho (J. A. De Freitas). É congenere do Aluá. || Etim. é certamente de origem africana,
e tanto mais o creio que Capello e Ivens mencionam Quimbombo como o nome de
uma bebida analoga usada na província de Angóla. Quimbembé e Quimbombo,
variando na forma, pertecem evidentemente ao mesmo radical.
204
ANEXO 4
CAMPO SEMÂNTICO DE ALIMENTO
Origem Africana
ACARAJÉ, s. m. (Bahia, R. de Jan.) espécie de comida feita de massa de feijão cozido,
tendo a forma de b olas, e fritas em azeite de dendê com pimenta malagueta (Capsicum
sp.) Também lhe chamam Acará. Distingue-se do Abará em ser mais apimentado e
não ser envolto em folhas de bananeira (Alberto). || Etim. E’ voc. da língua yorúba
(Neves Leão).
ABARÁ, s. m. (Bahia, R. de Jan.) comida feita da massa de feijão cozida em azeite de
dendê e temperado com Pimenta da Costa e Pijerecum. Dão-lhe a fórma de bolas e
são envoltas em folhas de bananeira, do mesmo modo e com a consistência do Acaçá,
mas em ponto menor (Alberto). || Etim. E’ vocábulo da língua yorúba (Neves Leão).
ACAÇÁ, s. m. (Bahia, R. de Jan.) espécie de bolo de arroz ou de milho moído e pedra,
fermentado ou não, cozido em ponto de gelatina consistente e envolto, enquanto
quente, em folhas verdes de bana neira dobradas em forma retangular, de modo a ficar
o bolo protuberante no centro e achatado para as bordas. Esta comida, oriunda da
África, acha-se de todo vulgarizadas entre as famílias baianas, as quais dela se
servem á guiza de pirão para comer o Vatapá e Caruru, ou dissolvida ligeiramente em
água e açúcar, como bebida refrigerante e substancial, a que chamam Garapa de
Acaçá, mui aconselhada ás mulheres que amamentam. Ha também o Acaçá de leite,
que é um ponto menor, sòmente de fubá de arroz com açúcar e leite de côco, cosido
em ponto menos consistente como uma gelatina trêmula e mui grata ao paladar
(Alberto). || Em Pernambuco dão ao Acaçá o nome de Pamonha de garápa. || Nas
colônias francesas da América dão a certo preparado de mandioca o nome de
Cassave, que parece pertencer ao mesmo radical.
ACARÁ (1º), s. m. (Bahia, R. de Jan.) o mesmo que Acarajé. [ACARÁ (2º), nome
vulgar de diversas espécies de peixes.]
ANGÚ, s.m. espécie de massa feita de farinha de mandioca cozida em panela ao lume,
e serve, á guisa de pão, para se comer com carne, peixe e mariscos. Também lhe
chamam Pirão. Angú de milho ou de arroz é a massa identicamente feita do fubá
destas gramíneas. Angú de madioca puba é aquêle que se faz com a mandioca
fermentada, depois de sovada em gral. Angú de quitandeira, no R. de Jan., é o nome
205
de uma comida, que consiste em Angú, a que se ajunta qualquer iguaria bem
apimentada, temperada com azeite de dendê, e muito do gosto dos gulosos. | | Em
Pernambuco dão o nome de bolão de angú á porção dêle arredondado, que se vende
com guisado de carurú, que é o conduto (Moraes).
Obs.: além da citada Cul. Banana cozida, formando massa compacta. Inform. Falta de
ordem; angu-de-caroço, confusão, complicação, rolo. Inform. Briga que envolve muitas
pessoas; angu-de-caroço, banzé, rolo, sururu. Inform. Inconfidência maldosa; angu-decaroço , intriga, mexerico. Etim. orig. Africana, mas de étimo obscuro. Sinônimo de
confusão e mexerico (HOAUISS, 2001).
ANGUZÔ, s. m. (Pern.) espécie de esparregado de ervas, semelhante ao carurú, que se
come de mistura com o angú.
Obs.: Etim. ioruba angu + -z- + -o; fato histórico 1858 anguzòu; ver anguzô (HOUAISS,
2001).
BÓBÓ, s. m. (Bahia) espécie de comida africana, mui usada na Bahia, a qual é feita de
feujão-mendubi, ali chamado feijão-mulatinho, bem cozido em pouca água, com algum
sal, e um pouco de banana da terra quasi madura. Reduzido o feijão a massa pouco
consistente, juntam-lhe por fim azeite de dendê, em boa quantidade, para o comerem
só, ou incorporado com farinha de mandióca. Ha também o Bóbó de inhame, em que o
feijãoé substituído pelo tubérculo dêste nome (Alberto). || No Pará, Bóbó é o nome
vulgar do pulmão do gado talhado, e vendido com os demais miudos nos açougues (J.
Verissimo).
Obs.: Etim. jeje bo’bo ‘comida d e origem africana feita com feijão.
BOLÃO, s. m. (Pern.) Bolão de Angú é a porção dêle arredondado, que se vende com
guizado de carurú, que é conduto (Moraes).
FAROFA, s. f. Espécie de comida feita de farinha de mandioca ou de milho, que,
depois de humedecida com água, é frita ou antes cozida em toucinho ou manteiga.
Come-se a farófa , à guisa de pão, com a carne, peixe e mariscos. || Etim. Não
encontro êste vocábulo em dicionário algum da língua portuguêsa. Aulete menciona
farofia como vocábulo portuguê s designando uma espécie de doce feito de claras de
ovos batidos com açúcar e canela, igualmente chamado basofias, globos de neve e
espumas. Também diz que no Brasil a farófia é uma espécie de comida feita de farinha
de pau bem misturada com qualquer môlho. Aceitando a definição, porque, afinal de
contas, pode haver muitos modos de preparar essa comida, devo, entretanto, fazer
obsevar que a isso chamam no Brasil farófa e não farófia. Capello e Ivens também
falam da farófia como de uma comida usual na parte da África portuguêsa que
visitaram, e dizem que é a simples mistura da farinha com vinagre, azeite ou água, a
que se ajunta pimenta do Chile ou d’jindungo. Como se vê, é isso apenas uma
variedade da farófa do Brasil. Segundo Aulete, o termo farófia em Portugal tem, no
206
sentido figurado, a significação de cousa ligeira, de pouca importância, insignificância.
No Brasil, farófa não tem êsse alcance.
Obs.: Brasil açúcar granulado de categoria inferior. Qualidade jactancioso; bazófia,
pretensão; farófia. Fig. Inform. Conversa superficial ou sem relevância; conversa que
não leva a nada; conversa fiada; farófia, lero-lero, papo furado. Coisa sem valor;
insignificância. Etim. farofa é do quimbundo;1899; (HOAUISS, 2001).
VATAPÁ,s. m. (Bahia) espécie de iguaria, que consiste em uma papa rala de farinha
de mandióca, adubada com azeite de dendê e pimenta, e tudo isso misturado com
carne ou peixe. || Etim. E’ vocábulo da língua ioruba (Colonia).
Origem Indígena
APÁRAS, s. f. Plur. (Provs. Do N.) o mesmo que Raspas.
BEIJÚ, s. m. Espécie de filhó feita de tapióca e também da massa da mandióca e,
cozido ao forno da farinha. Ha portanto o Beijú de tapióca e o Beijú de massa, e a êste
dão no Pará o nome de Beijú-xica. No R. de Jan. Chamam-lhe comumente Bijú.
Variam de forma, e os ha quadrados, circulares, enrolados como cartuxos, etc. Servem
á guisa de biscoutos com o chá, café, caldo ou outra qualquer bebida. Aquecidos ao
fogo e temperados com manteiga, adquirem um sabor mui agradável. Segundo G.
Soares e Baena, é o Beijú invenção das mulheres portuguêsas, e serviram-lhes de
modêlo aos filhós feitas de farinha de trigo. Ha outras variedades de Beijú, a que
chamam no R. de Jan. Sóla e Malampansa ou Manampansa; em Pern. E Alagôas
Tapióca, Beijú de côco e Beijú-pagão; e em Serg. E Alagoas Malcassá ou Malcasado.
Ao Beijú de côco chamam em serg. Sarapó. || Erra Aulete em tudo quanto diz a
respeito do Beijú. Não é um bolo, nem tampouco lhe chamam também Miapiata, nome
completamente desconhecido na linguagem vulgar do Brasil, e que é visivelmente o
estropeamento do vocabulo tupí Miapé-antan, cuja tradução literal é pão duro, ou
biscouto. || Etim. É vocabulo comumaos dialetos tupó e guaraní. Os Tupinambás do
Brasildavam o nome de Beijú a uns certos pães de milho posado que êles guard avam
de muitos dias nos juráus, e de que se serviam para a fabricação de uma espécie de
cauhí, a que chamavam *Beiuting-ig (Voc. Bras.) Em guaraní o termo Mbeiu, além de
outras significações, tem em castelhano o de torta (bolo) de mandióca (Nontoya).
Obs.: Etim. tupi mbe’yu ‘bolo de farinha de mandioca’; var devidas as flutuações na
língua geral de –mb>-m-/-b-, evolução consonância –j- ou vocálica –i- da assilábica y,
timbre da vogal pretônica etc; fato histórico 1576 beijús, 1596 beiius, 1618 bejús, 1705
beyjú. Sin./var. (e afins) Beijuaçu, bneijucica, beijucuruba, beijuguaçu, beijumembeca,
beiju-moqueca, beijupoqueca, beijuteica, beijuticanga, beijuxica, biju, biroró,
malcasado, miapiata, sarapó, sola, tapioca (HOAUISS, 2001).
BEIJÚ -ASSÚ, s. m. (Pará) o mesmo que Catimpuera.
207
BIJÚ, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que beijú.
CAISSUMA, s. f. (Valle do Amazonas) é o tucupí engrossado com farinha, cará ou
outro qualquer tubérculo (J. Verissimo).
CARIMAN, s. m. Massa de mandioca puba, reduzida a pequenos bolos secos ao sol.
Com o Cariman se fazem essas papas a que chamam mingáu, e ao qual se pode
ajuntar gema de ovo e leite. Serve também para toda a sorte de bolos doces. || Etim. É
vocábulo tupí (Dic. Port. bras.). Gabriel Soares fala de Cariman como espécie de
farinha feita da mandioca puba, e a que êle atribue grandes vantagens, já como
materia alimentícia, já como contra-peçonha. Segundo Agostinho Joaquim do Cabo, no
vale do Amaz., também lhe chamvam cayarinãa. Os guaranis davam o nome de
cañarimã à mandioca seca ao fumo, e o de cañarimãcuí à farinha feita da mandioca
assim preparada (Montoya).
Obs.: Etim do tupi kari’mã ‘farinha de mandioca’; fato histórico 1554 carimã, 1587
carimá, 1594 carima (HOAUISS, 2001).
CAXIRÍ (1°), s. m. Espécie de alimento preparado com o beijú diluido em água
(Baena). || Obs. Agostinho Joaquim do Cabo, na Memória sôbre a mandioca ou páo do
Brasil (ms. Da biblioteca Nacional), dá o Caxiri ou Cachiri do Amazonas, como sin. De
Mócóróró .
CRUEIRA (1°), s. f. Fragmentos da mandioca ralada, que não passam pelas malhas da
peneira onde se apura a massa, para ir cozer no forno e converte-la em farinha (V. de
Souza Fontes). || Em S. Paulo lhe chamam Quiréra . || Em algumas fazendas do Rio de
Janeiro, dizem também Caruéra, Cruéra, Cruêra (Macedo Soares). || No Pará dão-lhe
o nome de Crueira (B. de Jary), e mais os de Curuéra, Curueira e Curéra , sendo esta
última forma a mais geralmente usada (J. Verissimo). || Etim. Não obstante a sua
feição portuguêsa, Crueira não é mais do que a corruptela de Curuéra da língua tupí,
significando alimpaduras do joeirado; e se decompõe em Curuba = curu; pedaço, e
uéra, forma do preterito, que neste caso, significa abandonado, desprezado, sem
serventia para aquilo a que se destina a mandióca ralada; em uma palavra, refugo.
Quando, porém, os Tupinambás se referiam ao farelo e tudo o que fica da farinha
peneirada, davam-lhe o nome de Mindócuruéra (Voc. Braz.) e os Guaranis o de
Myndocuré (Montoya). A Curéra do Pará é uma ligeira alteração do Coréra do dialeto
do Norte significando farelagem, farelo, aparas (Dic. Port. Braz.). || Obs. A Crueira
serve ordinariamente de pasto às criações. No Pará fazem -na também secar ao sol, e
com ela preparam um mingáu grosseiro (B. de Jary).
CUXÁ, s. m. (Maranhão) espécie de comida feita com as folhas da vinagreira (Hibiscus
sabdariffa ) e quiabo (Hibiscus esculentus) a que se ajunta gergelim (Sesamum
208
orientale) torrado e reduzido a pó, de mistura com farinha fina de mandioca. Depois de
bem cozido deitam-no sobre o arroz, e a isso chamam Arroz de cuxá (D. Braz.).
Obs.: Etim. é tupi ku’xai, seg. Nascentes ku ‘o que conserva’ + xai ‘azedo’ (HOUAISS,
2001).
GOMA, s. f. (Bahia e outras prov. Do N.) o mesmo que Tapióca.
Obs.: Br. Polvilho dfe mandioca (farinha amilácea) utilizado na feitura de tapiocas,
mingaus, papas, bolos, grudes.
IMBUZÁDA, s. f. (sertão do Norte) nome de um alimento feito de leite misturado com o
sumo da fruta Imbú. Também dizem Umbuzada.
JACÚBA, s. f. espécie de alimento ralo feito de farinha de mandioca, que se deita em
água fria. No Pará e Maranhão, também lhe chamam tiquára e xibé. Usam dela os
viajantes do interior para aplocar a fome, enquanto não ha outro meio de a satisfazer.
Quando as circunstâncias o permitem, adicionam-lhe açúcar e sumo de limão, o que a
torna um refresco mui agradável. Etim. Jecuacúba, em tupi, e Jecoacú, em guarani,
significam jejum. Não duvido que dai provenha o vocábulo jacúba, atendendo a que,
em falta de pão de trigo, é provável que os jesuitas sujeitassem seus penitentes, em
dias de jejum, ao uso da farinha de mandioca molhada em água fria. J. Verissimo
pensa, porém, que é voc. De origem africana.
MANIPUEIRA, s. f. (Pern. e outras provs. do N.) líquido que, por meio da pressão, se
extrai da mandioca ralada. Nêste líquido se contém todo o veneno da raiz da
mandioca, veneno analogo ou semelhante ao ácido cianidrico, o qual, sendo exposto à
ação do sol ou do fogo, evapora-se; e então torna -se a Manipueira , convenientemente
temperada com pimenta e outros condimentos, um excelente molho, ao qual no Pará
chamam Tucupí. || Etim. Fórma vulgar do tupi Manipuéra.
MANISSÓBA, s. f. (Pern. E outras provs. do N.) a folha da mandioca. || Etim. é
vocábulo tupi composto de Mani e sóba. Em guarani Mandii hoba tem a mesma
significação. || Naquelas províncias chamam também Manissóba a um esparregado
preparado com a folha da mandióca, e a que se ajunta carne e peixe. || Manissóba é
também o nome de uma planta semelhante pela folha á mandóca e de cuja raiz se faz
farinha em tempos de penúria. Ha també m com êste nome uma espécie de Jatropha
de que se extrai goma elastica.
MANÍVA, s. f. (provs. do N.) caule da mandioca. || A maniva, dividida em pedaços de
uns vinte centímetros de comprimento, e plantada de estaca, reproduz o arbusto, cuja
raiz é a matéria prima para a fabricação da farinha.|| No Rio de Janeiro e outras
províncias do Sul dão á maniva o nome de rama de mandióca. || Etim. Êste voc. de
209
origem tupi decompõe-se em mani, cuja significação é duvidosa, e igba, árvore; e
portanto quer dizer árvore do maní. Os guaranis lhe chamavam madiigigba. A diferença
que se observa entre mandiig e maní é méra questão de pronuncia.
MASSA, s. f. Mandióca ralada, a qual, depois de espremida do tipiti, é peneirada antes
de ir ao forno, onde pelo cozimento se completa a fabricação da farinha e das diversas
espécies de beijús. A parte mais grossa da massa, que não passa pelas malhas da
peneira, dão, conforme as províncias, o nome de crueira e outros mais, todos
derivados do tupi. || V. Crueira.
MOJICA, s. f. (Vale do Amaz.) processo de engrossar um caldo com uma fécula
qualquer (J. Verissimo). || Também se pode engrossar o caldo com peixe moqueado e
esfarelado (B. De Jary). || Etim. Do tupi moajigca, significando engrossar o líquido (Dic.
Port. Braz.).
PAMONÁN, s. m. (S. Paulo, Mato -Grosso) espécie de comida que consiste na mistura
de farinha de mandioca ou de milho com feijão, carne ou peixe, e constitue uma
excelente matolotagem para aqueles que viajam em lugares ermos e falsos de
recursos, por isso que dura em bom estado muitos dias. || Etim. É voc. De origem tupí
e guarani. No guarani Apamonân e no tupí Aipamonân significam misturar. || Ao
Pamonân também chamam Virádo e Revirádo. No R. de Jan. Ao Pamonân de feijão
chamam Tutú.
PAMONHA, s. f. Espécie de bolo feito de fubá de milho ou de arroz, e também de
tapióca ou de mandïóca puba, a que se ajunta açúcar e leite de vaca ou de côco, e é
envolto em folhas de bananeira. || A’ Pamonha de mandióca puba dão particularmente,
tanto no R. de Jan. Como na Bahia e outra s províncias, o nome de Manauê; e em
Pernambuco e Alagôas e de Pé-de-moleque. || Em Pernambuco e Alagôas chamam
Pamonha de garápa ao Acaçá. || Fig. s. m. e f. , pessoa inerte, desmazelada: Meu
criado é um pamonha, e sua mulher a maior pamonha que conheço.
PASSÔCA, s. f. Espécie de comida feita de carne, que, depois de assada, é pisada de
mistura com a farinha de mandioca ou de milho, constituindo assim um alimento mui
usual e precioso para o viajante que caminha por lugares ermos, por isso que dura em
bom estado durante quarenta e mais dias e dela póde servir-se ou fria como está ou
aquecida. O falecido Marquês do Herval considerava a passóca como um grande
recurso para um exercito em marcha. || no Pará dão o nome de passóca a um alimento
feito de castanha do Maranhão torrada e pisada com farinha de mandioca e açúcar. ||
Etim. é voc. De origem tupi e guarani.
Obs.: (pa’soka’) ‘esmigalhar com a mão’ (HOUAISS, 2001).
210
PIRÃO, s. m. Espécie de massa feita de farinha de mandioca cozida em panela ao
lume, e serve á guisa de pão, para se comer a carne, peixe e mariscos. Também lhe
chamam Angú. O Pirão d’água é feito com água fria, do qual mais se usa com a carne
ou peixe salgado. Pirão escaldado, ou simplesmente Escaldado, é aquêle que se faz
lançando-se água ou caldo ferventes sôbre a farinha contida em uma vasilha. || Etim.
Metaplasmo de Mindypirõ , nome que em tupi se dava ás papas grossas, em
contraposição a Mingáu, que significa papas ralas (Figueira). Vasconcelos escreve
Mindipiró, e Anchieta Mindipirô no mesmo sentido. O dic. Port. Braz. menciona
Marapirão como termo português, e traduz em tupi por Motapirón, sem contudo lhe dar
a significação. Não sendo, porém, Marapirão vocábulo da língua portuguêsa, parece me antes corruptela de Mbaipirõ, usual entre os gua ranis. || Na África ocidental é usual
o termo Pirão (Capello e Ivens); e sem a menor dúvida o houveram do Brasil.
PÚBA, adj. mole. É voc. tupi de que nos servimos geralmente para designar a
mandioca que se pôs a cortir na lama ou na água, durante alguns dias, perdendo,
desta sorte, suas qualidades venenosas. A mandioca púba torna-se comestível, já
assada nas brazas, já convertida em bolos doces, quais o manaué e a pamonha, e já
desfeita em carimân, depois de seca ao sol ou ao lume. Com ela se fabrica também a
espécie de farinha a que no Maranhão e Pará, chamam farinha d’água, a uï-puba dos
Tupinambás. || No presídio do Morro de S. Paulo, ouviu o Sr. Valle Cabral aplicar o
vco. Púba á pessoa que sente grande abatimento de forças: De doente e de cançado
fiquei puba. || Em S. Paulo dizem da pessoa vestida com primor, que está na púba.
Não sei qual possa ser nêste caso a origem desta significação.
RASPAS, s. f. Plur. (R. de Janeiro) lascas finas de mandioca, que depois de secas ao
sol, se pisam em gral até ficarem reduzidas a pó, com o qual se fazem bolos, pudins,
etc. A esta espécie de farinha, chamavam os Tupinambás e Guaranis Tugpigratig,
nome hoje desconhecido no Brasil. || Nas provs. do N. dão ás Raspas de mandioca o
nome de Apáras (Meira).
SÓLA, s. f. (R. de Jan.) espécie de beijú espesso feito de tapióca ainda humida, que se
coloca entre folhas de bananeira e se faz tostar no forno da farinha de mandióca (V. de
Souza fontes). A êste beijú dão o nome de Tapioca em Pernambuco. Alagôas e
Paraíba do Norte, com a diferença de lhe misturarem côco ralado (B. De Maceió), pelo
que lhe chamam na Bahia Beijú de côco. || Etim. Talvez lhe provenha o nome de uma
comparação burlesca com o couro de boi cortido.
TAPIÓCA, s. f. fecula da mandioca. É esta a acepção a mais geral do vocábulo. No Rio
de Janeiro lhe chamam polvilho, e na Bahia e outras províncias do Norte goma.
Verdadeiramente, a tapioca do R. de Jan. É a farinha de tapioca da Bahia, do Pará e
de outras províncias, a qual não é sinão a fécula que, ainda úmida, se lança no forno
especial, e se mexe com um mólho de penas grandes até tomar a fôrma granilosa; e
nêste estado serve para fazer papas, sopas e pudins. || Em Pern. e Alagôas chamam
211
tapióca a espécie de beijú a que no R. de Jan. dão o nome de sola; e nêste sentido
que a meciona G. Soares. || Etim. É voc. de origem tupí. o Dicc. Port. Braz. traduz
polme ou sedimento da farinha por tipióca; o Voc. Braz. Coisa coalhada por tipiaca,
tipióca, e ainda mais por apiçamga; Montoya, coisa coalhada por tipiaca; Seixas, goma
da mandióca, por têpeáca. São vocábulos nascidos do mesmo radical.
ALIMENTO DOCE
BIRORÔ, s. m. (R. de Jan.) espécie de Beijú feito de massa de mandióca, temperada
com açúcar e e herva doce, e torrado no fôrno da farinha.
Obs.: Etim. sua origem é tida como tupi.
BURITIZÁDA, s. f. (Ceará) dôce feito com a polpa da fruta do Buriti.
CAMBÍCA, s. f. (Ceará, Maranhão) espécie de alimento feito com a polpa do Murici, de
mistura com água, leite e açúcar. || Etim. na língua tupí, Cambig significa leite. Talvez
seja esta a origem do nosso vocábulo.
Obs.: Tanto no dic. Melhoramentos como no Houaiss coloca que: cambica é um manjar
feito de polpa macerada de murici (ou de outras frutas), com açúcar e, por vezes,
farinha de mandioca. Também é feito refresco com esses ingredientes. Etim. segundo
Nascentes, prov. do tupi kã’bi ‘leite’ (HOAUISS, 20010.
CANJICA (1º), s. m. (R. de Jan., s. Paulo, Paraná, Sta-Catarina, R. GR. do S., Minas Gerais, Goiás, Mat. Gros.) espécie de frangolho feito de milho branco contudo, que
geralmente se toma sem tempero algum, mas ao qual se póde adicionar açúcar, leite e
canela. Assim temperado chamam-lhe Mungunzá na Bahia, Pern. e outras provs. do N.
também dizem Mungunsá e Muncunzá. || Obs. Os lexicógrafos sem excetuar Aulete,
escrevem Cangica e não Canjica. Não vejo razão para isto. Se este voc. não tem, nem
póde ter, outra origem senão a de Canja, não ha motivo para escrevermos Cangica,
quando em Laranjinha, diminutivo de laranja, não fazemos semelhante alteração.
CANJICA (2ª), S. F. (Bahia e as demais provs. do N.) espécie de papas feitas de milho
verde. A isso chamam Curáu, em S. Paulo e Mat. Gros., Corá em Minas-Gerais e R. de
Jan., e nesta última província também a conhecem por Papas de milho.
CURÁU (1°), s. m. (Mato-Grosso, S. Paulo) o mesmo que canjica. [CURÁU (2º), s . m.
(Sérg.) o mesmo que Caipira.]
212
FRITA, s. f. (provs. do N.) espécie de bolo feito de farinha de mandioca, açúcar e
pimenta da índia. Também lhe chamam doce de pimenta (João Ribeiro)
MALCASADO, s. m. (Serg.) espécie de Beijú, a que também chamam Malcassá.
Fazem-no de tapioca, a que se ajunta leite de côco, e assam-no a fogo brando, envolto
em folhas de bananeira (João Ribeiro)
MALAMPANSA, s. f. (R. de Janeiro) o mesmo que Mananpansa.
MALCASSÁ, s. m. (Serg.) o mesmo que Malcasado.
MINGÁU, s. m. Nome comum ás papas feitas de qualquer espécie de farinha, de
amido, de fecula ou da polpa de certas frutas, simplesmente temperadas com açúcar e
a que se pode ajuntar também leite e gema de ovo: Mingáu de tapióca, de carimán, de
sagú, etc. || No Pará, onde é, aliás, usual o termo Mingáu, dão, contudo, o nome
português de papas ás que são feitas de farinha de trigo. || Em Pernambuco chamam
Mingáu-petinga o que é feito com a mandioca púba e temperado com pimenta e hortelã
(Moraes). || No Pará dão o nome de Tacacá a uma espécie de Mingáu de tapióca que
se tempera com o molho de tucupi. || Etim. é vocábulo de origem tupi e guarani. A
primitiva pronunciação era Mingaú.
Origem Africana
FURRUNDÚ (1°) s. m. (S. Paulo) espécie de doce feito de cidra ralada, gengibre e
açúcar marcavo.
MANAMPANSA s. f. (R. de Jan.) espécie de beijú espesso feito da massa da
mandioca, temperado com açúcar e erva doce, o qual se coloca entre folhas de
bananeira e se põe a tostar no forno da farinha de madioca. Também se diz
Malampansa. É isto o que, em Pernambuco, Alagôas, Pará e talvez em outras
provínvias do norte, se chamam Beijú, com a única diferença de ser a massa
simplesmente temperada com sal e se chama Beijú pagão, e as vezes misturada com
côco ralado, sem nenhum outro tempero, e é isto o Beijú de côco.
Obs.: Etim. segundo Nei Lopes, o elemento inicial é quicongo da raiz mpa ‘pão’, o
elemento final, provavelmente do quicongo mpanza ‘disco’, talvez pela forma; cp.
Malampança; fato histórico 1899 manampansa (HOUAISS, 2001).
213
MANAUÉ, s. m. Espécie de bolo feito de fubá de milho, mel e outros ingredientes. Dão
o mesmo nome á Pamonha de mandioca-puba. Em Pernambuco e Alagôas lhe
chamam Pé de moleque.
MUCUNZÁ, s. m. o mesmo que Canjica (1º).
PÉ-DE-MOLÉQUE (2°), s. m. (Pern., Alagôas) o mesmo que Manaué, ou Pamonha de
mandioca puba. [PÉ-DE MOLÉQUE (1°) (R. de Jan., S. Paulo) espécie de doce seco e
achatado feito de rapadura e mendubi torrado.] (Pés dos moleques marcados no barro
batido das senzalas)
SARAPÓ, s. m. (Serg.) o Mesmo que Beijú de côco (João Ribeiro). V. Beijú.
214
ANEXO 5
CAMPO SEMÂNTICO DE HABITANTE DO CAMPO
Origem européia
BAHIANO, A (2°), s. m. (Piauí) o mesmo que Caipira. || Etim. É provável que se dê
êsse nome aos habitantes do campo, por serem considerados descendentes daquêles
naturais da Bahia, que, depois da descoberta do território do Piauí, primeiro se
estabeleceram nêle, e alí fundaram fazendas de criação.
CAIPÍRA, s. m. (S. Paulo) nome com que se designa o habitante do campo. Equivale a
Labrego, Aldeão, e Camponês em Portugal; Roceiro no R. de Jan., Mat. Gros. e Pará;
Tapiocâno, Babaquára e Muxuango em Campos dos Goytacazes; Matuto em MinasGerais, Pern., Par. de N., R. Gr. do N. e Alagoas; Casaca e Bahiano no Piauí; Guasca
no R. Gr. do S., Curau em Sergipe; e finalmente Tabaréu na Bahia, Sergipe, Maranhão
e Pará. || Etim. Tem-se atribuido diversas origens ao vocábulo Caipira; duas ha, porém,
que têm merecido mais particular atenção da parte daquêles que se dão a êsses
estudos, e são Caápora e Curupira . Ambos vocábulos da língua tupí: Caapóra , cuja
tradução literal é habitador do mato (Dic. Port. Braz.), diz bem com a idéia que temos
da gente rústica; mas cumpre atender a que o termo Caipóra, tão usual no Brasil, já
como substantivo e já como adjetivo, conserva melhor a fórma do vocábulo tupí, bem
que tenha significação diferente, como o discutirei no respectivo artigo. Curupira
designa um ente fantástico, espécie de demônio, que vaguêa pelo mato, e só como
alcunha injuriosa poderia ser aplicado aos camponêses. || Em Ponte-do-Lima, reino de
Portugal, é vulgar o vocábulo Caipira não mais com a significação de rústico, se não
com a de sovino, mesquinho (J. Leite de Vasconcellos) Não obstante esta diferença de
acepção, não podemos duvidar de que aquêle homônimo seja de origem brasileira, e é
êsse um fenômeno lingüístico, de fácil explicação. Em verdade, do Minho vem muita
gente ao Brasil, e dela não poucos indivíduos, depois de ter adquirido pelo trabalho
uma tal ou qual fortuna, regressam para sua província. Durante os longos tempos que
habitaram entre nós, familiarizaram -se com certos vocábulos, e é natural que, já
restituidos à pátria, usem dêles maquinalmente em suas conversações, e desta sorte
os naturalizem no seu país, ainda que alterados em sua significação primitiva, como
aliás acontece no Brasil a respeito de muitas palavras portuguêsas, que têm aqui um
sentido mui diferente do que lhes dão em Portugal.
CASÁCA, s. m. (Puauí) o mesmo que Caipira. || Etim. Tem sua origem no uso que
fazem os camponezes da casaqa de couro ou antes gibão de que se vestem, para
percorrerem as brenhas em procura do gado.
215
MATUTO, s. m. O mesmo que caipira.
ROCEIRO, A, s. m. O mesmo que Caipira.
TABARÉO, s. m. (Bahia e outras prov.) o mesmo que caipira. || Etim. E’ voc. português,
significando, d’antes, soldado de ordenança mal exercitado.
Origem Indígena
BABAQUARA, s. m. E f. O mesmo que Caipira.
CURÁU (2°), s. m. (Serg.) o mesmo que Caipira. [CURÁU (1°) canjica espécie de
papas feitas de milho verde, a isso chamam Curáu em S. Paulo e Mato Grosso.]
GUASCA (2º), s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que Caipira. || Obs. E’ de notável injustiça
a alcunha de Guasca aplicada aos habitantes do campo naquela província. Guasca ,
com a significação de tira de couro cru, é o instrumento o mais grosseiro que se pode
imaginar; entretanto que o camponês dali, ainda mesmo o da classe mais humilde, é
notável pela polidez de que usa para com todos. Não só nas repúblicas platinas como
no Chile e outras partes da América Meridional dão ao homem do campo o nome de
Guaso, cuja origem é huasca da língua quichua, segundo Zorob. Rodrigues. Devemos
pensar que Guasca, no caso de que se trata, não é mais do que a corruptela de
Guaso. [GUASCA (1º), s. f. (R. Gr. do S.) tira ou correia de couro cru (Coruja). || Etim.
do quichúa huasca significando soga, cordel (Zorob. Rodrigues).]
TAPIOCANO, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que caipira . || Etim. Alusão á fabricação da
tapioca, de que se ocupam os pequenos lavradores.
Origem Africana
MUXUANGO, s. m. (Campos) o mesmo que Caipira.
Obs.: Etim. quimbundo maxi-uângu ‘habitante do mato’, ocorre também a forma
mixuango (HOUAISS, 2001).
216
ANEXO 6
CAMPO SEMÂNTICO DE MORADA
Origem européia
Moradia
CHOÇ A-DE-CAITITÚ, s. f. (Ceará) casinhola onde os lavradores pobres manipulam a
farinha de mandioca (Araripe Junior).
Habitação
ENGENHO, s. m. Estabelecimento agrícola destinado à cultura da cana e à fabricação
do açúcar. Na provincia do Paraná, onde não há por ora engenhos de açucar, dão
êsse nome aos estabelecimentos dotados de máquinas e aparêlhos próprios para
moer a congonha com que se fabrica o mate.
ESTANCIA, s. f. (R. Gr. do S.) fazenda destinada à criação do gado vacum e cavalar.
Nesta acepção é vocábulo da América Meridional espanhola (Valdez). Em Cuba dão o
mesmo nome a uma casa de campo com horta, próxima das povoações (Valdez). No
Rio de Janeiro, chamam Estancia ao mercado de lenha.
ESTANCIOLA, s. f. (R. Gr. do S.) pequena estância, chacara (Cesimbra).
FAZENDA, s. f. Herdade com destino à grande cultura. Ha Fazendas de criação e
Fazendas de lavoura. Nas primeiras se cuida de gados, sobretudo do bovino e cavalar,
e são particularmente conhecidas no R. Gr. do S. pela denominação de Estâncias. Nas
segundas, se cultiva café, cana de açúcar, algodão, cereais, etc. As de cana são
geralmente chamadas Engenhos.
FAZENDÓLA, s. f. Pequena fazenda, herdade menor que uma fazenda, dando porém
lugar à grande cultura.
FOGO-MORTO, Dizem que um engenho de açúcar está de fogo-morto, quando, por
qualquer circunstância, deixa de funcionar.
217
RANCHO, s.m. espécie de edifício mui simples construido ao lado das estradas, para
dar abrigo aos viajantes que percorrem o interior do Brasil. Ora é o rancho uma
palhoça assentada sobre esteios, ora um telheiro sem muros, ou com muros que o põe
ao abrigo dos ventos. Nesses ranchos não tem o viajante de pagar o lugar que ocupa;
mas ha sempre na proximidade uma venda em que compra o milho, necessário para
seus animais, o que indenisa amplamente o proprietário da despeza que fez com
aquela construção (Saint-Hilaire). || Fig. Choupana, choça, habitação humilde.
RÓÇA (3°), s. f. (Bahia) o mesmo que Chácara.[RÓÇA(1°), s. f. O campo em
contraposição á cidade.]
RÓÇA (2°), s f. Granja onde se cultiva indiferentemente milho, feijão, mandioca e
outros gêneros alimentícios.
SÍTIO, s. m. (Pern.) o mesmo que chácara. Também dizem situação. Habitação rustica
com uma pequena granja. (CALDAS AULETE).
SITUAÇÃO, s. f. (1) O mesmo que sítio: Na minha situação só cultivo cereais. Em uma
situação que comprei em Maricá, ocupo-me principalmente da cultura das frutas.
Origem Africana
Moradia
MOCAMBO (3°), s. m. (Pern. E Alagôas) cabana ou chóça, quer sirva de habitação,
quer apenas de abrigo aos que vigiam as lavouras. Ao mocambo de duas águas
também chamam Tijupá, na Bahia e outras províncias. [MOCAMBO (2º), s. m. (Ceará
e mato-Grosso) grandes moitas no sertão.]
QUIMBEMBE, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) habitaculo rustico de família pobre;
chóça, cabana. || Etim. Parece ser de origem africana. || No pl. Quimbembes significa
cacaréos, badulaques, trastes de pouco valor (F. Távora).
Habitação
CAFUNDÓ, s. m. Lugar ermo e longinquo, de dificil acesso, ordináriamente entre
montanhas; Logo que, pela perda de minha fortuna, reconheci a impossibilidade de
viver na cidade, retirei-me para êste Cafundó, onde habito tranquilamente há muitos
anos.
218
QUILOMBO, s. m. Habitação clandestina nas matas e desertos, que servia de refúgio a
escravos fugidos. Também lhe chamam Mocambo. || Etim. é vocábulo da língua bunda,
significando acampamento (Capello e Ivens). || Na Bolivia, República Argentina e
Estado-Oriental do Uruguai, tem o vocábulo Quilombo a significação de bordel
(Velarde, Moreno, Sagastume).
Origem Indígena
Moradia
CAPUÁBA, s. f. (Par. do N., R. Gr. do N.) cabana, chóça. || Por extensão, casa mal
construida e arruinada: Tua casa é uma capuába velha (Meira). || Etim. É vocábulo
pertencente tanto ao dialeto tupí como ao guaraní. Em guaraní significa cabana
(Montoya); em tupí quinta ou herdade onde ha casa (Voc. Bras.) || Em S. Paulo e
Paraná pronunciam capuava, e êsse o nome que dão a qualquer estabelecimento
agrícola com destino à cultura de cereais, feijões, mandioca e outros mantimentos
(Paula Souza). || Fig., qualquer indúsria que sirva de meio de vida: A clinica é a
capuava do médico. || No Esp. Santo dão à capuava o nome capixaba.
Habitação
CAPIXÁBA, s. f. (Esp. Santo) pequeno estabelecimento agricola. || Etim. Êste vocábulo
de origem tupí é corruptela de Copixaba, mencionado no Dic. Port. Bras., como
tradução de Quinta e de Roça. || Os habitantes da cidade da Vitoria têm o apelido de
Capixabas, por causa de uma fonte que ali existe, e d’onde bebem. || No Vale do
Amaz. Dizem os índios Cupixaua (Seixas). || Em S. Paulo e Paraná dão a êsses
estabelecimentos agrícolas o nome de Capuáva.
CHÁCARA, s. f. (R. de Jan. E provs. merid) espécie de quinta nas vizinhança das
cidades e vilas. Na Bahia lhe chamam Roça, no Pará Rocinha e em Pern. Sitio. No R.
Gr. do s. estendem a denominação de chácara às pequenas herdades destinadas à
criação de gados. || Etim. Do quichua Chhacra, significando herdade de cultura, granja
(Zorob. Rodrigues). || Valdez escreve Chacra e é essa realmente a pronuncia mais
usual.
TAPÉRA, s. f. estabelecimento rural completamente abandonado e em ruinas. || Fig.
Povoação em decadência. || Etim. É contração de taba-puêra, que, em língua tupi,
significa aldeia abandonada. || Êste voc. É não só usual no Brasil, como também no
219
Paraguai, Bolivia, República Argentina e Estado oriental do Uruguai (Moreno, Velarde,
Sagastume).
220
ANEXO 7
CAMPO SEMÂNTICO DE TIPOS DE FORMAÇÕES GEOLÓGICAS NATURAIS
Origem Européia
BAHIA. s. f. (Mat.–Gros.) nome que dão a qualquer lagôa que se comunica com um rio,
por meio de um canal maís ou menos espaçoso: Bahia Negra. Bahia de Mandioré, etc.
|| Nas demais províncias do Brasil, lhe dão o nome português de lagôa, quer tenham,
quer não, comunicação com os rios ou com o mar.
BANHÁDO, s. m. Charco encoberto pela ervagem.
BAIXÁDA, s. f. vale, planície pequena entre duas montanhas. No Rio Grande do Sul
também lhe chamam Canhada. || Etim. É clara a origem portuguêsa dêste vocábulo.
Aulete o menciona como termo brasileiro.
CACHOEIRA, s. f. (Maranhão) o mesmo que Corredeira. || Em geral, tanto em Portugal
como no Brasil, a palavra Cachoeira se aplica ao salto mais ou menos elevado de um
rio.
CAMALEÕES, s. m. Plur. (Pern. e Alagôas) o mesmo que Caldeirões. || Etim. é
evidente corruptela de Camalhões, que são em Portugal não só a fórma da lavra em
que a terra fica disposta em taboleiros abaulados e paralelos, como também nas
estradas a terra que fica entre dois sulcos abertos pelas rodas dos carros (CALDAS
AULETE).
CANHÁDA, s. f. (R. Gr. do S.) vale planície estreita entre suas montanhas. || Etim. do
castelhano Cañada.
CASCÁLHO, s. m. (Minas-Gerais, Goiás, Mato-Grosso) aluviões auriferas ou
diamantiferas. Contêm em geral muitos seixos roliços (Castelnau). || Os depósitos de
cascálho distinguem-se em três camadas, que os mineiros chamam: cascalho virgem ,
o mais antigo; pururúca, o mais recente e de formação contemporanea; e corrido, o
depósito intermediário entre a pururúca e o virgem (Couto de Magalhães). || Etim. É
vocábulo de o rigem portuguêsa.
221
CHAPEIRÕES, s. m. Pl. Nome que têm os recifes à flor d’água que guarnecem a costa
ao Oéste dos Abrolhos, deixando entre estes um canal de fácil navegação. A formação
destes recifes é sumamente frágil e semelhante a grandes chapéus, de que deriva o
nome (Dic. Mar. Bras.)
FACHINAL, s. m. (s. Paulo, Paraná, Santa-Cat., r. Gr. do S.) campo de pastagem
entremeado de arvoredo esguio. || Também lhe chamam em alguns lugares Fachina. ||
Etim. é vocábulo de origem portuguêsa. Além de sua significação brasileira, o termo
Fachina é entre nós usado em todas as acepções que lhe dão em Portugal.
GORGULHO, s. m. (Minas -Gerais) fragmentos das rochas ainda angilosas, no meio
das quais encontra o ouro nas lavras chamadas de gupíára (St. Hilaire) || Peque nos
seixos de grês, de quartzo e de silex roliços, ora soltos e ora ligados entre si, por meio
de uma argila amarela e vermelha da natureza da ganga (Castelnau). || Na mais geral
acepção, gorgulho é, tanto no Brasil como em Portugal, o nome vulgar de um pequeno
Coleoptero que ataca os celeiros.
GROTA, s. f. Terreno em plano inclinado na intersecção de duas montanhas. É mui
apropriado à cultura das bananeiras, por te-las ao abrigo das ventanias. || Etim. Parece
ser uma modificação de gruta. || Aulete, referindo-se, sem dúvida, a Portugal, define
gróta: “Abertura na margem do rio, que fazem as águas das enchentes, por onde se
lançam para dentro dos campos e se despejam na descida.
RINCÃO, s. m. (R. Gr. do S.) campo cercado de matos ou outros acidentes naturais, e
onde se poem a pastar os animais com a certeza de não poderem fugir. || Etim. Do
castelhano Rincon, correspondente ao português Recanto. Em outras acepções
Rinção é termo português (Aulete).
SANGA (1°), s. f. (R. Gr. do S.) escavação funda produzida no terreno pelas chuvas ou
por correntes subterraneas de água, que, depois de terem minado as terras, fazem -nas
esborrondar. O leito da Sanga é sempre humido e nêle se produzem certos lamaçais a
que chamam Caldeirões. || Etim. É evidentemente a alteração do castelhano Zanja,
que tem seu equivalente no português Sanja, significando em ambas as línguas
abertura entre valado e valado para dar escoamento á água. Ha, portanto, toda a
analogia entre a Zanja castelhana, a sanja portuguêsa e a sanga rio-grandense ,
porque, afinal de contas, tudo isso se refere a uma obra quer natural, quer artificial que
dá saida ás águas. Os habitantes daquela província, adotando o vocábulo castelhano,
substituiram pelo g o gutural j dos espanhois.
TABOLEIRO, s. m. (da Bahia até o Ceará) extensa planície geralmente arenosa e de
vegetação acanhada. || (Minas Gerais) planalto de montículos pouco elevados e
222
separados entre si por meio de vales estreitos (Saint-Hilaire) . || Etim. é voc. português,
e em tudo mais tem entre nós as mesmas acepções que lhe dão em Portugal.
TÊSO, s. m. Porção de terreno que fazendo parte das vastas planicies sujeitas ás
inundações do inverno, fica entretanto acima do nível das águas e oferece abrigo ao
gado. || Em Portugal, tem a significação de monte ou serro alcantilado (Aulete).
TORROÁDA, s. f. (Maranhão) nome que dão ás fendas que aparecem nos terrenos
argilosos e alagadiços depois de secos, e que tornam difíceis e perigosos os caminhos.
|| Em português, Torroáda significa multidão de torrões, pancada com torrões.
(CALDAS AULETE).
Origem Indígena
APICUM, s. m. Nome que dão aos alagadiços que se formam no litoral com os
transbordamentos do mar, nas ocasiões da enchente da maré. || Obs. Na língua tupí,
Apêcú significa língua (órgão principal da fala). Montoya o menciona com a mesma
significação e também com a de guelra de peixe, pirá-apêcú. Não descubro nisto a
etimologia do nosso vocábulo. || Também dizem Apicú.
ARAXÁ, s. m. Alto chapadão plateau (Couto de Magalhães). Eis o que a respeito dêste
vocábulo nos diz o ilustre autor do Selvagem: “A palavra Araxá é tupi e guaraní, vem
das duas raizes ara , dia, e xá ver: dão o nome de Araxá á região mais alta de um
sistema qualquer, como sendo a primeira e última ferida pelos ráios do sol, ou a que
por excelência vê o dia; essa palavra no português, como nome de lugar, é nome do
mais alto pico da Tijuca, e de uma cidade de Minas; eu o aceito em falta de vocábulo
português, que exprima a idéia com a mesma precisão”. O ilustre autor não nos indica
a região do Brasil em que é usual êste vocábulo, nem eu o tenho podido descobrir,
apesar das diligências a que tenho procedido, interrogando neste sentido a naturais de
nossas diversas províncias. O que sei e o que todos sabem é que ha em Minas Gerais
a cidade de Araxá, cuja etimologia interessou muito o sábio Saint-Hilaire, sem
resultado satisfatório. Quanto ao pico mais alto da Tijuca, se lhe dão realmente o nome
de Araxá, o que aliás nunca me contou, não lhe pode de modo algum caber, por causa
de sua forma cônica, a definição do chapadão do Brasileiros, do plateau dos
Francêses, nem tampouco do planalto dos Portuguêses. Esta questão interessa tanto a
etimologia, como a geografia, e eu desejaria ve-la bem elucidada. Entretanto direi que
um nosso distinto viajante, o Dr. Severiano da Fonseca, serviu-se amplamente do
vocábulo Araxá na sua Viagem ao redor do Brasil.
BIBÓCA, s. f. , barranco, excavação formada ordináriamente por enxurradas ou
movimento de águas subterrâneas, de sorte a tornar o trânsito, não só incomodo, como
223
até perigoso, sobretudo ás escuras: Depois das últimas chuvas ficou a estrada cheia
de bibócas. || Em Pernambuco e outras províncias do norte também dizem Bobóca. ||
Etim. alteração do tupí Igbigbóca, significando Igbig terra e Bóca, abertura ou fenda.
No Guarani igbigbog (Montoya). || Também dão o nome de Bibóca a qualquer terreno
brenhoso de difícil transito. || Fig., casinha de palha (B. Homem de Mello).
BOCAINA, s. f. (s. Paulo) nome que dão á depressão de uma serra ou cordilheira,
quando a escarpa desta parece abrir-se, como formando uma grande bôca, que facilita
o acesso ao plano superior ou chapada (B. Homem de Mello). || (R. de Jan.) bôca de
um rio menos considerável que a barra principal (V. de Souza Fontes). || (Pará) entrada
de um canal ou de um rio (B. De Jary). || Obs. Boccaina e Boqueirão, originando-se do
mesmo radical boca, têm a maior parte das vezes a mesma significação.
CAHATINGA, s. f. (Amaz.) terra alagadiça ou meio alagadiça, na qual cresce a
palmeira Piassabeira (Frz. De Souza). || Êste vocábulo já pelo modo por que se acha
ortografado, e já pela sua definição, não póde ter a mesma etimologia que a Caatinga
dos sertões entre Minas-Gerais e Maranhão.
CALDEIRÃO, s. m. (Provs. do N.) tanque natural nos lagedos, onde costuma ajuntar-se
água das chuvas (Meira). || No R. Gr do S. , é um buraco grande no meio do campo ou
estrada, feito por chuvas ou pisada de animais (Coruja). || NO Amazonas é o
redomoinho nos rios, formado por correntes circulares que se tornam muitas vezes
perigosas aos navegantes (Castelnau). A êstes acidentes fluviais davam os aborígenes
o nome de Jupiá.
CALDEIRÕES, s. m. Plur. Covas atoladiças que se formam transversal e
paralelamente nas estradas frequentadas por tropas de animais no tempo das chuvas.
As vêzes chegam a impedir o trânsito, e pelo menos o dificultam muito. Em
Pernambuco e Alagoas chamam a isso camaleões.
CAPÃO, s. m. Bosque isolado no meio de um descampado. Podemo-lo quase
comparar a um oásis, e assim o faz Saint -Hilaire na descrição que nos dá dêsse
acidente florestal. Todavia, cumpre não esquecer que os oásis estão separados entre
si por áreais estereis, enquanto que os capões existem cercados de magnificas
pastagens. || Etim. Êste vocábulo no sentido brasileiro, não tem de português senão a
fórma. É apenas a alteração de Caápaún, que, tanto em tupí como em guaraní,
significa mata isolada. O Voc. Bras. O traduz por ilha de mato em campina. || Obs.
Quasi sempre, para evitar equivocos, se diz Capão de mato e não simplesmente
Capão. Aulete e Moraes nos dão dêsse voc. uma má definição, quando, confundindo-o
certamente com Capueira (outra espécie de aciente florestal) dizem que é uma “mata
roçada que se corta para lenha, em oposição a mata virgem”. O Capão pertence á
224
classe das matas virgens; compõe-se de arvoredos de todas as dimensões, e nêle se
ostentam árvores colossais.
CAPONGA, s. f. (Ceará) nome que na parte meridional desta província dão aos
lagoeiros d’água doce que se formam naturalmente nos areais do litoral. Ao norte da
cidade da Fortaleza dão-lhe o nome de Lago (Marinho Falcão). É o mesmo que nas
províncias de Pern., Par. do N., r. Gr. do N. chamam Maceió, ou antes Maçaió.
CHAPÁDA, s. f. planície no alto de uma montanha. || No Maranhão é qualquer planicie
de vegetação rasa, sem arvoredo. || Em Portugal é também qualquer extensa planicie,
sem relação nenhuma com as montanhas. Aulete cita a êsse respeito a autoridade de
Satiro Coelho, quando se refere provavelmente aos desertos do Saara. || A Chapáda
dos Brazileiros é um caso particular de topografia, que nunca se deve confundir com o
Planalto dos Portuguêses. Si tivessemos, por exemplo, de descrever a cidade de
Petrópolis, diriamos acertadamente que ela está situada no Planalto central do Brasil;
mas erraríamos, sem dúvida, se dissessemos que a edificaram em uma Chapada. No
Planalto de uma região podem-se observar montanhas e serras; a Chapada é, pelo
contrário, uma perfeita planície, ainda que de extensão limitada.
CHAPADÃO, s. m. Chapada mui extensa.
IGAPÓ, s. m. (Pará) pantano, charco, brejo coberto de matos. || Etim. É vocábulo de
origem tupí e mui usado naquela província. Em guarani, Yapó tem também a
significação de pantano. Na província do Paraná, temos o rio Yapó. || O nome de
Oyapoc, dado ao rio que nos serve de limite ao norte com a Guiana-Francêsa, tem a
mesma origem, tanto mais que há cartas em que, em lugar daquêle nome, se usa de
Iapoc e Yapoc (J. C. Da Silva).
IGARAPÉ, s. m. (Pará) rio pequeno ou riacho navegavel. || Longo e estreito canal
compreendido entre duas ilhas ou entre uma ilha e a terra firme. || No litoral do
Maranhão e Piauí, dão êste nome áqueles pequenos esteiros a que em outras
províncias chamam Gambôa ou Cambôa, e cuja navegabilidade depende do estado da
maré. || Etim. É vocábulo do dialeto tupi do norte do Brasil, significando Caminho de
Canôa, isto é, Rio; e assim o traduz o Dic. Port. Braz.
ITÁ, s. m. voc. tupi significando pedra, rochedo. Não usamos dêle senão em nomes
compostos, aplicados sobretudo a localidades: Itaúna, Itáporanga, itápuân, itápéva,
Itápuca, etc. Ha, entretanto, muitos nomes que se acham estropiados pela errõnea
anteposição do I; tais são Tapémirim, Tapétininga, Tapipussú, tapirapuan; hoje
convertidos em Ttapémirim, itapétininga, etc. O que lhes transtorna completamente a
225
significação, e põe em embaraços os etimologistas menos adestrados na interpretação
dos vocábulos de origem tupi.
ITACUAN, s. m. (Pará) nome de certa pedra amarela, que serve para alisar as panelas
feitas à mão (Baena). || Etim. Em guarani, é êsse o nome que dão á pedra que serve
de prumo ao anzól; e se decompõe em Itá, pedra, e cuân, cascalho, e assim dizem
Pindá itacuân, que se traduz literalmente por cascalho de pedra do anzol (Montoya).
ITAIMBÉ, s. m. (R. Gr. do S. Paraná) despenhadeiro, precipício: O monte Corcovado
do lado do mar termina por um Itaimbé. || Em Mato-Grosso lhe chamam Itambé ou
Tromba (J. S. da fonseca). Em várias provincias do Brasil ha lugares denominados
Itambé, visivel corruptela de Itaimbé, || Etim. É voc. tupi, composto de Itá , pedra,
rochedo; e aimbé, afiado, e também áspero como pedra pomes para raspar (Montoya).
Também dizem Taimbé.
ITAIPÁVA, s. f. recife que, atravessando o rio de margem a margem, o torna vadeavel
nêsse lugar. Como expressão tipografica, é termo útil e digno de ser adotado. || Etim. é
voc. tupi. Em guarani dizem Itaipá (Montoya). || Em Goias dão-lhe o nome de Intaipava
e Intaipaba (Couto de Magalhães), o que não é mais do que uma corruptela. Leite de
Moraes escreve Itaipava, quando se refere à navegação do Araguaia, e diz que é
sinonimo de travessão. Nos rios do Maranhão, o Travessão é formado de areia. || No
Amazonas dizem Entaipava (Castelnau).
ITAPEVA, s. f. (Maranhão) especie de recife paralelo á margem do rio. || Etim. É voc.
tupi, significando pedra chata, pedra larga. || É nome de varias localidades do Brasil e
entre elas a de uma vila em S. Paulo.
ITUPÁVA, s. f . (S. Paulo) corredeira, encachoiramento nos rios (B. Homem de Melo).
JUPIÁ, s. m. Remoinho nas águas de um rio, espécie de voragem, que o navegador
deve evitar para se não expôr a grande perigo.
MACEIÓ, s. m. (Pern. e R. Gr. do N.) lagoeiro das águas do mar nas grandes marés e
também das águas da chuva. || Ordináriamente pronunciam Massaió. || Maceió é
também o nome da capital da província de Alagôas. || A essa espécie de lagoeiros
chamam Caponga no Ceará ao sul da cidade da Fortaleza.
226
Palavras Finais
A pesquisa realizada buscava descobrir como nasceu a língua portuguesa no
seu berço e saber como ela chegou ao novo mundo. Foi um mergulho maravilhoso.
A principal força motivadora das grandes transformações que o homem
conseguiu realizar está no fato da sua inquietude, no querer chegar mais além da
fronteira que o resguardava num mundo aparentemente organizado. Essa força é tão
grande que lança esse ser na busca de algo a ser realizado e nem ele é capaz de
saber onde, como, por que. É essa força que gerou e continua a gerar no mundo as
grandes transformações políticas, geográficas e científicas. Assim, temos um monarca
impetuoso e audaz Dom Henrique “O Navegador”, entre as muitas histórias algumas o
deixam fascinado e busca saber se acaso é real. Envia seu irmão à busca na Europa,
livros, mapas, instrumentos. A solução, enfrentar o mar tenebroso. Em seguida temos
a Escola de Sagres. Colocar Portugal entre as nações seria através do comércio.
Navegar o mar tenebroso seria uma grande aventura, mas realizável.
Portugal como nação descobriu a duras penas que, o que produzia não era
suficiente, incentivar o campo a produzir mais foi à solução. A competição, como
colocar Portugal entre as nações? Não há terra de boa qualidade em todo o território,
somente em pequenas áreas. A solução, enfrentar o mar tenebroso. Um monarca
impetuoso e audaz, Dom Henrique, entre as muitas histórias algumas o deixam
fascinado e busca saber se acaso é real. Envia seu irmão à busca na Europa, livros,
mapas, instrumentos. Em seguida temos a Escola de Sagres. Colocar Portugal entre
as nações seria através do comércio. Navegar o mar tenebroso seria uma grande
aventura, mas realizável. Nesse período o primeiro a cumprir tal façanha foi Portugal,
seguido da Espanha e da Holanda.
Dessa forma Portugal aos poucos foi descobrindo ilhas mais próximas, os
contornos da África e as correntes que trariam suas naus e caravelas a costa do novo
mundo, isso depois de um século. Infelizmente há poucos registros sobre a viagem e
as demais viagens. A cobiça imediata não satisfeita fez com que esta terra ficasse
quase abandonada por trinta anos. Devido à ameaça de perder as terras designadas
pelo Tratado de Tordesilhas, resolveram que era o momento. Para cá todos aqueles
considerados desagravo à corte foram enviados para cumprir as suas penitências. Os
pobres, os miseráveis, doentes, enfim, pessoas que não tinham o que fazer em
Portugal a não ser incomodar. Esses foram os primeiros colonos dessa terra.
Adaptaram-se a nova realidade, aprenderam a comunicar-se com os nativos e
conviviam entre eles sem problemas. Já havia os degredados, alguns ajudaram a
construir essa nação. As famílias que aqui se instalaram nas capitanias e seus
sesmeiros lutaram muito para conquistar o seu espaço entre os nativos, muitos
pagaram com a própria vida. Nessa fase nasceu a Companhia de Jesus, monges guerreiros a disposição da Igreja para trabalhar em qualquer parte do mundo. Esses
227
monges-guerreiros conquistaram a confiança dos nativos em todas as colônias de
Portugal. E graças à interferência desses homens houve muitas batalhas ora contra a
Coroa e colonos, ora contra os invasores.
O trabalho de evangelização trouxe como conseqüência a aculturação de todos
os envolvidos. Foi um trabalho a favor da Coroa, do mercantilismo, do controle das
mentes e controle pela pedagogia implantada nessa terra. Os instrumentos utilizados
para esse controle foram à aprendizagem por parte dos jesuítas das línguas nativas,
principalmente na costa, com isso organizar listas de vocábulos e seus significados,
depois Padre Anchieta com a sua Gramática e, a própria catequese. Três instrumentos
disponíveis para organizar, domesticar, treinar, os nativos para servir aos interesses da
Coroa e da própria Igreja, que neste período já lutava contra a Reforma, ou surgimento
do protestantismo. A educação imposta no molde da Idade Média, a qual ainda hoje
constatamos os mesmos rituais, as mesmas designações sociais e econômicas, em
nossos dias.
No século XVI o berço da língua portuguesa à moda brasileira, ou seja, com
suas peculiaridades no falar, a musicalidade própria da linguagem da terra, enriquecida
por todos os falares que aqui havia e chegaram, dando o formato da líng ua nacional.
Uma língua que apesar da obrigatoriedade do ensino e da fala da língua portuguesa,
oficializada pelo Marques de Pombal, demorou muito a se fortalecer. Era a língua
brasílica ou geral que imperou até meados do século XVIII dentro das casas. Ainda
carregamos muito daquele falar familiar no nosso dia-a-dia. A língua portuguesa é a
mesma em todos os países que foram ou adotaram essa língua. Entretanto a
linguagem em cada país é diferente carregada de regionalismos, traços distintos de
línguas locais, mesclada às línguas que de alguma maneira contribuíram para a
construção do país e de seu idioma, com suas peculiaridades.
O que foi registrado nesse trabalho é apenas uma pequena parte do grande
universo encontrado, não só nos dicionários antigos, ricos em lexias que não são mais
usadas, espelho da evolução da língua, espelho da evolução do homem e da
sociedade. Há um universo que permanece atual e vivo este esta na boca do povo
onde encontramos a somatória dessas influências, quinhentos anos depois a inda ouço:
“Os pé frio, as mãos frias ou minha fiya, muyé, mais grande”. Talvez daqui a
quinhentos anos não encontremos tão vivas essas influências, desejo que a língua
portuguesa torne-se ainda mais bela e que a linguagem seja ainda mais rica do que foi
no século XVI.
O homem por natureza é relacional e busca a comunicação com outros povos,
apesar da barreira da língua, comunica-se por gestos, mímica. Assim, o comércio foi o
grande aliado na expansão territorial. Esse ser relacional foi e é capaz de fazer-se
compreender, isso porque há uma mônada que os auxilia nesta comunicação, é por
isso que a palavra não está no homem, mas entre os homens. Durante o estudo
228
realizado foi possível verificar a evolução da comunicação entre os antepassados
desta terra. Eles ajudaram a construir uma língua de contato, a língua geral e a partir
dela ensinar a língua do outro. Apesar das diferenças sociais, todos se comunicavam.
A língua portuguesa foi construída tijolo por tijolo graças a essa interação, cada um
partilhando o que sabia para o bem comum, é claro que havia as razões políticas e
econômicas, o partilhar fazia parte da cultura do nativo, alguns ainda sabem que a
melhor forma de aprender e apreender algo é através do partilhar e quando isso ocorre
todos ganham.
Esses bravos homens que chegaram aqui desafiaram não só o oceano, o nativo,
mas a sua própria criatividade, nossa herança. Tal herança é cantada nos hinos da
terra, exaltando o nativo que evoluiu, a terra e suas riquezas, carregamos em nossa
educação os preceitos ensinados pelos jesuítas e os nossos estandartes por esse país
afora carregam o símbolo da Ordem de Cristo, a cruz copta que tremulava nas velas
enfunadas das caravelas e naus, hoje ela tremula fincada na terra como a cruz
construída em 1500. Somos uma nação mesclada e construída por muitos imigrantes
como fora Portugal, isso nos diferencia no mundo, o ser brasileiro é ser criativo
reconhecido mundialmente. A ginga do povo está no pé, na fala, no trabalho. Essa
nação foi e é o berço de um povo que construirá sempre sem perder a fé tão exaltada
pela Companhia de Jesus, apesar do sincretismo religioso, todos se unem para orar
por uma mesma causa, comungam da mesma moral, apesar daqueles que negam tal
herança. É um povo conservador, e tem a herança dos mamelucos, uma força interior
enorme para conquistar o seu espaço e defender a sua terra.
Baixar