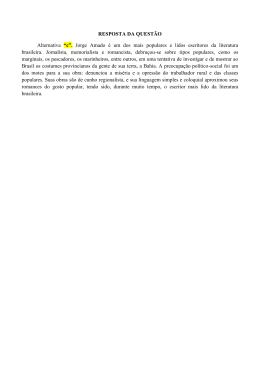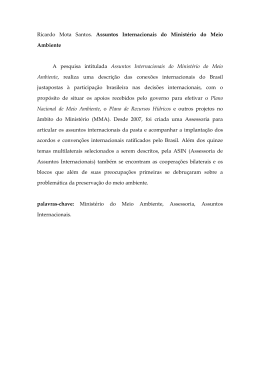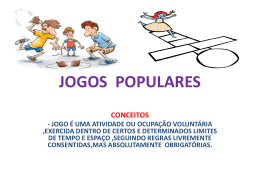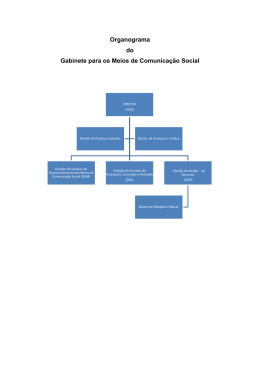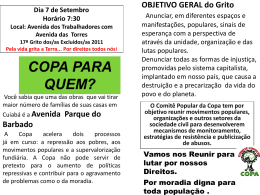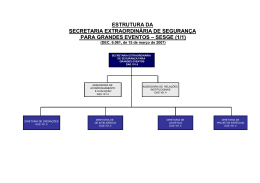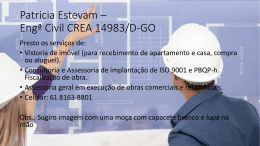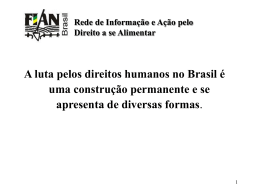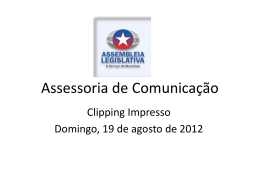MOVIMENTOS SOCIAIS, ASSESSORIA E PESQUISA ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Antonio Carlos de Souza UNICASTELO / SP Resumo: O pensar e o fazer acadêmicos podem cooperar com as associações populares, auxiliando-as técnica e pedagogicamente na educação de jovens e adultos, expressando, dessa forma, o compromisso social do professor-pesquisador com as mudanças sociais necessárias para uma sociedade de democracia ampliada. Palavras-chaves: Movimentos Sociais, Educação de Jovens e Adultos, Ensino e Pesquisa. Os movimentos sociais podem ser compreendidos em dois momentos distintos associados às relações que estabelecem com o Estado no período recente de nossa história. O primeiro momento é relativo ao período ditatorial em que as relações entre governantes e governados ocorriam de maneira opressiva e distante de qualquer ordenamento, além daquele formalizado pelo aparato jurídico e militar de repressão às demandas populares. Foi o momento heróico, centrado na espontaneidade dos movimentos pelo fato de serem uma quebra dentro do sistema político, de surgirem como alguma coisa nova que, de certa maneira, iria substituir os instrumentos de participação até então disponíveis como partidos, associações e outros (Cardoso, 1994, p. 82). Os movimentos sociais que no final dos anos 70 emergiram e, principalmente, na década de 80, por exemplo, na cidade de São Paulo, em grande parte foram impulsionados pela atuação da Igreja Católica empolgada pela opção pelos pobres naquilo que ficou conhecido como teologia da libertação. O discurso eclesial adepto da teologia da libertação valorizava a questão da autonomia popular atribuindo para as Cebs a missão de impulsioná-la: a educação popular, traduzida em tarefas específicas, permite ao povo criar os instrumentos próprios a sua organização e ação política, sem ônus para a comunidade eclesial (Betto, 1981, p. 46). Na derrocada do regime ditatorial, iniciou-se a segunda fase dos movimentos sociais que Corresponde mais ou menos ao começo do processo de “redemocratização”, quando o sistema político começa a abrir novos canais de comunicação e de participação até então parcialmente bloqueados. Isso começa a acontecer a partir de 1982 com as eleições estaduais (Cardoso, 1994, p. 83). Inicia-se uma outra forma de participação (final dos anos 80 em diante) que leva esses movimentos a relacionarem-se mais diretamente com as agências públicas. Momento em que os conselhos de participação foram criados, desde o conselho da mulher até o conselho do negro, de habitação, de saúde, conselho da criança criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Há uma ampliação do modo de gerir as áreas de políticas públicas com a aceitação e abertura de espaços novos onde os movimentos sociais entram – tudo isso de modo parcelado” (Idem, p. 83). A derrocada do autoritarismo na sua forma militar-ditatorial motivou a organização de associações, entidades de classe, partidos políticos, entre outras formas orgânicas. O processo de democratização exigiu do movimento social que se legitimasse, já que o Estado legitimava-se perante a sociedade devido em grande parte aos amplos processos eleitorais que instauravam a alternância nos poderes culminando nas eleições presidenciais de 1989. Dito de uma outra maneira, o Estado como interlocutor somente reconheceu às organizações legalizadas, impulsionando parcerias entre o Mercado, a Sociedade e ele próprio, Estado, notadamente nos municípios. As parcerias que entraram em modo nos municípios são, pois, alternativas de dupla face. De um lado, podem, sim, significar um instrumento político manipulado de acordo com os interesses dominantes de classe através de um prefeito qualquer e seus ajudantes de plantão, representantes do autoritarismo. Então, em vez de democracia pela descentralização e transferência de poder, o que pode ocorrer é uma simples transferência de encargos à sociedade; coisas que já eram direitos do cidadão e dever do Estado executar. Em vez de novas parcerias – numa relação de iguais – onde houvesse decisões conjuntas sobre os fundos públicos, pode ocorrer uma transferência de migalhas de recursos públicos, e ainda como se fosse uma benesse de quem está no poder para com seus clientes; poderíamos chamar tal mecanismo de “neoclientelismo”. No entanto, de outro lado, as parcerias no município podem, também, significar um jeito novo e eficiente de produção de uma nova cultura política que potencialmente funda bases de transformação da relação Estado-sociedade no todo (Munarim, 1997, p. 20-1). Poderíamos afirmar que, tantas vezes, a aproximação das entidades populares ao Estado, em quaisquer de seus níveis, ocorra numa relação de tensão entre o controle e a autonomia das mesmas entidades. Essa ambivalência se expressa na medida em que as associações populares necessitam do reconhecimento estatal, portanto, de algo que traz a seletividade de que tipo de parceiros ou interlocutores o Estado julga apto a sentar do outro lado da mesa. Legalidade e legitimidade acabam por se interpenetrar e se confundir. Podemos ter movimentos sociais legítimos conquanto não estejam formalizados perante o Estado, e o contrário, associações legitimadas pelo Estado que não expressam necessidades nem se configuram como representativas das camadas populares embora privilegiem a atuação em meio a elas. Em poucas palavras: a legalidade é conferida por ato do Estado, a legitimidade pela população organizada; o legal e o legítimo podem apresentarse juntos, mas nem por isso as relações do Estado com a população serão menos contraditórias. No meio urbano, a criação das instituições populares, quando seus articuladores apresentam certo grau de politização, obedece a algumas motivações como: a necessidade de sustar o refluxo dos movimentos sociais, de buscar a legalidade e a interlocução do Estado para o atendimento de reivindicações. Estado que, nos anos 90, passa por aceleradas reformas vistas, a partir dos resultados eleitorais e pela adoção do Estado Mínimo1 como programa de governo, como objetivas e racionais no processo de internacionalização da economia nacional, adequando-se às orientações provenientes de fontes externas, como as do 1 Estado mínimo, expressão pela qual passou a se designar a concepção que propõe a desregulamentação, a privatização e instauração da liberdade pura de mercado, ou seja, toda a regulação social passaria pelo mercado com o conseqüente afastamento do Estado na implementação de políticas públicas sociais. Banco Mundial, por exemplo.2 Assim, o Estado legitimado pelas urnas escolhe a quem falar, a quem atender, às vezes ignorando completamente as reivindicações de movimentos urbanos, que ao não possuírem inserção massiva nas camadas populares, não obtêm visibilidade e interlocução mesmo quando legalizados. Em outro aspecto, a legalização das associações populares expressa às contradições existentes no próprio aparelho de Estado que, por suas ações, deve legitimar-se. Tais contradições percorrem o conjunto social e chegam às associações populares que devem também se legitimar frente à população que representa ou organiza como meio eficaz de obter benefícios, de obterem atendimento das reivindicações nas relações com os poderes públicos. Um obstáculo na interlocução com os movimentos sociais apresenta-se proveniente do aparato burocrático do Estado com seus trâmites disciplinadores e lentos. As formas políticas reivindicatórias ganham, na atualidade, muitas vezes, formas técnicas, assim associações populares que porventura reivindiquem a ampliação do atendimento da Educação de Jovens e Adultos, por exemplo, esbarram na exigência - por parte das agências fomentadoras - de projetos pedagógicos estruturados. A esse aspecto voltaremos adiante o relacionando à atuação do professor-pesquisador nosso objeto neste texto. Movimentos sociais e a educação A educação na última década do século passado tornou-se um dos campos em que as reformas referidas às concepções de Estado mínimo mais prosperaram. Assim, o estabelecimento do ensino fundamental como prioridade acarretou o descuramento com os demais níveis de escolarização. A Educação de Jovens e Adultos, certamente, foi a modalidade que menos recursos recebeu, sendo esse período em que o Estado (União) deixou de lado o seu papel de implementador e gestor direto desse tipo de educação. Recorde-se que ao Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização), sucedeu-se a Fundação Educar no período da redemocratização e a esta, quando da eleição de Collor de Mello em 1989, foi transformada no Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) que não emergiu do papel. Os oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso foram marcados pela secundarização da Educação de Jovens e Adultos, seja pelos vetos presidenciais que restringiu o atendimento nos termos legais, seja pela restrição às políticas sociais que atingiu diretamente as formas de ensino de jovens e adultos excluídos do acesso e/ou permanência pela escola. Vingou a Alfabetização Solidária, parceria entre Estado, Sociedade e, algumas vezes, o Mercado, efetivada nos municípios de maior concentração de analfabetos no país, expressamente nas unidades federativas mais pobres, como os estados nordestinos. Contanto tenha havido tal afastamento por parte do Estado no nível federal, a Educação de Jovens e Adultos apresentou novas formas de atendimento nos estados e municípios principalmente. A população potencialmente a ser alfabetizada situa-se em torno dos trinta e cinco milhões de pessoas com idade igual e superior a quinze anos. Isso nos dá a dimensão da tarefa 2 O Banco Mundial notabiliza-se por condicionar a concessão de empréstimos mediante as lições de casa impostas às economias do Terceiro Mundo tais como: contenção dos gastos públicos, privatização de serviços públicos e empresas estatais, estabelecimentos de prioridades, racionalização, etc. o que foi chamado de dominação dos direitos sociais pela lógica e racionalidade do universo econômico. Em relação à Educação, ver O Banco Mundial e as Políticas Educacionais, Lívia De Tommasi, Mirian J. Warde e Sérgio Haddad (orgs.), Cortes, 1996. educativa a ser realizada, já que antes de simplesmente ser um processo de escolarização tardia, a Educação de Jovens e Adultos trata da extensão dos direitos sociais à população excluída dos benefícios da educação. A parceria Universidade/Movimentos Sociais Organizados A implementação de políticas pertinentes ao Estado mínimo em parte transferiu à própria população o encargo da resolução de suas carências, com o Estado constituindo-se como parceiro quando se faz presente. Vicejam as formulações autodenominadas de terceiro setor compreendidas como aliança entre (parceria) Estado-Mercado-Sociedade; tais concepções acarretam formas distintas de intervenção no real, contanto surjam privilegiando características particulares de grupos socioculturais distintos, permanecem delimitadas ao local de aplicação e são fragmentárias em relação às necessidades populares, estruturais em sua origem. Parece-nos que seja, entretanto, essencial na relação Estado-sociedade civil organizada que reside um potencial capaz de imprimir à tese e à prática das parcerias um caráter inovador, marcado por processos de construção da democracia e da justiça com sentido universal (Munarim, 1997, p. 12). Nesse aspecto, reveste-se de importância às relações possíveis de serem estabelecidas entre a sociedade civil organizada e o meio acadêmico, em especial, à reflexão sobre as formas de Educação de Jovens e Adultos. Se a contribuição da Universidade pode conferir qualidade para a atuação de organizações sociais, essa relação contribuiria para a qualificação do próprio meio acadêmico, em especial à pedagogia, compreendendo-se a importância pedagógica dos movimentos sociais em relação à educação não-formal. A Comissão de Especialistas de Pedagogia do Ministério da Educação (MEC) em seu documento de orientação aos avaliadores dos cursos existentes e em implantação indica a indefinição pela qual o curso de Pedagogia se encontra, sustentando a necessidade de superação da dicotomia entre professor x especialista na formação profissional dos educadores.3 O mesmo documento indica que os cursos de Pedagogia vêm preparando o profissional para as escolas de educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental, bem como para o exercício de tarefas de coordenação pedagógica, supervisão e administração escolar. Enuncia também, que fora da escola (projetos, instituições educativas, ações coletivas, culturais com jovens, mulheres, negros, etc.) o campo de atuação do pedagogo vem se definindo. Podemos perceber que as orientações estabelecidas pela Comissão de Especialistas apontam em muito que as relações existentes - por conta das características comuns que os cursos de pedagogia apresentam no país – entre a organização interna dos cursos e seus vínculos com organismos escolares e extra-escolares são determinantes em conferir o perfil e esboçar definições adequadas aos próprios cursos. Destaca ainda o documento de orientação para os avaliadores dos cursos de educação em sua página cinco que: A ênfase na formação do professor pesquisador e da introdução da pesquisa e da investigação como componente curricular presente em inúmeros cursos de Pedagogia das várias universidades, oferece condições, ainda, para o 3 www.mec.gov.br/Sesu/cursos/default.shtm#padroes . Padrões de Qualidade. 22/07/2002, 12:14 h. aprofundamento dos estudos em nível de pós-graduação, contribuindo para a geração e construção de conhecimento na área educacional. Assim, por base nesse documento, que expressa o pensamento tanto de parte do movimento dos educadores quanto do próprio ministério, podemos estabelecer que a formação de educadores aglutinaria três aspectos distintos: a docência, a especialidade e a pesquisa. Certamente há vozes discordantes, como a de Selma Garrido Pimenta e José Carlos Libâneo (2002), dentre outros destacados educadores, que preferem cursos distintos para professores e especialistas compreendendo a pesquisa como formação necessária para ambos.4 As relações que possam ser estabelecidas entre movimentos sociais (sociedade civil organizada) e Universidade exigem uma definição sobre as formas em que tais relações serão estabelecidas, destacando-se o papel do professor como docente e pesquisador. A assessoria às organizações populares pode ser efetivada de modos diferenciados, algo externo à coletividade em sua origem. Por mais que o assessor se identifique ao grupo, instituição, movimento assessorado, sua característica principal será definida pelos motivadores que o levaram a cooperar com o movimento. Maria da Glória Gohn em Assessorias aos Movimentos Populares: mediações necessárias (1989), afirma que as assessorias externas aos movimentos são executadas individual ou coletivamente por profissionais técnicos, militantes políticos, religiosos, assumindo formas de assessorias diferenciadas com concepções e projetos políticoideológicos diferentes. Em relação ao coletivo apoiado o assessor apresenta um saber técnico específico (médico, arquiteto, sanitarista, etc.) do qual a instituição não dispõe. O papel executado pela assessoria universitária encontra, desse modo, a sua sustentação nos fundamentos explicitados pelo documento de avaliação das instituições de ensino superior, no caso específico da pedagogia. A formação profissional de futuros pedagogos inclui entre seus componentes curriculares a pesquisa, a investigação, permitindo e incentivando o prosseguimento dos estudos em cursos de extensão e pós-graduação, sendo que o incentivo para o envolvimento do corpo docente e discente em grupos de estudos, cursos de extensão não se constituem em elementos estranhos para uma formação qualificada do futuro docente e/ou especialista em educação. A assessoria universitária aos movimentos sociais deve considerar que os mesmos não são uno ou homogêneos, daí que as assessorias são diferenciadas, portanto, as formas de relacionamento em grande parte não podem ser definidas a priori. É necessária flexibilidade na compreensão dos movimentos sociais, embora atuem em um terreno comum, o das reivindicações ou ações para a resolução de carências e necessidades de parcelas da população. Para Maria da Glória Gohn não existe movimento puro sem assessoria. Na compreensão dessa autora e professora universitária, a assessoria é uma das partes constitutivas do movimento. Em sua reflexão, indica que geralmente a participação em um movimento aconteça por algum tipo de afinidade (história de vida, prática política, trabalho, etc.), ou mesmo pela somatória de diferentes afinidades. A assessoria a movimentos sociais reveste-se de um caráter particular, ou seja, o assessor é pesquisador, devendo oferecer ao movimento os seus conhecimentos, bem como atuar de forma a permitir o avanço da reflexão empreendida pelo próprio movimento. 4 Ver Pedagogia e Pedagogos: caminhos e perspectivas, organizado por Selma Garrido Pimenta, publicado pela editora Cortez em 2002. Dada a centralização dos aparatos burocráticos e ao tecnocratismo existentes nos órgãos estatais, os movimentos urbanos ao negociarem com o Estado atribuem um papel importante aos seus assessores técnicos, na formulação das propostas, como garantia de igualdade com o interlocutor (Gohn, 1989, p. 132). Na atualidade, o afastamento do Estado em fomentar, gerir e administrar exclusivamente formas de Educação de Jovens e Adultos gerou políticas de parceria com a sociedade civil organizada. Nesse aspecto, a assessoria universitária pode subsidiar as práticas educativas que as instituições populares perfazem, contribuindo na elaboração de projetos que, por exemplo, muitas vezes constituem um obstáculo para que se efetivem formas de atendimento pretendidas pelas organizações ou movimentos sociais organizados. A assessoria de origem universitária pode ou não ser formalizada, o docente universitário ao estabelecer vinculo entre a sua prática e a realidade dos alunos provenientes de comunidades ou de movimentos organizados pode estabelecer formas de incluir em seus objetivos educacionais a realidade de seus alunos. Daí para assessorar os movimentos, associações e/ou projetos populares existe tão somente o limite da vontade, política certamente, mas profissional, sendo que a sua legitimidade será construída pela e na prática. Na minha atuação de professor-pesquisador pela Unicastelo, e como docente do curso de pedagogia, deparei-me com graduandos provenientes de entidades, associações e movimentos que buscam orientações na confecção de projetos educacionais, por exemplo. É o caso do Conselho Comunitário Milton Santos do Jardim Yolanda II, periferia leste da cidade de São Paulo. Este Conselho mantém por meio de trabalho voluntário 42 núcleos de Educação de Jovens e Adultos atendendo a mais de oitocentas pessoas em alfabetização e pósalfabetização. Na busca de recursos junto aos poderes públicos e mesmo instituições privadas, o Conselho viu-se na necessidade de construir o seu projeto pedagógico, que foi realizado por meio da ordenação dos propósitos da instituição, de pesquisa em parte efetivada pelos próprios educadores do Conselho com a assessoria por mim realizada. Nesse processo, a todo o momento quando da produção do projeto, as consultas recíprocas, a construção do consenso, demonstraram que pela troca estabelecida é possível pesquisar e assessorar organizações populares ao mesmo tempo em que as próprias organizações são participantes conscientes do processo, que de modo mais preciso, deve-se chamar de reflexão conjunta.5 Há muito se sabe que os movimentos que mais avançam na cidade de São Paulo são aqueles que dispõem de uma retaguarda. Apenas queremos registrar que as seções universitárias de apoio aos movimentos populares têm se constituído numa frente de revitalização do ensino e da pesquisa, além de responderem a uma demanda importantíssima: o estudo e o equacionamento de problemas cotidianos enfrentados pela parcela da população que não detém conhecimento e nem recursos para resolvê-los (Gohn, 1989, p. 137). 5 A atuação junto ao Conselho Comunitário Milton Santos deve ser compreendida como possível graças à função de professor-pesquisador que venho exercendo há dois anos no curso de Pedagogia da Unicastelo. Não se trata de trabalho voluntário posto que a função de pesquisador é remunerada pela Universidade que destina algumas horas para que seja exercida. É fruto da vontade e da compreensão que esse tipo de vínculo enriquece à própria prática docente, permitindo uma nova forma de relacionamento com os graduandos. Essa assessoria nasceu da pesquisa que realizei em 2003 sob o tema de Educação e cotidiano: o encontro da cultura da escola e a cultura juvenil, pois o Conselho em seus núcleos de alfabetização atende em sua maioria a jovens, muitos deles excluídos dos processos regulares de escolarização, o que interessou-nos sobremaneira para a pesquisa então em curso. Na atualidade, estamos iniciando uma investigação que objetiva estabelecer se houve alteração nas condições de vida dos educandos egressos dos cursos de alfabetização mediante o domínio da leitura e escrita. A participação junto ao organismo popular na confecção de seu projeto pedagógico de Educação de Jovens e Adultos apresenta uma questão crucial no trabalho de um assessor, que é o de participar da confrontação do mesmo com o seu destino ou função. Concernente a isso, a assessoria não pode ser encerrada na entrega de um produto (projeto), necessita de acompanhamento, de confrontação com a prática efetuada pelos educadores da organização popular na efetivação de sua prática educativa. O papel do assessor não pode ser o de fazer pelo outro, mas estimular a percepção sobre o exercício do fazer. O ofício de assessoria desenvolve-se sobre e na vivência de problemas concretos (Idem, 1989). Por isso, não é descabido ao docente-pesquisador efetivar formas de capacitação aos agentes populares educacionais que tratem de aspectos específicos. Por exemplo, foi-me solicitada orientação para que na pós-alfabetização os educadores do Conselho possam realizar práticas de desenvolvimento da expressão escrita e da interpretação de textos. Cabe ao assessor atender e dar uma resposta por meio de práticas problematizadoras que enriqueçam a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem e a vivência comunitária dos envolvidos nesse processo educativo e no papel que a posse de domínio da língua escrita acarreta ao indivíduo, por exemplo. As conseqüências sempre devem ser refletidas, seja da prática docente, do exercício da assessoria, da prática dos educadores populares e ao que almejam. Assim, a contribuição à educação de parcela, por menor que seja, da população torna os indivíduos capazes de ter acesso aos bens culturais, se não, capacita-os - em princípio - a lutarem por eles. A docência universitária e sua pesquisa ao se estabelecerem ampliam as possibilidades do ensino na formação de futuros pedagogos, e ao estreitarem-se os laços com a comunidade popular, constituem-se em componente que nos remete a discussão à ampliação democrática, que por justiça deve ser compreendida como algo além da simples representação obtida por meios eleitorais. Meios certamente importantes, se não o fossem não teríamos ao longo de nossa história períodos ditatoriais extensos. Em outro aspecto, a democracia representativa vem mostrando-se insuficiente em solucionar os problemas sociais, talvez o afastamento do Estado e as novas formas de relação que este estabelece com a sociedade organizada acabe por implementar canais mais vigorosos de participação popular na busca de soluções efetivas aos seus problemas. Obviamente, não podemos ser ingênuos e conceber que ações circunstanciadas por si sejam capazes de construir tais mecanismos, mas se não houver empenho ou formas de atuação, aí sim, nada acontecerá. Title: Teaching, research and social commitment Abstract: Academic thoughts and achievements may cooperate with the popular associations helping them technically and pedagogically in the adolescent and adult education, expressing, in this way, the educator’s social commitment to the essential changes for a large democratic society. Key words: Popular associations, adolescent and adult education, teaching and research. Bibliografia BETTO, Frei.O que é Comunidade Eclesial de Base. São Paulo: Brasiliense, 1981. CARDOSO, Ruth in DAGNINO, Evelina (org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. GOHN, Maria da Glória. Assessorias aos movimentos populares: mediações necessárias. Revista Educação & Sociedade, dez. /1989, nº 34, p. 130-144. ______. Movimentos Sociais e Educação 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1994. MUNARIM, Antonio. Parceria, uma faca de muitos gumes in Alfabetização e Cidadania, São Paulo, RAAB, 1997, nº 5, p.11-22.
Download