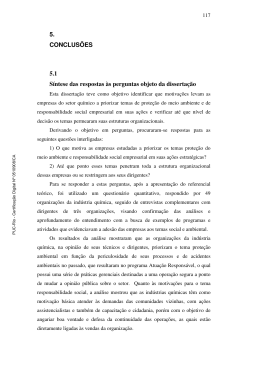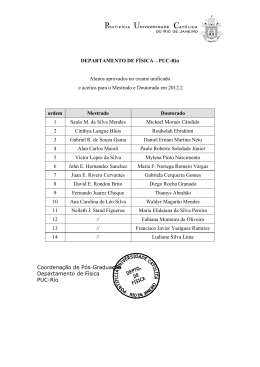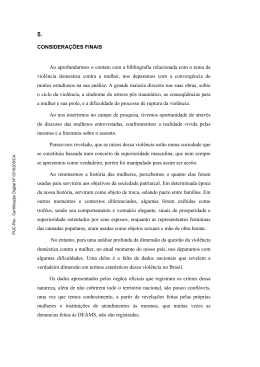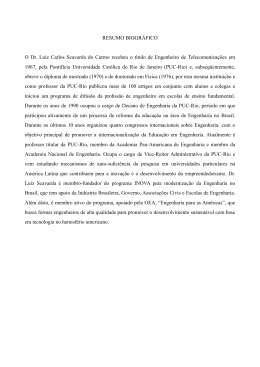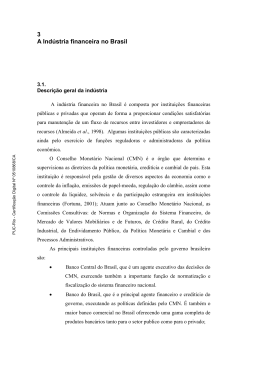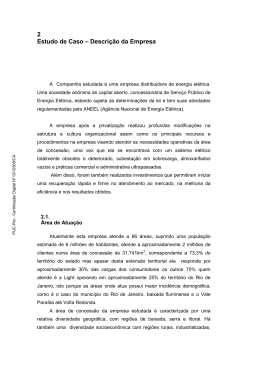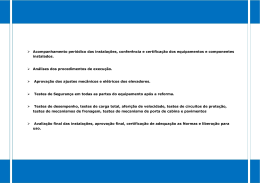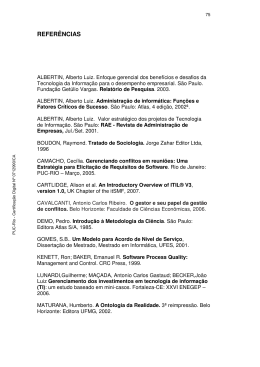3
O CORPO COMO LEITMOTIF
"Falamos do cachorro com a pata machucada e do pombo de asa quebrada. Mas
o cachorro não pensa em si mesmo nesses termos, nem o pássaro. Para o
cachorro, quando ele tenta andar, existe apenas Sou dor; para o pássaro,
quando ele se lança em vôo, simplesmente Não consigo. Conosco parece ser
diferente. O fato de existirem expressões tão comuns quanto "minha perna",
"meu olho", "meu cérebro" e mesmo "meu corpo" sugere que acreditamos que
exista alguma entidade não material, talvez irreal, que mantém uma relação de
possuidor a possuído no que se refere às "partes" do corpo e mesmo quanto ao
corpo todo. Ou então a existência dessas expressões mostra que a linguagem
não encontra um ponto de apoio, não consegue se desenvolver enquanto não
tiver fracionado a unidade da experiência." (Coetzee, 2007, p.67)
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
A vez do corpo
Em primeiro lugar, antes de falar do lugar do corpo nos romances de
Coetzee, é preciso perguntar como o corpo se tornou, em nossos dias, um objeto
teórico de tanta força e visibilidade? Como pergunta o historiador Jean-jacques
Courtine em História do Corpo - as mutações do olhar, "como o corpo se tornou
um objeto de investigação histórica?" (2008, p.7).
O corpo se une mais estreitamente à maquina, afirmava Descartes, no
século XVII: "Suponho que o corpo seja apenas uma estátua ou uma máquina de
terra que deus forma para esse fim" (Descartes, 1910, p.119). E assim, até o
século XIX, em uma tradição filosófica dominada pelo cartesianismo, tudo
contribuía para atribuir ao corpo um papel secundário.
"No entanto, na virada do século, a relação entre o sujeito e o seu corpo
começou a ser definida em outros termos: "Nosso século apagou a linha
divisória do 'corpo' e do 'espírito' e encara a vida humana como espiritual e
corpórea de ponta a ponta, sempre apoiada sobre o corpo [...]. Para muitos
pensadores, no final do século XIX, o corpo era um pedaço de matéria, um feixe
de mecanismos.
O século XX restaurou e aprofundou a questão da carne, isto é, do corpo
animado". (Merleau-Ponty, 1960, p.287 apud Courtine, 2008, p.7)
Foi também reconhecida a idéia que Edmund Husserl fazia do corpo
humano como o "berço original" de toda significação. "Sua influência foi
105
profundamente sentida na França, e conduziu, da fenomenologia ao existencialismo, à concepção elaborada por Maurice Merleau-Ponty do corpo como
"encarnação da consciência", seu desdobramento no tempo e no espaço, como
"pivô do mundo". (Courtine, 2008, p.8)
Portanto, nossa alma não vive alojada no corpo como se fosse um capitão
em seu navio, mas entra com ele em uma relação de intimidade, diferenciando
para sempre o "meu corpo" e o do Outro.
Além disso, o corpo passou a ser encarado como singular, inclusive para a
medicina. Cada corpo é único. Não é apenas o "principio de individuação", como
escrevia o sociólogo Emile Durkheim. Ele é um meio único de expressão, de ação
e de pathos, de sedução e repulsa, vetor fundamental de nosso ser-no-mundo.
Portanto, como dizem os historiadores, foi o século XX que inventou
teoricamente o corpo. Um fator decisivo para essa invenção surgiu de uma
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
tradição filosófica inaugurada por Nietzsche, traduzida e explicitada na sua frase
que se tornou célebre "não acredito em nenhuma ideia na qual os músculos não
tenham festiva parte" (1999); retomada por filósofos como Deleuze, e examinada,
entre outros, por Klossowski quando enfatiza a função do corpo no pensamento
Nietzschiano:
"Sendo o corpo o si mesmo no interior do corpo e se exprimindo através
do corpo, essa já é, para Nietzsche, uma posição fundamental: tudo aquilo que o
cérebro lhe recusa permanece escondido na vida corporal, essa inteligência
maior do que a sede da inteligência: todo o mal, todo o sofrimento decorrem
dessa briga entre a pluralidade do corpo, com suas milhares de pulsões volúveis
e a obstinação em interpretar o sentido cerebral". (Klossowski, 2000, p.52).
Outro passo determinante foi a psicanálise, "a partir do momento em que
Freud, observando a exibição dos corpos que Charcot mostrava na Salpétriere,
decifrou a histeria e compreendeu o que iria constituir o enunciado essencial de
muitas interrogações que viriam depois: o inconsciente fala através do corpo".
(Courtine, 2008, p.7)
Este enunciado fez com que se levasse em conta a imagem do corpo na
formação do sujeito, daquilo que viria a ser o "eu-pele", assim como toda a
investigação sobre as somatizações.
Mais uma etapa da redescoberta e reavaliação do corpo emergiu do terreno
da antropologia, com o estudo sobre as "técnicas corporais" de Marcel Mauss. O
106
antropólogo se surpreendeu quando viu, durante a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), a infantaria britânica desfilar num passo diferente do passo dos
franceses e cavar buracos também de maneira distinta. A noção de "técnica
corporal" — "as maneiras como os homens, sociedade por sociedade, de maneira
tradicional, sabem servir-se do seu corpo" — que ele formulou para explicar seu
espanto foi crucial e serviu de ponto de partida obrigatório de toda a reflexão
histórica e antropológica sobre a questão, até os dias de hoje. (Courtine, 2008, p. 8
e 9)
Num dos artigos reunidos no livro Corpo e Forma (1998), organizado por
João Cezar de Castro Rocha, Gumbrecht ironicamente afirma que ocorreu nas
últimas décadas uma corrida dos intelectuais em direção ao corpo como
referencial teórico semelhante à corrida da sociedade para as academias de
ginástica nos anos 80 e 90.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
Essa perspectiva continua se confirmando na primeira década do século
XXI e traz uma série de novas questões e debates, assim como uma inscrição
geralmente transdisciplinar do corpo e da corporalidade no debate acadêmico.
Nos estudos de Literatura uma das referências teóricas mais influentes é a
da filósofa americana Judith Butler, com livros como Bodies that matters (1993),
Gender Trouble (1999) e Excitable Speech (1997). Butler repensa o corpo a partir
de reinvindicações feministas e políticas, centrando o debate nas questões de
gênero, nas categorias de identidade sexual e nas implicações políticas dessas
categorias, assim como na proposta da teoria queer.
Além disso, Butler trabalha a questão do corpo junto com a de
performance e performatividade. Em artigo sobre Henry James, o foco é o que
chama de "performatividade queer", uma estratégia de produção de "meaning and
being" com implicações críticas sobre ambas as questões de identidade e poder da
linguagem.(2003, p.61)
"What moves me politically, and that for which i want to make room, is the
moment in which a subject - a person, a collective – asserts a right or
entitlement to a livable life when no such prior authorization exist, when no
clearly enabling convention is in place" (Butler, 2004, p.224)
Desde o pós-guerra até a década de 60, acreditava-se que a ênfase
lingüística do estruturalismo poderia neutralizar, ou até negar a questão do corpo
107
junto com a do sujeito e suas "ilusões". Mas as coisas não se passaram assim.
Principalmente porque no fim da década de 1960, o corpo se pôs a desempenhar
papel crucial nos movimentos individualistas e igualitaristas de protesto contra as
hierarquias culturais, políticas e sociais. É nesse ambiente que se insere Judith
Butler, o das lutas políticas e aspirações individuais que colocaram o corpo no
coração dos debates culturais, transformando a sua existência como objeto de
pensamento.
"Nosso corpo nos pertence!" — gritavam no começo dos anos 1970 as
mulheres que protestavam contra as leis que proibiam o aborto, pouco tempo
antes que os movimentos homossexuais retomassem o mesmo slogan. O discurso
e as estruturas estavam estreitamente ligados ao poder, ao passo que o corpo
estava do lado das categorias oprimidas e marginalizadas: as minorias de raça, de
classe ou de gênero pensavam ter apenas o próprio corpo para opor ao discurso do
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
poder, à linguagem como instrumento para impor o silêncio aos corpos. (Courtine,
2008, p.9)
"De nada adiantou o Movimento das mulheres ter sido iniciado — como
se disse — por intelectuais [...] afirmou Antoinette Fouque, uma das fundadoras
do Movimento da Libertação Feminina (MLF), primeiro o que veio foi um grito,
e o corpo com esse grito: o corpo tão duramente maltratado pela sociedade dos
anos 1960, tão violentamente recalcado pelos modernos da época, os mestres do
pensamento contemporâneo". E é disso que o corpo foi investido no contexto das
lutas travadas pelos direitos das minorias no decorrer da década de 1970: um
lugar importante de repressão, um instrumento crucial de libertação, a promessa
de uma revolução. "Eu dizia então que a revolução que o Movimento da Libertação Feminina iria realizar consistiria em levantar a censura sobre o corpo, tal
como Freud [...] levantara a censura sobre o inconsciente" (Fouque, Le Debat,
1990, p.126 apud courtine, 208, p.9).
E assim aconteceu que o corpo foi ligado ao inconsciente, amarrado ao
sujeito e inserido nas formas sociais da cultura. Terá sido, enfim, necessário
passar, no plano teórico, por uma "inversão nietzscheana do vínculo entre corpo e
sujeito, que recebeu seu tratamento mais radical no Anti-Édipo e ganhou seu título
de nobreza no trabalho de Michel Foucault, cuja presença explícita ou implícita,
reivindicada ou criticada, atravessa quase todos os estudos sobre o corpo"
(Courtine, 2008, p.9).
O mérito de Foucault, de acordo com os historiadores, pelo menos, quer se
subscreva ou não a sua maneira de conceber os poderes exercidos sobre a carne,
108
consiste em ter firmemente inscrito o corpo no horizonte histórico da longa
duração. Tal como a emergência do corpo como objeto na história das
mentalidades, a redescoberta da importância do processo de civilização elucidado
por Norbert Elias, e a ênfase posta nos gestos, nas maneiras, nas sensibilidades, na
intimidade na investigação histórica atual refletem sem dúvida um eco de tudo
isso. (2008, p.10)
Seja como for, está feita a constatação, a de uma grande reviravolta: jamais
o corpo humano conheceu transformações de uma grandeza e de uma
profundidade semelhantes às encontradas no decurso do século XX: corpo
material, corpo orgânico, de carne e sangue, corpo agente e instrumento de
práticas sociais, corpo subjetivo, enfim, eu-pele, envoltório material das formas
conscientes e das pulsões inconscientes.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
A crítica de Coetzee ao corpo-máquina
De acordo com Coetzee, em Diário de um ano ruim: "Claro que se pode
ouvir discurso raquítico e mecânico no mundo inteiro. Mas o orgulho pelo modo
mecânico parece ser unicamente americano. Pois na América o modelo do eu
como um fantasma habitando uma máquina é quase inquestionável em nível
popular. O corpo conforme é concebido na América, o corpo americano, é uma
máquina complexa que compreende um módulo vocal, um módulo sexual e
diversos outros, até um módulo psicológico. Dentro do corpo-máquina, o eu fantasma controla mostradores e aperta teclas, enviando comandos a que o corpo
obedece. Atletas de todo o mundo absorveram o modelo americano de eu e corpo,
presume-se que por causa da influência da psicologia americana do esporte (que
"dá resultados")" (2007, p.148 e 149)
O modelo atlético se reforça e se diversifica, ganha novos horizontes:
natureza e nudez têm uma outra presença; força e musculatura, um outro valor. O
mundo do trabalho e da indústria com seus ritmos acelerados, o ambiente das
repartições e dos escritórios com seus códigos de adaptabilidade orientam cada
vez mais o tônus e a magreza.
De modo muito mais profundo, o treinamento físico implica, durante o
período entre-guerras, um primeiro trabalho sobre o íntimo, o domínio não somente da musculatura e dos movimentos, mas também do sensível, se não da
109
interioridade. Também se banalizou o tema de uma transformação da silhueta pelo
movimento e pela conservação da forma física: "faça o seu corpo", insiste uma
ampla literatura atlética. (Vigarello, 2008, p.215)
Essas aprendizagens vão convergir com os projetos de desenvolvimento
pessoal em uma sociedade que enfrenta sempre mais competição. Convergem
com a literatura, igualmente nova no princípio do século XX, que promete a
"autoconfiança", detalhando a maneira de "tornar-se mais forte", a de "abrir seu
próprio caminho na vida". (vigarello, 2008, p.220)
Isto equivale a dizer que essa exigência de "modelagem" do próprio corpo
reforça o tema do trabalho, o da vontade aplicada ao corpo: constância e
tenacidade apesar das férias e do tempo passado ao ar livre, obstinação e teimosia
apesar do repouso e das escapulidas. O projeto vai, aliás, se aprofundar a partir
das empresas do século XX, as das primeiras iniciativas para a aquisição de força
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
e de "autoconfiança".
Trata-se, sobretudo, de manter o princípio de comandar o conjunto do
corpo controlando o conjunto das sensações, a certeza de obter uma extrema
habilidade na exploração de uma sensibilidade. Triunfo do sujeito "hipermoderno"
que encontra sua tradução mais evidente no "mundo esportivo". (2008, p.221 e
222)
O objetivo é sempre melhorar, na medida do possível, seu rendimento. São
pensados "programas motores" que levam em conta "esquemas memorizados" de
movimento e sua complexidade progressiva. São também concebidos "programas
de treinamento mental", com exercícios sucessivos, apreendidos no espaço e na
duração. Input e output ligados às posições no espaço, às sensações de
movimento, às sensações externas, assimilam "a aquisição das habilidades
motoras" a um "tratamento da informação". A imagem dominante da
comunicação transformou o modelo ideal do corpo: não mais apenas a força ou a
estética, mas a informação exaustiva e imediatamente disponível. (Vigarello,
2008, p. 230)
Sobre essa perspectiva do corpo, Coetzee complementa: "Atletas falam
abertamente de si mesmos como máquinas de uma variedade biológica que têm de
ser alimentadas com nutrientes certos em quantidades certas a horas certas do dia,
e "trabalhada" de diversas maneiras por seus treinadores para atingir um nível átimo de performance. Imagine como esses atletas fazem amor: atividade vigorosa
110
seguida de uma explosão de orgasmo, racionalizado como uma espécie de
recompensa para o mecanismo físico, seguida de um breve período de
relaxamento durante o qual o supervisor-fantasma confirma que a performance
atingiu o nível desejado". (Coetzee, 2007, p.149)
O corpo da vez
O volume intitulado História do Corpo apresenta a singularidade da
presença do corpo durante o século XX, pela ênfase que põe sobre as diferentes
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
visões e perspectivas que se lançaram sobre ele:
"jamais o organismo foi tão penetrado antes como vai sê-lo pelas tecnologias de
visualização médica, jamais o corpo íntimo, sexuado, conheceu uma
superexposição tão obsessiva, jamais as imagens das brutalidades sofridas pelo
corpo na guerra e nos campos de concentração tiveram equivalente em nossa
cultura visual, jamais os espetáculos de que foi objeto se aproximaram das
reviravoltas que a pintura, a fotografia, o cinema contemporâneo vão trazer à sua
imagem". (Courtine, 2008, p.10)
Nesta perspectiva a obra examina a constituição dos saberes médicos e
genéticos sobre o organismo, a tensão entre desejos do corpo sexuado e normas de
controle social, a transformação das percepções do corpo anormal e as
necessidades da identificação dos indivíduos perigosos, a soma incalculável dos
sofrimentos infligidos pela sangrenta tragédia das violências do século XX e,
enfim, os prazeres oferecidos aos olhares pelas imagens, as telas, as cenas, as
tribunas de onde se contemplam as metamorfoses atuais do corpo.
Cada uma desses temas revela uma parte do complexo processo de
mudanças históricas em cujo ambiente se constituiu a relação do sujeito
contemporâneo com seu corpo: "o afrouxamento de coerções e disciplinas
herdadas do passado, a legitimidade outorgada ao prazer e, ao mesmo tempo, a
emergência de novas normas e de poderes novos, biológicos e também políticos; a
saúde que agora se tornou um direito e a ansiedade face ao risco, a procura do
bem-estar individual e a extrema violência de massa, o contato das epidermes na
vida íntima e a saturação do espaço público pela frieza dos simulacros sexuais. Aí
estão alguns dos paradoxos e dos contrastes de que é feita a história do corpo no
século XX", diz o historiador Courtine. (2008, p.11)
111
Na hora em que se desenvolvem não só a cirurgia estética, mas também as
operações de modificação do corpo de todos os tipos, desde a dietética e o bodybuilding até ao doping, e de fato tudo aquilo que se costuma denominar
"engenharia biotecnológica", de novo aparece o tema do homem mecânico, mas
sob a forma do homem "pós-humano".
Os enxertos, as cirurgias para a mudança de sexo, as intervenções na
reprodução, a melhora das performances através do doping, as perspectivas de
modificação genética e de clonagem, as intervenções "biotech", tudo isso permite
entrever o aparecimento de um homem mutante, filho de suas próprias opções e
técnicas, com esta ambigüidade que não se sabe se aqui se trata de um homem
inumano por desumanização ou de um super-homem que ultrapassa a humanidade
para levá-la mais alto e mais longe.
Fazem-se diagnósticos de doenças genéticas do embrião e se intervém
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
sobre elas. Multiplicam-se os corpos virtuais, em que se aprofunda a exploração
visual do ser vivo, em que se comerciam o sangue e os órgãos, em que se
programa a reprodução da vida, em que se vai apagando a fronteira entre o
mecânico e o orgânico mediante a multiplicação dos implantes, em que a genética
se aproxima da replicação da individualidade.
Body-builders, mutantes, cyborgs, mesmo sem cair na ficção científica,
sentimos que nossos corpos não têm mais exatamente os mesmos contornos, já
não sabemos muito bem quais são os seus limites, o que é possível ou lícito, o que
pode ser mudado no corpo sem que mudemos de identidade ou não, sobretudo é
mais que nunca necessário interrogar, experimentar o limite do humano: "Meu
corpo será sempre meu corpo?" (Courtine, 2008, p.12)
Como nos lembra Coetzee sobre a estranheza e fascinação que nosso corpo
nos provoca, causando repulsa ou sentimentos de posse sobre aquilo que é meu?,
pois está em mim, e que, apesar disso, é capaz de ser mais ou menos íntimo ou
familiar:
"Todas as partes do corpo não estão catexizadas no mesmo grau. Se um
tumor fosse extraído de meu corpo e mostrado para mim numa bandeja
cirúrgica como "seu tumor", eu sentiria repulsa por um objeto que é, em certo
sentido, "de" mim, mas que eu repudio, e de cuja eliminação até mesmo me
alegro; enquanto se uma de minhas mãos fosse cortada fora e mostrada para
mim, eu sem dúvida sentiria a mais aguda dor.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
112
Sobre cabelo, unhas cortadas e outros que tais não há sentimentos, uma vez
que essas perdas Dentes são mais misteriosos. Os dentes de "minha" boca
são "meus" dentes, partes de "mim", mas minha sensação deles é menos íntima
do que meus sentimentos por, digamos, meus lábios. Meus dentes me dão a
sensação de serem nem mais nem menos "meus" do que as próteses de metal ou
porcelana em minha boca, obras de dentistas cujos nomes esqueci. Eu me sinto
mais dono ou tutor de meus dentes do que sinto que meus dentes sejam parte de
mim. Se um dente estragado tivesse de ser extraído e me fosse mostrado, eu não
sentiria grande pena, embora meu corpo ("eu") nunca vá regenerá-lo.
Esses pensamentos sobre o corpo não acontecem no abstrato, mas em
relação a uma pessoa específica, X, sem nome. Na manhã do dia em que morreu,
X escovou os dentes, cuidando deles com a devida diligência que aprendemos em
criança. De suas abluções, ele emergiu para enfrentar o dia, e, antes que o dia terminasse, estava morto. Seu espírito partiu, deixando para trás um corpo que
não servia para nada; pior do que não servir para nada, porque logo
começaria a se deteriorar e a se transformar em uma ameaça à saúde pública.
Parte desse corpo morto era o conjunto completo de dentes que ele escovou de
manhã, dentes que também morreram no sentido de que o sangue cessou de
correr por suas raízes, ainda que eles, paradoxalmente, tenham deixado de
entrar em decomposição à medida que o corpo esfriava e que suas bactérias
orais também esfriavam e se extinguiam.
Se X tivesse sido enterrado na terra, as partes de "seu" corpo que viveram
mais intensamente, que eram mais "ele", teriam apodrecido, enquanto "seus"
dentes, que ele podia sentir como coisas apenas sob seus cuidados ou custódia,
teriam sobrevivido. Mas é claro que X não foi enterrado, e sim cremado; e as
pessoas que construíram o forno em que ele foi consumido certificaram-se de que
estivesse quente o bastante para transformar tudo em cinzas, mesmo os ossos,
mesmo os dentes. Mesmo os dentes". (Coetzee, 2007, p.68 e 69)
Corpo Leitmotif
If I look back over my fiction, I see a simple (simple-minded?) standard
erected. That standard is the body. Whatever else, the body is not “that which is
not”, and the proof that it is is the pain it feels. The body with its pain becomes a
counter to the endless trials of doubt. (one can get away whith such crudeness in
fiction; one can’t in philosophy, I’m sure.) Not grace, then, but at least the body.
Let me put it baldly: in South Africa it is not possible to deny the authority of
suffering and therefore of the body. It is not possible, not for logical reasons, not
for ethical reasons (I would not assert the ethical superiority of pain over
pleasure), but for political reasons, for reasons of power. And let me again be
unambiguous: it is not that one grants the authority of the suffering body: the
suffering body takes this authority: that is its power. To use other words: its
power is undeniable. (Coetzee, 1992, p.248).
É a partir do corpo, de um acontecimento sofrido e vivenciado pelo corpo,
diretamente no "eu-pele", no "em mim", que os personagens de Coetzee se
modificam, se alteram, se transformam em personagens inconvenientes, ou tal
como enuncio, inadequados.
113
Geralmente o que acontece ao corpo é uma forma de dor, de perda. Um
sofrimento, uma tortura, um estupro, uma mutilação, que faz do personagem "um
outro", tornado estranho e indesejado, uma gafe que se tenta evitar.
Desta forma, é justamente através do corpo que "tudo muda" e que a
inadequação se instala. O corpo é o leitmotif, o que leva ao limite, ao extremo, à
verdade. O corpo que sofre é incontestável, irremediável. O sofrimento do corpo
toma pra si a sua autoridade, o seu poder.
Assim, o corpo ocupa o espaço liminar, e desvia os romances de uma
leitura exclusivamente metafórica, conceitual, ou meta-narrativa, porque não há
metáfora, nem simbologia na dor. “A dor é a verdade”, diz o torturador do
magistrado em À espera dos bárbaros, “tudo mais está sujeito a dúvida”. (2006,
p.153)
Em seus romances, Coetzee relaciona, numa trama complexa, o corpo e a
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
sexualidade, a violência, a história e o poder. No entanto, os romances não
representam corpos como símbolos de constelações históricas, nem mostram
corpos como vítimas dos discursos de poder.
Embora o corpo na ficção de Coetzee não exista pra além do discurso, isso
não significa que o discurso constrói um corpo passivo, mas que não é possível se
referir ao corpo fora do discurso, ou seja, o corpo não existe como uma condição
pré-discursiva "natural" no qual processos sociais se inscrevem.
Como sabemos, não há tal coisa como uma "natureza" anterior e separada
onde a cultura se inscreve. Não é possível fazer a experiência com o menino-lobo
do Herzog para tentar descobrir o que é "natural" em nós, fora da cultura, porque a
cultura não é um acréscimo, um algo a mais que se soma, um diferencial; é
sobretudo constitutiva do "natural". Assim, a cultura é tão natural quanto o natural
e o natural tão cultural quanto a cultura.
A construção do corpo, como nos romances de Coetzee, é um processo
permanente de práticas discursivas que determinam que corpos são inteligíveis e
quais não são. Portanto, o corpo é percebido como ativo nesse processo.
Isto é, os corpos, para Coetzee, não são apenas campos de batalha da
História, um lugar ou superfície à espera de um significado. Em toda a sua obra os
corpos se tornam agentes no processo de criar sentido, de escrever a história.
114
Os personagens usam as normas, as práticas sociais, as formas de correção,
de uma forma particular e assertiva e se redefinem através dessa forma. Nos
termos de Butler, eles "citam essas normas subversivamente". (1999)
Em o Homem Lento (2005), por exemplo, o personagem, um ciclista, tem
uma das pernas amputadas. Não há uma só pessoa no romance, principalmente
médicos, que não explique que ele pode e deve botar uma prótese. Há uma
insistência para que ele aceite a prótese, e quando ele recusa, os médicos ficam
chocados, irritados, até ofendidos. Como alguém recusa os recursos da medicina
moderna? Como não quer ser "inteiro" e "saudável"?
A recusa do homem lento é estranha e está em desacordo com as normas, é
desse momento em diante (e não porque perdeu a perna) que ele se torna um
exemplo de "inadequação".
Afinal, "Se a palavra-chave do século XVIII era a felicidade, e a do século
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
XIX a liberdade, pode-se dizer que a do século XX é a saúde" (Moulin, 2008,
p.18).
A história desse século é justamente a de uma medicalização sem
equivalente. Ao assumir e enquadrar um enorme e variado número de atos
ordinários na vida de cada um, a medicina ocidental tornou-se não apenas o
principal recurso em caso de doença, mas um guia de vida. Ela promulga regras
de comportamento, censura prazeres, aprisiona o cotidiano em uma rede de
recomendações.
A justificativa para a medicina ter ser tornado um guia de comportamento
advém das suas conquistas, maior conhecimento, vitória sobre algumas doenças,
medicina preventiva e aumento da longevidade. Propõe-se ao homem de bem da
modernidade uma prestação de contas de seu corpo, tal como antigamente da
alma.
De acordo com Moulin, "como o Estado ocidental institui uma ordem dos
corpos, cujas energias e competências contabiliza, pretende simplesmente
otimizar o seu funcionamento. E se a intervenção dos poderes em matéria de
saúde
pública
comprova
aquilo
que
Michel
Foucault
denominava
a
governamentalidade da vida, estimula também o cuidado consigo mesmo". (2008,
p.21)
115
O cidadão de bem não deve reformar seu comportamento em função dos
decretos da ciência? Se não, ele, como o Homem lento (2005) de Coetzee, não é
um homem de bem, é um desvio de conduta.
Outros personagens de Coetzee têm comportamentos similares e serão
analisados posteriormente com mais detalhes: o magistrado de À espera dos
bárbaros merece uma atenção particular (ver no item 3.1. Corpo-limite, uma
fronteira bárbara). Também Elizabeth Costello (item 3.2), personagem que
motiva a discussão em torno da categoria de humano.
Também no capítulo 4, sobre Inadequação, outros personagens serão
comentados, no sentido de apontar e reafirmar a relação entre o corpo e o conceito
de inadequação
3.1
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
Corpo-Limite, uma Fronteira Bárbara
“Porque tão rápido as ruas se esvaziam
e todos voltam para casa preocupados?
Porque é já noite, os bárbaros não vêm
e gente recém-chegada das fronteiras
diz que não há mais bárbaros.
Sem bárbaros o que será de nós?
Ah eles eram uma solução”.
Constantin Kaváfis
Vou falar sobre um dos romances de Coetzee, mais especificamente sobre
a trajetória do protagonista desse romance, na tentativa de acompanhar de que
maneira determinados movimentos, contextos e afetos, ao longo da narrativa, vão
modificando a sua posição, perspectiva e o seu próprio corpo.
O romance é À espera dos bárbaros de J.M. Coetzee, cujo título é
inspirado no poema homônimo de Constantin Kaváfis. O poeta grego Kaváfis
conta, em versos, a espera de uma sociedade que anseia pela chegada bárbara. Os
senadores não legislam, os oradores calam, todos prontos a receber os visitantes
ilustres. No entanto, os bárbaros não chegam e, infortúnio maior, não há mais
bárbaros. O poeta pergunta: “Sem bárbaros o que será de nós? Ah, eles eram uma
solução”.
116
À espera dos bárbaros, livro de 1980, editado no Brasil em 2006, é a
história de um velho magistrado que vive em um posto distante de um império
não nomeado, em um tempo não definido. A vida local é alterada a partir de
rumores de inquietação entre os bárbaros, antigos habitantes que vivem como
nômades no deserto. A Terceira Divisão do Império e os seus doutores em
interrogatório, comandados pelo coronel Joll, chegam para investigar a situação e
preparar o combate. O funcionário da fronteira que desejava somente “quando
morrer, merecer três linhas em letra miúda na gazeta imperial”, que não pediu
“nada mais que uma vida tranqüila em tempos tranqüilos”(2006, p.16), acaba
invadido pelo império, na figura do coronel Joll e dos primeiros presos que
chegam acompanhados de tortura, humilhação e morte. O medo é disseminado,
portas são trancadas, há o toque de recolher, todos temendo a invasão de um
inimigo que nunca atacou. A espera também está presente, instaurando a presença
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
do tempo como uma espécie de “interregnum”, intervalo sombrio.
A leitura mais imediata do livro de Coetzee é a de uma crítica, de caráter
indeterminado, aos regimes autoritários, às arbitrariedades do poder e aos
bárbaros como sendo sempre os outros, os que não pertencem ao império. O meu
ponto de partida também é a noção de que o romance explicita a construção de
narrativas do grande divisor entre nós e eles, no exemplo particular, como império
e bárbaros.
No entanto, tento levar a sério a ressalva de que os romances não são, nem
pretendem ser “teorias alegorizadas”, tal como o próprio autor adverte:
“Não importa o que pareça estar fazendo, uma história pode não estar
jogando o jogo que se chama conflito de Classe ou o jogo chamado Dominação
masculina ou qualquer um dos jogos do manual de jogos. Enquanto é
certamente possível ler o livro côo jogando um desses jogos , ao ler assim, você
pode ter perdido alguma coisa. Você pode ter perdido não apenas alguma coisa,
pode ter perdido tudo. Porque ( e eu parodio a posição de alguma maneira) uma
história não é uma mensagem com uma cobertura, uma cobertura estática ou
retórica”9 (Coetzee, 1992 ).
Vou tentar não perder tudo, por isso mesmo a orientação do trabalho é no
sentido de seguir o personagem, isto é, de oferecer uma leitura pragmática do
texto e personagem (e não representacional) que não se detém no que o
magistrado significa, mas em como ele funciona, de que maneira ele cria
9
Tradução minha
117
conexões e agenciamentos. Perseguir, portanto, os movimentos do personagem e
pensar como ele articula “os protocolos de experiência, os repertórios de vida,
contidos na máquina de expressão que é a literatura”. (Erik, 2006)
A ambigüidade das fronteiras: território, história e corpo
À espera dos bárbaros se passa numa fronteira, um local intermediário,
intersticial, ambíguo, com diversas conotações, positivas e negativas.
O magistrado de Coetzee é esse sujeito no espaço liminar da fronteira que
não consegue acreditar numa invasão bárbara, o que deixa claro em vários
momentos, ao afirmar, por exemplo, “Em particular observei que uma vez em
cada geração, sem falhar nunca, há um episódio de histeria ligado aos bárbaros,
esses sonhos são conseqüência de muito ócio. Mostre-me um exército de bárbaros
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
que então eu acredito”.
Sobretudo, o magistrado não mantém os ouvidos surdos diante da Terceira
Divisão da Guarda Civil, a violência, os métodos, a arbitrariedade, tudo começa a
lhe parecer um pesadelo absurdo. Mesmo tentando a princípio, ele não consegue
ignorar as “investigações” e entende que a sua atitude implica num afastamento
do império, deslocamento que será carregado de conseqüências: “... se eu tivesse
feito uma coisa sábia, talvez pudesse agora voltar à minha caça, à minha falcoaria
e à plácida concupiscência enquanto espero cessarem as provocações e se
aplacarem os tremores ao longo da fronteira. Mas, ai!, eu não fui embora: durante
algum tempo tapei os ouvidos para os ruídos que vinham da cabana junto ao
celeiro onde guardam as ferramentas, depois, à noite, peguei uma lanterna e fui
ver por mim mesmo.”
O historiador americano Frederick Jackson Turner, foi quem definiu a
fronteira em seu trabalho sobre os pioneiros americanos, como uma região de
oportunidades, terras selvagens que se transformaram em terras livres. Para ele, “a
fronteira é a linha de mais rápida e eficaz americanização. A terra selvagem
domina o colonizador. Despoja-o de suas vestes da civilização e veste-lhe a
camisa e o mocassim de caçador.”. (Turner, 1961[1893], p.39) Na concepção de
fronteira narrada por Turner, ainda que servindo ao mito americano, é a “terra
selvagem que domina o colonizador”.
118
Turner também cunhou um sentido de fronteira representativo da
colonização européia, observando que dentro da Europa uma fronteira seria “uma
linha fortificada cortando populações densas”, já na América Latina, Austrália,
África do Sul e América do Norte, a fronteira marcava o que tinha importância e o
que não tinha; “a terra selvagem”.
É também na fronteira que predominam o terror e a falta de lei, pois tratase de um lugar que não está sob controle de nenhum dos lados, sejam quais forem;
espaço ambíguo onde os moradores típicos são os migrantes, as minorias, os semdocumentos.10
Em suma, os cenários das zonas intersticiais parecem cheios de vida, mas
não completamente seguros. Uma parte disso, assim nos dizem os intérpretes,
pode ser uma questão de “deculturação”: despojar-se de uma sobrecarga de
cultura para ganhar liberdade de movimento. Contudo, “deculturação” em excesso
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
traz o risco da desumanidade, de tornar-se um animal perigoso. De qualquer
modo, a liberdade da zona fronteiriça é explorada com mais criatividade por
deslocamentos situacionais e combinações inovadoras, organizando seus recursos
de novas maneiras, fazendo experiências. Assim, “nas zonas fronteiriças há
espaço para a ação(no sentido de agency) no manejo da cultura”.(Hannerz,1997,
revista Mana)
A fronteira, no romance de Coetzee, ocupa esse lugar da agência, espaço
privilegiado para subverter a razão do momento hegemônico e recolocar lugares
híbridos, alternativos, de negociação cultural. Um espaço onde convivem
contradições e “culturas de sobrevivência” (Bhabha, 1998) e que não consegue
policiar muito bem as fronteiras entre nós e eles, ambigüidade que se traduz na
figura do magistrado.
Mais do que representando uma contra-narrativa em relação ao império, o
magistrado parece uma versão dos “indivíduos hifenados” de Homi Bhabha e dos
“homens traduzidos” de Salman Rushdie. Apresenta a contradição dos que
vivenciam diferentes narrativas e temporalidades: o tempo do império, da
província e dos bárbaros.
O tempo da província, da pequena cidade afastada onde vive o magistrado
cumprindo “ordens que não lhe cabe questionar”, é o do atraso, da lógica centro10
Há vários estudos que subscrevem esta idéia como os de Renato Rosaldo(1988) e Michael
Kearney (1991) que trabalham a fronteira entre México e Estados Unidos.
119
periferia, desdobrada em original e cópia, fonte e influência. Nessa perspectiva, o
tempo da província é ditado pelo tempo da capital do império.
A província fictícia exemplifica, mais uma vez, a vida imitativa e atrasada
dos locais periféricos de que fala Roberto Schwarz em “Nacional por subtração”
(1987)11. Para ele, nas periferias culturais e econômicas vive-se uma busca de
atualização, tendo em vista o centro, que não se consegue alcançar; é o presente
que nunca chega.
À espera dos bárbaros inicia com a surpresa do magistrado diante de uma
novidade: “nunca vi nada assim: dois disquinhos de vidro presos na frente dos
olhos dele com aros de arame. Ele é cego? Dava para entender se quisesse
esconder olhos cegos. Mas ele não é cego. Os discos são escuros, parecem opacos
do lado de fora, mas dá para enxergar através deles. Ele me conta que são uma
invenção nova. “Protegem os olhos contra o brilho do sol”, diz. ... Na minha terra
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
todo mundo usa isto”. Logo adiante continua, explicitando a defasagem da
província: “A Terceira Divisão é a mais importante da Guarda Civil hoje em dia.
Pelo menos é isso que ouvimos nos rumores que nos chegam atrasados da
capital”.
No entanto, vários críticos como Canclini indicam que a nova organização
global não pode ser entendida nos termos do modelo centro-periferia, enfatizando
o aspecto transnacional da economia e da cultura: “Sobretudo no período mais
recente, quando a transnacionalização da economia e da cultura nos torna
‘contemporâneos de todos os homens’(Paz), e mesmo assim não elimina as
tradições nacionais, optar de forma excludente entre dependência e nacionalismo,
entre modernização ou tradicionalidade local é uma simplificação insustentável”
(Canclini, 1997).
Portanto, as teorias da modernização e dependência, incensadas no Brasil
dos anos 70, não poderiam dar conta da situação atual, nem atender aos
questionamentos de quem pensa as diferenças culturais fora do modelo de centro e
periferia. Além disso, o modelo centro-periferia só se sustenta dentro de uma
visão histórica que trabalha com a noção de progresso. O modelo historicista
forma a base de um pensamento que entende as diferenças a partir de um juízo de
11
Schwarz neste artigo comenta, especificamente, o caso brasileiro. Os “centros”, por sua vez,
estão na Europa e Estados Unidos.
120
valores que pretende ser universal e hegemônico, porque, digamos assim, é o mais
“avançado” e “civilizado”, ou seja, “melhor”.
No romance de Coetzee a história emerge como o tempo da crise, linear,
progressivo e consensual, contra o tempo das estações, cíclico e bárbaro. A
história objetificada como história vai se tornando, no decorrer da leitura, pouco
mais do que um recurso ideológico. Nas mãos do império, a história é a narrativa
peculiar do próprio império, um elemento desmistificado.
O magistrado reclama: “O que nos impossibilitou de viver no tempo como
peixes na água, pássaros no ar, como crianças? A culpa é do império! O império
criou o tempo da história. O império localizou sua existência não no tempo
recorrente do ciclo das estações, que passa sereno, mas no tempo recortado de
ascensão e queda, de começo e fim, de catástrofe. O império se condena a viver na
história e conspira contra a história. Só uma idéia preocupa a mente obtusa do
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
império: como não terminar, como não morrer, como prolongar a sua era”. (2006)
Por outro lado, o próprio magistrado acalenta a idéia de escrever a história
da região. Ocupa boa parte de seu tempo nas ruínas de uma antiga cidade bárbara
a poucos metros da fronteira, escava a terra buscando objetos e pistas e coleciona
antigas placas marcadas com uma língua bárbara que não consegue decifrar.
Ironicamente, em sua tentativa de escrever a história da região, ele não vai
além de repetir uma das fórmulas do colonialismo: “Ninguém que visitou este
oásis”, escrevo, “deixou de se impressionar com o encanto da vida aqui. Vivemos
no tempo das estações, das colheitas, das migrações das aves aquáticas. Vivemos
sem nada entre nós e as estrelas. Teríamos feito qualquer concessão, se ao menos
soubéssemos qual, para continuar vivendo aqui. Isto era o paraíso na Terra”.
Já J.M. Coetzee, em seu livro White Writing — On the Culture of Letters
in South Africa (1988), aponta os primeiros escritos produzidos pelos brancos
como predominantemente pastorais e utópicos, o que interpretava como um
recurso de preservação dos valores coloniais ao fazer desaparecer, ou minimizar, a
presença negra em suas obras. Os escritores da época, de acordo com o autor,
optaram pela mais fácil entre uma variedade de opções incômodas, simplesmente
ignoraram determinadas relações, e cantaram louvores à terra, às paisagens, ao
grande amor pela África. Desse modo, acredita o autor, as narrativas pastorais do
início do século XX representavam o medo dos assentados holandeses de que
acabasse a "nação de fazendeiros". (Bandeira, 2008, p.16)
121
Olive Schreiner, filha de missionários e uma das mais conhecidas autoras
do final do século XIX, em seu romance Story of an African Farm (1883),
posiciona, ainda de acordo com Coetzee, sua narrativa fora da história e fora da
sociedade, uma vez que constrói uma representação da África do Sul cega em
relação aos negros.
Porém, "havia a crença de que a terra pertence a quem a torna produtiva e
a quem obtém os melhores resultados. A ideologia da época pregava que um
território deveria pertencer a quem o limpava, arava, plantava, colhia e construía.
Dessa maneira, não seria apropriado retratar a mão de obra negra levantando a
polêmica questão de quem teria direito às terras no país". (Bandeira, 2008, p.16 e
17)
No entanto, no romance de Coetzee, o magistrado rapidamente abandona o
seu projeto, descrevendo esse começo como um apelo ao perdão e à conciliação.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
Fica evidente a crítica ao modelo pastoral de ficções coloniais.
Então, o magistrado esclarece: “Por um bom tempo, fico olhando para a
justificativa que escrevi. Seria decepcionante saber que as tiras de álamo às quais
dediquei tanto tempo contêm uma mensagem tão tortuosa, tão equívoca, tão
condenável quanto esta. Talvez no fim do inverno, penso, quando a fome
realmente nos devorar, quando estivermos com frio e famintos, ou quando os
bárbaros estiverem realmente no portão, talvez então eu abandone o estilo de um
funcionário público com ambições literárias e comece a contar a verdade”.
Uma das funções da história é produzir uma ficção de consenso e um
sentido de causalidade entre passado, presente e futuro; nesses termos, é um tipo
de substituto para a autoridade e a tradição. Em ensaio que virou referência sobre
“o tempo, a narrativa e as margens da nação moderna”, Bhabha trabalhou a noção
de movimento narrativo duplo, inscritos como pedagógico e performático. Para
ele, “Na produção da nação como narração ocorre uma separação entre a
temporalidade continuísta, cumulativa, do pedagógico e a estratégia repetitiva,
recorrente, do performativo. É através desse processo de cisão que a ambivalência
conceitual da sociedade moderna se torna o lugar de escrever a nação”. (1998)
O pedagógico é justamente a narrativa cujo movimento o magistrado
pretende criticar. O que não implica em se desvencilhar do pedagógico, pois
percebe que essas narrativas providenciam desejos de continuidade, reciprocidade
122
e pertencimento. Mas parece sim ser intenção do personagem escrever uma crítica
que repolitize, e até erotize, algumas dessas narrativas.
O magistrado se envolve com uma moça bárbara e a relação deles passa
por diferentes estados, mas em todos a diferença é o elemento central. É a
diferença que atrai o magistrado e ao mesmo tempo consolida a sua posição de
sujeito. Não há nós sem eles, como diria Kafávis. Estamos diante da alteridade, ou
da “outridade” como fator constitutivo da identidade; a formação do sujeito, nessa
perspectiva, é sempre relacional.
Apropriadamente, a relação do magistrado com a garota bárbara é
consumada sexualmente durante a expedição, organizada por ele, para devolvê-la
ao seu povo e lugar, isto é, quando ele está a ponto de perdê-la. Apenas fora dos
limites do império ele pode apresentar a ela uma “escolha”. Nem por isso a
expedição é um artifício do magistrado para conquistar a garota; ele é menos
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
calculista, menos em controle e a jornada bastante tortuosa.
De fato, a expedição é o movimento narrativo central do romance. Após o
deslocamento, a oposição do magistrado ao império está selada. Assim que
retorna da expedição encontra a sua sala ocupada e recebe a acusação de
“consórcio traiçoeiro”, por esse motivo é preso e torturado. Nesse momento da
narrativa ele desabafa: “Tenho consciência da fonte do meu entusiasmo: minha
aliança com os guardiães do império está encerrada, pus-me em oposição, o elo se
quebrou, sou um homem livre. Quem não iria sorrir? Mas que perigosa alegria!
Não devia ser tão fácil conquistar a salvação. E existe algum princípio por trás de
minha oposição? Será que não fui simplesmente provocado...Em minha oposição
não há nada de heróico – que eu nem por um instante esqueça disso” .
No entanto, apesar de sua oposição ao arbítrio do império, ele tem
consciência que para a garota bárbara, o coronel Joll e ele representam “dois lados
do domínio imperial, nem mais nem menos”. “Porque eu não era, como gostava
de pensar, o oposto, indulgente e dado a prazeres, do frio e rígido coronel. Eu era
a mentira que o império conta a si mesmo em tempos tranqüilos, ele a verdade que
o império conta quando sopram ventos duros”.
O magistrado tenta estabelecer o máximo de distância entre ele e o coronel
do imperialismo, mas não há como abandonar a posição de sujeito do império. Ele
não passa simplesmente para o lado bárbaro, nem teria como fazer isso. O
123
magistrado é um homem de fronteira que ultrapassou os “limites”. Um homem
que passou de guardião e colaborador a inimigo.
A posição dele é ambígua, mas claramente mantém uma representação
dentro do império, inclusive o coronel Joll o acusa de bancar o mártir. Já a única
bárbara que aparece no romance fica sem representação, aparece como uma
presença enigmática. Em certo momento o magistrado comenta que não sabe o
que fazer com ela mais do que uma “nuvem sabe o que fazer com a outra”. Ela
simplesmente “não é”, não ocupa lugar de sujeito. Por outro lado, o que fica
implícito é que a bárbara não admite acesso a uma essência imaginada, ou seja, a
sua diferença não pode ser domesticada.
Existe, porém, mais um elemento em jogo, o mistério da garota bárbara é
parcialmente resultado da tortura. Em determinada passagem o magistrado
comenta que enquanto as marcas no corpo da garota não forem decifradas, ele não
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
vai conseguir livrar-se dela, “procuro segredos e respostas, por mais bizarros,
como uma velha que lê nas folhas de chá”.
São as fronteiras espaciais e temporais, mas também o corpo que ocupa o
espaço liminar, desviando o romance de uma leitura exclusivamente alegórica,
porque não há metáfora, nem simbologia na dor. Através do corpo se performatiza
uma liminaridade apresentada como limite. “A dor é a verdade”, diz o torturador,
“tudo mais está sujeito a dúvida”.
O magistrado rapidamente aprende, através do confinamento, da
humilhação e da tortura, a verdade do corpo como limite de idéias e princípios.
“Meus torturadores estavam interessados apenas em demonstrar o que significava
viver num corpo, como um corpo, um corpo que pode contemplar certas noções
de justiça apenas na medida em que está inteiro e bem, que logo esquece disso
quando sua cabeça é agarrada, um funil é enfiado em sua garganta e litros de água
salgada são vertidos dentro dele até ele tossir, vomitar, se debater e se esvaziar ...
Eles vêm a minha cela para me mostrar o sentido de humanidade e no espaço de
uma hora me mostraram muita coisa”.
Coisas simples, dormir numa cama limpa, tomar banho, comer uma boa
comida, sem feder constantemente, ou ter que evacuar num balde, essas coisas lhe
parecem mais preciosas do que decidir “quem são meus amigos e quem são os
inimigos”. Mas essa não é a sua posição final.
124
Quando o magistrado testemunha uma tortura pública, homens sendo
chicoteados no meio da praça, ele expressa o que chama de valores de decência.
Grita, a despeito de todos os riscos, “não!”, e pede que o público olhe para esses
homens, e sem saber como continuar apenas reafirma “homens”. Adiante, o
magistrado procura se lembrar que quando homens sofrem injustamente, é
obrigação daqueles que testemunham sofrerem a vergonha disso. O problema é
que esse pensamento não o conforta.
De fato, nenhuma das posições do magistrado é durável, os eventos fazem
com que ele se sinta estúpido e perplexo. De alguma forma a sua única
consciência é a de que não sabe mais, e não há como saber, o que o futuro lhe
reserva. Após a “expedição” (reterritorialização, deslocamento, tradução), ele sai
do plano da determinação para entrar no da contingência.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
Entre-lugar
No romance de Coetzee, a fronteira é o lugar da corda-bamba, da
contingência, da ambivalência e do entre, tal como na descrição de “entre-lugar”
de Silviano Santiago, “entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão,
entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a
assimilação e a expressão, - ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu tempo e seu
lugar de clandestinidade” (1978, p.28)
O “homem da fronteira” se recusa a ser facilmente apropriado, ele não se
deixa cooptar, ao mesmo tempo não se coloca como um opositor ou um mártir,
aquele que está presente para fazer a denúncia; ele se torna um problema, um
defeito, porque experimenta radicalmente as contingências de uma realidade
complexa e imprevisível, assim como a sua própria inadequação.
3.2
Corpo Humano ou não
Homens e animais, humanidade e animalidade. J.M. Coetzee lança mão,
eventualmente, de figuras animais em sua obra, mas a sua discussão da relação
entre homens e animais se faz de maneira explícita, através das palestras de sua
personagem e alter-ego Elizabeth Costello. A referida personagem faz uma
125
apaixonada defesa do vegetarianismo, em palestras como “os filósofos e os
animais” e “os poetas e os animais”.
Sabemos que cada vez mais estão sendo recombinadas as categorias
encontradas nas duas séries paradigmáticas que tradicionalmente se opõem sob o
rótulo de “Natureza” e “Cultura”: corpo e espírito, animalidade e humanidade,
entre outras12. Essas categorias não designam mais províncias ontológicas, mas
apontam para contextos relacionais e perspectivas móveis. E de fato é desses
contextos relacionais que falam os romances de J.M. Coetzee.
Daí surge uma abordagem das relações entre humanidade e animalidade,
demarcando o termo “animalidade” como marcador do desejo de um conceito, de
uma reflexão sobre os limites da humanidade.
De certa forma, Elizabeth Costello parece concordar com o que Bataille
chama de “a mentira poética da animalidade” (Bataille, 73), uma espécie de zona
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
obscura da consciência que institui um outro “saber” requerido por esse “objeto”
que não é objeto (Glenadel, 2004).
“Porém, embora me dê conta de que a melhor maneira de ser aceita por
esta platéia cultivada seja juntar-me, como um afluente se junta a um rio maior, ao
grande discurso ocidental sobre o homem versus o animal, o racional versus o
irracional, algo em mim resiste, prevendo que esse passo conduzirá para uma
rendição total”, afirma Elizabeth Costello. (2004)
Nota: Antes de tudo, preciso esclarecer que todo o estudo contido neste
item 3.2 parte da mesma premissa usada para formular a entrevista com J.M.
Coetzee, ou seja, tudo que está dito se refere a textos, depoimentos e até falas
em sala de aula (já que fui sua aluna de mestrado) do antropólogo Eduardo
Viveiros de Castro. Nesse caso, com o consentimento do próprio, que defende
outros modelos de criação e citação, como por exemplo, no caso do sampler.
Assim: "Ora, o que foi de alguma maneira se consolidando na consciência
moderna é a idéia de que a criação precisa da cópia, a ideia da bricolagem de
Lévi-Strauss, de toda criação nasce numa espécie de permutação realizada sobre
um repertório já existente. O sampler está definindo o estatuto da citação. Nós só
12
O que não significa se armar em prol da crítica de todo dualismo, “como está claro, penso que a
distinção natureza/cultura deve ser criticada, mas não para concluir que tal coisa não existe (já há
coisas demais que não existem)”. Viveiros de Castro, revista mana vol.2 nº 2, 96
126
temos um dispositivo citacional, antigo, e aliás nem tão antigo assim, que são as
aspas.
Uma
invenção
complexa,
um
objeto
muito
mais
complicado
semanticamente do que parece. Mas está na hora de começar a inventar outras
maneiras de articular discursos que não sejam as aspas, e o sampler é uma delas.
Com o sampler você passa do todo à parte, da parte ao todo, do outro para você
e de você para o outro sem costura..." (Castro, 2008, p.184)
Entre nós e eles
Quando se interroga a mitologia ameríndia, precisamente aquela que LéviStrauss utilizava para ilustrar a oposição natureza/cultura, percebe-se, em primeiro
lugar, que o que dizem todos os mitos é que, outrora, todos os animais eram
humanos, todas as coisas eram seres humanos, ou, mais exatamente, pessoas: os
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
animais, as plantas, os artefatos, os fenômenos meteorológicos, os acidentes
geográficos... O que narram os mitos é o processo pelo qual os seres que eram
humanos deixaram de sê-lo, perderam sua condição original.
Se a questão for colocada dessa maneira, é o contrário de nossa mitologia
moderna. Para nós, o fundo comum entre os humanos e os outros (justamente)
animais é a animalidade, não a humanidade.
Os humanos são uma espécie animal, mas não exatamente "entre outras",
pois somos dotados de alguma coisa mais: a alma, a cultura, o espírito, a
linguagem, a Regra, o Simbólico etc. Então, o que dizem os mitos americanos é o
oposto. Ao invés da teoria evolucionista (lato sensu) que pretende que "os
humanos são animais que ganharam alguma coisa", para os ameríndios, os
animais são humanos que perderam alguma coisa. O ser humano é a forma geral
do ser vivo, ou mesmo a forma geral do ser. Pressuposto radical do humano. A
humanidade é o fundo universal do cosmos. Tudo é humano.
De acordo com o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, quando os
índios tentam expressar essa idéia em uma linguagem simples, que possamos
entender, dizem: todos os animais e todas as coisas têm almas, são pessoas. Uma
onça, por exemplo, é mais que uma simples onça; quando está sozinha na floresta,
tira sua "roupa" animal e se mostra como humana. Todos os animais têm uma
alma que é antropomorfa: seu corpo, na realidade, é uma espécie de roupa que
esconde uma forma fundamentalmente humana.
127
Em contrapartida, nós ocidentais pensamos usar roupas que escondem uma
forma essencialmente animal. Sabemos que, quando estamos nus, somos todos
animais. Os instintos, por trás das camadas desse verniz que é a cultura,
constituem nosso fundo animal, primata, mamífero etc.
Os índios vêem as coisas de modo oposto: por trás dos corpos-roupas
animais, acha-se um personagem humano. O que diz a mitologia é que a
humanidade não é a exceção, mas a regra. Nós não somos uma espécie escolhida
por Deus no final da criação mas, ao contrário, a condição de partida.
Mas os índios não professam assim uma teoria edênica da reconciliação de
todos os seres vivos, em que tudo seria bom, belo e verdadeiro porque humano.
De forma bem diferente, como afirma Viveiros de Castro, penso que o contrário é
que é o caso: quando se humaniza tudo, tudo se torna muito perigoso.
Os índios não dizem que cada espécie vê as coisas de uma maneira
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
diferente. Ao contrário, o que dizem é que, se os urubus vêem apenas peixe
assado, é exatamente porque eles são como nós, que não comemos senão peixe
assado. Portanto, se os urubus comem algo, isso deve ser para eles,
obrigatoriamente, peixe assado.
Cada espécie vê as coisas da mesma maneira. As coisas é que mudam.
Os espíritos animais possuem tudo o que caracteriza qualquer cultura
indígena. Os urubus-gente, as onças-gente, todos os animais-gente têm as mesmas
instituições que os índios-gente. Moram no mesmo tipo de casas, comem o
mesmo tipo de coisas, têm o mesmo tipo de doenças, e assim por diante.
Não há, pois, várias maneiras de "ver", há somente uma. O que varia é o
próprio mundo, não o modo de vê-lo. Para nós, são as "visões do mundo" que
diferem, mas o mundo permanece igual a si mesmo.
Para os índios, a maneira de ver é sempre a mesma, ainda que passe de
uma espécie para outra: o que muda é o próprio mundo.
Tem-se, então, esta dupla inversão. De um lado, tudo é humano, embora
cada espécie não o seja do mesmo modo (exatamente como nós "ocidentais"
sabemos que não somos animais idênticos aos crocodilos).
A humanidade é universal, o espírito é universal, não o corpo.
128
Categoria de humanidade
Mas de que maneira se faz a separação entre nós e eles, entre nomens e
animais?
É o problema ético de Elizabeth Costello em suas 2 palestras “Os filósofos
e os animais” e “Os poetas e os animais” (2004), já que a separação radical entre
homens e animais determinada pelo princípio da razão, ou seja, a oposição entre
natureza e cultura, é considerada matriz e condição de possibilidade para outras
distinções etnocêntricas entre nós e eles13.
Elizabeth Costello ilustra a atitude de separação: “embora me dê conta de
que a melhor maneira de ser aceita por esta platéia cultivada seja juntar-me como
um afluente se junta a um rio maior, ao grande discurso ocidental sobre o homem
versus o animal, o racional versus o irracional, algo em mim resiste, prevendo que
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
esse passo conduzirá a uma rendição total...”.
O argumento de Elizabeth Costello vai de encontro à declaração de LéviStrauss, em sua homenagem a Rousseau:
“Nunca como agora, ao cabo de quatro séculos de sua história, pôde o
homem se dar conta de como, ao se arrogar o direito de separar radicalmente a
humanidade da animalidade, concedendo à primeira tudo aquilo que negava à
segunda, ele abria um ciclo maldito, e que a mesma fronteira, servia-lhe para
afastar homens de outros homens e para reivindicar, em benefício de minorias
cada vez mais restritas, o privilégio de um humanismo que já nasceu
corrompido...” (Lévi-Strauss, 1973).
Para além dos argumentos de Elizabeth Costello, que poderiam ser
acusados de não serem propriamente originais, nem tão fortes, está o tom de
angústia da personagem, a voz de uma senhora perturbada com a matança de
animais. Parece justamente que é a construção dessa voz que atinge o leitor e
provoca desconforto. Como lidar com o outro, com a diferença, em particular com
o sofrimento do outro?
É verdade que estender a categoria da humanidade foi uma conquista para
nós, é necessário fazer passar o outro por um exame muito detalhado para que ele
possa ser admitido. "Será que os índios são completamente humanos, os negros,
13
Essa é uma discussão extensa que me contento em citar por enquanto e que será desenvolvida no
capítulo 4.
129
as mulheres?" É preciso convencer os homens brancos de que as mulheres, os
negros, os índios são também humanos.
Há aquela parábola famosa contada por Lévi-Strauss, para ilustrar o
etnocentrismo de todas as culturas, mas que foi também considerado um exemplo
do equívoco como categoria fundamental da antropologia. Os espanhóis, no
século XVI, quando se encontraram diante dos índios das Antilhas, enviavam
comissões de teólogos para saber se os índios tinham uma alma, isto é, se eram
realmente humanos ou apenas animais com aparência humana. Eram eles pessoas
que poderiam ser convertidas ou não?
Ao mesmo tempo, diz Lévi-Strauss relatando as palavras de um cronista da
época, os índios tomavam os corpos dos espanhóis que conseguiam matar nas
batalhas e os imergiam para observar se esses cadáveres apodreciam ou não.
Porque a questão dos índios era: "Será que essas pessoas são humanos, ou
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
fantasmas?". Lévi-Strauss toma essa dupla suspeita em relação ao outro, como um
sinal de tragicômica igualdade: "vocês vêem, todo mundo pensa que o outro não é
humano."
Mas na verdade, a suspeita não era a mesma: os espanhóis se perguntavam
se os índios eram humanos ou animais, ao passo que os índios se perguntavam se
os espanhóis eram humanos ou espíritos. Os primeiros se interrogavam sobre a
presença ou não da alma no outro; os segundos sobre a materialidade ou não do
corpo do outro.
O equívoco: a definição de humanidade não era a mesma, embora a
exigência de humanidade fosse a mesma. Os dois lados queriam saber se o outro
era humano. Mas os critérios de humanidade não eram os mesmos. Para os
espanhóis, ser humano era ter uma alma como nós; para os índios, era ter um
corpo como eles. É um equívoco do mesmo tipo que o do mito do herói que chega
à aldeia dos monstros comedores de cérebros.
Natureza e cultura, universalidade e relatividade, são sempre resultados,
nunca condições. Para ser relativista, é preciso ter sempre um universalista ao lado
para marcar o contraste e vice-versa, é claro, a fim de que a questão do relativismo
possa ter sentido.
Os índios se colocam de uma maneira perfeitamente transversal em relação
a essa alternativa. Não são relativistas, pois dizem que só existe uma forma de se
ver o mundo. Os índios dizem que as onças são humanas, que eles próprios são
130
humanos, mas que eles e as onças não podem ser humanos ao mesmo tempo. Se
sou humano, então, neste momento, a onça é somente uma onça. Se uma onça é
um humano, neste caso, então, eu não seria mais humano. Não se trata
absolutamente de estender catolicamente essa qualidade de humanidade sobre
toda a criação, mas de fazer circular um ponto de vista. A humanidade é
relativamente universal.
Transformação corporal: O corpo é um instrumento e não um disfarce, não é
uma fantasia, uma aparência de que alguém se reveste
Para nós, é o corpo que é universal no sentido em que somos todos feitos
da mesma substância — os átomos, o carbono, o DNA etc. O espírito, ao
contrário, é sempre o lugar da diferença, da singularidade, da particularidade da
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
cultura — o espírito coletivo — ou o espírito individual — o sujeito. É sempre
quanto ao espírito que nos distinguimos. Do ponto de vista físico, todos nos
comunicamos; porém, do ponto de vista metafísico, estamos todos separados.
O grande problema para a ciência social do Ocidente moderno é como se
comunicar, pois não nos comunicamos, finalmente, no nível do espírito, mas do
corpo. Donde essa série de intervenções que são o contrato social, o simbólico, a
linguagem. É necessário deduzir um edifício conceitual gigantesco que explica
como podemos nos comunicar, existir coletivamente.
O xamanismo indígena é organizado em torno da idéia de metamorfose
corporal antes que da idéia de possessão espiritual. A possessão é um modelo
poderoso de mudança em nossa tradição. Guarda-se a mesma forma corporal, mas
algo mudou essencialmente, porque surgiu outro espírito dentro desse corpo, uma
divindade, o demônio, o diabo. Alguma subjetividade poderosa pode capturar
nossa aparência corporal e se servir dela como seu instrumento. Somos marionetes
dessa outra subjetividade que nos capturou.
Para nossa tradição (isso também vai mudando), as espécies são
ontologicamente, isto é, geneticamente seladas. Mudar de "cabeça", de
mentalidade, é o centro em torno do qual se organizam nossas relações — a
mudança de opinião.
Quando Costello oferece duas palestras sobre o sofrimento animal (que
constituem dois dos oito capítulos). Não são palestras sobre os direitos do animal,
131
mas sobre a "vida dos animais". Um de seus argumentos é que a razão filosófica
tem-nos impedido de entrar na consciência dos animais. Assim que decidimos
que esse acesso é limitado, tendemos a pensar que temos o direito de fazer o que
queremos com essas formas de vida, limitadas.
Costello menciona o famoso artigo de Thomas Nagel sobre a
impossibilidade de pensar a nós mesmos na mente de um morcego. Ao mesmo
tempo, ela diz que imaginamos o que significa ser um cadáver. "Todos nós temos
esses momentos, especialmente à medida que envelhecemos. O conhecimento
que temos não é abstrato - "todos os seres humanos são mortais, eu sou um ser
humano, portanto, eu sou mortal" - mas "vivido no corpo" (embodied). Por um
momento, somos esse conhecimento". (2004, p.89)
Se podemos nos imaginar como mortos, por que não como um morcego?
"Para ser um morcego vivo é preciso estar cheio de ser, ser totalmente um
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
morcego é como ser plenamente humano, que é também estar cheio de ser; ser
completamente um morcego é como ser completamente humano... Ser completo,
cheio de ser é viver como um corpo-alma. Um nome para a experiência completa
do ser é alegria". Costello passa a argumentar que isso não é nada mais do que o
exercício da solidariedade humana, exercício que os romancistas de todo o mundo
deveriam praticar.
É curioso como se passa justamente o contrário no xamanismo ameríndio,
organizado em torno da noção da transformação somática. Isso quer dizer "vestir"
o hábito da onça e poder comportar-se como uma onça — por exemplo, caminhar
sem fazer barulho, subir nas árvores, comer carne humana. A possibilidade de
trocar de corpo específico está sempre presente no mundo ameríndio. É sempre
um perigo.
Então, diz Viveiros de Castro, se é no plano físico que nos comunicamos e
no metafísico que nos separamos, para os índios se dá o oposto — é no plano
metafísico que eles se comunicam, porque tudo é espírito, tudo é alma, sujeito; é
necessário, pois, que seja no plano físico, no sentido de corporeidade, que as
espécies se distingam.
O corpo das espécies, típico, específico, as características de cada espécie
não são apenas uma aparência. De fato, são sua maneira de ser no mundo, são o
modo pelo qual o espírito universal se particulariza ou se "especifica". Se os
132
urubus vêem os vermes como peixe assado, é porque os urubus habitam um corpo
de urubu.
O corpo é um instrumento e não um disfarce, não é uma fantasia, uma
aparência de que alguém se reveste. Evidentemente, essa aparência animal é uma
capa, mas não é como um disfarce, uma aparência falsa de uma essência
verdadeira; ao contrário, é um instrumento ou dispositivo que especifica o espírito
universal que, em si, é indeterminado.
Portanto, a anatomia, o comportamento, a etologia de cada espécie é muito
importante. Isso explica porque os índios parecem-nos obcecados por mitos cujo
enredo põe o herói perdido na floresta, morrendo de fome. Ele então vai dar em
uma aldeia desconhecida, muito bonita, cheia de pessoas de aparência esplêndida,
que o acolhem de modo absolutamente hospitaleiro, dizendo-lhe: "você deve estar
exaus¬to, sente-se aqui, vamos lhe trazer um prato de batatas doces bem assadas".
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
O herói agradece; mas o que lhe trazem, de fato, é um prato cheio de cérebros
humanos sanguinolentos, ou algo ainda mais repugnante. E o herói rapidamente
conclui que, se seus anfitriões tomam os cérebros por batatas doces, é porque não
são seres humanos; são "pessoas" outras, e muito perigosas. Se cérebros parecem
batatas a seres que parecem pessoas ao herói, este deve concluir que tais seres
apenas parecem pessoas.
O mito a que os antropólogos se referem é este: um homem que vai de
aldeia a aldeia e, a cada vez, é acometido por (antes que cometa) um equívoco em
que coisas diferentes são chamadas pelo mesmo nome. As pessoas não o
enganam, ele tampouco se engana, são as pessoas que se enganam entre si. É o
equívoco como modelo.
Se cada cultura vê as coisas de modo diferente, o problema é encontrar
sinônimos para as mesmas coisas. "Como se chama pão em português?",
perguntará um francês. Para os índios, seria o contrário: "O que conta como pão
para você? O que é que você chama pão?" Se você for um urubu, dirá que são os
vermes, ou a carniça. Portanto, não são os sinônimos que devem ser conjugados,
mas os homônimos que devem ser separados. As "palavras" mudam, mas as
coisas são as mesmas.
Para os índios, é a natureza que muda, como se a gente tivesse um mundo
onde todos falassem a mesma língua mas para se referir a coisas completamente
133
diferentes, ao passo que nós tenderíamos antes a imaginar que todos falamos
línguas diferentes mas para, no fundo, dizer as mesmas coisas.
Somos todos humanos, temos todos os mesmos desejos, as mesmas
esperanças — os mesmos "problemas". A questão é, pois, traduzir. Para nós, isso
é fácil porque já sabemos qual é a referência. Sabemos que um índio deve pensar
como nós, basta simplesmente encontrar a palavra adequada. Para os índios,
nunca se pode ter certeza de que se está falando da mesma coisa. Se um urubu lhe
oferece algo para comer, um "peixe", é fundamental que você se dê conta de que
aquele peixe não é o seu, que é talvez outra coisa, que é preciso prestar atenção.
Fazer um corpo humano
A humanidade é relativamente universal. Relativo, portanto, no sentido em
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
que não se sabe o que, finalmente, é o humano. Não se pode qualifica-1o. Desse
ponto de vista, é uma qualidade nominal. Mas, por outro lado, isso impõe aos
humanos, a nós, uma tarefa pesada, no sentido de que é necessário se fazer
humano. As máquinas sociais ameríndias têm como função produzir corpos
verdadeiramente humanos. Os paradoxos característicos desse tipo de metafísica
são diferentes dos nossos. Os índios fazem corpos humanos com pedaços de
corpos de animais. Eles se recobrem de penas, dentes, peles, bicos, padrões
decorativos tomados dos corpos de animais para se fazerem um verdadeiro corpo
humano!
Para a mitologia ameríndia, você não é um verdadeiro humano se seu
corpo não é diferenciado; o corpo humano enquanto tal é demasiado genérico. É
nesse sentido que, em uma sociedade indígena, os processos que chamaríamos
educativos envolvem primordialmente uma disciplina corporal.
O corpo humano enquanto tal é demasiado genérico no sentido de que é,
de fato, a forma de todas as almas. As almas das onças vêem outras onças como
corpos humanos. O corpo humano é, pois, uma espécie de corpo da alma. Para se
fazer um verdadeiro corpo, é necessário tomar emprestado dali onde há
verdadeiros corpos. Ora, onde existe isso? Entre os animais. Portanto, os humanos
precisam de próteses animais para se tornarem humanos. O processo é perigoso.
É importante se distinguir enquanto corpo humano genérico porque, não o
fazendo, seria possível ser transformado, ser tomado por um outro. Quando nasce
134
uma criança, a primeira coisa que os que estão em volta fazem é ver se ela é
humana ou não. É preciso conferir se o bebê é realmente um filho de humano, ou
se é um espírito, ou talvez o filhote de algum animal que teria deitado com a
mulher, talvez em sonho, e que teria feito um monstro.
Se o bebê tem a aparência de um ser humano, ele é conservado; em
seguida, é necessário tomar as medidas adequadas para que ele não seja
capturado, seqüestrado por outros sujeitos não-humanos. Toda vez que nasce um
humano, os animais e os espíritos em geral costumam ficar enciumados; querem a
criança para eles, buscam capturá-la.
É necessário, pois, proteger a criança; ela é frágil porque sua humanidade é
frágil. Deve-se, pois, tomar todas as providências para que ela seja, de forma
clara, definida como um humano. Para isso, é preciso raspar-lhe o cabelo, pintá-la,
furá-la, moldá-la para que se torne humana como nós.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
Tudo se conecta; portanto, é preciso diferenciar; é preciso distinguir.
Vegetarianismo em Costello e o que é que se come exatamente?
Em 1997, no seminário em Princeton, Costello fez uma palestra sobre a
"vida dos animais" e anunciou que ela não podia ver nenhuma diferença entre o
Holocausto e o holocausto revivido diariamente em animais pela indústria
alimentícia. Sua sensibilidade em relação ao tema, tanto para com o sofrimento
dos animais quanto para a cumplicidade silenciosa de milhões de seres humanos,
era tão grande que lhe parecia insuportável.
No momento que o presidente da faculdade, onde está sendo proferida a
palestra, pergunta se o seu vegetarianismo é resultado de convicção moral, ela
responde de forma desconcertante que "Não, trata-se de um desejo de salvar a
minha alma". (2004)
Portanto, voltando aos índios e sua outra filosofia, podemos perguntar:
quando se come alguma coisa — o que é que se está comendo exatamente?
Sim, porque para os índios, muitas das doenças que os afligem são doenças
provocadas por vingança dos animais comidos. Quando se come o corpo de um
animal sem os cuidados necessários para não ofender seu espírito, este pode se
vingar e nos devorar .
135
É preciso, portanto, ser sempre muito cauteloso quando se trata de comer.
Este é um ato metafísico muito delicado. A "abertura", a "clareira" humana (diria
Heidegger) começa pela boca—mas não pela linguagem.
Como explica Viveiros de Castro, não é preciso dizer que os índios não
vêem (nem dizem que vêem) as onças como pessoas; eles não têm alucinações. O
que eles dizem é que as onças têm alucinações, que elas se vêem como seres
humanos; mas então, talvez nós também tenhamos alucinações.
Eu sou um ser humano, então vejo as coisas como elas são para mim.
Como peixe assado porque, para mim, o peixe é peixe. Eu sei que aquilo que
vemos como vermes, os urubus vêem como peixe assado. Ora, não sou um urubu;
então, se começo a ver os vermes na carniça como peixe assado, isso quer dizer
que estou me tornando um urubu.
Em outras palavras, o espírito do urubu
capturou meu espírito e começa a me transformar em urubu. Evidentemente, isso
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
quer dizer que estou muito doente, porque um homem deve continuar sendo um
homem.
Eu sou um humano, devo ver as coisas como um humano as vê, não como
as vê uma onça. Os xamãs têm o poder de ver como as diferentes espécies vêem,
mas é necessário que voltem dessa viagem. Se vêem as coisas como as onças as
vêem e ficam presos nessa visão, isso quer dizer que se tornaram onças e que não
poderão voltar para contar a história: em resumo, trata-se de um xamã inútil e
perigoso, um xamã "de mão única". Um humano normal não pode fazer isso,
exceto em sonho ou quando toma drogas. Se começa a ver as coisas como as vê
uma espécie animal qualquer, isso é um sinal evidente de que está muito doente e
deve ser tratado precisamente por um xamã, que, ele sim, pode passar de um lado
para o outro sem perder sua alma; literalmente, sem perder sua humanidade.
Relacionismo: Humano não é o nome de uma substância mas de uma relação
É mais do que um nominalismo generalizado, pois não se trata de uma
questão de convenção, de designação. Trata-se de um relacionismo generalizado,
no sentido de que o "humano" não é o nome de uma substância, mas de uma
relação, de uma certa posição em relação a outras posições possíveis.
136
"Humano" é sempre a posição do sujeito, no sentido lingüístico da palavra,
é aquele que diz "eu". Portanto, se imaginarmos uma onça dizendo "eu", essa onça
é imaginada como humana, imediatamente.
A humanidade não é uma propriedade de algumas coisas em contraste com
outras, mas uma diferença na posição relativa das coisas.
Nós costumamos imaginar uma espécie de inspeção metafísica: olhamos,
por exemplo, quatro objetos e concluímos que dois deles têm a propriedade de ser
humano e os outros dois não, segundo certos critérios determináveis. Essa
propriedade é fixa. O que imagino que os índios diriam é o contrário.
O humano não é uma questão de ser ou não ser; é estar ou não estar em
posição de humano. A humanidade é muito mais um pronome do que um nome. A
humanidade somos "nós". A possibilidade de se colocar a si mesmo enquanto
enunciador é postulada como universal. Não é, pois, uma qualidade, mas um
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610666/CA
princípio.
Em termos de economia cognitiva, isso é importante — não estou dizendo
que os índios dizem que todos os animais são humanos no sentido em que um
naturalista europeu poderia dizê-lo. Não se trata, no caso dos índios, de estar
supondo uma definição que se pode tomar em extensão.
Todas as espécies podem ser consideradas como humanas em um
momento ou outro. Tudo é humanizável. Nem tudo é humano, mas tudo tem a
possibilidade de se tornar humano, porque tudo pode ser pensado em termos de
auto-reflexão. É isto o "animismo" indígena: um permitir a tudo a possibilidade de
reflexão.
Download