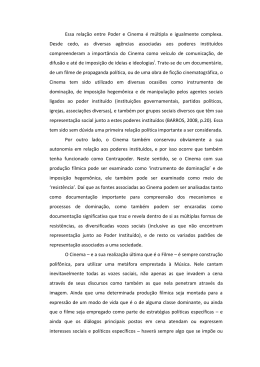ITAÚ CULTURAL O cotidiano quadro a quadro 16 . nov 2008 | itaucultural.org.br ITAÚ CULTURAL O plano-seqüência do dia-a-dia As experiências humanas constituem vasto repertório que se encontra nas telas. São dores, grandezas, amores e desamores, perdas e danos, pesadelos e sonhos, solidão. Na sala escura, podemos estar muito perto de tudo isso, e são incontáveis os desdobramentos da vida como tema do cinema. No entanto, no mês de novembro, a Continuum Itaú Cultural, sob o título O cotidiano quadro a quadro, procurou investigar o outro lado dessa relação: como o cinema está presente na vida das pessoas, partindo da idéia de determinadas ações humanas estarem impregnadas da narrativa e da linguagem cinematográfica. Quantas vezes não nos sentimos integrantes de uma cena de filme, já que as histórias, não raro, nos ajudam a entender questões que nos rondam, sem que sequer saibamos defini-las. A reportagem de abertura faz um retrospecto do cinema, ressalta alguns momentos em que a vida foi decodificada pelo olhar de grandes diretores e demonstra como essa interpretação particular acabou afetando nossa maneira de ver. Na Entrevista, a multiartista Daniela Thomas fala sobre os principais eixos que norteiam sua produção – sendo o cinema transversal a todos eles. Para debater a questão da realidade e da ficção, duas matérias se valem dos recursos da sétima arte. A primeira delas traz duas versões para a mesma história e comprova que as possibilidades fílmicas de um fato real podem ser infinitas. Em outro texto, a trajetória de um pequeno hotel, contada em flashback, incorpora a verdade dos personagens que a contam. Na Área livre, um storyboard assinado por Eloar Guazzelli dá corte final à edição. Sua seqüência, no entanto, está em suporte digital, em www.itaucultural.org.br/continuum. E os leitores, por meio da ação História de cinema, estão convidados a protagonizá-la. sumário .4 .10 Muito além da sala escura A realidade imita a ficção: a presença cinematográfica no cotidiano Uma vida para dois filmes (ou três…) Como contar uma mesma história de diferentes maneiras .14 Cinema 360 graus Em entrevista, Daniela Thomas relata como o cinema está em tudo o que faz .20 Histórias em trânsito Os curtas-metragens do dia-a-dia nas ruas do Rio e de São Paulo .24 À deriva do tempo A trajetória de um dos símbolos da arquitetura moderna contada em flashback .30 O primitivo efeito do susto Uma velha atração que assusta mais que Drácula, Frankenstein e Lobisomem – juntos .34 As incongruências cotidianas Nos filmes e na vida: as falhas de continuidade são mais comuns do que imaginamos .36 Continuum on-line Ação História de cinema convida os leitores a relatar “suas” cenas cinematográficas .38 Área livre Storyboard de Eloar Guazzelli sobrepõe passado e presente Continuum Itaú Cultural Projeto Gráfico Jader Rosa Redação André Seiti, Érica Teruel Guerra, Marco Aurélio Fiochi, Mariana Lacerda, Thiago Rosenberg Colaboraram nesta edição Bruno Vilela, Cia de Foto, Eloar Guazzelli, Joana Amador, Mariana Sgarioni, Micheliny Verunschk, Patrícia Cornils, Rodrigo Silveira On-line Karla Dunder, Pedro Henrique França Agradecimentos Anna Luiza Muller, Carlos Reichenbach, Cinemateca Brasileira, Felipe Almeida, Fundação César Guinle, Helio Herbst, Isabel Amaral, Juliana Consoline capa O cinema que não se restringe às salas de projeção | imagem: Cia de Foto ISSN 1981-8084 Matrícula 55.082 (dezembro de 2007) . Tiragem 10 mil – distribuição gratuita Sugestões e críticas devem ser encaminhadas ao Núcleo de Comunicação e Relacionamento [email protected] Jornalista responsável Ana de Fátima Sousa MTb 13.554 16 nov 2008 . Muito além da sala escura reportagem O cinema que está na vida e a vida que está no cinema Por Patrícia Cornils É uma cena de três minutos, com som de madeiras estalando, passos na relva, filmada em super8. Mulheres ciganas com saias longas indo buscar lenha. O colorido de suas roupas se destaca no fundo verde do campo. A cena parece vir de um passado longínquo, de um lugar de histórias bíblicas, embora tenha sido registrada em 2005. Tudo acontece lentamente: caminhar pelo campo, buscar a madeira, quebrar os galhos, amarrar os feixes, colocá-los na cabeça e voltar. Elas conversam pouco. O que fazem juntas fala por elas. Como se catar lenha tivesse virado uma dança ensaiada desde tempos antigos – e seja esse o diálogo daquele momento. “Foi muito forte, senti que fiz parte de uma espécie de mágica, na qual o cinema era a ferramenta, e o ritual ancestral daquelas ciganas seria a essência”, diz Julia Zakia, diretora do documentário curta-metragem Tarabatara (2007), sobre o momento em que captou as imagens que encerram seu filme. Tarabatara é o nome de um velho cigano, cuja família faz parte do grupo filmado por Julia (e mais três amigos, Guile Martins, Gui César e Laura Mansur) no sertão de Alagoas. Créditos iniciais Mais de cem anos depois da primeira exibição pública de um filme, no Grand-Café (em 28 de dezembro de 1895, em Paris), o cinema ainda leva pessoas ao espanto, embora a natureza desse sentimento tenha mudado com o passar do tempo. O filme então exibido, A Chegada do Trem na Estação de Ciotat (L’ Arrivée d ’un Train à La Ciotat, dos franceses irmãos Lumière), era uma película muda com 50 segundos, em uma sessão da qual faziam parte outros 16 registros da vida cotidiana da capital francesa. Hoje, ninguém sairia assustado da sala, fugindo do trem que vinha em direção à câmera, como se ele fosse atravessar a tela e atropelar a platéia. Em 1902, os espectadores se encantaram quando Georges Méliès, um mágico francês, descobriu como fazer truques com a câmera, criando assim a ficção cinematográfica e com ela transportando as pessoas à Lua (em Viagem à Lua, Le Voyage dans la Lune). A platéia voltou ao espanto em 1915 quando o americano D. W. Griffith inventou a linguagem clássica do cinema: acabou com as câmeras fixas e o enquadramento herdado do teatro, que apenas mostrava os atores de corpo inteiro. Griffith foi o primeiro a fazer travellings (deslocamento da câmera em carrinhos e, mais recentemente, na mão do cameraman) e closes. Mais do que isso, foi pioneiro ao montar em um filme a imagem do rosto da heroína ocupando toda a tela e, em seguida, o herói em uma ilha, distante dessa mulher amada. Ninguém tinha visto algo assim, até então. Custou trabalho a ele convencer seus produtores, naquela época, de que isso, que nos passa hoje como um bê-á-bá, seria, naquela época, inteligível. . À frente de um projetor a vida se transformou em filme | imagem: Cia de Foto . Enredo O filme na vida, ou vice-versa Em 1985, quando o aventureiro, poeta e explorador Tom Baxter saiu do filme A Rosa Púrpura do Cairo (do americano Woody Allen), apaixonado por Cecília, a linguagem cinematográfica já era dominada pelo público, que tinha avançado para outro estágio. A frase “as pessoas querem vidas de ficção e as da ficção querem suas vidas tornadas reais”, dita por um funcionário do estúdio no filme, expressa parte dessa mudança. Uma das teorias sobre a presença dos filmes no cotidiano, a do estudioso americano Neal Gabler, defende que a própria vida se transformou em um filme. Em seu livro Vida – O Filme (Cia. das Letras, 1999), ele constata que as pessoas vivem cada vez mais num mundo no qual a fantasia tomou conta da vida, sendo mais real do que a própria realidade. Gabler acredita que o cinema de entretenimento é um rearranjo de nossos problemas em formas narrativas concisas, que os suavizam e dispersam pela periferia de nossa atenção, onde podemos esquecê-los. Essa nova ordem dos problemas, na qual estariam contidos sua apresentação, evolução, reviravolta, recomeço, clímax, além do desfecho, claro, também foi criada por Griffith – e é, inclusive, uma das características do cinema clássico. Uma história organizada assim seria um descanso na loucura de informações, sentimentos e imagens cada vez mais fragmentados a que estamos expostos todos os dias – ainda que não tenha sido esse seu objetivo inicial. . Mas mesmo as narrativas clássicas podem ter o poder de criar mais incômodo que conforto. Os tamancos pendurados na árvore, no filme do italiano Ermanno Olmi (A Árvore dos Tamancos, L’ Albero degli Zoccoli, Palma de Ouro em Cannes em 1978), sempre voltam à memória da jornalista Denise Neumann como um sentimento de perda que nem ela sabe explicar. “No cinema, no entanto, havia a presunção de que o escape era temporário e que no final do filme era preciso sair da sala e voltar ao turbilhão da vida real”, retoma Gabler. Com a contribuição da televisão, o escapismo tomou conta do cotidiano: a vida passou a ser exposta o tempo todo na tela. As pessoas começaram, então, a enxergar seus próprios enredos como se fossem as protagonistas de um filme – Gabler cita a princesa Diana e seus fãs no mundo inteiro como exemplo. Em resumo, a vida se tornou outro veículo de entretenimento. “Um dia inteiro de vida é como um dia inteiro de televisão”, diz Gabler, que recorre a Andy Warhol para explicar-se. “Depois que começa, a televisão não sai mais do ar, nem eu tampouco. No fim do dia, o dia inteiro será um filme. Um filme feito para a televisão”, disse o artista americano. O psicanalista italiano radicado no Brasil Contardo Calligaris concorda que o cinema transformou nossa poética da vida, embora não acredite que a tendência a imaginá-la como cenas tenha se iniciado com as imagens em movimento. Antes, observa ele, foram populares as narrativas literárias no século XIX, os romances de folhetim nos jornais. O western foi um gênero popular de romances baratos, que se vendia a números absolutamente extraordinários, diz Calligaris, em uma entrevista publicada no jornal gaúcho Zero Hora, em 2 de agosto de 2008. Ao longo dos anos, no entanto, Calligaris notou que seus pacientes traziam cada vez mais histórias vistas no cinema para dentro do consultório. “Graças ao cinema”, disse, “qualquer sujeito da segunda metade do século XX se apaixonou, se comoveu, se indignou por uma diversidade inédita de histórias. [...] Nunca como hoje tivemos a sensação de que a imensa variedade das experiências humanas (misérias e grandezas, sonhos e pesadelos) é apenas um repertório de vidas que poderiam todas ser a nossa − a ponto de, por um instante, numa sala escura, sentirmos facilmente seu gosto”. Calligaris acredita que as narrativas coletivas (como a possibilidade de uma revolução socialista), mesmo as baseadas em ficções, se fazem e se desfazem talvez com a mesma leveza com a qual podemos fazer e desfazer a escrita de nossa vida. Antes de a televisão se tornar o principal meio de diversão de massa e passar a concorrer com o cinema, era mesmo na sala escura que se aprendia a fazer coisas como beijar, brigar, se entristecer. Para a filósofa Susan Sontag (1933-2004), a experiência mais forte do cinema, além dessas descobertas, é simplesmente se deixar transportar pelo que está na tela. E o pré-requisito para que isso aconteça é ser dominado pela “presença física da imagem”. “Ver um grande filme na televisão não é ver de fato esse filme”, escreveu no livro Questão de Ênfase (Cia. das Letras, 2005). “Para sermos seqüestrados, temos de estar num cinema, sentados no escuro entre anônimos.” À sala escura comparecem os bons e os maus fãs de cinema, dizia Vinicius de Moraes, ele próprio apaixonado pela evasão possível dentro da escuridão. O bom fã, falava ele, senta-se sempre nas primeiras filas. “Da décima fila para trás é positivamente indigno.” As poltronas da frente também eram as preferidas do diretor francês François Truffaut, que sentia necessidade de “entrar” nos filmes. O que ele fazia aproximando-se cada vez mais da tela, para esquecer o restante da platéia. . Zootrópio da Cinemateca Brasileira: do estático ao movimento Ilustração: | imagem: Carlo CiaGiovani de Foto A dança cotidiana se transforma em cena de cinema | imagem: Cia de Foto Créditos finais As primeiras lembranças de Truffaut relacionadas ao cinema vieram dos 200 filmes a que assistiu até os 10 anos de idade, fugindo da escola e entrando sem pagar. Ou à noite, quando os pais saíam de casa. “Paguei por estes grandiosos prazeres com dores de barriga, estômago embrulhado e eterno medo, invadido por uma sensação de culpa que só se acrescentava às emoções proporcionadas pelo espetáculo”, escreveu ele, em seu livro Os Filmes de Minha Vida (Cia. das Letras, 2004). As escapadas de Truffaut o devolviam à sua vida. Para vivê-la como num filme, como diria Gabler, ou para incorporar em sua história aquelas da tela, como acredita Calligaris. Talvez um filme não exclua a vida, e vice-versa. Simplesmente filmes Algo é certo, no entanto. Gostar de cinema e gostar de filmes pode ser diferente. Cada arte engendra seus fanáticos, dizia Susan Sontag, e “o amor que o cinema suscitou foi mais majestoso”. Esse tipo característico de amor chama-se cinefilia e sob sua bandeira estão tanto os cerca de 200 mil espectadores que todos os anos assistem às centenas de filmes da Mostra de Cinema de São Paulo como parte dos 6 milhões que fizeram de O Homem Aranha 3 (Spider Man 3, do americano Sam Raimi) o filme mais visto no Brasil em 2007. A linha tênue que separa o primeiro do segundo exemplo é apenas um ponto de vista. . A jornalista Bia Abramo, crítica de TV, acha marcante as imagens iniciais do filme Apocalypse Now, do americano Francis Ford Coppola. “Vemos de cima a selva cerrada, da qual se destacam palmeiras tão tropicais. Entram os acordes lentos, expectantes, de guitarra; de repente, a vegetação explode silenciosamente, ou melhor, a selva é tomada por um incêndio sem que saibamos de onde ele vem; não ouvimos o barulho da bomba; em vez disso, entra a voz grave: ‘This is the end’. ” O amor pelo cinema não tem muito a ver com o gênero de filme que se aprecia, mas com aprender a vê-los. Crescer, para a criança que foi Truffaut, aconteceu ao mesmo tempo que amadureceu sua maneira de olhar, observar, ver. Até os 12 anos, ele “rejeitava os filmes de época, de guerra e faroestes”. Gostava dos policiais e dos filmes de amor e, ao contrário dos espectadores de sua idade, não se “identificava com os heróis heróicos e sim com os personagens em situação de inferioridade e, mais sistematicamente, com aqueles que estavam errados. Compreender-se-á que a obra de Alfred Hitchcock, inteiramente consagrada ao medo, me tenha seduzido desde o início, depois da de Jean Renoir, toda ela voltada para a compreensão: ‘O terrível neste mundo é que todos têm suas razões’. (A Regra do Jogo, Renoir)”. Deixar-se prender a gêneros, a nacionalidades, a estilos é uma maneira de ver menos cinema. Cada filme renova o espanto de cineastas como Julia Zakia, e a narrativa cinematográfica é tão enriquecida pela vida, de maneira geral, e pela paixão de seus autores, de maneira específica, quanto a vida é alimentada por ela. “Quando fui filmar as ciganas, senti pela primeira vez que algo de muito especial e espontâneo estava acontecendo. Via aquelas mulheres com vestes coloridas no meio da caatinga verde à procura de madeira para fazer o mais essencial do dia-a-dia delas, o fogo. Foi impressionante porque só tinha dois rolinhos de super-8, o que exigia precisão, e não foi difícil apertar o gatilho nas horas certas porque estava tomada pela beleza do real. Sabia que confiando no momento estaria fazendo a cena mais linda do filme. Dura uns três minutos, dos quais dois são com sons, madeiras estalando, mulheres conversando, passos na relva. Depois entra a música, um coro de mulheres sérvias. Outro universo, mas que para mim fazia o fim do filme voar para outras partes do espaço e tempo ali contidos.” A imagem sintetiza a irrupção da violência de uma guerra anônima, sem rosto. Ela vai se tornando mais e mais notável em retrospectiva, tanto à medida que o filme se desenrola como nas memórias que temos sobre a obra e nas várias vezes que a revemos. Como se aquela fosse a imagem-síntese de tudo o que virá em seguida no filme, mas também de tudo o que passamos a pensar sobre a Guerra do Vietnã. “Vale lembrar que esses minutos iniciais de Apocalypse quebravam um silêncio ‘cinematográfico’ sobre o conflito no Vietnã usando, justamente, o silêncio”, observa Bia. Um olhar, portanto, um pouco mais amplo do que simplesmente dizer que Apocalypse Now é um filme de guerra e de ação – como se apresenta nas prateleiras de locadoras. . Frame do documentário Tarabatara (2005), de Julia Zakia Uma vida para dois filmes (ou três…) reportagem A história do profeta contemporâneo que mobilizou uma comunidade O reino Por Micheliny Verunschk Uma das regiões mais exuberantes do interior pernambucano, nos arredores do Parque Nacional do Catimbau, no município de Buíque (mesmo lugar em que cresceu o menino e mais tarde reconhecido escritor Graciliano Ramos), viu surgir um líder espiritual cuja trajetória, ao mesmo tempo fantástica e fascinante, não se apaga mesmo passados quase dez anos de sua morte. Trata-se de Cícero José de Farias, também conhecido como Israel Alexandri de Farias ou, ainda, Sadabi Alexandri de Farias Rei ou, simplesmente, Meu Rei. Nascido possivelmente em 1884 no município de Garanhuns, Farias partiu em 1932 para a vizinha cidade de Arcoverde, estabelecendo-se como proprietário de um armazém de secos e molhados. Ainda naquele ano, ao inspecionar uma mercadoria que não coube dentro do estabelecimento, teve, aos moldes dos antigos profetas, uma revelação. Quem conta é Edvaldo Bezerra de Melo, comerciário aposentado e um de seus discípulos. Naquela noite, ao voltar para casa, ele viu três estrelas de claridade maior que as outras. Uma delas aumentou de tamanho e se aproximou da Terra até transformar-se num corpo humano que, falando telepaticamente, lhe anunciou uma missão que só se completaria 20 anos mais tarde. Em 1952, a missão se revelou por inteiro. Farias se encontrava na Serra do Teixeira, interior da Paraíba, quando Deus lhe ordenou que construísse uma cabana e a cercasse com dois círculos de madeira, um maior e outro menor. Ordenou ainda que estivesse com lápis e papel nas mãos. A mensagem, conta Melo, dizia: “Prepare um povo para habitar a Terra no terceiro milênio e procure uma caverna que dê condições de salvá-lo. Ao chegar a essa caverna, você a reconhecerá. E mude seu nome, pois com esse que você carrega não chegará a lugar nenhum”. .10 Farias reconheceu a caverna na região do Catimbau, um dos sítios arqueológicos mais importantes de Pernambuco. Em sua vizinhança fundou a Fazenda Porto Seguro, ou Fazenda Metafísica e Teológica Princípio de um Reinado. Seguindo os valores da auto-sustentabilidade e da cooperação mútua, arregimentou cerca de 40 famílias que, vivendo em torno de seu palácio e das cisternas de água à sua volta, tornaram-se seu povo escolhido. Proibição do futebol, liberdade para a prática da poligamia a homens e mulheres, veto radical a qualquer sacrifício animal e vegetarianismo foram alguns dos preceitos do reinado de Farias, que renderam curiosidade e mistificação. No foco da mídia nacional e regional nos anos 1990, ele chegou a ser comparado a Antonio Conselheiro e seu reino a Canudos, paralelismo fortemente rejeitado pelo mestre e seus seguidores. “Não comparem Meu Rei a um beato que levou milhares de pessoas ao assassinato. Conselheiro era um guerrilheiro. Meu Rei nunca desobedeceu às leis do governo, sua mensagem nunca foi de guerra, mas sempre de paz”, diz Melo, indignado. Sem ligações formais com o catolicismo ou o cristianismo, sua missão foi várias vezes alvo de combate em missas nos municípios próximos. A professora de geografia Mércia Machado, residente em Arcoverde, conta que teve oportunidade de conhecer Farias numa excursão que organizou com seus alunos ao Catimbau. Ela relembra que não era raro os sermões na igreja matriz daquela cidade girarem em torno do combate aos preceitos da Fazenda Porto Seguro. O Tibete é aqui Em 1987, Farias recebeu nova revelação de uma energia divina que se intitulava O Eterno. Nesse chamado, a divindade contava seus planos de construir um reino na Terra, para si, seu filho Jeová e para seus netos, Jesus e Sadabi. Farias trocaria de nome novamente em 1996, nove anos depois da revelação, tempo em que preparou a nova identidade que assumiria ao passar a se chamar Sadabi Alexandri, filho de Jeová, irmão de Jesus e neto de O Eterno. Farias chegou a instituir o talento, moeda forte, com valor superior ao da moeda nacional e que agregava três “poderes”: o monetário, o valor de ligar o homem a Deus e o de salvar o corpo físico. No entanto, com a aprovação rejeitada várias vezes pelo Banco Central, o talento circulou na comunidade mais como um conceito do que realmente como dinheiro. .11 Banho nas águas sagradas do reino, representação da história de Meu Rei, sugerida por Gabriel Mascaro | imagem: Cia de Foto Uma cena imaginada por Mascaro dá a dimensão do real que se quer alcançar: “Convidaria o personagem póstumo a uma dança, a desatar o nó. Continuar tratando Sadabi de maneira utópica é negar o caráter urgente, possível e necessário de suas reivindicações”, conclui. Às vésperas do ano 2000, no entanto, Farias morreu. Segundo seus seguidores, cinco meses antes da morte, seu espírito já se alojava em uma criança que estava sendo gestada. Essa criança, hoje com 8 anos, é Sadabi renascido para a comunidade remanescente, chamada Organização Sulami do Cristianismo Moderno. Melo explica que apenas em 2040 o novo Sadabi estará pronto para assumir suas funções. No momento, ele não mora na fazenda e seu paradeiro não é divulgado. Essa data, 2040, será o marco da fundação do reino do Eterno na Terra. Infinitas possibilidades de leitura Se a biografia de Farias fosse parar nas telas de cinema, em um documentário, como ela seria contada? Para responder a essa pergunta, foram convidados dois documentaristas, o pernambucano Gabriel Mascaro e o paulistano João Wainer, para que oferecessem suas leituras e possibilidades narrativas a essa história. Tanto Mascaro quanto Wainer optaram por apresentar Farias por meio do olhar dos outros, sejam eles os fiéis, as pessoas de fora da comunidade ou mesmo o espectador. De qualquer modo, o homem a ser retratado nas telas, a exemplo de todo profeta ou messias, seria um personagem difuso e aberto a múltiplas e contraditórias inter- .12 pretações. Um personagem inesgotável. O desafio de contar uma vida no curto espaço de um filme, ao que parece, só pode ser resolvido assim, de forma fragmentária. Parodiando o apóstolo Paulo, hoje vemos em espelho, aos pedaços (ou pelas lentes de um cineasta), mas chegará o dia em que poderemos saber da totalidade. E, talvez, o fim do mundo seja o fim de todo mistério. João Wainer, diretor do documentário A Ponte (2008), trataria o personagem pela ótica de seus discípulos. “Eu iniciaria a narrativa viajando pelas impressões de seus seguidores e deixando o imaginário do espectador criar seu próprio Sadabi. Situaria o personagem falando mais sobre Buíque, sobre a Fazenda Porto Seguro e suas figuras lendárias. Entrevistaria nesse momento moradores que não são seguidores de Sadabi e evitaria qualquer comparação com Canudos, a não ser que percebesse alguma influência direta.” Para Wainer, seria importante introduzir no filme o novo Sadabi, o sucessor de Farias, bem como investigar seu projeto e o tipo de influência do profeta sobre seus seguidores. “Criaria um final sem juízo de valor, deixando na mão do espectador a tarefa de decidir se realmente o mestre Sadabi seria ou não a encarnação de Deus”, finaliza. Em 2003, Farias serviu de inspiração para o personagem de um filme. Trata-se de Árido Movie, ficção de Lírio Ferreira. Interpretado por José Celso Martinez Corrêa, o personagem Meu Velho purifica seus fiéis com a escassa água do sertão. Para os seguidores de Farias, a criação de um personagem inspirado em Meu Rei segue a visão midiática que se tem desse líder. Como esta, toda história de vida pode ser contada de infinitas maneiras. A multiplicidade de olhares e versões jamais deve ser descartada, pois está vinculada à pluralidade de qualquer personagem, à sua própria infinitude. Talvez a história de Farias seja um bom início para essa conversa. Para Mascaro, diretor de Ao Norte (2006) e KFZ-1348 (2007), a idéia principal seria não alegorizar o ícone messiânico. “Tudo o que ele propôs está em plena sintonia com as políticas públicas urgentes e necessárias para o Nordeste e não há nada de deificante querer água, liberdade sexual, vida em comunidade, soberania econômica, agricultura familiar e sustentabilidade.” O personagem de Mascaro, segundo suas palavras, nada teria de mitológico. “Eu investigaria a cristalização e o impacto desses pensamentos no imaginário da comunidade que hoje reside no reino e em seu entorno, para refletir sobre como esse ideário de vida se relacionou no passado e se relaciona no presente com as comunidades vizinhas. É nesses encontros e choques de relações de poder que florescem infinitas possibilidades de leituras do gigante tecido humano que veste o personagem”, diz ele. .13 Altar com porta-retrato de mestre Sadabi (Meu Rei), em representação pensada por João Wainer | imagem: Cia de Foto Cinema 360 graus Conte um pouco sobre sua formação. entrevista Por Marco Aurélio Fiochi e Mariana Lacerda Profissional sem fronteiras e de trajetória híbrida, Daniela Thomas dedica-se “geminianamente” ao cinema, ao teatro e a projetos cenográficos, com o objetivo de oferecer sempre uma experiência inédita e intensa ao espectador. Em todas as produções, no entanto, é o cinema quem dá elementos às escolhas conceituais. “Busco no teatro certo selo cinematográfico [...]. Isso vem do amor que tenho por essa linguagem [...]. É algo que me mobiliza desde menina e está em tudo o que faço. Mesmo o trabalho menos ligado ao cinema transpira esse sentimento.” A arte conceitual, a arquitetura desordenada das grandes cidades – com seus ícones como o Minhocão paulistano, paixão confessa da diretora –, o cotidiano e os problemas sociais tecem a trama de suas obras, como o recémlançado longa Linha de Passe, mais uma vez em co-autoria com Walter Salles. De sua lavra conjunta nasceu outro grande sucesso, Terra Estrangeira (1995). “O cinema para Walter é como uma língua, uma escrita. Para mim é uma esfinge”, revela nesta entrevista. .14 Daniela Thomas em seu ateliê, local onde concebe projetos cenográficos | imagem: Cia de Foto Tenho uma formação informal. Freqüentei duas faculdades: história, durante três semestres, e, quase dez anos depois, literatura inglesa, por mais três semestres. Mas nunca terminei curso nenhum e me sinto educada pela minha casa. Minha formação é a casa de infância. Não tínhamos uma sala de estar ou de jantar. Era um estúdio. Repito tudo o que meus pais fizeram na minha atual casa, com meus filhos. Lá, a mesa de jantar era uma prancheta, meu pai [o cartunista, jornalista e escritor Ziraldo] é uma pessoa muito desapegada, todos os equipamentos eram usados por nós sem nenhum problema. Podíamos desenhar em cima do desenho dele, usar qualquer lápis. Ele e minha mãe [Vilma], que não está mais com a gente, formavam um casal extremamente curioso. Eles nos criaram [Daniela e seus irmãos Fabrizia Alves Pinto, também cineasta, e Antonio Pinto, compositor] de uma maneira muito hippie, muito diferente. Minha casa, nos anos 1960 e 1970, era um pólo no Rio de Janeiro, todos a freqüentavam, era um lugar muito vivo, e a gente participava de tudo sem restrições. Convivi quando criança com Millôr Fernandes e outros intelectuais. Não havia aquela imposição de a criança se retirar em determinados assuntos, não participar. Há histórias que talvez eu não devesse ter ouvido, que me deixaram muito angustiada. Por exemplo, sofri intensamente com a ditadura. Meus pais e seus amigos falavam abertamente de seus medos, e eu achava que a qualquer momento a gente ia morrer! Meu pai sofreu três prisões, que foram traumáticas. Fui criada nesse universo em que tudo era possível e acho que minha vida é resultado disso. A falta de fronteiras para a minha criação é uma vantagem e uma enorme desvantagem. A falta da academia, dos títulos, dos diplomas, das setorizações me transformou nessa pessoa. O trabalho que faço me obriga a especializações instantâneas. Por exemplo, eu e Felipe [Tassara, arquiteto, seu marido e sócio] faremos [a cenografia de] uma exposição sobre arte espanhola do século XVI. Sou obrigada a conhecer isso. O hibridismo é da natureza de nosso tempo. Circulo nessa falta de fronteiras, nessa globalização da arte. Como foi seu início no cinema? Quando fui buscar meu caminho fora do Brasil – saí do país em 1978 e voltei em 1986, fiquei oito anos fora –, era muito ligada à política nacional, só pensava nisso. No dia seguinte ao que cheguei a Londres, esqueci a política, como se nunca a tivesse vivido. Passei a me dedicar ao cinema, que era meu desejo real, e fiquei três anos estudando-o. Tive uma produtora com mais oito pessoas, chamada Crosswind Films, onde fiz filmes, clipes. Em 1981, fiz um média-metragem e fiquei totalmente embrenhada no cinema, pensandoo, aprendendo sua teoria, vendo filmes três, quatro vezes por dia. Quando deixei Londres, fui morar com [o diretor teatral] Gerald Thomas [seu ex-marido] em Nova York. Lá fizemos um média-metragem com dinheiro próprio, em 1981. Quando o filmamos havia a possibilidade de vendêlo para a CBS Cable, mas essa emissora faliu, e o projeto não foi bem-sucedido financeiramente. Aí minha vida fez um desvio para a cenografia. .15 A co-diretora de Linha de Passe (2008): amor pela linguagem cinematográfica | imagem: Cia de Foto Como o meio em que você vive atualmente interfere em sua criação? .16 Então, nesse momento, o cinema cedeu lugar à cenografia? Você acompanhou a produção brasileira desde o período pós-cinema novo... Sim, mas a cenografia estava envolvida com o cinema, de qualquer forma. Minha grande descoberta como cenógrafa foi a questão das transparências, o uso do filó e de espelhos, que possibilitavam certos cortes em cena, inspirados na edição cinematográfica. No teatro, há uma limitação atávica: ao terminar uma cena, o ator tem de sair do palco. Pode-se apagar a luz, deixar tudo preto, mas isso limita o ritmo, o ator pode demorar a sair para a coxia. O uso dos filós permitiu montar uma cena atrás deles, outra na frente. Podia-se cortar de uma cena para outra instantaneamente. Isso foi importante para Gerald, fazia parte de um processo em que ele estava trabalhando, a descontinuidade do ritmo, algo próprio do cinema que estávamos trazendo para o teatro. Atualmente, se olharmos fotos de meus trabalhos de cenografia em teatro, por exemplo em montagens dirigidas por Felipe Hirsch, elas parecem stills de cinema. Busco no teatro certo selo cinematográfico, uma gestalt de cinema, não sei explicar por quê. Isso vem do amor que tenho por essa linguagem, que é algo muito interiorizado, estou impregnada dessa paixão. É algo que me mobiliza desde menina e está em tudo o que faço. Mesmo o trabalho menos ligado ao cinema transpira esse sentimento. Acho que vi tudo o que foi feito no Brasil dos anos 1960 em diante, e os cineastas eram da turma de meu pai. Na criação “renascentista” da minha casa, o cinema era imprescindível. Meu pai parava de trabalhar à meia-noite e assistíamos à Sessão Coruja juntos. Ele é do tipo comentarista. Os filmes eram vistos com seus comentários sobre a ficha técnica, sobre outras obras que determinados atores haviam feito. Ele adora falar de roteiro, também. Em nossas sessões, ele dizia, por exemplo, “se essa mulher é prostituta, vai morrer”, pois já sabia que no cinema americano clássico o desfecho era sempre o mesmo: um personagem como esse sempre fazia alguma besteira no começo do enredo e acabava por morrer nos dois terços finais. Meu pai viveu o auge hollywoodiano dos anos 1940; sua cidade [Caratinga], no interior de Minas, era superpequena, mas havia duas salas com mais de mil lugares. Era uma época de ouro, com filmes americanos de guerra ou do pós-guerra. Já minha mãe era uma “italianófila”, assistiu a todas as produções de Fellini, Bertolucci, Antonioni, De Sica, Visconti. E os filhos iam com ela às sessões. Acho que meu pai nunca me levou ao cinema – ele era da Sessão Coruja comentada –, mas a minha mãe, sim. O meio urbano é uma referência muito intensa em meu trabalho. Posso dizer que existem quatro eixos na minha produção. O primeiro deles é o cinema, por sua plasticidade e seu modo de contar, de estruturar uma narrativa, de passar uma composição estética. Outro eixo veio com a descoberta, que fiz na Inglaterra, da arte contemporânea, da arte conceitual, do Duchamp em diante. Fiquei muito impressionada quando tive contato com isso. Dividi apartamento com uma artista que estudava na Slade, uma das escolas de arte de Londres, e ela me guiou nesse caminho, o que foi muito importante para mim, pois creio que não consigo trabalhar em nenhum projeto sem conceituá-lo. Um terceiro eixo é o fascínio pelas formas de uma arquitetura não muito racional, não muito estética, mas aquela resultante da projeção do homem na cidade, a bagunça, que é uma espécie de espelho deformado dos desejos e das aspirações humanas. As cidades são a realização concreta das ambições que temos como sociedade. Elas são o fato consumado. Sou apaixonada pelo [viaduto paulistano] Minhocão, gosto de olhá-lo tanto quanto gosto de olhar a Lagoa Rodrigo de Freitas [no Rio de Janeiro] no final da tarde. Terra Estrangeira vem do Minhocão, a origem do filme está identificada com esse viaduto, que também está em minha produção sistematicamente. Fiz um curta para Bem-Vindo a São Paulo [vários diretores, 2007] que é um percurso de seis minutos em que se alternam dia e noite, mas sempre se continua andando e o Minhocão vai mudando de aspecto conforme a passagem do tempo. Também sou órfã do Muro de Berlim, que era outro lugar incrível, um ícone, a materialização de tanta coisa, algo fascinante. Como o Muro de Berlim acabou entrando em suas obras? Tenho uma experiência epifânica com ele. Na primeira vez que fui à Alemanha, em 1983, ao entrar em Berlim fui logo procurar o Muro. Hospedei-me num bairro chamado Kreutzberg, que naquela época era um reduto de imigrantes turcos. Ao acordar no outro dia, olhei para fora e estava lá o Muro, pois o hotel ficava numa rua dividida ao meio por ele. Fiquei maravilhada. Desci para a rua e havia umas torres de madeira, espécie de mirantes em que se podia subir e ficar acima do Muro para ver como era a vida do lado de lá. Havia um muro, depois dele uns 100 metros de grama e à frente o verdadeiro Muro, que incorporava prédios, os quais estavam concretados, um junto do outro. Nesse gramado havia arames farpados e minas, supostamente. Se alguém pulasse ali, morreria. Eu estava com a minha câmera, com teleobjetiva. Comecei então a “namorar” o guarda de uma das torres, que estava com binóculos. Havia uma banda punk ensaiando numa garagem perto dali, dava para ouvir o som. Quando me dei conta, havia ainda um gato preto perseguindo um coelho branco no meio dos arames farpados. Nem sei dizer onde fui parar. Fiquei suspensa um metro no ar, em êxtase! Parecia Alice no País das Maravilhas, literalmente um coelho branco e um gato preto me levaram para esse lugar que homens tinham construído para si. Aí passei a colocar o Muro de Berlim em tudo o que eu fazia! Até que realizei uma peça em Munique com Gerald Thomas, chamada O Jogo da Tempestade, uma mistura de Fim de Jogo, do Samuel Beckett, com A Tempestade, de Shakespeare, e usei uma montanha de cacos do Muro de Berlim no cenário. .17 Daniela: “O cinema tem de correr atrás da realidade brasileira” | imagem: Cia de Foto .18 Você se referiu a quatro eixos em sua produção, qual é o último deles? Como é seu processo de criação junto de Walter Salles? O quarto eixo é o cotidiano, no sentido das relações afetivas e da força de uma espécie de veracidade. Quando faço um cenário ou um filme, meu objetivo é proporcionar uma experiência inédita e verídica às pessoas. É dar a alguém uma vivência de primeira mão, é conseguir, por meio de um esforço industrial, artesanal, conceitual, provocar naquele que vai assistir, que vai participar, a sensação de estar sendo privilegiado, de estar vendo uma coisa como um voyeur. Mesmo que haja 300 pessoas em uma sala, a vivência tem de ser inédita. Vivo minhas experiências com muita intensidade, é minha personalidade, sou dramática. Mas quero ainda acrescentar um quinto elemento, um quinto eixo na minha produção. É algo que vem da infância, que é o social. Trata-se da empatia com o sofrimento alheio. Quero passar àquele a quem estou endereçando determinado objeto a força da minha experiência de primeira mão ao ver, por exemplo, uma criança pedindo esmola ou vendendo algo no farol. Há coisas que me deixam completamente louca, como ver uma foto de pessoas fugindo, de refugiados de guerra, um pai segurando duas crianças no colo e pensando como vai fazer para alimentá-las, para agasalhá-las. Quando faço um filme, quero que ele tenha a mesma força das imagens que me impactam. Consegui trazer o hibridismo para dentro da minha relação com o Walter. Ao conviver comigo, ele foi vitimado por essa falta de fronteiras. Ele mesmo percebeu que não havia como separar: até aqui sou eu, dali para a frente a Daniela. Nossa relação é uma grande conversa. Inicialmente, ele me chamou para trabalhar como diretora de arte, mas nossas conversas eram tão intensas, havia trocas em todas as áreas, que Walter concluiu que o que eu fazia não era bem direção de arte, que aquilo se chamava direção de filme também. Então, ele resolveu dar o nome certo às coisas e passamos a fazer tudo juntos. Em tese é assim e funciona bem. Mas o Walter é muito mais focado do que eu, ele tem uma intuição cinematográfica. A linguagem do cinema lhe é natural, como se fosse um músico ao escrever uma partitura. O cinema para Walter é como uma língua, uma escrita. Para mim é uma esfinge. Existe uma infinidade de maneiras de se filmar uma cena, todas elas significativas e que, muitas vezes, se opõem. Tenho de tomar decisões para transmitir o que quero passar. Isso para o Walter é natural. Ele sabe onde a câmera tem de estar, que lente tem de usar, já antevê como a cena vai ser montada, tem um catálogo de opções disponíveis a qualquer momento. Nessa relação, apesar de eu me meter em tudo, sempre cedo à intuição dele em relação à posição da câmera, à linguagem final. A intuição do Walter é fascinante, ele sempre me impressiona. Agora, o cinema é múltiplo, então aquilo que vai estar na frente da câmera, os atores, as roupas, as locações, a maneira como se vai filmar, que pegada o filme terá, tudo isso é absolutamente comunitário. Quando trabalhamos juntos, envolvemos mais pessoas. Os profissionais têm facilidade de acesso, podem opinar e alterar coisas. A produção fica mais coletiva. E quanto tempo antes vocês começam a trabalhar? Há algum aspecto que você acredita ter aprimorado nesse último trabalho? Muitos anos antes. Linha de Passe começou em 2003 e o lançamos agora, foram cinco anos. Não paramos nossa vida para fazer um filme. Nesse tempo, ele fez Diários de Motocicleta (2004) e Água Negra (2005), e eu fiz um milhão de coisas, não dá nem para enumerar. Todos os aspectos! Tenho mais consciência do que é fazer cinema do que tinha quando comecei. Isso por um lado é bom, mas por outro pode ser um pouco enrijecedor. Em Terra Estrangeira, acredito que eu e Walter tínhamos menos consciência da quantidade de coisas necessárias para dirigir um longa. Mas os filmes são irmãos, têm uma afinidade, uma maneira muito próxima de se posicionar, de pensar a linguagem, as pessoas. Linha de Passe é menos formal, menos preocupado com a imagem do que Terra Estrangeira. Além de dirigir com Walter, escrevi com ele o roteiro de Terra. Havia naquele momento entre nós certo prazer de cinéfilo, de brincar com as convenções muito antigas do cinema. Ele foi feito quase como um filme B, tinha uma trama policialesca, com contrabando. Em Linha não há preocupação com isso. Tentamos fazer uma narrativa que utiliza recursos clássicos, mas quase os desprezando. Ela deixa o espectador várias vezes em suspense, aflito por algo que tem de completar. Achei que, quando ele passasse na Europa, as pessoas teriam dificuldade em completar essa narrativa. Mas percebi que não. Vamos ver agora, quando estrear no Japão. Linha de Passe tem quatro histórias, uma de cada personagem... Cinco com a da mãe [interpretada por Sandra Corveloni], seis com a de São Paulo... Uma delas, a do filho menor, é real. As outras também são? Não. A origem delas é o repertório de documentários da Videofilmes [produtora dos irmãos Walter e João Moreira Salles], especialmente os documentários de João. O Walter começou fazendo programas na Manchete [extinta emissora de TV], como entrevistas, documentários, fez séries sobre o Japão, a China. A equipe era formada por ele, um cameraman, uma pessoa responsável pelo som e uma produtora. Eles deram a volta ao mundo fazendo esses programas por dez anos. Esse é o berço de Walter. A gênese de Linha de Passe são os documentários Santa Cruz (2000), sobre uma igreja evangélica, e Futebol (1998), sobre a saga desse esporte no Brasil. Havia também um especial sobre meninos que tentam a peneira para fazer parte de algum time de segunda ou terceira divisão. Há outros filmes – não dirigidos pelo João, mas feitos na Videofilmes e produzidos por ele –, como Um Dia Qualquer (2000), de Zuenir Ventura e Izabel Jaguaribe, que acompanha uma empregada doméstica grávida, por sorte, no dia em que ela tem o filho. Eles filmaram as dores do parto e o nascimento. Essa empregada é inspiradora da Cleuza [personagem de Sandra Corveloni em Linha de Passe]. Há também outro documentário, chamado A Família Braz (2000), de Arthur Fontes e Dorrit Harazim. Todas essas produções estão na gênese de Linha de Passe. A realidade é mais rica do que a ficção? Totalmente, necessariamente! No Brasil, então, a ficção tem de correr atrás. Outro dia li uma matéria que contava que um pai, de uns 70 anos, junto de seu filho, de uns 50 anos, contratou uma pessoa para matar a filha. Essa pessoa atirou na moça num sinal de trânsito, vestida de Papai Noel! Mas a garota não morreu. Não preciso dizer mais nada, não é? Se eu tivesse escrito isso, ninguém ia acreditar! Esse fato aconteceu em São Paulo, é uma história recente, deve ter ocorrido há uns dois meses. Não sei se ela era uma filha bastarda ou não tão querida pela família; talvez estivesse disputando algo com o pai e o irmão. Então o cinema tem de correr atrás da realidade brasileira. Nossa capacidade criativa e narrativa é imensa. .19 Histórias em trânsito reportagem – Alguém quer declarar algo que esteja dentro das malas?, perguntou o policial. Histórias rápidas, tal qual curtas-metragens, mostram a sobrevivência no longo tráfego das metrópoles Antes que Vanda dissesse qualquer coisa, o rapaz da poltrona 40, lá atrás, perto do banheiro, se manifestou: – Estou levando um curió, vivinho da silva, no bagageiro. Ela ficou com vontade de rir – um passarinho vivo bem ao lado da mãe morta, que coisa. – Mas isso é crime ambiental. – disse o policial, já prendendo o sujeito. – Mais alguém tem algo a dizer? Por Mariana Sgarioni Uma criança nasce dentro de um ônibus; um homem é confundido com assaltante em um táxi; e uma mulher viaja com os ossos da mãe morta dentro de uma caixinha de fibra. Parecem até histórias de filme. Mas não são. Aconteceram mesmo na vida de três brasileiros, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Todas elas têm como pano de fundo o trânsito terrível dessas cidades e o tempo que ele consome. Tempo inútil? Nem sempre. Muita coisa pode acontecer enquanto se reclama por estar preso em meio a buzinas e fumaça. Há gente nascendo, há gente morrendo. Amizades começando. Talvez essa seja uma boa oportunidade para olhar os engarrafamentos de uma forma diferente: como um terreno fértil que ajuda a entender melhor a vida urbana – caótica, maluca, porém de uma beleza tão rara que é preciso lentes especiais para apreciá-la. Afinal, esta é a nossa vida. – Dona Vanda? Aqui é do cemitério do Irajá. “Só faltava mais essa”, ela pensou. “Que diabos alguém do cemitério quer a essa altura do campeonato?” – Olha, dona Vanda, como sabe, a senhora sua mãe foi enterrada aqui já faz três anos. Está na hora de tirar os ossos da gaveta. Precisa ver o que vai fazer. Ou compra um jazigo ou então... .20 Terminado o “serviço”, Vanda colocou a caixa (com os ossos, evidentemente) dentro da bolsa, deu adeus ao coveiro e voltou ao ponto de ônibus. Na manhã seguinte, cedinho, pegou a bolsa e foi direto para a rodoviária. Antes de embarcar para Vitória, o motorista, ressabiado, perguntou: Conversando com mamãe Há uma década, a vida financeira da recepcionista Vanda Moreira, de 50 anos, moradora do Rio de Janeiro, andava de mal a pior. Estava atolada em dívidas. Um dia ela estava em casa, fazendo contas, no fim da tarde, e o telefone tocou. “Fomos até o cemitério e lavamos osso por osso. A Marcia [uma das irmãs] botava na água, eu secava e a Severina [a outra] arrumava os ossinhos dentro da caixa de fibra”, lembra. – Então o quê, moço? – Nós jogamos os ossos no lixo. Tá cheio de osso aqui entulhado, dona Vanda. Vanda entrou em pânico. Como poderiam jogar sua mãezinha no lixo? Pois era isso mesmo o que eles faziam com os ossos que não tinham destino. Perguntou, então, quanto custava um jazigo: 3 mil reais. Uma verdadeira fortuna, eram seis meses de salário. Impossível. – Eu tenho, sim, senhor. Estou levando minha mãe para ser enterrada em Vitória. Mas ela já morreu faz tempo, viu? São só os ossos que estão aí, disse Vanda. O policial empalideceu. A mulher levava um defunto. Ele respirou fundo e explicou que aquilo se chamava tráfico de ossos. Vanda chorou, chorou e chorou. Contou toda a vida, as dívidas, a fortuna do jazigo, até que o policial não agüentou mais e mandou que o motorista – junto com Vanda e a mãe dela – seguisse viagem. Em paz. – A bolsa vai no bagageiro? – Vai, sim, moço. Aqui dentro não tem nada que quebre. Para sair do Rio de Janeiro, no entanto, não foi tão fácil. A Avenida Brasil estava toda parada, um engarrafamento dos diabos – que a mãe de Vanda nos perdoe. O trânsito estava assim por causa de uma blitz da Polícia Federal, que interpelou justamente o ônibus de Vanda. Conversando com as irmãs, ela se lembrou de que a família tinha um túmulo no Espírito Santo. O único jeito seria levarem o corpo pessoalmente. .21 Táxi driver O editor de vídeo Gustavo Gordilho, de 33 anos, acordou num dia daqueles. São Paulo amanheceu chuvosa, o que prometia um trânsito infernal. Justo naquele dia ele precisava sair de Pinheiros, zona oeste da cidade, e chegar a Interlagos, zona sul, em míseros 20 minutos – uma proeza que nenhum velocista conseguiria. Levantou da cama, tomou uma ducha voando e saiu correndo para o ponto de táxi. Havia uma fila de carros brancos, e Gustavo não titubeou: abriu a porta do primeiro da fila, pulou no banco da frente e ordenou, afoito: – Vamos embora, vamos embora! Toca em frente para Interlagos, depressa – disse, quase gritando, ao motorista, que deu partida assustado. Gustavo só pensava no problema que seria chegar atrasado àquela reunião. Por isso, resolveu passar as coordenadas a ele – assim não corria o risco de o rapaz errar o caminho. – Pare pelo amor de Deus! Tem um bebê nascendo aqui! – gritava o cobrador. O motorista parou no meio da rua, fechando o trânsito. Chegou perto de Tiana e viu a cabecinha de Leiz já do lado de fora. Tirou a camisa, forrou o banco do ônibus e disse aos passageiros: – Quem quiser pode descer. Vamos fazer o parto aqui mesmo e depois vou direto para o hospital. Gustavo não contava que o caminho que ele mesmo havia escolhido estava todo engarrafado. Quanto mais trânsito, mais crescia seu desespero. Entre as pernas – Vire à direita agora, pode subir em cima da calçada, corte pelo posto de gasolina. Vai rápido! – Você não acha melhor ficar mais calmo? Eu prometo fazer tudo o que você quiser – retrucou o condutor praticamente chorando. A conta já devia estar uma fortuna. Gustavo então olhou para o painel e começou a procurar o taxímetro buscando os números estratosféricos. Olhou, olhou, e nada. Pronto, o taxista, no mínimo, havia se esquecido de ligar o aparelho. – Vire à direita, depressa. Na esquina, dobre a esquerda! – Amigo, onde está o taxímetro? – O garoto está nervoso, melhor se acalmar, pois alguém pode sair machucado – respondeu o homem, visivelmente abalado. – Taxímetro? Como assim taxímetro? – respondeu o motorista, mais assustado ainda. Não tem nenhum taxímetro aqui, não. – Escuta, se você fizer direitinho o que eu estou mandando, ninguém vai se machucar, prometo. Eu só quero chegar logo. – Espere um pouco. Isso não é um táxi? – Não. E você não é um assaltante? Depois dessa, Gustavo mandou a reunião às favas e foi tomar uma cerveja com seu mais novo (e aliviado) amigo – que até hoje jura que vai vender esse carro branco. Mãe de cinco filhos com idades próximas, a diarista Sebastiana Alves, de 47 anos, do Rio de Janeiro, se diverte ao se lembrar de suas gestações. “O médico dizia que eu ia ao hospital só para comer – todo ano eu estava lá. A mulherada ficava morrendo de dor e não comia. E eu comia o bife de todas elas, cada bifão!” Isso porque Tiana, como é conhecida, sempre teve muita facilidade para dar à luz. “Os primeiros foram mais difíceis. O resto veio tudo cuspido.” Por “cuspido” entende-se que a criança “escorregou” sem nenhum esforço. Literalmente. Um de seus filhos nasceu no elevador do hospital. Nem sequer deu tempo de chegar à sala de parto. Já o outro filho foi “cuspido” no ônibus mesmo, a caminho do hospital. O parto de Leiz – nome em homenagem a um ex-jogador do Botafogo –, hoje com 25 anos, desafiou todas as leis da saúde e da assepsia. Já com nove meses de gravidez, a jovem Tiana estava em frente de casa quando sentiu a bolsa estourar. Chamou a mãe e uma irmã e lá se foram as três para o ponto de ônibus, a caminho do Hospital Geral de Bonsucesso, subúrbio do Rio de Janeiro. O problema foi que o danado do Leiz não queria nascer exatamente naquela hora. Entalou. “Ele ficou só com a cabeça para fora, entre minhas pernas, e o condutor não conseguia puxar. Então ele voltou para a direção e seguiu para o hospital”, lembra Tiana. A situação do quase recém-nascido durou ainda muito tempo. Quase uma hora no trânsito da Avenida Brasil até chegar ao hospital. “Ele desviava, buzinava, e não chegávamos nunca”, diz ela. Ao encostar o ônibus no Hospital de Bonsucesso, o motorista desceu com sangue nas mãos e na camisa, gritando por socorro. Os policiais que estavam numa viatura próxima pensaram imediatamente que fosse um assalto e entraram armados no ônibus. – Um médico, por favor! Tem uma moça com uma criança entre as pernas aqui dentro! – disse o policial. Os médicos entraram no ônibus e terminaram o parto ali mesmo. Minutos depois, já com Leiz nos braços, Tiana recebeu flores e aplausos dos passageiros. “É o filho mais bonito que eu tenho.” Assim que pisou no Caxias–Praça Mauá, Tiana sentiu que a criança estava nascendo. “Foi debaixo do viaduto de Parada de Lucas. Gritei que a criança ia nascer ali mesmo. O cobrador só acreditou quando chegou perto para ver.” .22 .23 Infográficos: Rodrigo Silveira Imagens de arquivo do Park Hotel, em fotografias de Lourenço Facchetti | reprodução: Cia de Foto À deriva do tempo reportagem A história em flashback de um pequeno hotel mostra a grandeza da arquitetura de Lúcio Costa Por Mariana Lacerda Quando o arquiteto Lúcio Costa viu finalizado o Park Hotel, em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, prontificou-se, ele mesmo, a providenciar alguns detalhes antes da inauguração. Em companhia do dono do hotel, o engenheiro e empresário César Guinle, que lhe encomendara o projeto, foi “comprar louça, na rua Camerino, grossos cobertores de padrão escocês de um lado e lisos do outro, espessas toalhas brancas de banho”. É o que diz uma das anotações de seu precioso arquivo de memórias, publicado no livro Registro de uma Vivência (Empresa das Artes, 1995). Narrar a história do projeto que “muito tocou o coração” do arquiteto, como ele mesmo escreveu, significa, como numa seqüência cinematográfica em flashback, incorporar a verdade dos personagens que a viveram e, portanto, a contam. O Park Hotel foi construído entre os anos de 1940 e 1944. “Trata-se de uma síntese do pensamento de Lúcio Costa”, diz a arquiteta Maria Elisa Costa, sua filha. Um projeto, portanto, muito especial para aquele que, morto em 1998, nos legou ícones da arquitetura moderna brasileira ao desenhar o edifício do Ministério da Educação e Saúde (no Rio de Janeiro, em1936) e o Plano Piloto de Brasília, trabalho feito ao lado de Oscar Niemeyer em 1957. Síntese porque, explica Maria Elisa, primeiramente, para o projeto do Park Hotel, Costa tinha uma espécie de passe livre do seu cliente para a criação. Passe livre, diga-se, conquistado e não dado por Guinle. A aproximação entre empresário e arquiteto se deu por conta daquilo que Costa apelidou de “guerra santa” em prol da arquitetura moderna brasileira. Foi assim: numa tarde do início dos anos 1940, Costa ficou sabendo que os herdeiros de Eduardo Guinle, em suas palavras, “encaravam a contingência de ter que abrir uma rua no parque da mansão para obter renda, e já estavam com um projeto de prédios de estilo afrancesado para ‘combinar’ com o palácio”. Em tempo, o palácio em questão foi erguido na década de 1920, em estilo francês, e é onde funciona atualmente a residência do governo estadual do Rio de Janeiro. “De fato, encarei que a vinculação de uma coisa com a outra resultaria numa espécie de ‘casa grande e senzala’ ”, escreveu o arquiteto. Ele foi então conversar com César, filho de Eduardo, e lhe propôs o projeto do que hoje constitui o Parque Guinle, conjunto de prédios tido pela história da arquitetura como “a origem das superquadras de Brasília” e tombado, desde 1986, como patrimônio histórico do Brasil. .24 Uma paragem em Friburgo O Park Hotel foi construído num trecho de terra do Parque São Clemente, em Nova Friburgo. As cinco glebas de terra que formavam a propriedade pertenciam a Antônio Clemente Pinto, o barão de Nova Friburgo. Ali, o imponente barão do café ergueu o seu chalé, circundado por jardins feitos pelo artista Glaziou, paisagista que desembarcou no Brasil na segunda metade do século XIX a convite do imperador dom Pedro II. As terras foram compradas em 1912 por Eduardo Guinle “para servir de casa de verão da família e alguma criação de animais”, conta Maria Helena Guinle, neta de Eduardo e filha de César. Foi ele quem, formado em engenharia civil, assumiu a administração da extensa propriedade. E então decidiu transformar o Parque São Clemente em um bairro residencial. As terras foram loteadas e, no início da década de 1940, postas à venda. Um simpático fôlder anunciava o empreendimento e dizia “há também um hotel [...], de madeira e pedra, ao natural, o seu conjunto se harmoniza com a paisagem [...] em virtude das inovações introduzidas em sua construção, essencialmente modernas [...]”. Acompanhava o texto, ainda, um desenho do hotel, surgido para oferecer “uma paragem em Friburgo aos potenciais compradores de terreno”, diz Maria Helena. Para sua construção, Guinle destinou um filete de terra com medidas entre 2.500 e 3.000 metros quadrados. Essa seria a única restrição ao projeto de Costa, que nele colocou um tanto de sua história de arquiteto. .25 Os fundos do Park Hotel ontem e hoje | imagens: Lourenço Facchetti (à esquerda) e Cia de Foto Em uma viagem a Diamantina... Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa nasceu em 1902 em Toulon, França. Filho de um engenheiro naval natural de Salvador com uma moça manauense, veio ainda bebê para o Rio de Janeiro com seus pais mas, aos 8 anos, já estava novamente na Europa, onde estudou. Definitivamente no Brasil aos 15 anos de idade, foi matriculado pelo pai, que, como escreveu Lúcio Costa, “estranhamente queria ter um filho artista”, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Formou-se em arquitetura e então começou a desenhar projetos em estilo neoclássico e neocolonial. “Mas, ao conhecer a cidade mineira de Diamantina, algo começou a mudar no Lúcio”, conta sua filha. Ele tinha 22 anos e fazia uma viagem de estudos. “Lá chegando, caí em cheio no passado no sentido mais despojado, mais puro; um passado de verdade, que eu ignorava, um passado que era novinho em folha para mim”, escreveu o arquiteto. Naquele momento, diz Maria Elisa, Costa se apropriou de algo muito singelo, de uma idéia de que as coisas poderiam ser simples, puras, porém sem deixar de apresentar sua riqueza. Tudo isso, para ele, estava representado na cidade, em suas “casas, igrejas, pousadas dos tropeiros, era tudo de pau-a-pique, ou seja, fortes arcabouços de madeira”. .26 No fim da década de 1920, Costa não se sentia nem um pouco satisfeito com a arquitetura que fazia, “que estava dissociada de uma verdade construtiva que ele vira em Diamantina”, conta Maria Elisa. Por coincidência, nessa época, ele se deparou, numa revista não especializada, com uma foto de uma casa, existente em São Paulo, de traços modernos e de autoria do arquiteto russo Gregori Warchavchik. “Foi quando sentiu que era possível fazer alguma coisa bonita com arquitetura”, relata a filha do arquiteto. Entre idas-e-vindas profissionais, contudo, Costa se viu desempregado. Tempos de “chômage”, forma menos chocante de dizer “desemprego”, porque a clientela continuava a querer “casas de ‘estilo’ francês, inglês, colonial, coisas que eu então já não mais conseguia fazer”, escreveu. Na falta de trabalho, ele começou a inventar casas para terrenos convencionais, “de doze metros por trinta e seis”. Apelidou-as de “casas sem donos”. No “chômage”, entre 1932 e 1936, entendeu que era o momento de aprender, “por conta da dureza do tempo”, conta Maria Elisa. Estudou então a fundo as obras dos arquitetos Walter Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier – “sobretudo este, porque abordava a questão no seu tríplice aspecto: o social, o tecnológico e o artístico”, escreveu Costa. Pelo prazer puro e simples Daí em diante, o tempo parece ter passado rápido para o arquiteto. Voltou ao mercado para projetar o Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, quando então constituiu uma equipe na qual se incluía Oscar Niemeyer (que, na época, apareceu no escritório de Costa pedindo trabalho. Tornaram-se sócios). Como se tratava da primeira oportunidade no mundo de se construir um edifício de grande porte seguindo o mestre Corbusier, ele tanto fez que conseguiu trazer o arquiteto franco-suíço a terras guanabaras para avaliar o desenho (Corbusier não somente aceitou o convite como atravessou o Atlântico numa viagem de quatro dias feita em Zeppelin). A partir daí, sucederam-se vários projetos. Até o momento de sua aproximação com a família Guinle, por meio de César, o qual teve a idéia de fazer um conjunto residencial em estilo, para desespero dos bons arquitetos, neoclássico. “Aquele hotelzinho Lúcio fez para ele, pelo prazer puro e simples”, conta Maria Elisa. “Como se fosse a síntese de tudo o que ele almejara até aquele momento.” Porque, explica ela, nessa obra está referenciada a viagem a Diamantina – “naturalmente bonita e que não informa algo como ‘olhem, isto é bonito ’”. Um hotel de dois pavimentos, com apenas dez quartos, onde predominam a madeira (o eucalipto) e as pedras recolhidas na região. Tratava-se da adaptação em paredes, pisos e telhados de um vocabulário essencialmente brasileiro, “mas sem o critério folclórico”, ressalta Maria Elisa. Uma arquitetura feita de linhas retas, mas que, internamente, se retorcem. No Park Hotel, também estão expressas as “casas sem dono”, que até ali nunca haviam sido construídas, fazendo desse projeto, por fim, “um resumo singelo do que Lúcio desejava em arquitetura, embora ele não tenha tido essa pretensão”, diz ela. .27 Vista de um dos quartos do hotel | imagem: Cia de Foto O salão que um dia abrigou um refeitório: sem turismo, sem suporte e sem cozinha | imagens: Cia de Foto (à esquerda) e Lourenço Facchetti Além do cuidado com o desenho e o uso dos materiais, Costa projetou, ele mesmo, os móveis do hotel. Cadeiras, mesas, camas – que parecem estar suspensas do chão – foram cuidadosamente pensadas pelo arquiteto. “Com exceção de três cadeiras”, comenta Maria Helena Guinle. Ela se refere a três peças com estrutura de madeira, acentos de lona de tecido e amarras fortes de couro. Essas, escolhidas por Costa, foram desenhadas por certo Peter Wolko, “um designer que, apesar de termos procurado muito, encontramos apenas uma referência: a citação dessa cadeira numa revista estrangeira, na década de 1940”, segundo Maria Helena. Numa noite de 1944, enfim pronta, e “entregue aos cuidados de um hoteleiro suíço, a pousada se iluminou para o nosso comovido e mútuo enlevo”, escreveu Costa. A vida entre as paredes de pedra Muito rapidamente, o Park Hotel virou mais que uma simples paragem. Tornou-se um cantinho para que fluminenses pudessem passar feriados e fins de semana. Também foi muito procurado por recém-casados, inclusive pela própria Maria Elisa Costa. Recebeu personalidades políticas e artísticas: Carlos Manga, Di Cavalcanti, Artur Moreira Lima, Paulo Rónai. Todos eles um dia se hospedaram no hotel, que estava inserido em um dos mais charmosos circuitos de turismo do Rio de Janeiro: a Serra Fluminense, que inclui, além de Friburgo, as cidades de Teresópolis e Petrópolis. Após o primeiro arrendatário, o suíço Edmond Chevret, o Park Hotel ficou a cargo do italiano Giovanni Facchetti, cuja gestão se prolongou até o início dos anos 1960. A partir de 1963, Irene Peterdi, de origem húngara, cuidou do hotel. “Trouxe com ela a culinária do país de nascença, que compôs com uma cozinha convencional que agradava a todos os gostos. Além de uma pâtisserie tão boa quanto a vienense”, lembra Maria Helena. Nessa época, o Park Hotel recebia hóspedes não apenas do Rio, mas também de Brasília, Vitória, Belo Horizonte e de toda a Região Sudeste. Dona Irene ficou à frente do Park Hotel até 1999. Nessa época, o turismo em Friburgo já não estava mais em primeiro lugar no Rio de Janeiro. O hotel, que então se sustentava graças à cozinha da arrendatária, sofreu seu primeiro grande baque quando ela se desligou da administração. César Guinle morreu em 1989. Sem ele, que sempre dera suporte à manutenção do hotel, e sem a cozinha de dona Irene, o que se sucedeu foram tentativas frustradas de manter o estabelecimento funcionando. Em 2002, o casal Nívea e Stefan Schmidt arrendou o hotel e ainda deu um pouco de fôlego ao lugar. Mas os dois operavam driblando os problemas de infra-estrutura, sobretudo a situação precária do telhado. Em 2003, Maria Elisa Costa assumiu a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, uma vez lá, pôde lutar para destinar recursos para a recuperação do imóvel, que, com o Parque Guinle, foi tombado. .28 Quarto que se transformou em depósito | imagem: Cia de Foto Mas a história não raro faz curvas tortas. Mesmo com a filha de um dos maiores arquitetos do Brasil defendendo com unhas e dentes o legado do pai (deixado para o país), o dinheiro para recuperar o hotel tardou a sair, sempre encravado nas burocracias governamentais. Quando liberada a verba destinada unicamente para a recuperação do telhado, no fim de 2003, o casal Nívea e Stefan já tinha perdido o fôlego. O Park Hotel fechou suas portas. Naquele ano, as chuvas foram fortes. O telhado foi substituído sob água, que maltratou o assoalho e a escada de madeira, os móveis desenhados por Costa e tudo o que estava embaixo do forro. Agora, os herdeiros de César Guinle lutam para conseguir recursos para a recuperação do Park Hotel, que necessita de reforma do telhado, descupinização, renovação das redes elétrica e hidráulica, revisão da estrutura, recuperação de pisos de madeira, esquadrias, caixilhos e forro. Em um segundo momento, o restauro prevê a capacitação de jovens de Friburgo para, com a monitoria do designer Arnaldo Danemberg, dar nova vida aos móveis desenhados por Costa. Aliado ao projeto de recuperação, estuda-se um novo uso para o imóvel, como uma escola de culinária ou mesmo um lugar para oficinas de arquitetura. Essas são as idéias para o futuro. Mas lembrar do passado desse hotel é como assistir a um flashback da arquitetura moderna brasileira. Pois o projeto que muito tocou o coração de Lúcio Costa continua encantando estudantes de arquitetura e todos aqueles que, não raro vindos de lugares distantes, visitam o lugar. .29 O primitivo efeito do susto reportagem A Monga, antiga atração de parques de diversão, segue aterrorizando o público com enredo e artimanhas que superam alguns clássicos filmes de terror Novos tempos, velhos medos Por André Seiti Lagarto gigante invade a cidade de Nova York. Alienígena em nave espacial extermina tripulação. Garota endiabrada retorce o pescoço e vomita em padre. Extraterrestres em discos voadores ameaçam destruir a Terra. Ser monstruoso que se camufla na selva dizima soldados. Para alguns, personagens assustadores que se tornam ainda mais tenebrosos com a pirotecnia sem limites dos efeitos especiais hollywoodianos. Para outros, criaturas que estão longe de dar frio na espinha, ainda mais se comparadas ao terror primitivo, em todos os sentidos da palavra, de um dos mais antigos – e ainda assim atuais – personagens do gênero, a Monga, ou a mulher-macaco. Há mais de um século espalhando medo e pânico em circos e parques de diversão de todo o Brasil, a atração parece não sofrer as intempéries cronológicas. “Trata-se de um clássico do terror, como Frankenstein, Drácula e Lobisomem, que adotaram diversos formatos ao longo da evolução do tempo”, explica Juan Espeche, dono da Indiana Mystery, empresa responsável pelo espetáculo no Playcenter, parque de diversão de São Paulo. “Quando algo mexe com o emocional, você jamais esquece dele.” Assim como os famosos personagens de terror, a Monga recebeu uma versão mais atual, devidamente adaptada para os dias de hoje. Mas o medo e a pelugem continuam os mesmos. .30 São menos de 15 minutos de duração. As sessões estão sempre lotadas. O ambiente escuro muito lembra o de um cinema, principalmente quando um filme começa a ser exibido. Nele é contada a história de Julia Pastrana, renomada bióloga mexicana especialista em gastar a fortuna do pai em pesquisas. Em uma de suas investidas científicas, ela descobre algo que nem Charles Darwin imaginaria: criaturas africanas – os famigerados mongas – capazes de alterar o código genético humano com uma simples mordida. Julia reúne sua trupe e parte em uma expedição para o berço da humanidade. Sua equipe é capturada por uma tribo hostil, os sunacos, e oferecida em ritual de sacrifício aos mongas. Como não poderia deixar de ser, a bióloga consegue escapar, não sem antes receber uma mordida que a transforma em mutante. Eis então que é feito o convite ao público para que se dirija à outra sala, onde, vinda diretamente da África, está Julia. “ Vamos embora daqui, eu não quero ver isso”, a súplica de retirada, feita por um garoto à amiga, logo após assistir ao vídeo, é comum. Muitos, prevenidos, desistem de arriscar a pele. Os mais destemidos seguem adiante por um corredor que desemboca em outra sala escura. Lá, enjaulado e acorrentado, está o malfadado macaco gigante que, após receber uma injeção de uma droga chamada Trix 50, se transforma em mulher. Mesmo adequadamente trajada com blusa e camisa brancas, shorts e botas, como uma verdadeira expedicionária (as versões mais tradicionais a apresentavam apenas com um biquíni, uma vestimenta não muito científica), Julia causa frisson nos hormônios do público masculino. Alguns, talvez confundindo medo com sentimentos mais carnais ou esquecendo do imenso perigo que está à frente, arriscam elogiar as formas físicas da garota. Mal sabem eles que o efeito do Trix 50 é passageiro e a transformação da formosa fêmea em aterrorizante símio é iminente. Por meio de efeitos visuais repletos de luzes e de sombras, que dão inveja aos maiores estúdios cinematográficos, o primata dentro de Julia volta a se manifestar e, sem hesitar, quebra corrente e jaula e avança sobre o público. Em questão de segundos a sala escura está vazia. .31 A transformação da mulher em Monga | imagem: André Seiti/Itaú Cultural A bela e a fera Sempre seguindo um roteiro simples (e infalível), a atração continua a despertar a curiosidade e a fascinação de milhares de pessoas por dia. “A magia da Monga está na velha fórmula da bela e a fera”, conta Espeche. “O público se solidariza com a moça bonita ao mesmo tempo que a teme. É um contraste grande.” No entanto, solidariedade foi o que faltou para com a verdadeira Julia Pastrana, a mulher que inspirou a atração da Monga. Provavelmente descendente de índios mexicanos, Julia nasceu em 1834. Portadora de uma doença rara, a hipertricose, que fazia nascer pêlos por todo o corpo, a garota foi “descoberta” pelo comerciante Theodor Lent, que a exibia em circos de horror pelos Estados Unidos e pela Europa, na primeira metade do século XIX. Julia morreu aos 26 anos devido a complicações no parto. Seu filho, que também sofria da doença e era fruto do casamento com o comerciante, sobreviveu apenas três dias. Mas isso não foi problema para o espírito empreendedor e nada oportunista de Lent: ele mandou mumificar a esposa e o filho para prosseguir com seu espetáculo. Hoje, as múmias estão no Instituto Forense de Oslo, na Noruega. (Em tempo: Lent morreu em 1880, em um hospício.) A atração e o alvoroço chegam ao fim, mas ainda é possível ouvir alguns poucos gritos de pavor – misturados com outros de ansiedade do público, em sua maioria estudantes, que aguarda do lado de fora uma das 50 apresentações diárias da Monga. Pessoas que não mais buscam ver anomalias humanas, mas, sim, uma alegoria tipicamente latino-americana. Pessoas que querem ver algo belo que se transforma em algo feio. Pessoas que estão à busca de sustos efêmeros – para o deleite da atriz Ana Sampaio, que interpreta a bióloga Julia e que confessa sentir “certa satisfação em ver o medo nos olhos do público”. Pessoas que sabem que não viverão experiência semelhante em outro lugar, como numa sala de cinema. Afinal, que atire a primeira pedra quem já viu os espectadores fugir amedrontados de uma sala de projeção após assistir ao filme do Lobisomem... *** .32 A bela que vira fera: efeitos especiais primitivos | imagem: André Seiti/Itaú Cultural .33 As incongruências cotidianas reportagem Falhas de continuidade nos filmes e em nosso dia-a-dia Por Thiago Rosenberg Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) se dá conta de que ama Rhett Butler (Clark Gable), com quem se casou por interesse, e em meio à neblina da rua corre para a residência do casal. Chegando lá, empurra a pesada porta e, sem se dar ao trabalho de fechá-la, sobe a escadaria que conduz aos quartos. Cansado do egoísmo e da frieza de Scarlett, seu marido está decidido a deixá-la, e diz que é tarde demais. Na cena seguinte, o rosto do casal ocupa o primeiro plano e, ao fundo, vê-se a porta que Scarlett deixara aberta. Curiosamente, quando Rhett começa a descer os degraus e a seqüência é mostrada em outro ângulo, a porta encontra-se fechada. Esse é um detalhe quase imperceptível a muitos que assistem a essa cena de ...E o Vento Levou (Victor Fleming, 1939), mas que faz a alegria dos que se divertem caçando falhas de continuidade nos filmes. Seja como for, se esses perspicazes espectadores apontassem tal deslize do continuísta aos autores da obra, é possível que ouvissem como resposta algo semelhante à fala final de Rhett, que reduz as súplicas de Scarlett a pó: “Francamente, minha querida, eu não dou a mínima”. Afinal, falhas como essa são naturais – e ocorrem não só nos filmes, mas também em nosso cotidiano. Geralmente, as imagens de um filme não são gravadas na ordem da narrativa. Para atender às demandas de cronograma e de orçamento, é mais conveniente à equipe, por exemplo, rodar de uma só vez todas as cenas que se passam em determinada locação, ou que apresentam os mesmos integrantes do elenco – ainda que estejam desconectadas na história. Além disso, uma mesma cena é filmada diversas vezes, para captar ângulos diferentes, detalhes etc. E, para que esses vários momentos façam algum sentido quando dispostos na ordem correta, alguém – no caso, o continuísta – precisa organizar em relatórios, cadernos de anotações, fotografias o encadeamento preciso da narrativa. Evita-se, assim, que personagens surjam ou desapareçam sem explicação, que objetos do cenário movam-se misteriosamente (como a porta da mansão de Rhett e Scarlett), que a iluminação do ambiente se modifique entre um corte e outro. .34 Montagem de rua em Castro, cidade chilena: a continuidade na vida e na arte | imagem: Joana Amador Zelar pela harmonia de todo um universo – mesmo que fictício – não é tarefa das mais tranqüilas. E, como se não bastasse a sobrecarga que o ofício lhe impõe, o continuísta deve se conformar com um pequeno detalhe, que torna sua profissão uma das mais injustiçadas do meio cinematográfico: seu trabalho, quando bem feito, não é notado por ninguém. Agora, se algo lhe escapa, é bom que esteja preparado para as críticas e as troças do público. Um público que culpa o continuísta pelas incongruências dos filmes, mas que não sabe a quem culpar quando se depara com as incongruências do dia-a-dia, as falhas de continuidade cotidianas, tão ou até mais enigmáticas do que as do cinema. Quebras na linearidade Se, nos filmes, os cenários, os personagens e o enredo estão sempre sujeitos a falhas de continuidade, o mesmo vale para o lado de cá da tela. Atualmente diretor de curtasmetragens e professor em cursos de continuidade e assistência de direção, Eduardo Aguilar começou sua carreira como continuísta – nessa função atuou, entre outros, em Extremos do Prazer (1983), de Carlos Reichenbach. Ele conta que, quando não estava trabalhando, tentava se distanciar das preocupações do set de filmagem, mas “é inevitável ser contaminado pelas necessidades que o trabalho impõe”. Por isso, não deixava de notar quebras na linearidade do dia-a-dia. “Um dos exemplos é o dejà vu”, diz ele. “Quando tenho essa sensação, quando acho que já vivi determinada cena, costumo pensar como continuísta. Procuro recriar todo o momento que acredito já ter vivenciado, para ver se se trata de uma falsa sensação ou se há de fato uma falha de continuidade.” Aguilar dá outro exemplo: “Às vezes perdemos alguma coisa e, para descobrir onde ela pode estar, tentamos lembrar nossos movimentos anteriores. Se encontramos o objeto em um lugar diferente daquele que imaginávamos, talvez tenha ocorrido uma falha de continuidade”. Encontros que, embora marcados, nunca ocorrem; relacionamentos afetivos que, sem motivo expresso no roteiro, terminam de uma hora para outra – ou de um corte para outro –; hematomas que simplesmente surgem em nosso corpo, sem que tenhamos vivenciado alguma cena de ação; a chuva que resolve cair de um céu ensolarado e sem nuvens (o dito “casamento de viúva”) e altera bruscamente o cenário em que esperávamos passar o dia. Quem é o continuísta responsável por essas falhas? E, se elas existem em nosso cotidiano, por que não poderiam ocorrer nos filmes? Nesse sentido, Aguilar entende como algo positivo certas falhas de continuidade no cinema, já que elas aproximam o universo da ficção da vida cotidiana. “Quando vou ao cinema e sinto a idéia de perfeição”, comenta ele, “não gosto do que vejo. Gosto de perceber o humano por trás dos filmes”. .35 Silhueta do coveiro Lilita, o “cabra” que cuida da “porta larga” | imagem: Cia de Foto Retratodedadocumentário, imigrante espanhola Marina Meseguer, há três me A catadora de lixo Estamira, que foi protagonista em 2006 | imagem: divulgação ON-LINE Sua história daria um filme? Você já viveu uma cena de cinema? Já foi ou conhece o protagonista de alguma situação que caberia perfeitamente em um filme – seja ele um drama, um romance, uma comédia, um suspense, um trash? Em caso afirmativo, participe da ação História de cinema e conte esse seu causo cinematográfico à Continuum Itaú Cultural. Os textos podem ser enviados até o dia 23 de novembro ao e-mail participecontinuum@ itaucultural.org.br e devem contar com, no máximo, 2.500 caracteres. A melhor história será publicada na edição de dezembro da revista (impressa e on-line) e, posteriormente, servirá de base para a segunda etapa da ação, que selecionará versões audiovisuais da narração – transformando-a, enfim, em uma história de cinema! O autor do melhor relato também ganhará o livro Ainda Cinema − que reúne ensaios sobre a presença da linguagem cinematográfica nas artes visuais − e os catálogos da exposição e da mostra Cinema Sim, em cartaz no Itaú Cultural até 21 de dezembro. Confira o regulamento: •Os textos devem ser enviados a [email protected] até 23 de novembro de 2008. •Cada participante deve enviar apenas um texto, com, no máximo, 2.500 caracteres. •O texto precisa ser criação própria. O participante será responsável por danos ocorridos a terceiros e assume toda e qualquer responsabilidade civil e penal. Caso isso ocorra, responderá isoladamente, ficando o Itaú Cultural isento de qualquer obrigação. •O participante deve concordar com a difusão de seu depoimento nas versões impressa e on-line da revista Continuum Itaú Cultural e com sua adaptação (pelo próprio selecionado ou por terceiros) para uma futura versão audiovisual. Você já parou para pensar onde está Estamira – do documentário homônimo produzido em 2004 por Marcos Prado – ou Rodrigo Pimentel – ex-capitão do Bope, que participou de Notícias de uma Guerra Particular (1999), de João Moreira Salles, e de Ônibus 174 (2002), de José Padilha? E você já refletiu sobre o que muda na vida de uma pessoa quando participa de um documentário? Em reportagem, saiba o que aconteceu com esses personagens reais depois que o cinema invadiu suas vidas. *** “O filme Um Convidado Bem Trapalhão (The Party, 1968) mudou a minha vida no instante em que saí do cinema, no Guarujá. Eu tinha 5 ou 6 anos. Quando olhei para a rua, os carros passando, as pessoas andando, estranhei aquilo tudo e percebi que tinha passado as duas horas anteriores em outra dimensão.” O documentarista Carlos Nader respondeu, de forma apaixonada, à enquete “Qual filme mudou sua vida?”, proposta pela Continuum. Confira outros depoimentos, entre os quais os dos cineastas Domingos de Oliveira e Murilo Salles, em nosso site. •O texto selecionado poderá ser editado. Envie sugestões, elogios e reclamações a [email protected]. Você também pode publicar seus textos (contos, crônicas, reportagens etc.) sobre cinema e vida. Para saber como, acesse o site da revista. •Não haverá qualquer tipo de retribuição financeira, apenas menção da autoria. www.itaucultural.org.br/continuum •Devem ser indicados, no e-mail, os seguintes dados: nome civil, cidade, endereço eletrônico e telefone. www.itaucultural.org.br/continuum .36 .37 área livre .38 .39 Storyboard do artista Eloar Guazzelli .40 itaú cultural avenida paulista 149 são paulo sp [estação brigadeiro do metrô] fone 11 2168 1777 [email protected] www.itaucultural.org.br
Download