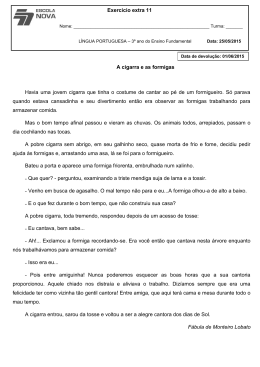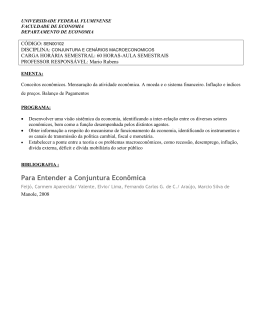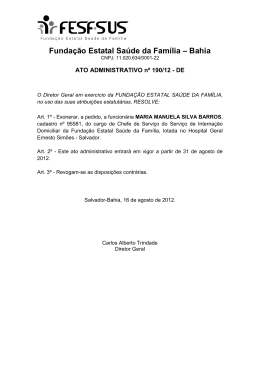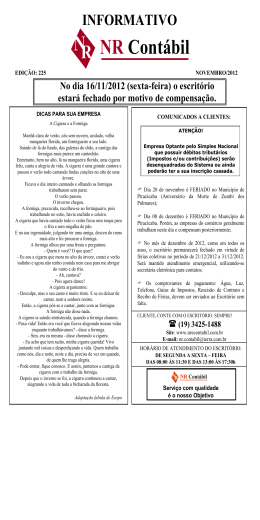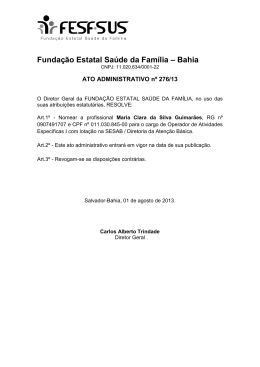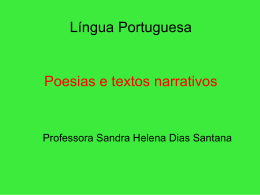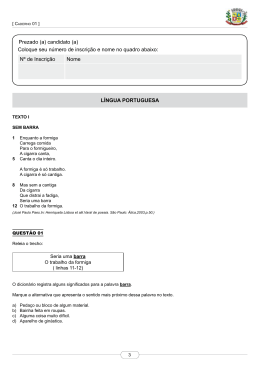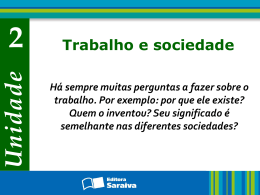ESTADO CIGARRA VERSUS ESTADO FORMIGA: DESENVOLVIMENTO COMO CONDIÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL João Guilherme Duda Por conta das necessidades de superação das grandes guerras, da grande depressão e dos desafios de desenvolvimento do terceiro mundo após a descolonização, o século XX depositou no Estado duas grandes expectativas: bem-estar social e desenvolvimento econômico. Desde 1914, até as crises da década de 1970, novas atribuições do Estado consolidaram-se gradualmente, ganhando terreno a despeito da resistência do discurso conservador do Estado Mínimo. Nas décadas de 1980 e 1990, por outro lado, em virtude de conjunturas fiscais e políticas, o pêndulo favoreceu a chamada onda conservadora, pela qual, diversas atividades econômicas foram retiradas do campo estatal. No campo acadêmico e político, o debate entre essas visões converteu-se numa espécie de bate-boca. Na discussão entre defensores do Estado Mínimo e do Estado Social, apenas quem concorda de antemão se entende e se dedica a um diálogo atento – e tão somente para novamente concordar. Não há construção de ideias entre rivais. Quando a conversa é com ideias opostas, chega ao rancor. A discussão do que se espera do Estado e da política precisa ser séria, mas o objetivo é prejudicado pela repetição dos vícios da citada rivalidade. Hoje, a discussão entre Estado Mínimo e Estado Social é estéril, carente de criatividade, repetitiva, ideológica, maniqueísta e, por vezes, diversionista e manipuladora. Ela quer apenas polarizar e dividir. Ao invés de discussões quantitativas sobre mais ou menos Estado, são urgentes discussões sobre a qualidade das instituições, gastos e prestações públicas. Independentemente do “lado” que se escolha, é preciso que em primeiro lugar prevaleça honestidade e eficiência no uso do poder e dos recursos que a sociedade confere ao Estado. Em segundo lugar, é importante reconhecer que as discordâncias envolvem ajustes finos no aspecto quantitativo e na sua forma de prestação. O Estado será um agente econômico relevante em qualquer nação, com maior força naquelas em que se lançar à execução de projetos de desenvolvimento ou se dedicar a garantir o bem-estar social. Nesses campos, aliás, o Estado não precisa pedir licença para atuar ou justificar sua ação com falhas ou vácuos de mercado. Por outro lado, o mercado será, em regra, o modo de governança das relações econômicas entre os agentes econômicos e os cidadãos. Todos desejam um ensino básico público universal de qualidade, (quase) ninguém deseja frequentar um supermercado estatal portando cupons. No aspecto qualitativo, o grande debate é temporal, diacrônico: o Estado deve ser o agente econômico mais bem dotado de recursos e organização para projetos de grande escala, geradores de externalidades, de uso não exclusivo e, principalmente, de longo prazo. A discussão que vale a pena é aquela entre o Estado focado em entregar utilidades à população de imediato (ou, sobretudo, a seus próprios agentes), e o Estado dedicados a atividades (em regra, investimentos) que permitam, a ele próprio e, principalmente, à sociedade, a geração daquelas múltiplas utilidades que irão satisfazer necessidades (e direitos) fundamentais. É o Estado Consumo que deve ser superado pelo Estado Investimento. É o Estado Cigarra que deve ser substituído pelo Estado Formiga. É o falso Estado Social (cujo consumo na verdade favorece, sobretudo, uma classe média alta e burocrática) que deve ceder espaço ao verdadeiro Estado Desenvolvimentista – patrocinador e gestor de um desenvolvimento que alcance a todas as classes sociais. O veículo desta transição começa pela educação básica – o investimento desenvolvimentista de longo prazo que mais se demanda do Estado. Não importa a cor ideológica de uma pessoa de boa vontade. A maior reforma política de todas é a dos eleitores: quando a maioria dos eleitores deixar de ser formada por analfabetos funcionais, que não conseguem fazer as quatro operações, a democracia se consolidará. Com voto distrital, proporcional ou em lista, financiamento público ou privado, reeleição ou não, mandatos de quatro ou cinco anos, não importa: com liberdade de expressão e educação para entender e interpretar o que se acontece, o melhor voto será dado, a melhor representatividade e a maior participação democráticas serão obtidas. A Vitrine da Conjuntura, Curit iba, v. 7, n. 5, julho 2014 | 1 melhor política criminal é a educação básica – a potencialização do livre arbítrio, consagrando ao cidadão as melhores ferramentas para decidir entre o certo e o errado, os bons e os maus rumos e as oportunidades para a sua vida. A melhor reforma econômica é a educação básica universal e de qualidade. Uma população que dispõe de maneira uniforme de um bom ensino básico possui renda bem distribuída. E as diferenças não serão tanto frutos de desigualdade de oportunidades – como acontece hoje em dia –, mas de méritos. Na relação entre concentração de renda e ensino público, o Brasil tem atualmente o pior modelo possível: o modelo que entrega a uma massa o pior ensino básico entre países com os quais a comparação possa ser pertinente, ao mesmo tempo em que presta a uma pequena fração de privilegiados (sem referência à origem social) uma onerosa educação superior estatal (ou com subsídios estatais) de qualidade – que não está orientada à economia ou à democracia, mas a prestar um serviço público aos alunos, à classe média. Embora seja um pesado fardo à sociedade brasileira, o aluno do ensino superior estatal (e do ensino privado com subsídios públicos) não se vê como detentor de uma missão nacional, um dever de comprometimento, mas como usuário de um serviço público, um detentor de um direito público subjetivo decorrente do seu sucesso no vestibular, ou de uma política de “bem-estar social”. O Brasil, no campo da educação – não importa em qual governo ou período –, vem há décadas, metaforicamente falando, tentando confeitar bolos começando pela cereja e pelo creme, ao invés da farinha, água e fermento. A ausência de ênfase no longo prazo se reflete na geração e distribuição de renda A falta de ênfase no longo prazo – e na educação básica, portanto – não se reflete apenas na distribuição de renda, mas também, e com ainda maior força, na sua geração. Sem educação básica, não há capital humano para a produção, ensino superior, pesquisa e inovações. Sem uma força de trabalho qualificada, não há produtividade – não importa quanto o trabalhador seja explorado ou dedicado. Sem produtividade, toda renda é ilusória, um mero número a ser reequilibrado pela inflação e por ajustes recessivos. O resultado são greves – e elas já vieram –, porque, com a inflação, as pessoas se sentem mais pobres, ao mesmo tempo em que as empresas não conseguem converter resultados em aumentos de salários. O noticiário atual é a prova disso. Basicamente, uma economia nacional produz bens e serviços e por eles paga salários, juros, rendimentos e lucros. Keynes legou o conhecimento de políticas públicas fiscais, monetárias, de salários e rendas que, gerando demanda, incentivam a produção. O problema é que, no Brasil, atualmente, a produção deixou de expandir-se. Sem investimentos, a produção não ocorre para além da simples ocupação da capacidade ociosa, da redução do desemprego ao chamado “desemprego natural”. É a fase que se vive. Chegou-se ao limite, ao esgotamento do modelo. O longo prazo dos neoclássicos chegou, não estamos mortos, como disse Keynes, mas em sérios apuros. Após algum crescimento entre 2004 e 2011 (muito inferior a economias comparáveis, especialmente da América Latina), o modelo baseado no consumo das famílias e do governo se esgotou. Não se investiu o necessário (em infraestrutura, máquinas, capital humano, tecnologia) e não há mais para onde crescer. Não há como se produzir mais, nem ser mais produtivo. Agiu-se como a cigarra, cantou-se bastante (em algum momento, até imaginando que a postura era correta), mas o inverno chegou – e, na economia brasileira invernos não duram três meses, mas podem levar décadas (como aquele entre 1980 e 1993). A renda que cresceu – os salários aumentaram – não encontra mais produtos, porque a produtividade não aumentou no mesmo ritmo. Em linguagem didática, com mais dinheiro na praça disputando os mesmo produtos, o resultado é intuitivo: o mesmo número vale menos, o que significa inflação. Se o desejo é consumir mais produzindo o mesmo, aumentam-se os preços ou se importam produtos (levando-nos a produzir ainda menos). Além da inflação, há crise cambial e de balança de pagamentos, ainda que num horizonte um pouco menos próximo. Vitrine da Conjuntura, Curit iba, v. 7, n. 5, julho 2014 | 2 O inverno apanhou o Brasil desprevenido, e agora duas ações são necessárias: em primeiro lugar, sobreviver. A cigarra não encontrará no inverno as folhas nem o tempo para construir o abrigo que deveria ter feito no verão passado. Ela precisa, portanto, racionalizar o seu consumo se pretende chegar viva à primavera – e fazer de tudo para pedir o mínimo de ajuda possível à formiga, que pode querer se comportar como um José bíblico no Egito, cobrando juros. São os ajustes recessivos. Porém, em segundo lugar, e mais relevante, urge aprender com os erros, deixar de ser cigarra. É preciso compreender que o sacrifício de consumo pode significar poupança e investimento, do que resultará potencial de consumo muito superior. Não são necessários os sonhos bíblicos de José no Egito: é certo que a economia vive flutuações cíclicas, bons e maus momentos, doméstica e internacionalmente. Para quem se prepara, a crise é oportunidade, as instabilidades, inexoráveis. Para sobreviverem, a democracia e a economia precisam de urgentes atenções a ações estatais desenvolvimentistas de longo prazo, começando pela educação básica, mas também à ciência, tecnologia e infraestrutura. O bem-estar social jamais deixará o seu caráter urgente e não deve ser suprimido ou ignorado. Todavia, é imperativo que exista uma hierarquia clara de prioridades: o investimento acima do consumo, o gasto público em bemestar e desenvolvimento antes do gasto público de custeio, atividades-fim acima de atividades-meio, prestação de serviços e utilidades em favor da nação (trabalhadores e empreendedores) com prioridade sobre os gastos com a própria burocracia estatal, educação dos mais pobres (básica) com preferência à educação dos mais ricos (superior). Não existe Estado Mínimo, não existe Estado Social. Existe Estado Honesto e Estado Desonesto, burocracia que quer servir e burocracia que quer ser servida. Existem boas e más instituições, existem agentes bem intencionados e agentes públicos (políticos ou não) mal intencionados. A quem teve o privilégio da educação cabe observar e analisar. Cabe agir. E não apenas nas eleições, mas em cada pequeno gesto, em cada pequeno espaço de participação ou manifestação. Vitrine da Conjuntura, Curit iba, v. 7, n. 5, julho 2014 | 3
Baixar