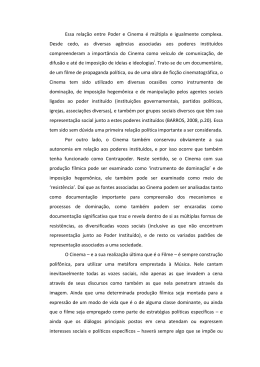Montagem desativadora: Debord, Godard, Cozarinsky Luiz Felipe G. Soares Universidade Federal de Santa Catarina [email protected] Resumo: Proponho ler a montagem de trechos de (1) Guerra de un solo hombre, de Cozarinsky, (2) In girum immus nocte et consummimur igni, de Debord, e (3) Histoire(s) du cinema, de Godard, como montagem desativadora. Trata-se do título de meu atual projeto de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC (Santa Catarina, Brasil), em que se busca pensar cinematograficamente a história enquanto montagem de imagens consideradas sob o ponto de vista warburguiano. Aplicado à organização (justaposição, sobreposição, deslocamento etc) de imagens já prontas (como no caso dos três cineastas aqui mencionados), o método Warburg possibilita, como diria DidiHuberman, uma anacronização da história, e portanto um modo de politização da imagem para além de costumeiras restrições éticas, epistemológicas ou estéticas – para além de afirmação. Proponho assim, aqui, enxergar, nos filmes a serem analisados, a história como montagem desativadora, capaz de desativar certezas, valores, tendências, apegos comunitários em geral. Se Didi-Huberman encara Warburg como fantasma a assombrar a história da arte, a ambição aqui passa a ser trazer essa fantasmagoria para os estudos de cinema. Trocado o sentido atribuído à história (vista, com Benjamin, enquanto catástrofe), a leitura – assim como a montagem – da imagem cinematográfica precisará então ser, não afirmativa (do presente, de uma “realidade”), mas de fato desativadora, atentando para procedimentos como destruição (pela manipulação, pela marcação do material), como choque (eisensteiniano, mas também benjaminiano), como repetição e corte (como Agamben propõe que se veja em Debord, mas também em Godard). Palavras-chave: imagem dialética - Nachleben - montagem - anacronismo 1 Montagem desativadora: Debord, Godard, Cozarinsky No livro das Passagens, Walter Benjamin propõe como desafio ao marxismo um incremento na visibilidade da história, e já indica: “A primeira etapa desse caminho será aplicar à história o princípio da montagem” (N2, 6, p. 503). Para Benjamin, a história é feita de imagens, daí a importância da visibilidade. Politizá-la equivale a dar-lhe visibilidade. E se se trata de imagens, então não é possível ignorar a montagem. A história é, deve ser, montagem. Mais precisamente, em Benjamin, montagem de tempos. Cada imagem é carregada de tempos. Quantos deslocamentos temporais não nos aparecem, por exemplo, ao vermos uma foto qualquer do poderoso destroyer HMS Dauntless, de um bilhão de libras, enviado há pouco tempo ao Atlântico Sul? A imagem vista assim, ela própria como montagem, torna-se em Benjamin imagem dialética: “constelação saturada de tensões” (N 10a, 3) em que o outrora e o agora necessariamente aparecem, suspendendo o tempo cronológico ou historicista, e com ele o próprio pensamento. O lugar da imagem dialética não é arbitrário. “Ela deve ser procurada onde a tensão entre os opostos dialéticos é a maior possível. (...) Ela é idêntica ao objeto histórico e justifica seu arrancamento do continuum da história” (idem). Esse arrancamento depende do olho, e do conceito de história, é claro. É como uma explosão, um susto num momento de perigo. A montagem se dá num flash, numa imagem brilhante em que vários tempos aparecem, como fantasmas. Dá medo. A visão é messiânica: cada imagem é “a porta estreita pela qual podia penetrar o Messias” (Benjamin, 1985, p. 232). E o Messias, nessa dinâmica temporal, é por definição aquele que sempre já chegou como aquele que está pra chegar. Se Benjamin concebia a história como montagem, e como montagem de tempos no tempo messiânico, antes dele Aby Warburg concebia o próprio tempo como montagem, como demonstra Didi-Huberman. Além de seu Atlas ser obviamente um trabalho de montagem, no painel 43 ele monta fragmentos do painel principal da capela Sasseti, pintado por Domenico Ghirlandaio na basílica da Santíssima Trindade em Florença, fazendo ver o próprio de Ghirlandaio como um montador. As cenas reúnem vários tempos fragmentados: o da adoração dos pastores, o da fundação da capela, o da morte do filho de Sassetti, o de uma ressurreição dessa criança, o de São Gerônimo, o de São Francisco, o da aprovação da ordem franciscana, o da família Sassetti, o da vida privada dessa família e sua relação com Lorenzo de Medici etc. Mas para além desses fragmentos de tempo já proliferantes, aparecem no afresco, em seus símbolos e alusões, outras complexidades temporais ainda mais 2 desafiadoras: fragmentos de toda uma tradição mística que Warburg recupera contra a visão impositiva da prevalência do equilíbrio e da razão no Renascimento. Esse resgate do mágico e da astrologia que sobrevivem para além do Renascimento, por sua vez, vai problematizar em Warburg, leitor de Nietzsche, o próprio estudo da complexa antiguidade grega, apontando conflitos violentos de tempos, entre o que prevalece do helenismo na história triunfal e o quanto esse mesmo helenismo foi constitutivamente contaminado por demônios antigos. O fundo preto dos paineis do Atlas, sugere ainda Didi-Huberman, é ele próprio o princípio da montagem, conjugado com as pinças que Warburg usava para pendurar as fotos e movê-las à vontade, operando sua iconologia dos intervalos: é no intervalo que está a potência da sobrevivência das imagens, dos tempos. Ele compunha um painel e o fotografava inteiro. Cada painel então tornava-se, nas fotos, fragmentos de um outro conjunto maior. O Atlas se torna, então, série de séries, ou melhor, série movente de séries moventes, movimento incessante, já que cada fragmento movente já vem, ele próprio, carregado de movimentos de tempos diferentes. Não há, em Warburg, como conceber o tempo sem a montagem. O Atlas, bem como toda a concepção anacronizante de tempo, a partir da Nachleben warburguiana, é uma dialética proliferante, absolutamente incontrolável: o que sobrevive, o que se mostra como vida póstuma, não é mero fragmento definido ou definidor de um passado estável; é ele próprio, o fragmento, em sua relação mutuamente constitutiva com o intervalo, uma complexidade incontrolável de tempos, um desafio permanentemente ao historiador. O próprio Eisenstein reforça essa concepção de montagem para além de um procedimento técnico da narrativa cinematográfica, e até para além de si mesmo. Em seu ensaio “Laocoonte”, de 1939, ele rejeita sua postura anterior quanto à montagem, essa mais conhecida, mais ligada ao cinema em geral, e à concepção hegeliano-marxista de arte em particular. Diz que em 1929 sua interpretação da montagem “era ainda excessivamente mecanicista” (200). Recusa justamente qualquer possibilidade de esquematizar o choque. E o próprio choque, por sua vez, passa a uma condição bem menos importante ou visível nessa nova concepção, que valoriza acima de tudo a simultaneidade. As imagens simultâneas agora não são mais, necessariamente, opostas ou contrastantes em seu sentido ou em sua composição, a relação é mais complexa. Do conhecido ensaio “Dramaturgia da forma do filme”, de 1929 (ano de O velho e o novo) ao “Laocoonte”, 10 anos de intervalo, é possível ler a desidealização da revolução ou do sonho leninista e uma espécie de generalização radical das possibilidades de relação entre as imagens montadas. Elas não precisam nem mesmo 3 passar por um processo de montagem – manual, mecânico ou, como seria o caso posteriormente, eletrônico ou digital. Quem opera a montagem agora é a própria simultaneidade, ou melhor, o próprio tempo – potencialmente em qualquer imagem, para além do cinema. Na verdade, qualquer imagem, por mais congelada que pareça estar, contém, monadologicamente, via montagem, todos os tempos necessários aos movimentos ali impressos. É essa a leitura que Eisenstein faz do Laocoonte, opondo-se obviamente a Lessing. Sua leitura desierarquiza pintura, escultura, poema e narrativa literária quanto a uma necessária prevalência da sequência ou da simultaneidade de acontecimentos (153). Aos olhos da montagem, é tão absurdo considerar a pintura como retrato de um instante ou de um acontecimento, quanto a prosa ou o filme como a sequência de vários. O rosto de Laocoonte, por exemplo, acumula tensões musculares que um rosto humano qualquer não pode ter ao mesmo tempo. O movimento corresponde, não só no cinema, a uma acumulação de fragmentos, sequencial ou não, a ser lida como imagem. Para Eisenstein agora, se algo é lido, então é imagem, “é lido porque é imagem” (192). A percepção sempre pressupõe um obturador que abre e fecha, desconsiderando estados transitórios. O cinema, assim é um Urphänomen. É “a imagem que decide tudo! E a imagem do movimento deve ser o centro da atenção para qualquer escritor em cuja mente queima o Urphänomen do filme, ou antes as precondições (...) que sustentam o princípio desse Urphänomen, e para o qual a forma cinematográfica em todas as suas ramificações é apenas a variante mais coerente e nua” (192-3). O movimento é dado no detalhe, reside nele. É dionisíaco, explodido, sem forma contínua, monstruoso, feito necessariamente de fragmentos e elos. Aquilo que interessa na imagem “deve crescer dentro de uma imagem singular, a partir da combinação dinâmica de incontáveis pequenos elos, em vez de estarem grudados, sem vida, no encadeamento de uma enfadonha crônica de eventos” (202). Encarar a montagem para além de sua função narrativa ou expressiva em filmes equivale a valorizar seu caráter poético, não linguístico, em meio a imagens que proliferam, não como elos em uma corrente, mas como universos, como potência. A montagem assim deixa de ser instrumento de representação, ou de ações afirmativas, e passa a ser energia desativadora – de certezas, valores, tendências, apegos comunitários em geral. Se cada imagem pode ser sempre outra coisa, outro tempo, se de cada intervalo surgem relações novas, imagens novas, então nada pode ser afirmado com certeza, nada pode ter caráter assertivo, definitivo – ou pelo menos, cada certeza passa a ser, como sempre foi, um delírio. 4 Esse jogo é especialmente surpreendente em filmes feitos com imagens de arquivo, imagens prévias ao próprio filme, acima de tudo porque neles a montagem prevalece como procedimento em relação à própria construção de imagens. Os montadores brincam com a pretensa autenticidade representativa, para afirmação ou denúncia, normalmente atribuída às imagens de arquivos. Mesmo quando dão um tratamento analítico à imagem, ampliando-a ou dividindo-a em detalhes – mostrando a falta despercebida pelo juiz de futebol, os detalhes do sequestro do ônibus, a inexistência do avião que supostamente explodiu o prédio etc –, o que mostram é justamente a possibilidade infinita de flashes novos, perigos novos, revelações, evidências. Em seu In girum imus nocte et consumimur igni, Guy Debord monta imagens aparentemente desconexas, a maioria já disseminada. Anúncios em revistas, fachadas de prédios, modelos em desfile, índios dançando, fábricas, o Príncipe Valente, o mapa de uma cidade do império Romano, as aventuras do Zorro, o cotidiano de Veneza, westerns americanos, sequencias de Marcel Carné, festas de classe média etc: a aparente desconexão, que nem sempre se mantém, convida para a construção de relações, não só entre as imagens, mas também entre cada imagem e o texto em off. Debord não nega frontalmente a representação, suas imagens não a destituem, chegam mesmo a se aproveitar dela. É justamente a “monarquia da representação” que nos permite ver a desconexão. Mais do que negar, Debord por vezes utiliza ironicamente a representação, oferecendo a imagem enquanto imagem, capaz de representar ou não, mostrar ou esconder. Agamben já apontou aí, nesse mesmo filme, a intimidade da relação entre imagem e história, sob o ponto de vista messiânico, benjaminiano, fazendo ver a imagem dialética. Diz Agamben que Debord consegue isso, na radicalidade de sua estratégia situacionista, justamente através da montagem, cujos transcendentais são a repetição e o corte, o que se torna emblemático justamente nesse filme. Junto com a força poética e política que cada imagem adquire com a exploração intensa de repetição e corte, a tensão dinâmica entre tempos ainda se intensifica nos intervalos desse filme, ou seja, no jogo de conexões e desconexões. Há referência à obsolescência e à trivialidade dos produtos industriais, da comida ao carro, tanto nas imagens quanto no texto, aprofundando a proposta inicial de apontar o público de cinema como escravo de todo um estado de coisas que separa a sociedade da potência de vida sonhada pelo ideal revolucionário. O texto tem relação com o que de modo geral é representado. Acusa o fato inédito de trabalhadores especializados terem que cozinhar seu próprio alimento e dirigir seu próprio carro, enquanto alimentos e carros aparecem 5 em momentos mais ou menos próximos aos das respectivas palavras faladas. Estabelecido o jogo de conexões referenciais frágeis, vemos, após um breve silêncio, a repetição da foto publicitária de uma família feliz que já havia permanecido por um bom tempo na tela. Então os tempos em tensão começam a proliferar. Sob a foto o texto, bem disciplinado quanto a sintaxe e encadeamento lógico, volta a se referir ao público de cinema, sugerindo que um filme que lhe revelasse as verdades dessa escravidão teria pelo menos esse mérito. Mais um silêncio breve, e vemos dois rápidos planos rápidos de um trailer, em francês, de Die schönste Tag meines Lebens (Max Neufeld, 1957), com crianças de escola em fila. Em seguida, um trailer razoavelmente longo (1:20) de The Adventures of Robin Hood de Michael Curtiz e William Keighley (1938), com Errol Flynn e Olivia de Havilland. No início desse trailer, ouvimos ainda a voz de Debord, depois as falas do próprio filme, dublado em francês, alternadas com as do locutor do trailer. Já nesse momento, a relação primeira, primária, entre o cinema e a vida escravizada nas estradas, no trabalho, no supermercado ou em casa está no texto agressivo do situacionista: “esse público que quer se mostrar conhecedor de tudo e que em tudo desculpa o que lhe impingiram, que aceita ver o pão que come e o ar que respira, como sua carne e sua casa, tornados mais e mais repugnantes, não reclama da transformação a não ser quando ocorre ao cinema a que se habituou. E, aparentemente, é o único de seus hábitos que foi respeitado”. O Robin Hood americano aparece como filme alienante emblemático, caro ao tal “público de cinema” da imaginação apocalíptica de Debord. Mas sob essas imagens dos trailers, a voz de Debord nos diz: Haverá apenas eu mesmo, desde muito tempo, para ofendê-lo [ao público] nessa matéria. Pois todo o resto, ainda que modernizado às vezes por inspiração de alguns debates postos no gosto do dia pela imprensa, postula a inocência de um tal público, e, segundo o costume fundamental do cinema, mostra-lhe o que acontece à distância: diferentes tipos de celebridades que vivem no seu lugar e que tem contemplado pelo buraco da fechadura de uma familiaridade canalha. É suficientemente conhecida a retórica arrogante e autorreferente de Debord, algo como se o eu que escreve pressupusesse, como na fala acima, ter um poder de salvação do mundo, ou pelo menos de oposição única e importante a ele, como se “todo o resto” fosse incapaz de mudar a dura realidade. A estratégia de Debord é, ainda, traçada a partir de estrategistas famosos dos relatos de guerra canonizados pela historiografia europeia, como ele expõe no Panegírico (17): 6 Interessei-me muito pela guerra, pelos teóricos da estratégica, mas também pelas memórias de batalhas ou de tantos outros tumultos que a história menciona, redemoinhos na superfície do rio por onde o tempo se escoa. Não ignoro ser a guerra à matéria mesma do perigo e da decepção; mais até porventura que as restantes feições da vida. (...) Estudei, por conseguinte, a lógica da guerra. Consegui, de resto, já há bastante tempo, expor o essencial dos seus movimentos num campo de batalha muito simples. Tornando-se autor, em seus filmes, notadamente enquanto montador e guerreiro, Debord demonstra, em passagens como essa do trailer de Robin Hood, a óbvia impossibilidade de controle sobre sua estratégia: justamente ali, no emblema do conformismo desse “tal público”, Debord tem sua imagem estranhamente colada à de Robin Hood, o heroi que estrategicamente se afasta da comunidade para manter sua oposição crítica em relação a ela, o heroi inacessível, maldito, escondido em suas certezas e em seu autoelogio, capaz de sacrificar sua própria existência enquanto parte da comunidade que salva. Depois que a voz em off de Debord cede seu lugar às vozes do trailer, há um momento de hesitação, próprio aos herois, em que Robin Hood diz de si mesmo, na versão dublada: “Robin de Bois est fini, mort!” E imediatamente a voz off do trailer o corrige: “Non, Robin de Bois est plus vivant que jamais, et il vous enthousiasmera par son incomparable audace!” O montador/heroi, maldito e ambivalente, brinca com a própria montagem do trailer, peça comercial feita, como o próprio filme de Debord, da montagem de imagens prévias. Montagem de montagem, autorretrato, multiplicação de tensões – entre Debord e Robin Hood, ricos e pobres, vida e morte, vida plena e vida restrita, França do século 20 e Inglaterra medieval, público de Hollywood e público de Debord etc. O filme é carregado dessas tensões que o montador Debord produz em torno de sua própria figura escondida, desativando portanto, a sua revelia, a posição de mártir que ele ao mesmo tempo constroi com aparente serenidade guerreira. Mais perto do fim, a voz comenta o período feliz em vivido em Florença com amigos – aparecem aqui as fotos de Alice Becker-Ho e da amiga Celeste. Diz ter ido em busca de uma cidade onde era menos conhecido, para pouco depois ser banido também de lá. Durante o sobrevoo da câmera pela foto aérea de Florença, a voz reclama de calúnias sofridas. No travelling que se segue, feito de um barco, do palácio da Alfândega de Veneza, o texto em off é referencial, descrevendo o que se vê e comentando a rapidez dos movimentos da vida. Então começam a aparecer personagens, gestos e lugares que compõem Debord como num mosaico temporal de arte e guerra. Primeiro uma foto de jornal muito 7 ampliada, pontilhada, do grupo dadaísta: também um travelling, mas em silêncio. Seguem o Cardeal de Retz; o general von Clausewitz; uma cena, provavelmente de filme americano, do desembarque na Normandia; toda uma sequência de Les enfants du paradise, de Marcel Carné, filme de 1945, feito durante a ocupação; fachadas de casas francesas, com a voz valorizando o quanto as portas conseguem manter afastadas pessoas indesejadas. Surgem então artistas contemporâneos a Debord: Ghislain de Marbaix, Robert Fonta e o mais conhecido deles, Asger Jorn. Depois de um quadro parado do Príncipe Valente, vem a cena de Visiteurs du soir, também de Marcel Carné, de 1942, em que pessoas se apoiam na grade da cela para ver Gilles (Alain Cuny) cantando lá dentro: “où sont les fleurs du jour?”. (Curiosa a analogia deste plano com o primeiro do filme, em que o tal público de cinema que Debord despreza, olhando para a tela, parece quase nos olhar, numa circularidade que reverbera o sentido circular do título palindrômico. Aqui, o eixo do olhar do “público” da cadeia também nos atinge, alguns personagens de fato nos olham; a câmera se afasta para trás, em seguida vemos o contraplano, ou seja, Gilles acorrentado. Estamos dentro da cela, entre a grade e as correntes, entre a prisão do olhar e a do corpo. Somos de fato o público de Debord: encaramos o “público de cinema” enclausurado de um lado, o mártir de outro, serenamente acorrentado, cantando a invisibilidade das fleurs du jour. Visão obtida através de outra montagem de montagem.) Segue uma sequência de ação de The Charge of the Light Brigade, outro filme de Michael Curtiz, de 1936, feito a partir do poema de Tennyson, também com Errol Flynn (no papel do major Geoffrey Vickers, na Guerra da Criméia). Mais uma vez, junto com Errol Flynn aparece Debord, mas agora numa rápida série de fotos de seu rosto, dispostas em ordem cronológica: aos 19 anos, depois aos 25, 27, 31, 45. A primeira já havia aparecido no filme, sobre a fala que dá a referência (“quand j’avais dix-neuf ans”). Na última, o estrategista aparenta mais do que 45. Mais gordo, cabelos brancos, olhos claros cansados, levemente ansiosos, sem os óculos, sem a serenidade firme do revolucionário das imagens anteriores. Toda a série aparece e some em 24 segundos, como que pressionada pelas imagens que a cercam. As fotos não são nítidas: sem resolução e mal conservadas. Reafirmam-se como raridade, como se o próprio Debord tivesse se esforçado para encontrá-las. E se antes da série vemos Flynn, ou o major Vickers, seguido por três fotos de amigos de Debord, imediatamente depois dela vemos o autorretrato de Rembrandt, de 1661, também com seu duplo envelhecimento: o rosto e a tela, craquelada. Aqui também o rosto, do pouco que se pode ver, aparece 8 cansado, num tempo em que Rembrandt já não era mais rico e se isolava modestamente em Amsterdam com outros artistas, sendo enterrado poucos anos depois numa cova alugada qualquer. A história, assim, feita ela própria de imagens montadas, dobra-se sobre o montador/mártir, envolve-o e o faz aparecer misturado a ela, de modo a não haver sentido tentar distinguir entre “a história” e “a história dele”, ou a de alguém. É como o passado em Bergson: não há pronome possessivo adequado a ele. Com isso, o montador não consegue exatamente mostrar a história, apontar para ela, denunciar algo dentro dela, como parece propor a voz (off) de Debord. Isso seria possível se o sujeito tivesse uma sua história, separada de uma outra história, o que seria ficção do indivíduo, impossível ao sujeito. O que o gesto de montagem faz, para além do sentido referencial da voz de Debord, é desativar a história, anacronizá-la, privá-la de suas certezas e seus fluxos costumeiros, impositivos, historicistas. Mais do que denúncia da sociedade do espetáculo, é preciso ver nessa desativação que se faz à revelia de Debord, diria Nancy, o espetáculo da sociedade, a sociedade sempre já como espetáculo. O contrato social não é a conclusão de um acordo, mas o próprio teatro onde o acordo vem sendo tentado há séculos, o teatro onde se tenta representar a “sociedade ocidental”. A crença na possibilidade de uma sociedade, em particular, que fosse do espetáculo equivale à referência situacionista, herdeira de Rousseau, a uma verdade, a uma apropriação subjetiva da vida verdadeira, ligada à autossatisfação. Do mesmo modo, como já argumentei em outro texto, é preciso também ler Godard para além de Godard, ler sua(s) Histoire(s) du cinéma como ensaio de montagem em que a(s) história(s) é(são), ainda com Nancy, necessariamente singular plural – a começar pela ambivalência do “s” do título. Com obsessão desmedida por milhares de imagens prévias – já disseminadas, não só pelo cinema –, Godard constroi um espasmo contraditoriamente duradouro e minucioso, no qual a singularidade trabalhosa de cada uma das milhares de inserções (singulares enquanto inserções) só faz sentido em meio a essa pluralidade torrencial – e vice-versa. A dificuldade de enxergar com calma, em detalhe, cada coisa individualmente aponta, no mosaico dinâmico, para a própria impossibilidade de enxergar o real, ou melhor, o Ser: não só comenta como também assume a invisibilidade do visível. E vai além, em termos ético-ontológicos, ao mostrar que o Ser (do mundo, da história) não aparece, não é mesmo, em cada coisa – se há Ser, só o há no interstício: qualquer ser só é (e só é história) com outro, entre outros. Ler a(s) Histoire(s) como história(s) inevitavelmente singular plural é lê-la(s) à 9 revelia de um Godard paradoxalmente estabilizado na imagem que vem sendo petrificada há mais de 50 anos, de cineasta irreverente e hermético.A montagem de Godard, a partir da desontologia de Nancy, torna-se destruidora de todo impulso de linearidade; nela aparece, entre outras propostas que relampejam simultaneamente, aquela de que o cinema seja pensamento, forma que pensa, para além de real ou ficcional. Por cima de quase todas as teorias, ou histórias, do cinema que dominam os “Estudos de Cinema”, essa(s) história(s) desestabelece(m) o cinema enquanto coisa, produto, comunicação, e recupera(m) uma discreta sutileza que poderia defini-lo, mas que foi varrida, quase definitivamente, em Auschwitz: o fato de ele ter surgido junto com a pintura moderna, de ter sido inventado por Manet. No filme da(s) Histoire(s), enquanto vemos rostos de personagens de Manet, rostos que pensam algo diferente daquilo que pensam os rostos de Vinci, Vermeer ou Corot, ouvimos a voz de Godard propondo: toutes les femmes de Manet ont l’air de dire je sais à quoi tu penses sans doute parce que jusqu’à ce peintre et je savais par Malraux la réalité intérieure restait plus subtile que le cosmos (...) parce que le monde enfin le monde intérieur a rejoint le cosmos et qu’avec Edouard Manet commence la peinture moderne c’est-à-dire le cinématographe (…) une forme qui pensé que le cinéma soit d’abord fait pour penser on l’oubliera tout de suite mais c’est une autre histoire la flamme s’éteindra définitivement 10 à Auschwitz et cette pensée vaut bien un fifrelin (IIIa, 48-57) É importante notar que se Manet é inventor do cinema, isso acontece não só por nos ter oferecido pinceladas como fragmentos de uma imagem montada, totalizada quando vista um pouco mais de longe. A invenção está também, e principalmente, porque ao olharmos a imagem vemos nela, nos olhos dela, igualmente, como numa fusão, a imagem do que estamos pensando, ou melhor, uma imagem que sabe o que estamos pensando, o que estamos vendo. A energia desse jogo parece abastecer o esforço descomunal da montagem de todos os oito filmes da(s) Histoire(s). Há, talvez na maior parte do tempo dos filmes, quase que uma indecidibilidade entre sobreposição direta, ou fusão, e efeito de sobreposição por justaposições muito rápidas – como na placa que gira mostrando de um lado o pássaro, do outro a gaiola. É o que acontece, por exemplo, na citação de Os pássaros, quando Godard conjuga aviões de guerra à correria desesperada dos moradores da cidade. De modo geral, Godard não para de realimentar o jogo entre imagem e pensamento inaugurado por Manet: vemos o que vemos e o que pensamos, vendo também que o que vemos sabe o que pensamos. Assim, a(s) história(s) do cinema é(são) necessariamente cinema. E necessariamente história(s), notadamente quando enxergamos nela(s) a montagem guiada por pathosformeln warburguianas – é assim com os cabelos das personagens de filmes completamente diferentes, incluindo Branca de neve, com rostos delicados como o de Julie Delpy, com angulações singulares de rostos, com cores retrabalhadas etc. Do mesmo modo, Godard constroi a(s) história(s) com o cinema ao acumular detritos, ao trabalhar benjaminianamente as imagens do horror, a partir do pressuposto de que o esquecimento do extermínio faz parte do extermínio (Ia, 109). Sendo assim, podemos acompanhar o mesmo jogo em Cozarinsky. Em La guerra de un solo hombre, ele resgata imagens da ocupação de Paris, sob as quais desfilam imagens já por si sós contraditórias do texto de Ernst Jünger, nazista aristocrático apaixonado pela cultura parisiense e exasperado com o horror que ajuda a produzir. O filme foi feito, também na França, em 1981, ou seja, entre o In girum... de Debord e o primeiro Histoire(s) de Godard. Tendo à mão um conjunto farto de imagens preciosas dos acervos da ocupação, Cozarinsky valoriza na montagem cenas de um cotidiano parisiense apresentado como corajoso, positivo, de gente que sabe compensar a escassez com criatividade. Ao inserir trechos de um cinejornal em que modelos 11 demonstram chapeus elegantes feitos com papel de jornal, o ritmo do cinejornal é transferido para o filme, com toda adequação, e a autoria da montagem parece passar a ser de Cozarinsky. Se à época os parisienses no cinema podiam tentar identificar as notícias, as imagens no chapeu, hoje, em Cozarinsky, essa adequação de ritmo reforça o espanto com a espontaneidade nonsense dessa parte da Résistance, ao mesmo tempo em que faz ver, na montagem, o próprio pensamento possível sobre imagens, impressões, jornais, cinejornais, tempos, resistências materiais. Trinta anos depois, em Apuntes para una biografía imaginaria, de 2010, Cozarinsky revê boa parte de seu próprio cinema, utilizando ainda na montagem o procedimento warburguiano das pathosformeln e (portanto) fazendo a história (sem pronome possessivo) envolvê-lo. Aludindo a seus Fantasmas de Tânger (1998), citado no filme, e Bulevares do crepúsculo (1992), Cozarinsky aparece como fantasma em seu próprio filme. Se o cinema, também em Cozarinsky, é lugar em que a imagem faz aparecer o pensamento de quem vê, nele o jogo adquire uma complexidade a mais, aquela relativa a sua obsessão com o teatro e a música. A imagem aqui, trabalhada pela montagem, já pensamento e história(s), é ainda duplicada pela verdade teatral. Em Bulevares, o fato de Falconetti e Le Vigan serem atores conduz o redobramento da história do século 20 em torno do montador, com todos os estilhaços que se projetam no eixo Buenos Aires – Paris. Em Fantasmas, o escritor protagonista é fabricado, personagem de um autor, mas é verdadeiro ao conversar com gente que realmente mora na cidade e conhece seus acervos. É a potência do falso dos atores que esvazia as imagens do peso de sua pretensa autenticidade referencial para liberar, na montagem, no jogo entre imagens, a visão do singular plural como única possibilidade do ser. Do mesmo modo, a maior parte das imagens de Guerra de un solo hombre assume uma carga surrealista, não apenas pela circunstância da ocupação – um rebanho bovino atravessa uma das pontes do Sena, por exemplo, com a torre ao fundo –, mas também pela surpreendente espontaneidade dos personagens que aparecem na maioria dos planos, sejam eles nazistas em suas atividades militares, sejam eles parisienses em suas soluções criativas: há quase sempre um ar de felicidade, por esperança ou compensação, nos rostos e corpos os mais variados. São personagens num teatro que passa a ser emblema tenebroso do próprio contrato social – teatro, repito, com Nancy, onde se tenta representar a “sociedade ocidental”. Num nível musical, em que a montagem mantém a energia do jogo desativador da(s) história(s), aparece a música, dividida ironicamente em duas categorias, a partir da divisão nazista, como nos farão ver os créditos finais: “Musique ‘aryenne’: Hans Pfitzner, Richard Strauss / Musique 12 ‘dégénéré’: Arnold Schönberg, Franz Schreker”. O recurso simples da diminuição da velocidade imagem, na moviola, é usado em Apuntes para oferecer um dos exemplos mais contundentes desse esvaziamento referencial da imagem. Vemos imagens de arquivo do dia do encontro entre Eisenhower e Stalin no Kremlin, em 1945, selando a vitória aliada. Militares, trabalhadores e crianças desfilam, centenas de pessoas assistem, e os planos se alternam com closes ou planos médios dos dois líderes. A voz de Cozarinsky sumaria a história. Então vemos, em primeiro plano, o rosto de Franziska Gaal, que estava na praça assistindo à cerimônia. O cinegrafista parece tê-lo enquadrado por um breve momento, talvez por têlo reconhecido de um dos três filmes americanos que ela fez nos fins dos anos 30 (o primeiro deles em 1938, The Bucaneer, de Cecil B. de Mille). Esse breve momento se estende, bem lento, enquanto a voz faz uma pequena biografia da atriz, que em 1940 foi visitar a mãe doente na Hungria e não pode voltar aos EUA nem à fama. Em seguida, ainda sob o rosto sorridente, envolto em chapéu escuro de aba redonda, a voz simplesmente pergunta: “¿qué hacía esa [Gaal] mañana de sol en la Plaza Roja?” Assim como valorizou a investigação do destino de Falconetti, também atriz de carreira curta no cinema, em meio a tantos assuntos vibrantes a chamar a atenção de um cineasta curioso, Cozarinsky agora assombra a imagem inaugural da Guerra Fria com a pergunta que deixa no ar ainda ensolarado do Kremlin: uma pergunta simples, sem qualquer possibilidade de resposta que faça sentido. As vozes e os corpos de Debord, Godard e Cozarinsky aparecem em seus próprios filmes – com destaque para suas mãos. A partir da montagem em Benjamin, Warburg e Eisenstein, e pressupondo o ser singular plural de Nancy, talvez possamos considerar suas respectivas dinâmicas de montagem de imagens prévias como paradigmáticas da potência desativadora da montagem, para além do cinema, para além das afirmações. Referências: AGAMBEN, Giorgio. “Aby Wargurg e la scienza senza nome”. In: ____. La potenza del pensiero: saggi e conferenze. Roma: Neri Pozza, 2005. AGAMBEN, Giorgio. “O cinema de Guy Debord” (conferência em Genebra, 1995). Tradução (do francês) de Antônio Carlos Santos (fotocopiado). BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras escolhidas, v. 1). Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. 13 BENJAMIN, Walter. Passagens. Organização de Willi Bolle. Tradução de Irene Aron et alli. Belo Horizonte/São Paulo: UFMG/Imprensa Oficial, 2006. BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2002. CANGI, Adrián. Jean-Luc Godard: “Poetizar sobre las ruinas entre la historia y el acontecimiento”. In: GODARD. Historia(s) del cine. Traducción de Tola Pizarro y Adrián Cangi. Buenos Aires: Caja Negra, 2007, p. 11-58. DEBORD, Guy. In girum imus nocte et consumimur igni e Crítica da separação. Tradução de Ricardo Pinto de Souza. Notas de Ken Knabb. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2010. DEBORD, Guy. Panegírico. Tradução de Edison Cardoni. São Paulo: Conrad, 2002. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. DELEUZE, Gilles. Cinema: a imagem-movimento. Tradução de Stela Senra. São Paulo: Brasiliense, 1985. DELEUZE, Gilles. Imagem-tempo: cinema 2. Tradução de Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1990. DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Traducción de Oscar Antonio O. Funes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006. DIDI-HUBERMAN, Georges. “Atlas: como levar o mundo nas costas?” Tradução de Alexandre Nodari. http://www.culturaebarbarie.org/sopro/outros/atlas.html DIDI-HUBERMAN, Georges. L’image survivante: histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg. Paris: Minuit, 2002. DIDI-HUBERMAN, Georges. Lo que vemos, lo que nos mira. Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires: Manantial, 2006. EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Tradução de Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. EISENSTEIN, Sergei. Towards a theory of montage (Sergei Eisenstein Selected Works, volume II). Translated by Michael Glenny. Edited by Michael Glenny and Richard Taylor. Londo/New York: I. B. Tauris, 2010. FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. São Paulo: Paz e Terra, 1989. GODARD, Jean-Luc. Histoire(s) du cinéma (4 vols.). Paris: Gallimard-Gaumont, 1998. NANCY, Jean-Luc. Being singular plural. Translated by de Robert D. Richardson and Anne E. O'Byrne (from Être singulier pluriel, Paris: Galilée, 1996). Stanford: Stanford University Press, 2000. NANCY, Jean-Luc. La evidencia del cine: el cine de Abbas Kiarostami. Madri: Errata Naturae, 2008. Soares, Luiz Felipe. Jean-Luc(s). Crítica cultural, v. 4, n. 1. Florianópolis: Unisul, junho de 2009, p. 127150. TELLES, Renata Praça de Souza. Roberto Schwarz vai ao cinema: imagem, tempo e política (tese de doutorado). Florianópolis: UFSC/PGLB, 2005. WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Akal, 2010. WARBURG, Aby. “Imagens da região dos índios Pueblo da América do Norte”. Tradução de Jason Campelo. Concinnitas, ano 6, vol. 1, no. 8, julho de 2005, p. 9-29. 14
Download