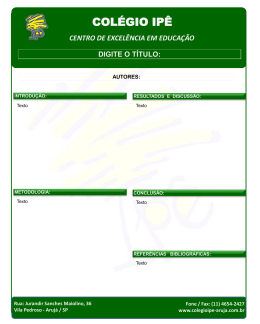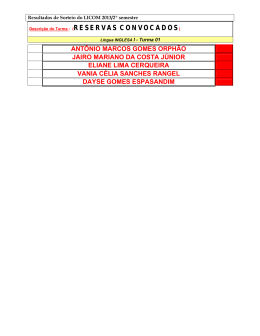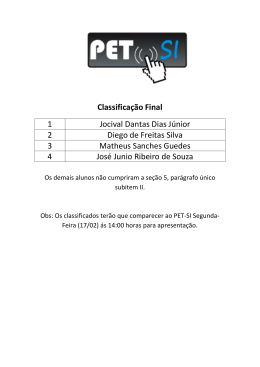Para a Pku, o David e alguns amigos que confidencialmente investiram no manuscrito. Em memória dos meus avós, Raul e Maria de Lurdes. Fevereiro de 2005 J. V. DADOS PESSOAIS Arquivo Periférico Secção XV 12 Processo 213.13/80 DCCCO PIN Sebastião Duval Sanches, aka SD Sanches, aka SD. Detective de bairro, exercendo sem autorização legal. Como fachada profissional, fundou a agência denominada Pistas & Percursos, com sede social numa fábrica de bolos semiclandestina. Nascido a 13 de Março de 1953, em local não referenciado. Cidadão português. Licenciado em Geografia (UL, 1976), mestre em Cartografia (Harvard, EUA, 1989). Ex-COE da PIN (1971-1991), ex-CO do SIG (1991-2000). Altura considerada suficiente para situações dúbias, peso adequado à idade. Cabelo castanho-claro, olhos secos, de tom indefinido. Resumo de sinais particulares pertinentes: rugas de expressão no rosto, tom de voz extremamente baixo, andar lento. Usa com frequência a expressão «é grave, é muito grave», que considera adequada à sua maneira de ver a vida. No campo das vulnerabilidades, mantém relações estreitas com o oficial polaco Koinsky, mapas, pães-de-deus, e os cidadãos portugueses Aurélio Vicente, aka Mestre Vicente, Rufino Laré, aka o Laré, Tânia Maria dos Santos, aka Tânia, Humberto António Plácido, aka Beto Manuque, Maria Florência Castro Henriques, aka Fanny, Osvaldo Castelo Branco, aka Ozzie, e Pedro Abreu. É um homem de hábitos, mas não permite a sua monitorização. UMA INTRODUÇÃO SUMÁRIA Com a delicadeza protocolar própria dos meios intelectuais e académicos em que circula, pede-me o autor das curtas narrativas das próximas páginas uma breve contextualização das mesmas. Não o poderei fazer de outro modo que não seja o de ser fiel ao estilo em que sempre escrevi, no decurso da minha vida profissional. O meu nome é Sebastião Duval Sanches, mas há muitos anos que nas ruas me chamam SD, SD Sanches. Com apenas dezoito anos, a meio de uma licenciatura em Geografia, entrei nos quadros da polí- cia de investigação nacional. Razões íntimas, que não desejo partilhar, assim o determinaram. É a primeira vez que o confesso, mas quando comecei a trabalhar queria, acima de tudo, ser fiel a duas ou três referências bem ancoradas na minha consciência. Uma delas é o americano Dashiell Hammett. Considero que as suas histórias dão a conhecer quase tudo sobre este nosso mundo. E raramente consigo esquecer, por me dizer muito, uma frase do seu biógrafo John Paterson: «The Hammett hero is, in the final analysis, the apotheosis of every man of good will who, alienated by the values of his time, seeks desperately and mournfully to live without shame, to live without compromise to his integrity.» Tinha ainda, como continuo a ter, um herói e um mestre. O herói é Koinsky, por uma simples razão: não creio que seja fácil um homem resistir a alguns dos seus piores instintos, numa situação-limite. Mas Koinsky conseguiu ser grande naquilo que viveu. O mestre é Jorge Luís Borges. Para ser conciso, conseguiu ensinar-me, com muito esforço, reconheço, que são infinitas as possibilidades quando o que está em jogo é o homem, a sua inteligência e as suas ambições. Nada ser o que parece, e existir sempre uma zona de sombra, mesmo que dela não desconfiemos, é a constante existencial decisiva. Os primeiros anos de investigação marcaram-me até hoje, decididamente. Tínhamos uma inocência ilimitada, confundíamos a prisão de um figurão com um golpe sério no crime. Mais importante, tínhamos aquilo que os Americanos chamam crew, uma equipa, que ainda hoje se encontra quando é necessário ou inevitável, moldada na partilha e na amizade. Não há nada de comparável a estar no fio da navalha e sentir a protecção de um parceiro. Ou ter sempre a certeza de que não se vai jantar sozinho. Foi a experiência que alterou o meu percurso. Quando, com o acumular das investigações, fui adquirindo alguma, a realidade tornou-se, pouco a pouco, mais nítida. Um processo de conhecimento deste tipo tem sempre custos muito elevados. Apercebi-me de que tudo se joga nas pequenas ambiguidades burocráticas, nas decisões sem despacho influenciadas em sigilo, nas prioridades não assumidas, na profunda diferença entre o que se defende publicamente e o que se persegue em privado. No nosso país, não pertencesse ele à velha Europa, ao Poder nada escapa, pertencendo este a uma imutável teia de cúmplices de composição variável, motivada por interesses próprios. O que é grave, muito grave. Não quero dar uma imagem retocada de mim próprio, mas não desisti nos primeiros combates. Só ajoelhei quando tive a certeza absoluta de que há, para um polícia, uma fronteira intransponível a proteger o território vital de um intocável. Saí da polícia para tentar formatar a guerrilha de outra maneira. Durante algum tempo, dirigi um departamento de informações reservadas, dedicado à análise de tendências, de projectos ambiciosos, da rotação de cargos entre personalidades e partidos, unidos naquilo a que chamávamos, ironicamente, o quadrado essencial: poder, tentação, decisão, corrupção. Creio que fizemos um trabalho válido. O arquivo do departamento, que poderá ser consultado, segundo a Lei, dentro de trinta anos, está cheio de relatórios que são sólidos pontos de partida para quem queira trabalhar. O problema é que nunca ninguém quis fazê-lo. Por outras palavras, nenhum decisor teve interesse em destacar alguém para trabalhar. Quando não pude mais ignorar que assim era, fiz uma paragem um pouco mais demorada na minha vida. Nesta altura, sensivelmente há três anos, perdera para sempre muita coisa importante, mas sentia que ainda tinha tempo para recuperar, ou alcançar, umas poucas outras. Vim para casa. Comprei um pequeno apartamento num bairro perto do mar, não muito longe da capital, e dediquei-me a levantar dois ou três projectos. Basicamente, têm a ver com leituras, com a descoberta de alguns trilhos e, claro, com a cartografia, a minha grande paixão. Um mapa é uma história sedutora, que não me canso de procurar. A meio desta tranquila forma de vida, um pouco surpreendentemente, ou talvez não, fui incapaz de apagar o meu passado. Tantos anos na sombra viciam-nos o olhar, a maneira de pensar, o cheiro e, porque não admiti-lo, a velocidade de circulação do sangue. Nas caminhadas pelas redondezas da minha casa, não conseguia evitar a observação de certas pessoas e actos, a cumplicidade silenciosa com outras, a dedução e a especulação a partir de actos e atitudes que me são familiares. Quando a falta de adrenalina se tornou insuportável, combinei uma renda acessível com o mestre pasteleiro Vicente, aluguei um pequeno espaço na sua fábrica e registei a minha diminuta empresa de Pistas & Percursos. Trabalho num território estritamente limitado e com objectivos muito modestos. Soluciono problemas da minha área de competência, apresentados por pessoas com as quais me cruzo todos os dias. Não creio que aquilo que faço tenha importância para partilhar. São histórias simples, cujo interesse e fascínio contaminam somente quem as vive ou procura. No entanto, o feroz assédio, iniciado há uns meses, do autor das curtas narrativas que se seguem, obrigou-me a ceder. Fui sensível ao seu entusiasmo, ao seu esforço disciplinado de recolha de matéria factual e de redacção, e, principalmente, ao facto de não me deixar sossegado entre o fim da tarde e o princípio da noite, uma hora sagrada para mim. Tenho igualmente de admitir que o nosso interesse comum pelo velho Dash e pelas singulares ocorrências da vida de Peter Maynard, vulgo Mão Direita do Diabo, ajudaram a cimentar uma colaboração. Sempre se discutem umas ideias, coisa difícil hoje em dia. Depois de ele ter aceitado um compromisso discrição em tudo o que se relaciona com a minha vida privada, alteração do nome dos meus informadores e efabulação de alguns pormenores mais sensíveis, dispus-me a contar-lhe alguns dos episódios que mais me tocam. Continuo a pensar que os meus casos, mesmo que camuflados pelo brilho sedutor da ficção, trazem muito pouco valor acrescentado a quem os lê. Porém, aceito revelá-los porque acredito que são um pequeno contributo no combate contra alguns tipos de sombras. Chamem-se elas solidão, cerco ou, até, vontade de desistir. Março de 2003 SDS PROTECÇÃO AO PONTA-DE-LANÇA Sebastião Duval Sanches, conhecido nos meios reservados por SD Sanches, continuava convencido de que não devia ter aceite a incumbência. Não lhe era sequer necessário recorrer à leitura do manual para ter a certeza de que certos episódios nunca devem ser autorizados a sair do canto mais fechado da memória. A convicção que o atormentava tornou-se ainda mais forte quando passou o portão de ferro enferrujado que dava acesso ao campo de futebol, numa manhã de segunda-feira fria e enevoada. Neste país, pensou SD, cada vez mais dominado por recordações de recintos semelhantes, há certos espaços que parecem ser todos fruto do mesmo planeamento central. O estádio do Junqueiro Crocodilos Clube (JCC) não era mais do que um campo de terra batida, com um arame grosso a vedar todo o rectângulo de jogo. Tinha também, junto ao lado norte do pelado, três casinholas de betão, sem pintura, que SD identificou imediatamente como os balneários, e uma quarta, com um letreiro luminoso cedido pela Pepsi, que dava um pouco de cor ao café A Vitória é Nossa. A visão do estádio dos Crocodilos do Junqueiro desencadeou processamentos que SD proibira a si próprio. As memórias, imparáveis, começaram a atacá-lo. Não havia ainda ninguém no campo, mas ouviam-se ruídos em um dos balneários, e num zoom rápido de cento e oitenta graus SD viu que várias bicicletas e motos de cilindrada cinquenta estavam estacionadas no espaço reservado a atletas. Estes deviam estar a equipar-se para o treino matinal. A porta do A Vitória é Nossa estava aberta. SD achou que era o melhor sítio para tentar um último combate com a sua memória, especialmente se o estabelecimento estivesse apetrechado com as munições ideais: um galão bem quente, pão alentejano e torresmos, desde que não fossem de «denominação de origem industrial», como gostava de dizer o Beto Manuque, um seu informador. SD foi direito ao balcão, onde estavam três maduros, de bigode cerrado e corpo atlético, com excepção das barrigas de perímetro médio. Todos eles envergavam uns fatos treinos roxos, com o nome do clube debruado a amarelo nas costas, em semicírculo. Sem pressa, os maduros bebiam café. SD apostou consigo próprio que eram o treinador e respectivos adjuntos. Nesse momento, um deles virou-se para o mirar, e SD viu-lhe a parte da frente do boné verde, com uma inscrição a dizer «Mister». Também, pensou SD, era uma aposta que não exigia grandes poderes dedutivos. Pesaroso, verificou que o café servia galões, mas quanto a acompanhamento só bolos fermentados, bolachas integrais e barras energéticas. Os auxiliares de performance atlética da moda já tinham chegado aos clubes de bairro. SD sentou-se numa das mesas de plástico da Pepsi, atacou o galão, que estava maravilhosamente no ponto — nem muito quente, nem muito morno, nem muito escuro, nem muito claro —, e teve, por momentos, a certeza de que ia derrotar a sua memória. Foi nessa altura que, por defeito profissional, começou a prestar atenção à conversa dos maduros, ali a dois passos da sua mesa. — Temos tudo para ganhar no sábado, caraças — disse o Mister, sem saber que num segundo acabava de esmagar o recém-chegado, até ali a consumir em êxtase o galão e o seu primeiro cigarro do dia. SD foi derrotado no momento em que assimilou a frase. A janela do café também não ajudava, porque permitia uma visão total do pelado. Tal como a da cantina do seu liceu, umas décadas atrás. SD viu o mais maldito dos seus filmes de memórias reaparecer-lhe com uma nitidez notável, como uma cópia restaurada por processos digitais. Naquele instante, daria tudo para ter dentro de si próprio um comando off, um mecanismo ágil e indolor que determinasse, num microssegundo, um outro rumo para os seus pensamentos. No entanto, comprovou à medida que regressava vertiginosamente para aquela manhã de há décadas, se há coisa que um homem não consegue é fugir de si próprio. O que é grave, muito grave, verificou. A memória que tanto asfixiara apareceu-lhe de uma forma ordenada, em perfeita sequência cronológica. A primeira imagem que teve foi do Mister, o Stor Batel, professor de Inglês e treinador da selecção do liceu. Esmagado, SD deixou-se ir, passando de imediato a protagonista naquele filme até aí escondido. O velho achara que a cantina era o único sítio digno para a prelecção decisiva antes da final do campeonato nacional estudantil de futebol, onde iríamos jogar contra uma escola secundária do Porto. O Stor Batel talvez tivesse razão, porque no balneário mal cabíamos todos, mas o problema é que a cantina dava para o campo. E no campo amontoava-se já muita malta para ver o jogo. E isso enervava-nos. Mais ainda quando o Stor repetia a sua máxima de cinco em cinco frases: «Temos tudo para ganhar, caramba.» Fiz um esforço para deixar de olhar para o campo e, num travelling lento, passei os olhos pelo nosso onze inicial. Era um ganda team em qualquer liceu do mundo. O Pachuco, guarda-redes, ocupado em cuspir cinco vezes para as luvas Adidas, para dar sorte, era um rapagão com uma figura à Damas, alto e sólido. O Pachuco era filho de um mestre metalomecânico, e talvez isso explicasse a forma metódica e tranquila como trabalhava entre os postes. O nosso quarteto defensivo era quase luxuoso: Ramusga, Viegas, Antão e Pepe. O Ramusga, o nosso defesa-direito, era um gentleman do relvado. Espadaúdo, cabelo negro à Cary Grant, equipamento sempre a brilhar graças ao método manual da Dona Aurora, sua mãe. Dentro do campo jogava em souplesse, com marcação cirúrgica e passes de visão, em diagonal acentuada. O Viegas, central, filho do dono da papelaria, era um rapaz de um metro e oitenta e cabeça pouco certa, mas cabeçada eficaz, principalmente nos cruzamentos. O que o Viegas tinha de desengonçado, tinha o Antão de decisão. O nosso central de marcação era um rapaz criado em Alfama, louro, nervoso, de tronco em V, velocidade estonteante e agressividade letal. Para ele, nas marcações valia tudo. Finalmente, o quarteto fechava em dó maior, com o Pepe, rapaz que nasceu nas futeboladas de rua, finta curta, cabeça baixa, imprevisível. Andava pouco concentrado, porque tinha finalmente arranjado uma namorada, e as relações afectivas são uma complicação para ele. Para o meio campo, o Stor Batel contava com todas as opções, e tinha-se decidido por quatro pedras, para jogarmos num conservador 4-4-2. Era no meio-campo que estava a nossa mais-valia, porque nessa zona tínhamos três craques: Mirotes, Miguel e Tininho. O quarto elemento era eu. Como dizia o Mister, «é o meio-campo que esmaga a força do adversário, e é o meio-campo que nos lança para a vitória». O Mirotes, franzino, cabelo castanho-escuro cortado à tijela, perna longa, era o nosso trinco. O pai tinha um café nas docas de Santa Apolónia, e talvez viesse daí o seu jeito de não complicar. O Mirotes jogava para o ataque, quando era possível, e prà bancada, quando era aconselhável. Nas pontas, tínhamos o «Duo Diamante»: Miguel e Tininho. Aliás, como dizia o Mister, «temos que ser muita bons, porque temos dois Simões na equipa, e o Benfica só tem um». Era verdade: o Miguel e o Tininho eram o futuro da nossa selecção nacional, quando o Simões arrumasse as chuteiras. Pequeninos, magrinhos, perninhas muito brancas, tinham uma resistência extraor- dinária, que lhes tinha sido injectada pela vida, já que viviam os dois num bairro de lata. Eram exímios no drible nó cego, tinham velocidade nos corredores laterais e jogavam de cabeça levantada, para a equipa, em cruzamento ou tabela. Quando era preciso, puxavam o pé atrás e chutavam para o ângulo. O sonho deles era assinarem por um clube da primeira divisão, para darem uma vida boa à Amália e à Guida, duas irmãs do bairro que namoravam, coisa séria. No epicentro do meio-campo, jogava eu. Havia quem dissesse que eu é que dava fio de jogo à equipa, que carregava o piano, mas não era verdade. Limitava-me a receber a bola da defesa, e a pô-la sem complicar no Miguel ou no Tininho. O resto era fácil. É claro que de vez em quando aparecia na grande área e inchava para dentro da baliza sem piedade, mas não é isso que faz um grande jogador. Até porque não tínhamos problemas de golos. Dois rapazes angolanos de Marvila formavam a nossa dupla atacante. O Jordão era ainda um potro puro-sangue. Desde que tivesse a bola, fintava e rematava lá para dentro, com qualquer parte do corpo. Bem, o seu pé direito não era famoso. O Gil era já quase um veterano, sabido, que gostava de jogar de trás, e chutar no último momento, com um toque felino, em jeito. Estava igualmente um fim de manhã frio e enevoado, quando saímos para o pelado. Para mim, jogava-se tudo naquela final. Era apenas uma intuição, mas algo me garantia que nunca mais voltaria a ter oportunidade de fazer um jogo de tudo ou nada, de participar na História. A minha intuição dizia-me até mais, para ser completamente sincero: a oportunidade de ser maior do que a vida não mais me voltaria a aparecer à frente. Já no campo, vi nitidamente as caras das miúdas do nosso liceu, a gritarem por nós, na verdade a fazerem um tremendo barulho. Vi em especial o rosto da Mila, que, segundo as peritas da minha turma, só estava à espera de que eu desse o primeiro passo. O jogo correu-nos sempre bem, até a um certo momento. Os rapazes do Norte tinham uma equipa operária, certinha e dura, com excepção do homem do meio-campo, o Pedragulho, que dava fio
Baixar