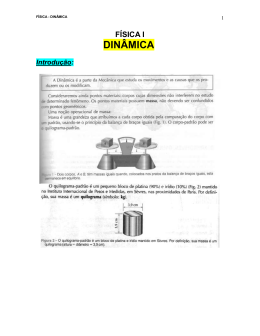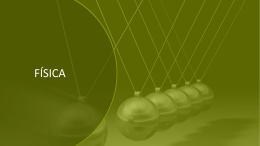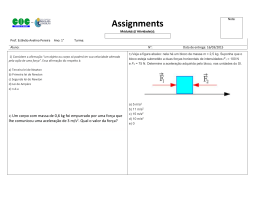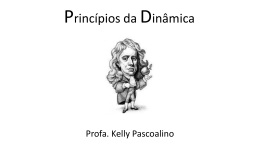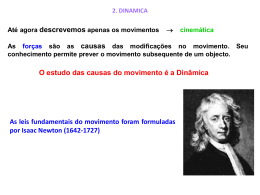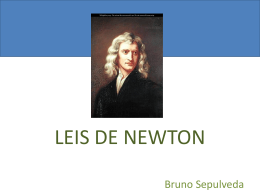PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática Maria Fernanda Donnard Carneiro EXPERIMENTUM CRUCIS DE NEWTON: contribuições da história e filosofia da ciência Belo Horizonte 2012 Maria Fernanda Donnard Carneiro EXPERIMENTUM CRUCIS DE NEWTON: contribuições da história e filosofia da ciência Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito à obtenção do título de mestre em ensino de Ciências e Matemática. Área de concentração: ensino de Física Orientadora: Lídia Maria Luz Paixão Ribeiro de Oliveira Belo Horizonte 2012 FICHA CATALOGRÁFICA Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais C289e Carneiro, Maria Fernanda Donnard Experimentum crucis de Newton: contribuições da história e filosofia da ciência / Maria Fernanda Donnard Carneiro. Belo Horizonte, 2012. 241f.: il. Orientadora: Lídia Maria Luz Paixão Ribeiro de Oliveira Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. 1. Ciência – História. 2. Ciência – Filosofia. 3. Newton, Isaac, Sir, 16421727. I. Oliveira, Lícia Maria Luz Paixão de. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. III. Título. CDU: 501 Maria Fernanda Donnard Carneiro EXPERIMENTUM CRUCIS DE NEWTON: contribuições da história e filosofia da ciência Dissertação apresentada ao Programa de pósgraduação em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito à obtenção do título de mestre em ensino de Ciências e Matemática. ____________________________________________________________ Lídia Maria Ribeiro Luz Paixão de Oliveira (Orientadora) – PUC Minas ____________________________________________________________ Ivan Ducatti – UFRJ ____________________________________________________________ Maria Inês Martins – PUC Minas Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012. AGRADECIMENTOS Primeiramente, à minha querida mãe, Rejane Donnard Carneiro, professora de história, que com todo o seu carinho e dedicação, contribuiu, desde os primeiros anos escolares, para que eu chegasse até aqui. Especialmente, neste trabalho, agradeço pelos momentos de discussão, pelas leituras prévias dos capítulos, pela indicação de livros, pelas dicas e sugestões e, principalmente, pela paciência em me escutar nos momentos mais cansativos e difíceis dessa caminhada. Ao meu querido irmão gêmeo, Saulo Donnard Carneiro, pela companhia, pela presença sempre constante, pelo apoio incessante, pela mão estendida em todos os momentos que se fizeram necessários, pelo olhar fraterno e pela sintonia. É sempre muito bom saber que posso contar contigo em qualquer momento. Ao meu pai, pelo incentivo, por sempre me lembrar de minhas obrigações ao perguntar “E a dissertação? Como vai?” e, principalmente pelo auxílio logístico, no que diz respeito à produção do cd com o documentário “Mentes Brilhantes” e ainda à confecção da “Caixa de Luzes”, componentes do produto dessa dissertação. À minha orientadora e professora, Lídia Maria L. P. Ribeiro de Oliveira, pela paciência e orientação, conduzindo-me a este trabalho de pesquisa. Aos meus colegas de mestrado e, em especial, à Cintia Christ Klippel, por permitir que a amizade e a sintonia iniciadas em sala de aula, se estendessem para os mais variados momentos de nossas vidas e nos transformassem em amigas do coração. Ao meu amigo Marco Aurélio Peixoto, pelas conversas na internet durante as longas madrugadas, quando as palavras e as idéias já não eram mais capazes de serem organizadas e, também, pela ajuda no abstract. A todos os professores do mestrado, pelos conhecimentos transmitidos. Aos integrantes da secretaria do Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, pela paciência e atenção prestada ao nos atender. Aos alunos da licenciatura em Física da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pelo acolhimento e recepção no momento da aplicação do produto, e também pelas sugestões enviadas. E, finalmente, a todas as pessoas que já passaram em meu caminho; e aos encontros, aos desencontros, às aflições, às dificuldades, às provações, às alegrias, e às conquistas que me enriqueceram como ser humano e me fizeram crescer e renovar atitudes e pensamentos. “Se vi mais longe, foi porque estava sobre ombros de gigantes.” (NEWTON, 2002). RESUMO O processo de produção do conhecimento científico e o estabelecimento das leis ou verdades científicas não estão relacionados apenas às habilidades pessoais de cada cientista. Eles ultrapassam essas fronteiras, sendo ainda o resultado de uma série de influências externas do meio, para as quais contribuem, de maneira direta e significativa, o contexto histórico e filosófico vigentes. Isso significa que as descobertas científicas não foram, e nunca serão, meros resultados de “mentes brilhantes” e geniais, confinados em laboratórios. Com base nessa idéia, este trabalho se dedica à análise das condições históricas e filosóficas anteriores à realização do Experimentum crucis de Newton, para mostrar aos alunos (por meio da construção e elaboração de uma seqüência de atividades didáticas) quais fatores, realmente, contribuíram para que o cientista afirmasse que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. Diferentemente da idéia simples e direta veiculada nos livros didáticos (Newton posiciona o prisma frente à luz solar, olha a imagem obtida e já é capaz de formular a sua teoria), tal conclusão foi o resultado de um longo processo de construção, para o qual contribuíram a filosofia e a maneira de pensar de Newton. Características estas que, por sua vez, também apresentam indícios das transformações (principalmente de mentalidade) ocorridas na Europa a partir do renascimento do comércio e que culminaram no fértil período da Revolução Científica. Palavras-chave: História e filosofia da ciência. Isaac Newton. Dispersão da luz. ABSTRACT The production process of the scientific laws and the establishment of scientific truths aren't only related to personal abilities of each scientist. They overpass those boundaries, being a result of a lot of external influences from the environment, to which contribute directly and significantly, the existing historical and philosophical context. This means that scientific discoveries have not been and will never be mere results of “brilliant minds” and genius, confined to laboratories. Based on this idea, this work is dedicated to analyse the historical and philosophical conditions before performing the Newton's Experimentum crucis, to show the students (through the construction and elaboration of a sequence of teaching activities) which factors indeed contributed to afirm that the white light is a mixture of colors with different refrangibility. Differently the simple and straightforward idea conveyed in textbooks (Newton positioned the prism opposite the sunshine, saw the image obtained and was able to formulate his theory), this conclusion was the result of a long building process to which contributed the philosophy and way of Newton's reason. All these characteristics, by the way, also show evidence of changes (mainly mentality) that occurred in Europe since the renascence of trade, culminating in the fertile period of the Scientific Revolution. Keywords: History and philosophy of science. Isaac Newton. Light dispersion. LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Os números triangulares e as suas representações geométricas .................... 84 Figura 2 – Números quadrados e as suas representações geométricas ........................... 84 Figura 3 – O sistema Tychônico ..................................................................................... 87 Figura 4 – Modelo de Kepler relacionando as distâncias orbitais dos seis planetas às distâncias obtidas pela inscrição e circunscrição aos sólidos platônicos ....... 89 Figura 5 – A divisão da filosofia segundo Thomas Hobbes. .......................................... 104 Figura 6 – Representação dos principais pensadores que fizeram parte do período da Revolução Científica ..................................................................................... 108 Figura 7 – Representação esquemática do experimento 3 de Newton ............................ 126 Figura 8 – Detalhe da imagem oblonga obtida após a refração ...................................... 127 Figura 9 – O ângulo refrator de um prisma e o posicionamento adotado por Newton durante a realização dos experimentos .......................................................... 128 Figura 10 – Identificação dos ângulos com que um raio incide e emerge de um prisma, quando ele se encontra na posição de desvio mínimo ................................... 128 Figura 11 – Desenho utilizado por Newton na demonstração de que a imagem obtida deveria ser circular, quando o prisma estivesse na posição de desvio mínimo ............................................................................................... 129 Figura 12 – A incidência perpendicular dos raios na parede também era uma condição necessária para que a imagem obtida fosse circular ...................................... 130 Figura 13 – Representação esquemática do experimento 5 de Newton ............................ 133 Figura 14 – Divisão das imagens em pequenas regiões circulares, nas quais incidiriam apenas raios refratados igualmente ................................................................ 136 Figura 15 – Desenho de Isaac Newton para o seu experimentum crucis .......................... 137 Figura 16 – Representação esquemática do experimento 6 .............................................. 138 Figura 17 – Representação esquemática do experimento de Newton usado para combinar as cores .......................................................................................... 142 Figura 18 – A composição da luz branca, agora utilizando dois prismas ......................... 143 LISTA DE QUADROS Quadro 1 – Relação dos livros didáticos analisados .......................................................... 120 Quadro 2 – Dimensões e subdimensões utilizadas na análise dos livros didáticos ........... 121 Quadro 3 – Análise da organização da informação histórica – Dimensão I ...................... 122 Quadro 4 – Análise dos materiais usados para apresentar a informação histórica referente à decomposição/composição da luz branca – Dimensão II ............. 123 LISTA DE SIGLAS AAAS – Associação Americana para o Progresso da Ciência BAAS – Associação Britânica para o Ensino de Ciências PSSC – Physical Science Study Committee PNLEM – Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 23 2 APLICAÇÕES DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO ......... 2.1 A História e Filosofia da Ciência e o ensino: reaproximação e contribuições ....... 2.2 Como ocorre a inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências 2.2.1 Historiografia e algumas possibilidades de se escrever sobre a história................. 2.2.2 A pseudo-história....................................................................................................... 2.2.3 Outras possibilidades para a inserção da História e Filosofia da Ciência ............. 26 26 36 37 39 44 3A CIÊNCIA COMO UM PRODUTO DA RELAÇÃO EXISTENCIAL ENTRE OS SERES HUMANOS E O MEIO: SUBSÍDIOS TEÓRICOS......................................... 3.1 A ciência e a produção do conhecimento como produtos da relação existencial entre os seres humanos e o meio....................................................................................... 3.1.1 A fase dos reflexos primordiais ................................................................................. 3.1.2 A fase do saber ........................................................................................................... 3.1.3 A fase da ciência ........................................................................................................ 3.2 A razão e o método como produtos da relação existencial entre o ser humano e o meio .................................................................................................................................. 3.3 O desenvolvimento da ciência como um caso particular do desenvolvimento da cultura geral ....................................................................................................................... 3.3.1 O significado histórico dos instrumentos culturais materiais ................................. 59 64 4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................................ 4.1 Do contexto histórico e filosófico que precede a época de Isaac Newton................ 4.2 As regras do filosofar de Isaac Newton ..................................................................... 4.3 A teoria das cores de Newton...................................................................................... 4.4 A proposta didática ..................................................................................................... 67 68 68 69 70 51 52 52 53 54 58 5 A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA ................................................................................... 73 5.1 A Revolução Científica: caracterização geral ........................................................... 73 5.1.1 A primeira fase da revolução científica: contextualização histórica ...................... 74 5.1.2 A segunda fase da revolução científica: contextualização histórica ....................... 77 5.1.3 A terceira fase da revolução científica: contextualização histórica ........................ 79 5.1.4 A transição do feudalismo para o capitalismo e as transformações da mentalidade......................................................................................................................... 80 5.1.4.1 As contribuições de Nicolau Copérnico (1473-1543) .......................................... 82 5.1.4.2 As contribuições de Tycho Brahe (1546-1601).................................................... 86 5.1.4.3 As contribuições de Kepler ( 1571-1630) ............................................................. 87 5.1.4.4 As contribuições de Galileu Galilei (1564-1642) ................................................. 91 5.1.4.5 As contribuições filosóficas de Francis Bacon (1561-1626) ............................... 97 5.1.4.6 Algumas contribuições de Renè Descartes (1596-1650) ..................................... 101 5.1.4.7 As contribuições filosóficas inglesas do século XVII .......................................... 104 6 AS REGRAS DO FILOSOFAR DE NEWTON .......................................................... 109 6.1 As regras da filosofia de Newton e o seu método ...................................................... 110 6.2 Algumas considerações sobre a história da ótica...................................................... 115 7 A TEORIA DAS CORES DE NEWTON: UMA ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 2 DO LIVRO I DE ÓTICA............................................................................................... 7.1 A decomposição da luz branca nos livros didáticos ................................................. 7.2 Uma análise da proposição 2 do Livro I de Ótica de Newton: desenvolvimento lógico e argumentação envolvida...................................................................................... 7.2.1 O experimento 3 da parte I, do Livro I de Ótica....................................................... 7.2.2 O experimento 4 do Livro I de Ótica......................................................................... 7.2.3 O experimento 5 do Livro I de Ótica......................................................................... 7.2.4 O experimento 6 do Livro I de Ótica......................................................................... 7.2.4.1 O experimentum crucis e a argumentação utilizada por Newton ...................... 7.3 Algumas considerações................................................................................................ 119 119 124 126 132 133 137 139 145 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................... 148 8.1 O desenvolvimento da atividade: algumas considerações........................................ 148 REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 154 APÊNDICE A – Produto Final – Material do Aluno..................................................... 159 APÊNDICE B – Produto Final – Orientações ao professor .......................................... 217 APÊNDICE C – Instrumento de avaliação entregue aos alunos após a realização da atividade ........................................................................................................................ 240 23 1 INTRODUÇÃO Em janeiro do ano de 2008, iniciei o mestrado profissional em ensino de Ciências e Matemática (área de concentração: ensino de Física) na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Como parte integrante das disciplinas do primeiro módulo, cursei “A História e Filosofia da Ciência”. Era a primeira vez que me deparava com discussões e considerações filosóficas a cerca da construção do conhecimento científico, uma vez que não havia cursado nenhuma disciplina similar na graduação. A percepção e a compreensão de que o conhecimento científico é o resultado de um processo histórico e dinâmico de construção humana e, por isso mesmo, está vinculado aos contextos social, político, econômico e cultural vigentes em uma determinada época, simplesmente me fascinaram. Não que jamais tivesse pensado a respeito, mas visões e concepções mitificadas a respeito da figura do cientista e do processo de produção do conhecimento científico são constante e insistentemente divulgadas pela mídia e até mesmo por alguns livros didáticos, conduzindo-nos, muitas vezes, à irreflexão a respeito do longo caminho percorrido até que determinada teoria ou lei fossem descobertas ou mesmo aceitas no meio acadêmico. E esse descuido pode gerar complicações futuras, uma vez que, enquanto professores, podemos incorrer no erro de transmitir, aos nossos alunos, uma visão também distorcida e mitificada da ciência e de seu processo de construção. Enquanto professora e autora de livros didáticos de Física para o ensino médio, percebo como é deficiente e pouco significativa a inserção da História e Filosofia da Ciência, em especial a História da Física, nos livros e compêndios utilizados nas escolas. Em geral, é apresentada na forma de textos complementares, colocados ao final dos capítulos, que enfocam a biografia de determinados físicos, ou então por meio de pequenas inserções mitificadas e distorcidas (pseudo-história) que reforçam, principalmente, a idéia de que determinada lei foi descoberta porque, em um certo instante, o físico teve um “insight” que o permitiu compreender o fenômeno estudado. Todas as contribuições do momento histórico e filosófico vigente na época e as influências no modo de pensar e de agir são desconsideradas. Diante dessas constatações, passei a pesquisar e a me interessar sobre as possibilidades de inserção da História e Filosofia da Ciência em atividades e propostas a serem desenvolvidas em sala de aula. Esta dissertação é, portanto, o resultado de todo esse processo de estudo, de pesquisas e de reflexões a respeito desse tema. 24 Nela, serão enfatizadas e analisadas situações referentes à Ótica, com destaque especial para as questões, os experimentos e as argumentações utilizadas por Newton para comprovar a proposição 2 da parte I de seu livro I de Ótica (1704), que afirma que “a luz do sol consiste em raios com diferentes refrangibilidades”. Essa escolha justifica-se pelo fato de ser este um experimento muito relatado e comentado nos livros didáticos de Física. São raros os compêndios que não fazem menção, ainda que por meio de desenhos, dessa descoberta. O problema, entretanto, é que tais relatos são extremamente simples e diretos e conduzem o aluno à falsa impressão de que o prisma foi colocado em qualquer posição e de qualquer maneira frente à luz solar. Além disso, fazem o aluno acreditar que as conclusões a respeito da composição da luz branca foram facilmente obtidas a partir, apenas, das observações realizadas. Um estudo mais preciso e cuidadoso da História e Filosofia da Ciência e, principalmente do artigo publicado por Newton em 1672, na Philosophical Transactions, e de seu livro Ótica (1704), nos revelam que não foi sempre assim. Detalhes específicos em relação ao posicionamento do prisma e a utilização de argumentos epistemológicos, e não apenas experimentais, precisaram ser empregados para que Newton pudesse formular a sua teoria a respeito das cores. Detalhes estes, por sua vez, que ficam completamente omitidos, apagados e distanciados do ensino desse conteúdo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo, em um primeiro momento, mostrar aos alunos que o raciocínio e a argumentação empregados por Isaac Newton (1642-1727) para explicar o fenômeno da dispersão da luz branca não foram tão “simples” quanto desejam evidenciar alguns materiais didáticos. Na verdade, constituem o resultado de um lento processo de desenvolvimento do pensamento científico, para o qual contribuíram de modo significativo o contexto histórico e filosófico vigentes antes e durante a própria existência de Newton. Em um segundo momento, pretende-se construir junto aos alunos, uma visão mais humana do cientista (em especial de Isaac Newton) e desmitificar a idéia de que são seres geniais, que desenvolvem idéias mirabolantes em momentos de puro “insight”. Por fim, deseja-se, ainda com base nos estudos desenvolvidos a respeito da dispersão da luz branca, elaborar uma sequência didática para os alunos do segundo ano do ensino médio que auxilie na compreensão de que Newton não formulou essa teoria a partir de uma simples observação (estimulada talvez por uma mera idéia repentina) mas, sim, como conseqüência de todo um processo de construção histórica e filosófica do pensamento científico. 25 Para tanto, o presente trabalho encontra-se estruturado em 7 capítulos. No capítulo seguinte, será feita uma análise das possibilidades de aproximação da História e Filosofia da Ciência do ensino de ciências (mais especificamente no ensino de física), bem como das estratégias já utilizadas por alguns pesquisadores para se atingir tal objetivo. Nesse sentido, serão evidenciadas, em um primeiro momento, as concepções de alguns historiadores da ciência a respeito das melhorias percebidas no ensino de ciências com essa aproximação. Em seguida, serão relatadas algumas tentativas de inserção da história e filosofia da ciência no ensino já realizadas por pesquisadores e que buscam, de um modo geral, se distanciarem da chamada “pseudo-história”. Na sequência, serão apresentados, os subsídios teóricos que embasam e norteiam toda a discussão desse trabalho e que colocam a ciência e a produção de todo o seu conhecimento como produtos da relação existencial entre o homem e o meio. Com essa concepção em mente, será feito ainda um estudo do contexto histórico da época da realização do experimentum crucis, procurando-se destacar quais foram as concepções filosóficas (herdadas de épocas anteriores) que influenciaram o desenvolvimento do raciocínio, da lógica e da maneira de pensar de Isaac Newton. Posteriormente, todas essas considerações serão empregadas na análise (mais especifica e detalhada) da sequência de passos da argumentação desenvolvida por Newton para explicar o fenômeno da dispersão da luz branca por um prisma e que, como veremos no decorrer do texto, destroem e desmitificam por completo a concepção errônea de que grandes teorias científicas nascem prontas e acabadas da mente de gênios. 26 2 APLICAÇÕES DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO Tentativas de se inserir a História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências (e em especial no ensino da Física) não constituem ações recentes. Conforme veremos a seguir, já no final do século XIX e início do século XX, encontram-se filósofos e pensadores trabalhando e produzindo artigos e livros voltados para essa temática. Atualmente, essas preocupações com a inserção da “História e Filosofia da Ciência” se tornaram tão evidentes que passaram a constituir uma importante área de pesquisa nos cursos de pós-graduação (mestrados e doutorados). Mais do que a pesquisa em si, buscam-se desenvolver, nesses cursos, estratégias de ensino que não reforcem a visão empiristaindutivista da ciência e que, por sua vez, priorizem o equilíbrio entre as duas facetas da abordagem da História e Filosofia da Ciência: a internalista (que se preocupa em responder se determinada teoria estava bem fundamentada, considerando apenas as evidências científicas utilizadas, a existência ou não de lacunas metodológicas e o contexto científico de sua época) e a externalista (que se preocupa em analisar os fatores extracientíficos, isto é, o contexto histórico e filosófico - as influências sociais, políticas, econômicas, a luta pelo poder vigentes à época do desenvolvimento de determinada teoria científica). Nesse sentido, este capítulo faz uma revisão de algumas das mais importantes discussões sobre o tema, apresentando concepções favoráveis e contrárias à inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino. São apresentados também, alguns trabalhos e materiais didáticos recentemente desenvolvidos na área e que procuram reaproximar história e filosofia da ciência do ensino. 2.1 A História e Filosofia da Ciência e o ensino: reaproximação e contribuições É impossível negar a complexidade e as dificuldades envolvidas em um processo de ensino-aprendizagem. Além de ser um fenômeno humano, do qual participam e interagem alunos, professores, famílias e profissionais de outras áreas; é também um fenômeno histórico, cujos modos de pensar e de agir (traduzidos em técnicas e metodologias) refletem aspectos condizentes com dimensões sociopolíticas e culturais de épocas já vivenciadas. Nesse sentido, os conhecimentos prévios; a motivação, o interesse, o esforço e as habilidades pessoais (tanto dos alunos quanto dos professores); o local físico no qual ocorre o ensino; as relações emocionais e afetivas aí estabelecidas; a existência de materiais e recursos didáticos e os processos avaliativos adotados são algumas das variáveis que interferem diretamente na 27 relação ensino- aprendizagem, transformando-a em algo tão complexo e desafiador. E quando este processo se refere ao ensino da Física, uma disciplina extremamente rica e resultante de um longo e tortuoso processo histórico de construção e reconstrução, a situação se agrava. Conforme apregoa Robillota: O conhecimento englobado pela Física forma um corpo articulado de modo complexo, e parte dessa dificuldade de se ensinar esta disciplina advém do fato de não reconhecermos ou considerarmos essa complexidade em toda a sua extensão. Ao tratarmos de modo simplificado um corpo de conhecimento que é muito complicado e repleto de sutilezas, podemos acabar por fazer com que ele se torne ininteligível aos estudantes. (ROBILLOTA, 1988, p. 9). Essa ininteligibilidade dos conteúdos é, na maioria das vezes, traduzida e evidenciada por concepções inadequadas da ciência e do processo de produção do conhecimento científico, por uma enorme dificuldade para abstrair e aplicar o conteúdo da Física em outras áreas do conhecimento ou em situações que exijam um maior grau de complexidade, pelo grande número de evasões, desmotivação e desinteresse demonstrados nas aulas dessa disciplina. Dentre os diversos caminhos apontados pelas pesquisas desenvolvidas na área de ensino de Física para solucionar ou minimizar os problemas anteriormente mencionados, e que vêm sendo constante e intensamente defendidos nas últimas décadas, encontra-se a necessidade de se tornar o ensino da Física mais contextualizado, mais histórico e mais reflexivo, o que implica em uma reaproximação da História e Filosofia da Ciência do ensino da Física. Na verdade, ainda que nas últimas décadas tenham-se intensificados os trabalhos nessa área, essa tentativa de reaproximação não é recente. Desde o final do século XIX e início do século XX, encontram-se indícios desse processo. O filósofo e físico Ernst Mach (1838-1916), é um exemplo. Autor de A mecânica no seu desenvolvimento histórico-crítico (1883), A análise das sensações e a relação entre físico e psíquico (1900), Os princípios da termologia desenvolvidos de modo histórico-crítico (1896) e Conhecimento e erro (1905), tornou-se conhecido por defender a idéia da ciência como uma maneira de economizar pensamento. Para Mach, todas as leis e teorias científicas desenvolvidas seriam resultantes de um processo de evolução biológica e cultural que permitiriam aos homens das futuras gerações alcançarem o conhecimento vasto, sem a necessidade de serem refeitas todas as experiências e demonstrações já executadas, ao longo dos séculos. Segundo afirmam Reale e Antiseri (2007), Mach advoga ser função da ciência 28 [...] pesquisar o que é constante nos fenômenos naturais, seus elementos, o modo da sua relação e sua dependência recíproca. Mediante a descrição clara e completa, a ciência procura tornar inútil o recurso a novas experiências, economizando assim experiências (REALE; ANTISERI, 2007, p. 409). Nesse contexto, torna-se indispensável, para Mach, que o ensino da ciência seja realizado evidenciando-se todo o seu desenvolvimento histórico. Somente dessa maneira seria possível ao aluno conhecer a experiência já realizada por outros, o que lhe economizaria pensamentos e novas e desnecessárias experiências. O conhecimento científico de uma geração inteira tornar-se-ia, dessa maneira, patrimônio de gerações futuras que dele poderiam usufruir. Vale ressaltar que para Mach, evidenciar o desenvolvimento histórico correspondia, na verdade, a estabelecer quase que uma sistematização cronológica dos dados científicos, com o estudo de fatos e situações anteriores que se tornaram decisivos na descoberta de determinada teoria. Não há, ainda, nenhuma preocupação com o estabelecimento dos porquês no estudo dessas teorias, nem tampouco com as contradições inerentes a este processo de formação em ciências. Os franceses Pierre Duhem (1861-1916) e Paul Langevin (1872-1946), no início do século XX, também contribuíram de modo significativo para essa aproximação. Duhem, ao fazer uma analogia entre o desenvolvimento cognitivo de um indivíduo e o desenvolvimento histórico, transfere para o “método histórico” (baseado na análise e estudo das transformações que propiciaram a observação de determinado fato empírico, bem como das teorias que surgiram para tentar explicá-lo) as responsabilidades e possibilidades de se oferecer um ensino mais profícuo das ciências, capaz de fornecer aos estudantes uma visão mais clara e correta da complexa organização dessa área de conhecimento. (PORTELA, 2006, p. 14). Já Langevin, em uma conferência proferida no Museu Pedagógico da França, defende a inserção da história no ensino como meio de se combater um ensino dogmático, frio e estático que reforça, principalmente, a idéia de que a ciência é algo morto, concluído e definitivo. (PORTELA, 2006, p. 15). Na segunda metade do século XX, mais especificamente nos anos pós Segunda Guerra Mundial, constata-se, em diversos países, uma preocupação crescente com o ensino de ciências. Questionamentos acerca da aliança entre capital e ciência-tecnologia, que culminou com a produção e lançamento da bomba atômica, apontam para a necessidade de se desenvolver, no processo de formação científica dos indivíduos, uma consciência cidadã sobre as implicações sociais e tecnológicas da ciência (SILVA et al., 2008, p. 499). Tais preocupações se evidenciaram na elaboração de novos projetos de ensino de ciências e nas conferências e palestras ministradas em associações americanas e britânicas (Associação 29 Americana para o Progresso da Ciência - AAAS e Associação Britânica para o Ensino de Ciências - BAAS), nas quais modificações curriculares foram propostas com o intuito de tornar os cursos de ciências mais “contextualizados, mais históricos e mais filosóficos ou reflexivos” (MATTHEWS, 1995, p. 167), capacitando os alunos a: a) considerar a maneira pela qual o desenvolvimento de uma determinada teoria ou pensamento científico se relaciona ao seu contexto moral, espiritual, cultural e histórico; b) estudar exemplos de controvérsias científicas e de mudanças no pensamento científico (MATTHEWS, 1995, p. 167). De uma maneira geral, com estas novas propostas, [...] não se tenciona que elas [as crianças] sejam submetidas a uma ‘catequese’ sobre as quinze razões pelas quais as conclusões de Galileu eram corretas e as dos cardeais não. Ao contrário, espera-se que elas considerem o fato de que há perguntas a serem feitas e que comecem a refletir não somente sobre as respostas para essas perguntas, mas, sobretudo, sobre quais as respostas válidas e que tipos de evidências poderiam sustentar essas respostas. (MATTHEWS, 1995, p. 168). No que se refere à elaboração dos projetos de ensino tem-se, ao final da década de 1960, nos Estados Unidos, a publicação do Harvard Project Physics. Desenvolvido por um grupo de professores (Gerald Holton, James Rutherford e Fletcher Watson) da Universidade de Harvard, este projeto destaca-se por apresentar uma visão mais humanística, histórica e contextualizada do ensino de ciências (e, mais especificamente, da Física). Foi desenvolvido como resposta à visão extremamente tecnicista defendida pelo Physical Science Study Committee (PSSC) e objetivava, principalmente, a) atrair um maior número de alunos para o estudo da Física Introdutória; b) ajudar os alunos a verem a Física como uma maravilhosa atividade com muitas facetas humanas. Isto significa apresentar o assunto numa perspectiva cultural e histórica e mostrar que as idéias da Física têm uma tradição ao mesmo tempo que modos de adaptação e mudança evolutivos . O Projeto Harvard, como ficou popularmente conhecido, obteve “sucesso em evitar a evasão dos estudantes, atrair mulheres para os cursos de ciências e desenvolver a habilidade do raciocínio crítico.” (MATTHEWS, 1995, p. 171) e tornou-se uma grande 30 referência aos pesquisadores e defensores da introdução da História e Filosofia da Ciência no ensino. Os anos 70 do século XX foram marcados por intensos debates e oposições à inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino, fato que evidencia a repercussão e influência exercida por esta área do conhecimento na cultura científica da época. De modo geral, as críticas feitas podem ser agrupadas em duas concepções principais: a de que a única história possível nos cursos de ciências era a pseudo-história e a idéia de que a exposição à história da ciência poderia contribuir para o enfraquecimento das convicções científicas, necessárias ao bem sucedido aprendizado da ciência. Um dos defensores e divulgadores da primeira visão sobre a história da ciência, foi Martin Klein. Em julho de 1970, nos seminários e conferências ministradas no “International Working Seminar on the Role of History of Physics Education”, organizado por Allen King e ocorrido no “Massachusetts Institute of Technology”, Klein exerceu o papel de “advogado do diabo”, segundo Brush (1974). Inicialmente proposto com o objetivo de discutir e delinear passos concretos para a produção e elaboração de materiais didáticos que permitissem a utilização da história da ciência por professores com pouco conhecimento do assunto, o seminário também contribuiu, especialmente com a participação de Klein, para suscitar algumas dúvidas quanto à possibilidade de se aproximar história e ensino de ciências. Segundo Klein, história e ciências são duas disciplinas completamente distintas. O cientista busca, na maioria das vezes, atingir e explicar a essência de um fenômeno e, para tanto, precisa se libertar de complicadores ou contingências relativas ao tempo, espaço e personalidade do observador. Para o historiador, entretanto, são exatamente tais aspectos que constituem a essência da história (BRUSCH, 1974, p. 1166). Klein acredita que quando um professor faz uso de algum material didático com enfoque histórico ele age de modo seletivo, escolhendo exatamente aquele fato histórico que pode ajudá-lo a explicar alguma teoria moderna. Em conseqüência disso, tem-se a proliferação de uma série de fascinantes (e algumas vezes míticas) anedotas, que constituem as chamadas pseudo-histórias. Entre fazer uso da pseudo-história ou não incluir a história no ensino, Klein é categórico ao fazer a opção pela segunda. Ainda seguindo as idéias de Klein e aprofundando um pouco nas considerações, Whitaker, em uma sequência de dois artigos (parte I e II) intitulados “History and quasi history in physics education” publicados em 1979, defende a idéia de que a inserção da história no ensino é feita não para atender a objetivos realmente pedagógicos e, sim, para satisfazer aos fins de uma ideologia científica da qual comunga o autor que dela faz uso (MATTHEWS, 1995, p. 173; PORTELA, 2006, p. 19). Nesse sentido, torna-se comum a 31 “quasi-história”, que se difere da pseudo-história de Klein, sendo caracterizada pela “falsificação da história com aspecto de história genuína, [...] onde a história é escrita para sustentar uma determinada versão de metodologia científica (MATTHEWS, 1995, p. 174). É o que, no início da década de 30, Herbert Butterfield intitulou de interpretação “Whig” da história. Por ela, determinado historiador faria uma retomada do passado com o intuito de identificar pensadores, filósofos e cientistas cujas ideias e valores estariam de acordo com aquilo que se deseja ensinar ou explicar. A compreensão completa do contexto, dos problemas e pré-conceitos com os quais tais pessoas tiveram que lidar, é completamente ignorada. A segunda concepção contra o uso da história no ensino tem em Thomas Kuhn um de seus principais divulgadores. A análise filosófica feita em “A Estrutura das Revoluções Científicas” coloca em discussão a necessidade de se utilizar a história da ciência nos manuais científicos (livros-textos) já que ela poderia reforçar nos alunos determinadas concepções ou paradigmas anteriormente defendidos e que, atualmente, já foram descartados pelos “mais persistentes esforços da ciência.” (DUARTE, 2006, p. 36). Dessa maneira, “os conceitos, problemas e soluções do passado, quando apresentados em sua integridade histórica, confundiria e feriria (sic) a habilidade dos estudantes na aprendizagem do paradigma atual.” (PORTELA, 2006, p. 20). Ainda no que diz respeito às críticas feitas à inserção da história da ciência no ensino, devem-se destacar as considerações feitas por Stephen Brush, um dos colaboradores do “Projeto Harvard”. Em seu artigo “Should the History of Science be Rated X?”, Brush (1974) faz uma reflexão acerca dos aspectos subversivos que a história da ciência pode conter, principalmente quando utilizada no ensino. Dentre esses aspectos, encontra-se a temática referente à objetividade da ciência e da maneira com que a história da ciência e os seus episódios são empregados pelos professores. Em um primeiro momento, parece que o autor se posiciona totalmente contra a utilização da história da ciência no ensino. No entanto, o que ele realmente pretende, é alertar os professores quanto às diferentes maneiras e possibilidades de se fazer essa inserção, e quais as concepções que estão por trás de cada uma delas. Eu sugiro que o professor que deseje doutrinar os seus alunos na visão tradicional do cientista como um investigador neutro, não deveria empregar materiais históricos como os que estão sendo agora elaborados pelos historiadores da ciência: eles não serviriam a este propósito. [...] Por outro lado, aqueles professores que desejem atacar e contestar o dogmatismo presente nos textos didáticos e transmitir uma visão de ciência como algo que não pode ser separado de considerações metafísicas ou estéticas, podem encontrar algum estímulo na nova história da ciência. (BRUSH, 1974, p. 1170). 32 Do exposto acima, percebe-se que Brush (1974) vê, na utilização da história da ciência, a possibilidade de se compreender, de uma maneira mais realista, o processo de construção do conhecimento científico. Processo esse que ajuda, por exemplo, a elucidar questões referentes à origem dos conceitos de carga elétrica, força, campo, etc. Seguindo-se a essa “era de críticas e debates” tem-se uma época marcada pela intensificação das pesquisas e estudos na área, com a publicação de inúmeros outros artigos e elaboração de materiais didáticos que pudessem auxiliar e orientar aos professores quanto às possibilidades e maneiras de se fazer a inserção da história e filosofia da ciência no ensino. A análise desses materiais permite-nos identificar um consenso entre os especialistas e pesquisadores quanto ao importante papel que a História e Filosofia da Ciência podem desempenhar na educação de um indivíduo. Matthews (1995), por exemplo, aponta quatro importantes contribuições da História e Filosofia da Ciência ao ensino, a saber: a) humanizam as ciências ao aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; b) contribuem para um entendimento mais integral da matéria científica, isto é, podem contribuir para a superação do mar de falta de significação que se diz ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam; c) tornam as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; d) melhoram a formação do professor, auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das ciências e do espaço que ocupa no sistema intelectual das coisas. (MATTHEWS, 1995, p. 165). As três primeiras contribuições são, na verdade, decorrentes de uma tendência verificada nos trabalhos de epistemólogos e historiadores da ciência do início do século XX e caracterizada pela necessidade de se combater a visão inadequada de ciência constantemente disseminada e conhecida como visão empirista-indutivista. Segundo Silveira (1996), as teses mais importantes desta epistemologia são as seguintes: 33 a) A observação é a fonte e a função do conhecimento. Todo o conhecimento deriva direta ou indiretamente da experiência sensível (sensações e percepções); antes de podermos fazer qualquer afirmação sobre o mundo, devemos ter experiências sensoriais; b) O conhecimento científico é obtido dos fenômenos (aquilo que se observa), aplicando-se as regras do método científico (procedimento algoritmo que aplicado às observações produz as generalizações, as leis, as teorias científicas). O conhecimento constitui-se em uma síntese indutiva do observado, experimentado; c) A especulação, a imaginação, a intuição, a criatividade não devem desempenhar qualquer papel na obtenção do conhecimento. O verdadeiro conhecimento é livre de pré-conceitos, de pressupostos; d) As teorias científicas não são criadas, inventadas ou construídas, mas descobertas em conjuntos de dados empíricos (relatos de observações, tabelas laboratoriais, etc). A teoria tem como função a organização econômica e parcimoniosa dos dados, do observado e a previsão de novas observações. Qualquer tentativa de ultrapassar o observado é destituída de sentido. (SILVEIRA, 1996, p. 225). Silveira e Ostermann (2002), também tecem comentários a respeito dessa concepção enfatizando que ela coloca a observação e a experimentação como a base segura do conhecimento em geral e, em especial, do conhecimento científico. Dessa maneira, todas as proposições científicas deveriam partir de resultados obtidos experimentalmente para, somente depois de um processo de indução baseado na observação de regularidades, serem expressas como leis gerais e universais. Em outras palavras, [...] os indutivistas acreditam que as leis físicas são objetivas porque se apóiam sobre fatos experimentais, observados cuidadosamente e sem preconceitos. Neste modo de ver as coisas, a observação de um grande número de fatos permitiria a percepção objetiva de regularidades, que seriam expressas por meio de leis gerais. A validade de cada lei transcenderia o conjunto particular de fatos que lhe deu origem. Existe, assim, o salto de um número finito de casos singulares para uma situação universal. (ROBILLOTA, 1988, p. 13). As críticas a essa visão de ciência são extensas e recaem, principalmente, sobre a objetividade da observação e sobre a veracidade de justificativas baseadas na lógica da indução. O filósofo Karl Popper foi um dos críticos mais influentes. Quanto à lógica da indução, ele comenta 34 É obvia a falta de validade desse gênero de raciocínio: nenhum número de observações de cisnes brancos é capaz de estabelecer que todos os cisnes são brancos (ou que é pequena a probabilidade de se encontrar um cisne que não seja branco). Do mesmo modo, por maior que seja o número de espectros de átomos de hidrogênio que observemos, nunca poderemos estabelecer que todos os átomos de hidrogênio emitem espectros do mesmo tipo. Portanto, a indução [...] não pode fundamentar nada. (POPPER apud REALE; ANTISERI, 2007, p. 1022). Já no que se refere à objetividade da observação, a crítica mais contundente tem, na própria história do desenvolvimento da Física, um grande aliado. A teoria da Relatividade de Albert Einstein, na qual todos os postulados foram apresentados e elaborados sem bases experimentais é uma comprovação de que a ciência pode ter um desenvolvimento conceitual livre, independente, em um primeiro momento, dos dados empíricos. Apesar de todas essas críticas e discussões a respeito da inadequação dessa visão de ciência, algumas práticas pedagógicas e alguns materiais didáticos insistem em reforçar traços do empirismo-indutivista. Silveira e Ostermann (2002), por exemplo, afirmam que elementos de indução podem ser encontrados em propostas de atividades de laboratório nas quais os alunos devem descobrir a lei matemática que relaciona duas variáveis estudadas experimentalmente e, utilizando-se desses resultados, generalizar essa lei para todos os corpos em situações similares. Para exemplificar, os autores discutem a determinação da lei do período de oscilação de um pêndulo proposta em uma atividade prática e mostram que, antes mesmo de se chegar à generalização (indutiva) desejada, é possível identificar falhas desse método, visto que “existem infinitas funções (e não apenas uma) que descrevem, com o grau de aproximação que se desejar, os mesmos resultados.” (SILVEIRA; OSTERMANN, 2002, p. 16). Além dessa constatação, Silveira e Ostermann (2002) também mencionam que o pensamento docente ainda alinha-se, em inúmeras situações, à concepção empiristaindutivista, principalmente no momento de se justificar, aos estudantes, a origem de determinado conteúdo estudado. Robillota (1988, p. 15), que concorda com tal afirmação, vai além e apregoa que frases do tipo: “sabemos, pela experiência, que tal coisa acontece de tal modo.” incorporam e reforçam sutilmente o princípio da indução nos alunos. Em decorrência de atitudes como estas, os discentes desenvolvem uma ideia equivocada sobre a ciência, que passa a ser considerada como um “conjunto de verdades dogmáticas resultantes da observação pura e divorciada do contexto social; como uma atividade superior e, como tal, praticada somente por seres intelectualmente superiores.” (SILVA et al., 2008, p. 500). Os cientistas e pesquisadores não são, portanto, reconhecidos como seres humanos imersos em um mar de incertezas, dúvidas, angústias, desejos, 35 esperanças, ideias e, consequentemente, não são seres sujeitos aos enganos e desacertos inerentes a qualquer processo de produção de conhecimento. Qual seria então, o caminho a ser percorrido na tentativa de se reverter este quadro? Incluir a História e a Filosófica da Ciência no ensino é a solução apontada pelos estudiosos e pesquisadores da área, tal como já havia afirmado Matthews (1995), ao relacionar as contribuições da História e Filosofia da Ciência ao ensino. [...] o estudo da história da ciência deve evitar que se adote uma visão ingênua (ou arrogante) da ciência, como sendo ‘a verdade’ ou ‘aquilo que foi provado’, alguma coisa de eterno e imutável, construída por gênios que nunca cometem erros e eventualmente alguns imbecis que fazem tudo errado (MARTINS, 1998, p. 18). [...] A História das Ciências pode ser uma ferramenta importante [...], ao apresentar a ciência como um processo que envolve pessoas comuns, contextos concretos, debates, e não como um conjunto de resultados prontos (SILVA et al., 2008, p. 500). [...] A história ensina a ‘relativizar’, demole mitos, exibe a construção do conhecimento, insere os indivíduos num processo, numa tradição. Além disso, ela pode trazer de volta o fazer ciência para a esfera das atividades humanas (ROBILLOTA, 1988, p. 18). Não somente os alunos seriam beneficiados pela inclusão dessa abordagem históricofilosófica como, também, os professores, que encontrariam as bases sólidas e seguras para a implementação de um ensino mais humano, reflexivo, crítico e, portanto, mais coerente com o próprio desenvolvimento da humanidade. Na verdade, a mudança da visão de ciência dos discentes (da empirista-indutivista para uma abordagem mais humana e contextualizada) somente poderá ser, de fato, concretizada, na minha percepção, se o professor adotar práticas pedagógicas a ela condizentes. Silva et al. (2002) mencionam, por exemplo, que cada professor, ao fazer uso de um teaching style característico, repassa aos estudantes visões, concepções e ideias que foram internalizadas ao longo do seu próprio processo de formação profissional. [...] De fato, o que ocorre é que o professor internaliza mitos durante sua formação, transmitindo-os para as crianças, as quais crescem com estes mitos e os transmitem para outros, em um processo contínuo [...]. (SILVA et al., 2002, p. 500). Dessa maneira para que o professor repense a sua prática e a ela incorpore subsídios que permitam uma abordagem histórico-filosófica da produção do conhecimento, é imprescindível que ele também modifique a percepção que tem de ciência, o que deve ser concretizado no decorrer de sua formação acadêmica. Hülsendeger (2007), Sandoval e 36 Cudmani (1993), Matthews (1995), Robillota (1998), Silva et al. (2002) e outros corroboram essa idéia e sugerem, portanto, a inclusão da disciplina História e Filosofia da Ciência nos currículos dos cursos de licenciatura. Sandoval e Cudmani (1993), por sua vez, vão mais além e discutem os benefícios que o conhecimento em história e filosofia pode trazer para o professor de física (ou professor de ciências). Dentre eles, destacam-se as capacidades de: a) transmitir uma visão mais realista e humana da Física (ou da ciência) pautada, principalmente, pela compreensão de que a criação científica não pode ser reduzida meramente a um problema lógico, visto que é o resultado de um complexo processo histórico, caracterizado pela interação com o meio social de determinada época; b) compreender que determinadas pré-concepções evidenciadas pelos estudantes apresentam alguma semelhança com as teorias que, em determinada época, a ciência aceitou como válidas; c) explicar com maior segurança e propriedade, porque determinada proposição é considerada definitiva, em uma dada época, e qual a sua relação com a prática. Todas essas habilidades distinguem, segundo Matthews (1995), um professor instruído em ciência de outro simplesmente treinado em ciência. “Os professores de ciências precisam de instrução. A História e Filosofia da Ciência contribui claramente para essa maior compreensão da ciência.” (MATTHEWS, 1995, p. 188). 2.2 Como ocorre a inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências Conforme mostrado anteriormente, as contribuições da inserção da História e Filosofia da Ciência ao ensino são muitas e relevantes. No entanto, entre a compreensão e a aceitação desse fato, e a aplicação dos conhecimentos dessa área de modo a, realmente, revelar a ciência como uma atividade humana e social e promover a verdadeira compreensão do processo de produção do conhecimento científico, existe um grande hiato. Tal situação pode ser evidenciada pelo grande número de produções acadêmicas, pela grande atenção e pelo cuidado que pesquisadores e estudiosos da área dispensam às maneiras de se inserir a História e Filosofia da Ciência em propostas didáticas. Inúmeras tentativas já foram feitas: muitas delas de maneira eficaz, outras nem tanto, conforme veremos a seguir. 37 2.2.1 Historiografia e algumas possibilidades de se escrever sobre a história Quando se relacionam as maneiras de se inserir a História e a Filosofia da Ciência no ensino (dramatizações, experimentos históricos, painéis, seminários, etc.) é praticamente impossível não incluir a leitura de algum texto histórico sobre o assunto em questão. As informações históricas precisam ser transmitidas e os textos e os documentos escritos constituem um efetivo meio para isso. No entanto, quando nos colocamos na condição de leitores de história, precisamos ter em mente que existem maneiras específicas de escrever a seu respeito, muitas das quais representam ou fundamentam-se em modos de conceber e compreender o mundo e as suas relações. Quando se fala em escrever a respeito da história, tanto no sentido de como ela deve ser escrita (que envolve teorias e métodos), quanto no sentido de como ela foi, efetivamente escrita, estamos trabalhando com uma área do conhecimento conhecida por historiografia. De uma maneira geral, os pesquisadores da área costumam dividir a historiografia em três fases distintas: a fase pré-científica que engloba as historiografias Grega, Romana, Cristãmedieval e Renascentista; a fase de transição, em que se destacam a historiografia Racionalista ou Iluminista e a historiografia Liberal e Romântica e, finalmente, a fase científica em que temos o Positivismo, o Historicismo, o Materialismo Histórico, no século XIX, a escola dos “ANNALES” e a História Nova, em pleno século XX. Cada uma delas apresenta características condizentes com as correntes filosóficas e o panorama histórico existentes no momento. Considerando-se o contexto desse trabalho, e com o intuito de auxiliar na compreensão de como a história da ciência tem sido escrita e introduzida no ensino, é relevante nos atermos à historiografia positivista e às contribuições da História Nova, que são as manifestações mais recentes. De uma maneira bem sucinta, pode-se dizer que o positivismo representa um amplo movimento do pensamento que dominou grande parte da cultura européia, em suas manifestações filosóficas, políticas, pedagógicas, historiográficas e literárias, de cerca de 1840 até quase as vésperas da Primeira Guerra Mundial. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 295). Originado em um contexto no qual o processo de industrialização e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia constituíam os pilares do meio sociocultural, esta corrente se 38 destacou pelo primado da ciência, isto é, pela valorização da ciência (e de seus métodos) como sendo o único meio em condições de resolver todos os problemas humanos e sociais que atormentavam a sociedade. Os positivistas negavam qualquer conhecimento ligado à metafísica e se dedicavam exclusivamente à descrição das leis que regem o universo (seja no campo das ciências ou das relações sociais). Para o positivista, não interessava, nem fazia sentido, indagar a respeito das causas íntimas e primárias dos fenômenos. Era preciso e necessário apenas saber descrevê-los. Por isso, os seguidores desse movimento acreditavam em um ideal de neutralidade, isto é, na separação entre o pesquisador/autor e sua obra. Ao invés de mostrar as opiniões e julgamentos de seu criador, a obra deveria retratar de forma neutra e clara uma dada realidade a partir de seus fatos, mas sem os analisar. Os positivistas acreditavam que o conhecimento se explica por si mesmo, necessitando apenas seu estudioso recuperá-lo e colocá-lo à mostra. Nesse sentido, para os positivistas que se dedicaram ao estudo da História, tal área do conhecimento passou a ser encarada como uma ciência pura, sendo constituída por fatos históricos bem definidos cronologicamente, e com significados e importância similares às das leis Físicas e Químicas. À semelhança de um cientista (que executa experimentos rigorosos), um historiador deveria extrair as informações acerca do fato histórico, através da busca minuciosa em documentos e textos, lembrando sempre de não fazer nenhum juízo de valor a respeito do fato. O foco dessa historiografia está, portanto, na objetividade dos fatos e na validade do método utilizado para se obtê-los. Consideradas no contexto da escrita da história da ciência, essas características positivistas passaram a ser associadas, com um tom pejorativo, às descrições e às narrativas factuais e cronológicas das descobertas científicas, sempre dotadas de grande ênfase nos personagens da ciência. No entanto, segundo afirmam alguns pesquisadores, Petersen (1998) e Pezat (2006), por exemplo, tal associação está equivocada. Uma leitura atenta de Auguste Comte (17981857), representante do positivismo francês, desmente alguns aspectos comumente associados ao seu pensamento. Todas as obras históricas escritas até hoje, mesmo as mais recomendáveis, não tiveram [...] senão o caráter de anais, isto é, de descrição e de disposição cronológica de uma certa série de fatos particulares, mais ou menos exatos, mas sempre isolados entre si. [...]. Não existe até hoje verdadeira história, concebida em um espírito científico, isto é, tendo por fim a pesquisa das leis que presidem ao desenvolvimento social da espécie humana. (COMTE, 1899, p. 199). 39 Percebe-se, com tal afirmação, que o próprio filósofo condena as narrativas ditas apenas factuais e cronológicas e defende o estudo das leis da sociedade como meio de se tornar tais histórias recomendáveis. Consideradas, portanto, como positivistas ou não, o fato é que essas inserções da história da ciência com características de descrições meramente factuais e cronológicas, muito comuns em livros e materiais didáticos, pouco contribuem para disseminar uma visão humana da ciência. Isoladas de considerações acerca do momento político, econômico, social e cultural vigentes, reforçam apenas os aspectos finais do processo de construção do conhecimento científico, no qual a formulação de uma lei e a explicação do fenômeno ganham destaque. As contradições, as dificuldades e os desacertos parecem não fazer parte desse processo. Certamente por esta razão, tais abordagens passaram a ser vistas com um olhar pejorativo pelos historiadores da ciência. 2.2.2 A pseudo-história É possível perceber na literatura, certo consenso quanto à inutilidade de determinadas abordagens históricas feitas em livros e manuais. Em geral, tais abordagens se caracterizam pela citação de datas e nomes de personagens da ciência, pela apresentação de biografias curtas dos autores das leis estudadas (geralmente no final dos capítulos), ou por relatos folclóricos e mitificados de acontecimentos históricos como, por exemplo, a história de que Newton teria descoberto a lei da Gravitação Universal depois de ter a sua cabeça atingida por uma maçã que se desprendeu de uma árvore, sob a qual ele se encontrava. [...] Os cursos de livros didáticos frequentemente passam uma visão de ciência e de Física, particularmente, senão como algo estático, pelo menos como um processo automático que se desenvolve linear e cumulativamente, passo a passo, sem grandes contradições. Em geral, as suas teorias, modelos ou leis são apresentados como se constituíssem verdades absolutas, naturais, objetivas, que devem ser apreendidas como regras estabelecidas, para serem usados ou aplicados sem quaisquer indagação ou questionamento. As referências históricas, quando existem, não vão além de ‘pinceladas’ de uma história que se limita a citar grandes nomes da ciência ou a apresentar datas e observações folclóricas relacionadas às suas ‘descobertas e descobridores’. (SALÉM, 1986, p. 42). Silva et al. (2008, p. 498), em seu trabalho sobre o uso da história da ciência, também questionam a eficácia de uma história que “não passa de cronologia, de uma seqüência de fatos, datas e ‘gênios de avental branco’ confinados a laboratórios e bibliotecas.”. Para Zanetic e Mozena (2007), nos textos didáticos, 40 [...] quando estão presentes capítulos, apêndices ou notas históricas, temos quase sempre arremedos de história da ciência: são aquelas seqüências cronológicas de datas de grandes invenções, de descobertas sensacionais ou de nascimento e morte das principais personagens envolvidas nesses acontecimentos, acompanhadas de ilustrações que representam essas personagens e seus feitos. (ZANETIC; MOZENA, 2007, p. 110). Essas abordagens são conhecidas pelos estudiosos como pseudo-história e estão, segundo Pagliarini (2007), baseadas em concepções de senso comum sobre a ciência e como ela se desenvolve. Para Allchin (2004), a pseudo-história não está relacionada à utilização de fatos históricos falsos ou incorretos. Pseudo-história não é “Falsa-história” Ao contrário, ela relata episódios, acontecimentos e descobertas que, de fato, aconteceram. O problema, no entanto, é a maneira como são feitos tais relatos. Em geral, a pseudo-história recorta ou fragmenta eventos históricos reais, omitindo o contexto no qual eles ocorreram. Com isso, denota-se e reforça-se idéias falsas a respeito do processo histórico da produção do conhecimento e, conseqüentemente, a respeito da natureza do conhecimento científico. “A pseudo-história transforma a ciência real em uma ciência imaginária e idealizada.” (ALLCHIN, 2004, p. 186). Além das características já citadas, é ainda evidente nesse tipo de abordagem a idéia de que exista um método científico universal capaz de conduzir todo e qualquer tipo de produção científica por meio da execução de passos ou etapas específicas que podem ser assim sintetizadas: a) Definição do problema a ser estudado. b) Realização de rigorosas medições e observações acerca do problema estudado. É considerada a etapa crucial do método, já que a partir dela serão estabelecidos os rumos a serem tomados. c) Definição de padrões e formulação de hipóteses sobre o fenômeno estudado, a partir dos resultados obtidos na etapa anterior. d) Teste das hipóteses para confirmação ou não dos resultados obtidos. Caso confirmadas, tem-se a comunicação dos resultados obtidos e o consequente estabelecimento das leis científicas. Por este encadeamento, fica subtendida a falsa idéia de que todas as teorias científicas de que se tem conhecimento até hoje foram obtidas a partir de dados coletados minuciosa e cuidadosamente, o que reforça a concepção empirista-indutivista e anula por completo as 41 contribuições e os fatores humanos tais como a criatividade e a imaginação, ao desconsiderar todos os prováveis erros e os insucessos cometidos ao longo de todo o caminho. Além disso, em algumas situações, esta pseudo-história é apresentada aos estudantes por meio de narrativas que fazem uso de artifícios retóricos para despertar a atenção e a curiosidade dos ouvintes mas que, em termos históricos não cumprem o seu papel. Observe, por exemplo, como o documentário “Mentes Brilhantes” (que será utilizado nessa dissertação como parte do material didático produzido) introduz aos alunos as primeiras idéias a respeito de quatro cientistas (Galileu Galileu, Isaac Newton, Albert Einstein e Stephen Hawking): São desajustados, rebeldes arrogantes, desprezam a sabedoria universal e cada um deles concebeu uma visão radical do cosmos. Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein e Stephen Hawking. Todos tiveram vidas tumultuadas cheias de triunfos e falhanços que os tornaram humildes [...] Essas são as pessoas que ousaram desafiar. Enfrentam muitas vezes oposições e geralmente não lidam bem com isso [...] Havia uma espécie de demônio em seu interior que praticamente não os deixava fazer outra coisa. É preciso ter um ego forte para dizer, eu consigo resolver isto, eu consigo resolver este pedaço do universo [...]. Quem eram estes rebeldes brilhantes e que segredos de suas mentes permitiam a eles pensar o impensável e revelar a beleza e a estranheza do universo? (MENTES ..., 2009). Em geral, estas narrativas romantizam os cientistas ao relatar as suas descobertas e criam, portanto, mitos. A arquitetura desses mitos científicos, segundo Allchin (2004), se constrói com base em quatro pilares: a monumentalidade, a idealização, o drama e o caráter justificativo. A monumentalidade está relacionada ao papel heróico exercido pelos cientistas dentro destas narrativas. Em uma analogia aos grandes personagens da literatura, os cientistas-heróis são apresentados como indivíduos completamente íntegros, honestos e incapazes de cometer algum erro. Além disso, as suas descobertas são sempre destacadas como revolucionárias e dotadas de uma importância superior, que ultrapassa a própria vida do cientista. A idealização, por sua vez, diz respeito ao fato de a narrativa ser construída por meio de uma constante exaltação daquilo que se deseja que o leitor/ouvinte retenha, seguida de uma relativização de aspectos considerados, pelo autor, como menos importantes ou não essenciais. Como conseqüência, muitos detalhes particulares das descobertas (tempo, lugar, cultura, contingências da personalidade do cientista, conquistas e informações anteriores) são perdidos e o contexto que caracteriza toda a “rede” da história se torna estreito e extremamente direto. Segundo Allchin (2004), a idealização é empregada para preservar somente os 42 elementos que justificam o resultado a ser evidenciado no decorrer da narrativa. De certa maneira, tal procedimento já é esperado, uma vez que é impossível, em um processo de ensino e aprendizagem, fazer referência a todos os passos que efetivamente contribuíram para que determinada lei fosse formulada. No entanto, é extremamente importante que os professores estejam atentos ao tipo de simplificação que fazem nesses relatos, para que não transmitam aos alunos uma concepção distorcida da ciência e do trabalho desses cientistas. O terceiro pilar que sustenta a arquitetura desses mitos é o “drama efetivo” das narrativas que, de acordo com Allchin (2004), constituem técnicas literárias usadas com o único propósito de persuadir, divertir e entreter o leitor. Dentre estas técnicas, o autor destaca: a) a emoção do momento da descoberta, também intitulado de momento “a-há” ou momento “eureka” e ilustrado como aquela lâmpada que aparece acima dos personagens nas histórias em quadrinho. Na história da gravitação universal, por exemplo, tal técnica é muito evidente. Diversos são os materiais que afirmam ter Newton conseguido formular a Teoria da Gravitação Universal, depois de ter a sua cabeça atingida pela fruta. Tudo se passa como se esse episódio tivesse fornecido “a luz’ ao cientista que, a partir daí, pode concluir a sua lei. Situação semelhante também se percebe na ótica de Newton. O experimento da dispersão da luz branca através de um prisma é apresentado como o momento “a-há” para a conclusão de que a luz branca é constituída por cores com diferentes refrangibilidades; b) a exaltação do bom, em contraste com o mau, ou seja, do herói versus o seu adversário, do cientista versus aquele supressor da verdade, de Darwin versus Lamarck, de Galileo versus a Igreja, de Newton versus Aristóteles, etc.; c) a recompensa pelo caráter integro, que faz o cientista ser leal às evidências do fenômeno e ainda resistir aos preconceitos sociais. No documentário Mentes Brilhantes produzido pela Discovery Channel (que será utilizado no produto final dessa dissertação), por exemplo, Isaac Newton é caracterizado como um ser que sofreu muitas críticas e perseguições (era tido como uma pessoa de difícil relacionamento e que, por isso mesmo, se manteve praticamente só e isolado do convívio com os demais). Mesmo assim, não abandonou o seu trabalho e, nos momentos oportunos, deixou evidenciar as suas teorias. Por fim, e como uma consequência imediata dessas três características, Allchin (2001) identifica o caráter justificativo e explicativo dessas narrativas. Segundo o autor, grande parte 43 das narrativas históricas apresenta papel semelhante ao das fábulas. No final do processo, objetiva-se sempre enfatizar um resultado ou uma moral que explicite “Como a ciência encontra as verdades.” (ALLCHIN, 2001, p. 346). Através de uma série de eventos e da aplicação de métodos sempre corretos, os cientistas sempre acabam por descobrir as explicações para os fenômenos e, dessa forma, reafirmam a autoridade da ciência. De fato, o que se percebe nas narrativas ditas históricas é exatamente a seqüencia de acontecimentos que conduz sempre à explicação do fenômeno. As controvérsias, os resultados inesperados (muito comuns no decorrer dos procedimentos), as dificuldades com a execução de determinado experimento, são completamente ignorados no processo. Na explicação de Newton para o fenômeno da dispersão da luz branca, fornecida pelos materiais didáticos analisados, por exemplo, verifica-se (veja análise feita no capítulo 7 dessa dissertação) que nenhuma informação é mencionada a respeito do formato da imagem do Sol, quando os raios dele emitidos ultrapassavam o prisma. Segundo a previsão teórica, ela deveria ser circular. No entanto, os resultados obtidos mostraram ser oblonga. Essa diferença não significou, no entanto, um erro no processo científico. Ao contrário, foi extremamente importante para que Newton modificasse as suas conjecturas a respeito das refrações sofridas pelos raios nos dois lados do prisma. Apesar disso, nenhum material didático analisado (veja as considerações no capítulo 7 desse trabalho) menciona essa situação. O caráter explicativo ou justificativo reforça, portanto, nos alunos, a idéia de que métodos corretos conduzem sempre a conclusões corretas, o que nem sempre é verdadeiro. Métodos corretos podem também, como evidenciado acima, levar a conclusões “erradas” ou, melhor dizendo, inesperadas. Segundo Chaib e Assis (2007), distorções como essas contribuem para reforçar, além da concepção empirista-indutivista citada por Pagliarini (2007), o caráter linear da história da ciência, no qual os conceitos e teorias antigas seriam substituídos pelos novos, sem qualquer contradição, discussão ou debate. A ciência seria então transformada em um mero encadeamento de idéias e fatos, sempre bem sucedidos, e não passíveis de qualquer percalço em seu desenvolvimento. Robillota (1985) também demonstra a sua insatisfação com esse caráter linear traçado para a história da ciência, e ainda afirma que ele provoca nos estudantes um sentimento de inferioridade, na medida em que se percebem como meros espectadores, distantes e incapazes de participar da produção e divulgação do conhecimento científico. [...] A linearização é responsável por uma imagem de ciência como algo não humano, muito superior às possibilidades dos mortais. A linearização da história apresenta a ciência como um produto a ser venerado, admirado à distância, fazendo 44 com que os estudantes adquiram um sentimento de inferioridade. Esse sentimento sugere a eles ser difícil demais a participação no desenvolvimento e difusão da ciência. A linearização da história promove o triunfo da ciência; nós somos os derrotados. (ROBILLOTA, 1985, p. IV-10). Em suma, percebe-se que a utilização da pseudo-história não contribuiu em nada para estabelecer uma visão mais humana e realista da ciência, tal como entendemos e defendemos neste trabalho. Ao contrário, ela reforça elementos da concepção empirista-indutivista, estabelece e perpetua mitos e ainda possibilita o aparecimento do sentimento de inferioridade nos estudantes, que se sentem excluídos e distantes do processo de construção da ciência. 2.2.3 Outras possibilidades para a inserção da História e Filosofia da Ciência Uma vez que a pseudo-história e as suas narrativas mitificadas não cumprem com o papel de transmitir uma idéia mais humana e realista da ciência, faz-se necessário repensar e delinear novas maneiras de se aproximar a História e a Filosofia da Ciência do ensino. Tal preocupação, na verdade, não é recente e se evidencia nas inúmeras discussões, nos diversos artigos e relatos escritos, bem como nas diversas pesquisas já realizadas com este enfoque. Pelos trabalhos já desenvolvidos, percebe-se que não há um modo único de trabalhar a História e a Filosofia da Ciência em sala de aula que possa ser adotado como método padrão para se alcançar o objetivo desejado. Isso porque cada conjunto de alunos tem características e demandas próprias que acabam por delimitar ou mesmo definir as melhores estratégias a serem utilizadas. Além disso, dependendo da concepção epistemológica adotada pelo professor, isto é, dependendo da maneira como o docente compreende a relação entre a ciência, o sujeito, o objeto do conhecimento e a maneira como ocorre a produção desse conhecimento, tem-se a elaboração de atividades distintas e a adoção de estratégias e metodologias diferentes. No entanto, é possível encontrar na bibliografia recente algumas tentativas para se fazer essa reaproximação e mesmo algumas considerações quanto ao que deve ser evitado. De acordo com os estudiosos e pesquisadores da História e Filosofia da Ciência, é possível identificar dois enfoques diferentes para esta área do conhecimento. O primeiro, conhecido como enfoque internalista (ou conceitual), [...] se caracteriza pelo estudo profundo de teorias, comparação entre teorias concorrentes, análise da consistência interna das idéias que surgiram, estudo da lógica de algumas descobertas, assim como do papel de cada um dos cientistas envolvidos nos episódios históricos. (PORTELA, 2006, p. 44). 45 Em outras palavras, é uma abordagem que se preocupa em responder se determinada teoria estava bem fundamentada, considerando as evidências utilizadas, a existência ou não de lacunas metodológicas e o contexto científico de sua época. Está mais adequada, portanto, para os estudiosos, pesquisadores e historiadores da ciência que dispõem de um tempo extenso e têm a oportunidade de acesso a documentos e fontes primárias, tais como as cartas trocadas entre os cientistas envolvidos na análise dos fenômenos ou mesmo os experimentos por eles realizados à época do estudo. O segundo enfoque seria a história externalista e não-conceitual, que se preocuparia em analisar os fatores extracientíficos, isto é, “as influências sociais, políticas, econômicas, a luta pelo poder, propaganda.” (MARTINS, 2005, p. 306). Por esta abordagem, deveriam ser feitas análises de como os aspectos e as necessidades sociais de diferentes épocas afetaram o conteúdo das diversas teorias científicas que estiveram em vigor naquele momento histórico. Um exemplo de tal abordagem seria a busca pela compreensão do porquê de determinada teoria que estava bem fundamentada ter sido rejeitada. Para Martins (2005), a resposta a essa temática envolveria a análise e o estudo profundo da correspondência do cientista com outros estudiosos da época, do contexto social, político e religioso, o que poderia transformar as aulas de ciências em verdadeiros cursos de História e Filosofia da Ciência. O que se verifica, na realidade, nas propostas apresentadas no meio acadêmico para a utilização da História e Filosofia da Ciência em sala de aula (ensino médio ou superior), é uma tentativa de se estabelecer um ponto de equilíbrio que una elementos de uma abordagem internalista (ao analisar, por exemplo, o encadeamento lógico e as argumentações utilizadas na explicação de um determinado fenômeno) com elementos de uma abordagem externalista (ao analisar, por exemplo, o momento histórico para dele retirar algumas informações que auxiliem na compreensão dos fatos estudados). Essa união, não pode resultar em um trabalho empobrecido ou desvirtuado do seu real objetivo, nem tampouco demasiadamente denso do ponto de vista histórico. Segundo Guerra et al., [...] precisamos ter o cuidado de não realizarmos um trabalho empobrecido. Os alunos necessitam estudar de forma aprofundada o tempo e o espaço histórico do assunto abordado, de forma a reconhecerem os problemas e as controvérsias vividas pelos personagens que construíram direta ou indiretamente aquele conhecimento. Enfim, eles devem ser capazes de reconhecer os debates científicos, filosóficos e epistemológicos gerados naquele ambiente. Apesar da importância desse trabalho histórico aprofundado, não podemos correr o risco de transformar as aulas de ciências em cursos da história da ciência. (GUERRA et al., 2004, p. 226). É exatamente com este enfoque e buscando formas de apresentar uma concepção de 46 história mais filosófica e humana, que alguns trabalhos têm sido desenvolvidos nos mestrados profissionalizantes em ensino de ciências, ou mesmo como resultado da própria experiência e reflexão docente. Guerra et al. (2004), por exemplo, apresentam uma proposta pedagógica para se trabalhar de forma um pouco mais aprofundada e contextualizada o desenvolvimento do eletromagnetismo no ensino médio. Para tanto, selecionam o período que se estende desde o experimento de Oersted, em 1820, até a publicação do trabalho de Faraday sobre a indução eletromagnética, em 1832 e propõem que seja trabalhado em quatro unidades didáticas distintas. Na unidade I, intitulada “Antecedentes do eletromagnetismo” é apresentado o ambiente científico em que viveram Ampère, Oersted e Faraday, a partir do estudo de questões referentes ao Iluminismo e à concepção mecanicista da natureza. Na unidade II, “O nascimento do eletromagnetismo”, são apresentadas as questões filosóficas e científicas que estruturaram a primeira fase do eletromagnetismo. Discussões em sala, leitura de poesias, discussões de filmes, construção de aparelhos (galvanômetro) e realização de experimentos são algumas das estratégias utilizadas. Na terceira unidade, “O eletromagnetismo após Faraday”, são discutidos os conceitos de campo elétrico, campo magnético e eletromagnético. Por fim, em “Circuitos Elétricos”, os alunos trabalham a eletrodinâmica, principalmente a lei de Ohm, resistência e resistividade elétricas. Silva et al. (2008), por sua vez, buscam na reconstrução de episódios históricos o meio de se apropriar da História e Filosofia da Ciência. Para tanto, inspiradas na epistemologia de Lakatos, procuram desenvolver o ensino dos conceitos científicos por meio de atividades didáticas que devem priorizar os seguintes passos: a) Passo 1: Revelar as concepções alternativas dos alunos em determinado conteúdo para encará-las como se fossem “programas”. Isso pode ser feito por meio da aplicação de questionários, discussões orais, etc.; b) Passo 2: Apresentar duas teorias científicas rivais, preferencialmente, de modo a incluir aquela que se pretenda ensinar, e discutir com os alunos os postulados de cada teoria, analisando as diferenças explicativas para certos fenômenos. É interessante que, nesse momento, o professor dê preferência a fenômenos que possam ser igualmente explicados por ambas as teorias. Dessa maneira, os alunos as considerarão como igualmente fortalecidas; c) Passo 3: Avaliar as inteligibilidades das teorias propostas no passo anterior; d) Passo 4: Apresentar a atividade didática procurando promover reflexões e 47 discussões entre os discentes, que os conduzam à percepção de que uma das teorias apresentadas mostra-se contraditória frente à explicação de determinado fenômeno. Com isso, pretende-se provocar, nos discentes, um entendimento da degeneração (enfraquecimento) de uma teoria frente a rival; e) Passo 5: Iniciar a discussão racional entre as concepções alternativas dos alunos e a teoria científica que foi vencedora no passo anterior. Neste momento, o professor deve apenas resgatar e apresentar aos alunos as concepções alternativas que foram encontradas no passo 1 e compará-las com a teoria científica, então inteligível; f) Passo 6: Estabelecer uma insatisfação com a concepção alternativa da mesma forma como se procedeu com o programa degenerativo no passo 4, de modo que, ao final, os alunos tenham condições de escolher a melhor teoria; g) Passo 7: Verificar e avaliar se a nova concepção (e não a alternativa) foi, de fato, interiorizada pelos estudantes. Com esta seqüência de passos, os autores acreditam preparar os indivíduos para posteriores debates racionais. Ainda baseando-se na utilização de atividades didáticas que priorizem o falseamento de uma teoria frente à outra, Silveira e Peduzzi (2006) elaboram uma seqüência didática para explorar os espectros de emissão atômica e a teoria do átomo de Bohr com o intuito de evidenciar a riqueza e o dinamismo dessa abordagem frente à história empirista, normalmente utilizada em sala de aula. Nesse sentido, sugerem o seguinte encadeamento: a) estudar aspectos da Física do final do século XIX e começo do século XX pertinentes ao tema, de modo a contextualizá-lo historicamente (o eletromagnetismo de Maxwell, as séries espectrais, o quantum de Planck, a explicação de Einstein do efeito fotoelétrico, o átomo de Rutherford); b) destacar que, segundo o eletromagnetismo de Maxwell, as órbitas dos elétrons do átomo de Rutherford eram instáveis; c) introduzir as hipóteses revolucionárias de Bohr – o núcleo duro de sua teoria ou, de acordo com a terminologia de Lakatos, do seu programa de pesquisa; d) discutir a importância da interação entre teoria e experiência no desenvolvimento dos primeiros modelos de Bohr, destacando o caráter progressivo das idéias; e) examinar as limitações da concepção empirista-indutivista quando confrontada com a história do programa de pesquisa de Bohr; 48 f) destacar, por fim, que com as novas evidências experimentais, o programa de pesquisa começou a dar indícios de saturação e entrou, portanto, na fase regressiva, caracterizada pelo atraso do crescimento teórico em relação ao crescimento empírico. Em uma outra tentativa de utilizar a História da Ciência como meio de favorecer o aprendizado de conceitos da Termodinâmica no ensino médio, Hülsendeger (2007) elaborou um projeto que contou com a participação dos professores de Física, História e Redação. O enfoque central do trabalho foi o surgimento da máquina a vapor e a proposta foi desenvolvida por meio de pesquisas, escrita, discussão, crítica, contextualização do momento histórico (Primeira revolução industrial) e compreensão dos fenômenos físicos envolvidos. Um outro trabalho que também pode ser citado como uma tentativa de se explorar a história da ciência, é o descrito por Magalhães, Santos e Dias (2002) para o ensino dos conceitos de campo elétrico e magnético. Baseando-se em suas experiências docentes em uma escola do Rio de Janeiro, os autores buscam, na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e Novak, a inspiração para a elaboração do material. Na visão dos mesmos, a história da Física funciona como um organizador prévio, isto é, como material introdutório que deve ser apresentado antes do material a ser aprendido e que favorece o desenvolvimento dos conceitos subsunçores. Nesse contexto, os autores propõem a seguinte sequência: a) elaboração e aplicação de um questionário para verificar o conhecimento prévio dos alunos acerca dos conceitos de campo; b) confecção de um catálogo historiográfico, com os eventos, as questões e os problemas que foram mais significativos para a formulação e a fundamentação dos conceitos de campo elétrico e magnético. Esse catálogo, dentro da teoria da aprendizagem significativa, funcionaria como os subsunçores; c) apresentação de um roteiro de ensino dos conceitos de campo elétrico e magnético, com o objetivo de se efetivar uma aprendizagem significativa. Exemplificando os trabalhos desenvolvidos em programas de mestrado em ensino de ciências, Paula (2006) procura na exploração de experimentos históricos, o caminho para se atingir o equilíbrio anteriormente discutido. Com este intuito, e devido à dificuldade de se reproduzir na íntegra esses experimentos históricos, o autor propõe a utilização de simulações computacionais, como meio de se analisar e resgatar algumas características do experimento 49 do plano inclinado de Galileu, extraído da obra Discursos e demonstrações matemáticas acerca de duas novas ciências (1638) de Galileu Galilei (1564-1642) e, a partir disso, elabora uma atividade de ensino para o estudo da lei de queda dos corpos, no ensino médio. Já Portela (2006), utiliza-se do estudo de casos históricos, como meio de se aproximar a história da ciência do ensino em sala de aula. Em seu trabalho, é resgatado o contexto em que se deu o surgimento da noção de pressão atmosférica. Nesse processo, o autor explora o caráter linear da história, na medida em que parte das ideias de Aristóteles sobre a impossibilidade do vazio, apresenta os problemas de ordem prática da época de Galileu Galilei, os experimentos cruciais realizados por vários cientistas como Berti, Evangelista Torricelli e Blaise Pascal, e finalmente apresenta a confirmação da existência de uma pressão exercida pelo ar atmosférico expressa nos experimentos de Robert Boyle. Tudo isso é repassado aos alunos por meio das “Lições de Física”, material pelo autor elaborado como produto final de sua dissertação. Vannucchi (1996), por sua vez, utiliza-se do episódio do aperfeiçoamento da luneta de Galileu Galilei no século XVII, para elaborar duas atividades de ensino a serem aplicadas no ensino médio, que têm como finalidades a discussão das relações entre Ciência e Tecnologia e o papel dos referenciais teóricos dos cientistas na observação e interpretação de dados. Diante desses exemplos, percebe-se a diversidade de maneiras propostas com o intuito de fazer a aproximação da História e Filosofia da Ciência do ensino. Particularmente, acredito que cada momento histórico do desenvolvimento da ciência traz à tona diferentes questões acerca da produção científica que precisam e podem ser exploradas por meio de atividades didáticas, com o objetivo de transmitir uma visão mais humana e realista da produção do conhecimento científico. Uma maneira de se fazer isso, seria por meio de recortes nos momentos históricos. Ao invés de trabalhar com uma história linear como fez Portela (2006), escolhe-se um fato, um evento marcante, um experimento importante dentro do desenvolvimento da ciência – tal como fizeram Guerra et al. (2004) e Vannucchi (1996) – e desenvolve-se um estudo das principais ideias e questões científicas em torno da explicação do fenômeno, as controvérsias mais marcantes, os personagens (cientistas) envolvidos e, principalmente, as influências ideológicas e filosóficas que permeiam o pensamento científico da época. Sempre tendo em mente a necessidade de se encontrar o equilíbrio entre as abordagens externalista e internalista da ciência. Desse modo, procura-se mostrar aos alunos que as descobertas científicas não acontecem por acaso nem como consequência de um momento de pura inspiração dos cientistas. Muito pelo contrário. Elas resultam de um lento processo de construção, para o 50 qual contribuem os estudos feitos anteriormente, o momento histórico vivido à época e, principalmente, a filosofia que embasa o modo de pensar, raciocinar e lidar com o objeto do conhecimento dos cientistas. 51 3 A CIÊNCIA COMO UM PRODUTO DA RELAÇÃO EXISTENCIAL ENTRE OS SERES HUMANOS E O MEIO: SUBSÍDIOS TEÓRICOS A busca pelo equilíbrio entre a abordagem externalista e a abordagem internalista da ciência, mencionadas no capítulo anterior, somente será efetivada se o pesquisador/professor tiver a consciência de cada uma delas reflete, na realidade, uma concepção específica acerca da ciência e da produção do conhecimento científico. De fato, as atividades ou materiais didáticos propostos (em uma ou outra linha) reforçam determinadas concepções que podem construir ou não, nos alunos, visões mais humanas e realistas da ciência. Considerando que um dos objetivos desse trabalho é a elaboração de um material didático que empregue elementos da História e Filosofia da Ciência no ensino de Física, de modo a fazer com que os discentes compreendam que as teorias científicas são, na verdade, o resultado de um lento processo de construção, para o qual contribuem os estudos desenvolvidos anteriormente, o momento histórico e a filosofia vigentes à época, torna-se imprescindível que estejam claras tanto a concepção de conhecimento científico abordada neste trabalho, como o processo pelo qual compreendemos a sua produção e evolução. De um modo geral, podem-se identificar duas linhas de análise a serem seguidas, quando se decide estudar sobre o conhecimento científico e o processo de sua produção. A primeira delas isola o indivíduo de toda a evolução e o coloca como um ser introspectivo, cujas realizações e descobertas são meramente resultantes de sua individualidade, vocação e genialidade. A segunda, com a qual nos identificamos neste trabalho e que apresenta um ângulo de visão totalmente contrário, coloca o conhecimento como um fato histórico, isto é, como uma manifestação que acontece concomitantemente ao desenvolvimento biológico dos seres e que, portanto, acompanha o processo de formação da racionalidade humana sendo ora influência, ora influenciado pelo meio. Nessa perspectiva, o indivíduo passa a existir não somente por sua personalidade e individualidade, mas também por sua experiência exterior, social e histórica com o meio no qual ele está inserido em determinada época. Pinto (1979), um dos grandes defensores dessa segunda linha, advoga ainda que, partindo dessa premissa histórica do conhecimento, a sua produção deve sempre ser encarada de modo dialético. O todo do conhecimento, presente em uma determinada época, se constrói pela acumulação de atos e descobertas particulares, efetivadas em um lugar específico e por um determinado cientista. Esses atos singulares, por sua vez, precisam ser encarados como resultantes do conhecimento total disponível no momento histórico em questão. Não é pertinente, portanto, perguntar pelo que vem logicamente primeiro: o todo ou as partes? Cabe, 52 apenas, indagar qual dessas duas categorias, em concordância com o tipo e o teor da análise a ser feita, tem a primazia naquele momento. [...] A teoria do conhecimento tem de ser construída partindo não da subjetividade humana que, como tal, já é um produto secundário do processo da realidade, mas da objetividade absoluta, da existência concreta do mundo em evolução permanente, da vida, como dinamismo em expansão e complexidade crescente. (PINTO, 1979, p. 18). 3.1 A ciência e a produção do conhecimento como produtos da relação existencial entre os seres humanos e o meio A idéia de que a produção do conhecimento se dá concomitantemente ao desenvolvimento biológico dos seres e que, portanto, é uma característica de qualquer matéria viva, pode ser justificada quando associamos o conhecimento à capacidade que os seres têm de se sensibilizarem pelas condições do ambiente e de reagirem a ele com respostas que tendem a ser as mais eficazes e apropriadas para contornar situações possivelmente desfavoráveis e prejudiciais. De acordo com Pinto (1979), o conhecimento acompanha a escala evolutiva das espécies, encontrando sua maior expressão na racionalidade humana. Isso significa que, de um modo bastante amplo, e sem nos atermos às minúcias existentes entre os distintos processos evolutivos que conduzem uma espécie biológica à outra, é possível dividir o processo de produção do conhecimento em três etapas distintas: a fase dos reflexos primordiais, a fase do saber e a fase da ciência. Em todas elas, o conhecimento é tido como o reflexo do mundo no ser vivo e, portanto, encontra-se completamente vinculado à existência dos seres nesse mundo. [...] o ‘estar no mundo’ é universal, pertence à base biológica da existência, sendo comum a todos os animais e não uma característica do homem, no qual apenas se apresenta com aspecto diferente pelo fato de nele se tornar consciente. Por isso, o conhecimento supõe alguma forma de apreensão do estado presente do mundo e de resposta a ele, pois sem a reatividade da matéria organizada, esta seria incapaz de evoluir, isto é, de ascender em grau de complexidade na organização, mas, ao contrário, seria arrastada pelas leis das simples reações químicas e pela exposição ao acaso dos choques mecânicos. (PINTO, 1979, p. 21). 3.1.1 A fase dos reflexos primordiais De modo geral, essa primeira etapa do conhecimento é a mais extensa em termos cronológicos, já que inclui toda a escala evolutiva da matéria viva, desde a mais primitiva 53 forma de organização até as fases iniciais do processo de hominização. Caracteriza-se, primordialmente, pela produção de um conhecimento na ausência da consciência, ainda que se verifiquem algumas respostas (arco reflexos) às solicitações do meio. Os tropismos, isto é, a capacidade de responder favoravelmente aos estímulos representados por forças físicas (gravitação), a iluminação, a direção dos campos elétricos e magnéticos, constituem o conhecimento dessa fase mais elementar. Em um segundo momento, mas ainda dentro da fase dos reflexos primordiais, o conhecimento já se mostra mais relacionado à capacidade de reagir ao meio, ainda de modo inconsciente, principalmente com o estabelecimento dos reflexos condicionados. Nesse sentido, os animais conseguem encontrar soluções para problemas relativos à sua sobrevivência com o auxílio, principalmente, de experiências anteriores. Em um estágio posterior, por sua vez, já são encontrados traços de uma consciência, porém sem caráter reflexivo. O animal se mostra capaz de formar representações dos objetos enquanto estes estão próximos a ele, mas não consegue abstrair nem separar o objeto da idéia que têm dele. Por fim, e estabelecendo o início do período de transição para a próxima fase, tem-se o conhecimento encontrado nas formas pré-sapiens da evolução humana. São indivíduos do gênero “homo” que demonstram a capacidade da ideação, isto é, a habilidade de, na ausência material de um objeto, conseguir manter representações do mesmo e estabelecer vínculos entre essas ideias. Além dessas transformações psíquicas, estes seres passam por algumas modificações orgânicas importantes (liberação dos membros anteriores da necessidade de apoiar a marcha, desenvolvimento do aparelho fonador) que os possibilitam operar instrumentalmente sobre o mundo e exercer um certo domínio sobre ele. 3.1.2 A fase do saber A segunda fase do desenvolvimento do conhecimento, intitulada de fase do saber, se caracteriza pela presença de um conhecimento reflexivo. Nessa etapa, o ser humano toma consciência de sua racionalidade, reconhece nela um traço que o distingue dos demais seres e a cultiva intencionalmente, transmitindo, por meio da educação, esse saber às gerações futuras. No entanto, é um momento em que o ser humano apenas sabe que sabe, mas desconhece a maneira como chegou a esse saber. Ele é capaz de organizar o conhecimento em formas preliminares para atender às necessidades práticas, mas ainda não é capaz de estabelecer um método nessa organização. O conhecimento se mantém praticamente no estágio empírico e o ser humano 54 [...] pratica observações conscientes, ensaia técnicas de atuação sobre a realidade, experimenta em forma espontânea e confusa, crias as primeiras explicações racionais do mundo, da sociedade e da existência, a princípio em caráter puramente mítico e religioso, e depois em forma de incipientes interpretações científicas do universo. (PINTO, 1979, p. 29). Em consequência disso, o conhecimento na fase do saber adquire um crescimento desordenado, uma vez que se mostra dependente das interpretações dos indivíduos que se dedicam a investigar a realidade. 3.1.3 A fase da ciência A terceira fase de produção do conhecimento, que se intitula por fase da ciência é, em linhas gerais, o momento do saber metódico, isto é, o período no qual o saber, o conhecimento, são intencionalmente produzidos para provocar, por meio do domínio e da utilização dos fenômenos naturais, a transformação da realidade. Como nos apregoa Pinto, [...] A ciência é a investigação metódica, organizada, da realidade, para descobrir a essência dos seres e dos fenômenos e as leis que os regem com o fim de aproveitar as propriedades das coisas e dos processos naturais em benefício do homem. (PINTO, 1979, p. 30). Nesse contexto, a ciência, é vista como fruto da racionalidade humana, que não mais coleta dados de modo subjetivo e baseado em caprichos ou invenções pessoais mas, sim, segue regras e leis que determinam como retirar do mundo conteúdos inteligíveis e que, principalmente, respeitem as correlações processuais existentes entre as ideias já elaboradas sobre determinado fenômeno. Em outras palavras, o conhecimento se eleva à forma científica quando o ser humano, em virtude de todo um processo de maturação biológica, de desenvolvimento do sistema nervoso central e da capacidade de criar reflexos cada vez mais elaborados, se mostra capaz de explorar a natureza de forma metódica e organizada, de acumular e reter dados, de classificar, de comparar e de estabelecer relações lógicas e ideias a respeito de tudo aquilo que foi observado. Nesse contexto, verifica-se que a ciência se torna um produto final do processo de hominização, se manifestando apenas em seus estágios superiores. Segundo Pinto, o conhecimento nessa fase da ciência se expande em um formato de uma espiral, já que 55 [...] a prática de um momento, tal seja a organização que o ser vivo possua, condiciona a modalidade da percepção que lhe é dado ter. Desta é que o animal parte, equipado com ela, e portanto diferente do que era anteriormente, para uma nova experiência da realidade, o que significa um enriquecimento, um aperfeiçoamento da natureza de tal ser vivo. O que distingue a segunda experiência da primeira, é que o ser vivo mudou qualitativamente no intervalo, pelo fato de se ter tornado agora capaz de comportar-se com uma atuação sobre a realidade, que vai crescendo e se complicando com a evolução das espécies, até alcançar no homem o que se entende por trabalho consciente de construção do mundo para si. (PINTO, 1979, p. 46). E é exatamente durante a realização desse trabalho, dessa ação consciente sobre o meio, que o ser humano se torna capaz de concretizar a relação entre o pensamento e o mundo exterior, em uma ideia. Isso significa que, para que se evidencie o surgimento das ideias, é imprescindível que o indivíduo viva em sociedade e que opere sobre ela. Vista sob essa ótica, as ideias adquirem uma conotação de produto, de um resultado e de uma consequência da ação do indivíduo sobre a natureza. Podem, portanto, e seguindo a classificação estabelecida por Pinto (1979), serem consideradas um bem de consumo. Por outro lado, a partir do momento em que passam a existir e que são incorporadas ao processo de produção do conhecimento, as ideias começam a direcionar e a dirigir as atitudes humanas e, assim, adquirem uma conotação de bens de produção. Vê-se, assim, que no desenrolar de todo o processo de construção do conhecimento científico, as ideias assumem ciclicamente os dois aspectos: ora são bens de produção, ora de consumo. Disso resulta que ao mais recente conhecimento produzido em uma determinada época, estará sempre associado um potencial de progresso, compreendido como a possibilidade de essa recém adquirida ideia servir como elemento propulsor de novas descobertas que, por sua vez, conduzirão a outras ideias e assim sucessivamente. [...] O que se chama conhecimento consubstancia-se em um processo de encadeamento de ideias, cuja essência reside nesta contradição, que se engendra e se resolve a todo instante, quando uma ideia recém-adquirida se mostra capaz de conduzir a novas descobertas, que serão representadas por outras tantas ideias, que, uma vez adquiridas, continuarão impulsionando o ciclo sem fim do progresso intelectual. (PINTO, 1979, p. 87) Complementando esta realidade dinâmica da produção do conhecimento, e fornecendo a ela uma compreensão menos abstrata e mais condizente com a linha de raciocínio defendida nesse trabalho, é preciso mencionar outras duas facetas da produção do conhecimento científico que, de certo modo, se correlacionam ao ciclo acima descrito. Com efeito, até o presente momento evidenciou-se a capacidade que o ser humano apresenta, na fase da ciência, de empregar as ideias (seja como um bem de produção ou 56 consumo) para realizar um trabalho sobre a natureza, modificando-a e sendo também por ela modificado. No entanto, ainda que possa parecer que essas transformações ocorram entre o indivíduo isolado e o mundo em um determinado instante, o que se constata é algo muito diferente. Na verdade, a ação do ser humano sobre a natureza não se dá de maneira individual, solitária ou pessoal, mas apresenta um caráter social. Isso significa que o indivíduo sempre produz ideias em uma ação coletiva, em união com um grupo de semelhantes que, a priori reduzido, tende constantemente a crescer. E essa produção social de ideias pressupõe que as novas descobertas possam ser transmitidas e comunicadas a todos os membros do grupo empenhados nessa tarefa comum, o que só pode ser efetivado por meio do desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita próprias. Além desse caráter social da produção das ideias, é preciso ressaltar também a sua faceta histórica, isto é, a sua completa interdependência do momento histórico vigente. O aparecimento de determinada ideia e o seu emprego como um bem de consumo subordinamse, especialmente, às demandas sociais, econômicas, culturais e políticas existentes em um certo período. Por outro lado, são exatamente essas necessidades que determinarão o período pelo qual essas ideias serão eficazes. Isso porque o mundo resultante das aplicações das ideias se transforma, passando a exigir a concatenação de novas ideias que atendam às recentes situações e conflitos que outrora se estabelecem. Dessa maneira, pode-se afirmar que não existem ideias eternas. O que há de eterno nelas é exatamente essa possibilidade de servirem à humanidade durante um período histórico, de modificarem a realidade e, assim, de propiciarem o aparecimento de novas ideias, mais condizentes com a nova realidade em questão. A ideia que deixa de existir, entretanto, não morre, mas conserva alguns de seus traços e características naquela que por ventura dela se origina. [...] O que há de eterno nas ideias é serem todas perecíveis mas não inúteis ou infecundas. Exatamente o oposto é que se dá. A ideia, ao perder a validade, por força da própria transformação da realidade, que suscita, condiciona o surgimento de outra, transmuta-se nesta, e de alguma forma nela se conserva, e assim a sua caducidade equivale ao mesmo tempo à sua perenidade. Em essência a ideia superada ingressa como elemento na composição daquela que a substitui. Por isso, o progresso do conhecimento, que se faz pela morte e criação das ideias, representa o único aspecto eterno do saber. (PINTO, 1979, p. 90). Do exposto acima, pode-se fazer três inferências importantes. A primeira delas, é que a análise, a crítica e o exame de uma ideia geral, filosófica ou científica só podem ser feitas 57 por meio da exposição e do estudo do desenvolvimento da história dessa ideia, isto é, das manifestações e produções que a antecederam e que a conduziram até a sua formulação atual. Em outras palavras, “o conteúdo de todo o conceito, é o próprio processo de sua conceituação” (PINTO, 1979, p. 91). A segunda conclusão importante é a de que a compreensão de determinado conceito não pode ser feita isoladamente. Isso porque, no curso de sua formação, estão sendo envolvidos outros conceitos que, sendo também históricos, apresentam-se variáveis na forma e no conteúdo, podendo influenciar, ou não, o desenvolvimento do conceito central. A terceira, por sua vez, é a de que o que se entende por ciência, em cada momento histórico, é a melhor, mais elevada e mais fiel maneira de representação da realidade, concebida pelos indivíduos. Isso justifica o cuidado e o respeito que se deve ter ao abordar dados, explicações e teorias que, atualmente, possam ser consideradas sem nexo ou mesmo mágicas. Em algum momento do passado, por razões relacionadas ao contexto histórico, elas foram importantes e contribuíram para a produção das ideias atuais. De modo análogo, aquilo que hoje é aceito como o verdadeiro saber científico, pode ser visto, pela casta científica que viverá daqui a milhares de anos, como algo completamente ingênuo. Por fim, é importante ressaltar que esse mesmo saber científico metódico, que segue regras e leis, que produz ideias com caráter social e que encontra-se imbuído de uma faceta histórica, pode apresentar-se, sob duas conotações diferentes: a alienada (ou ingênua) e a crítica. Quando a produção do conhecimento se retém simplesmente à utilização das ideias como bens de consumo, tem-se a faceta alienada do conhecimento. Nestes casos, o indivíduo alienado utiliza (consome) as ideias alheias, preferencialmente as produzidas por outros, e se mostra incapaz de construir com elas algo de novo, de original, de profícuo para a intervenção crítica na sociedade. [...] Não havendo estímulos nem interesses prementes em fabricar algo de próprio, não há imposição de desvendar problemas da realidade particular do especialista, nem de dar-lhe soluções originais, não há o que produzir, nem mesmo ideias. Estas aparecem unicamente como objetos de enfeite intelectual, devendo ser tomadas de fora, importadas de um mundo alheio e consumidas, isto é, assimiladas tal como são recebidas, pelo puro prazer de ilustrar o espírito, enriquecê-lo de conhecimentos. (PINTO, 1979, p. 53). Já na concepção crítica do conhecimento, verifica-se exatamente o contrário. O indivíduo se mostra capaz de desvendar e pesquisar problemas de sua realidade, de formular novas ideias, de provocar interferência no meio em que vive a partir das descobertas feitas, enfim, de construir algo de novo. 58 É fato que, ao longo de toda a história da produção do conhecimento científico, e especialmente no período da Revolução Científica (1543-1687), muitas foram as situações nas quais as ideias foram empregadas com a conotação de bens de consumo. O próprio Isaac Newton (1642-1727) menciona ter se apoiado sobre ombros de gigantes para desenvolver toda a sua teoria. No entanto, o que é importante ressaltar é que, esse emprego não se restringiu apenas a essa faceta. Muito pelo contrário. Newton e a maior parcela dos personagens responsáveis por essa revolução na ciência, foram exímios empregadores desse processo dinâmico e cíclico das ideias (ora como bens de produção, ora como bens de consumo), isto é, foram capazes de refletir criticamente sobre as ideias que consumiam e/ou produziam de modo a modificarem a realidade e a sociedade em que viviam. 3.2 A razão e o método como produtos da relação existencial entre o ser humano e o meio Da mesma maneira que a ciência e o conhecimento que a caracteriza são resultantes do processo histórico de interação ser humano-meio, também a razão e o método científico apresentam a sua historicidade. Entendendo-se a razão como a forma mais perfeita e completa de percepção e compreensão da realidade pelo ser humano, em uma determinada época, e ainda como elemento resultante de todo um processo de desenvolvimento e de maturação de sistemas (muitos dos quais biológicos) de intervenção no meio, não é difícil inferir que a sua gênese esteja também relacionada a um dos momentos da gênese do ser humano. Como nos afirma Pinto, [...] a razão não é um dom, um tesouro, uma qualidade inata, possuída de uma só vez por todas, mas o processo de crescente realização do homem no mundo e por isso se constitui no curso de seu próprio exercício. O homem realiza-se como homem, se faz um ser racional raciocinando. (PINTO, 1979, p. 102). Em um primeiro momento, essa razão se caracteriza pelo acúmulo e pela repetição de experiências, apenas como hábitos reconhecidos socialmente. Não há qualquer crítica ou reflexão sobre o que está sendo feito. É o que se observa nos primórdios da hominização, no processo de coleta dos frutos, por exemplo. Os atos transformam-se em comportamentos sociais, antes mesmo que qualquer reflexão racional seja feita a respeito. Posteriormente, com a ação consciente do ser humano sobre o meio e com a ampliação e o consequente acúmulo de conhecimento e experiências, o indivíduo vê-se capaz de utilizarse da ideação (habilidade de, na ausência material de um objeto, conseguir manter 59 representações do mesmo e estabelecer vínculos entre essas ideias), da conceituação e da imaginação, isto é, da capacidade de destacar a imagem concreta, imediata e presente de um objeto e fazê-la existir apenas no âmbito do pensamento abstrato. Como conseqüência, uma nova fase da razão, intitulada de razão reflexiva, se inicia. Nela, a razão deixa de ser o pensamento da ação direta e concreta a ser executada, e passa a ser o pensamento da ação possível de ser realizada. Em outras palavras, o indivíduo que já atingiu a fase reflexiva da razão, torna-se capaz de vivenciar, em pensamento, a situação que pretende criar ou construir. Ele antecipa, em ideia, as modificações e alterações materiais que pretende imprimir ao mundo e só posteriormente, as executa. Além disso, depois de realizadas, essas ações e os seus resultados passam por um processo de crítica e análise, o que não existia anteriormente. Em termos de ciência, a fase da razão reflexiva encaixa-se na fase da ciência e corresponde ao momento em que se verificam as invenções das experiências e o estabelecimento de uma atitude metódica reflexiva. O método, que até então era praticado empiricamente, sem qualquer consciência, e validado apenas pelos resultados experimentais que proporcionava, passa a ser um procedimento intencional de análise mental, de estruturação, de concatenação do pensamento e de reflexão crítica sobre aquilo que possibilita conhecer. [...] Se a princípio o método é espontâneo, irreflexivo, por que se guia apenas pela lógica da concatenação de estímulos e respostas úteis, mais tarde se subjetiva, e se abstratiza tornando-se uma finalidade consciente da atividade ideativa. (PINTO, 1979, p. 105). Nesse sentido, o método torna-se um produto de reflexões feitas a respeito de sua própria aplicação (é o resultado de uma auto-reflexão), e a razão passa, então, a ser vista como o método do método. Vê-se, dessa maneira, que a razão, o método, a ciência e o conhecimento que a caracteriza, apresentam historicidades que se complementam e se influenciam mutuamente, além de estarem totalmente relacionadas ao processo existencial e de desenvolvimento do ser humano, enquanto uma espécie biológica em contato com o meio. 3.3 O desenvolvimento da ciência como um caso particular do desenvolvimento da cultura geral Nos parágrafos anteriores, evidenciou-se a relação de interdependência entre o processo de desenvolvimento biológico do ser humano, a sua existência em um determinado 60 meio, a melhor elaboração de suas ideias e percepções, o desenvolvimento da razão e, consequentemente, do conhecimento considerado científico. Na verdade, todas essas relações estão inseridas em um contexto muito mais amplo e abrangente, que é o do desenvolvimento da cultura, em geral. Dessa forma, antes de se perguntar o que é a ciência, ou como ela se constituiu no decorrer dos tempos, é preciso ter-se bem compreendido o significado da cultura em geral, da qual as criações e as teorias científicas constituem apenas um caso particular. Pela linha adotada nesse trabalho, a cultura precisa ser compreendida como “uma criação do ser humano, resultante da complexidade crescente das operações de que esse animal se mostra capaz no trato com a natureza material, e da luta a que se vê obrigado para manter-se em vida.” (PINTO, 1979, p. 121-122). Nesse contexto, a criação da cultura e a criação do ser humano são duas facetas de um mesmo processo, no qual se alternam e se condicionam mutuamente as novas aquisições orgânicas e as intervenções e transformações sociais provocadas por este ser. Isso porque à medida que o indivíduo vai colhendo experiências novas de suas ações sobre o meio, ele vai aperfeiçoando as suas capacidades de ideação e de imaginação e, com elas, desenvolve técnicas e cria instrumentos com finalidades específicas de intervenção nesse próprio meio. Sendo assim, a cultura pode ser vista como [...] o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as de efeito favorável e, como resultado da ação exercida, converte em ideias as imagens e lembranças, a princípio coladas às realidades sensíveis, e depois generalizadas, desse contato inventivo com o mundo natural. (PINTO, 1979, p. 122). Percebe-se, dessa maneira, que as ideias, aqui compreendidas como os resultados sociais e intencionais de intervenção humana no meio, e os instrumentos artificialmente fabricados para se prolongar, reforçar e facilitar a ação humana em um ambiente hostil, são os dois componentes indissociáveis da cultura. Além disso, vista sob este prisma, a cultura pode ser então encarada como um bem de consumo e também como um bem de produção. Na medida em que a cultura existente em cada momento histórico (seja sob a forma de ideias, de teorias sobre a realidade e de objetos fabricados com um fim específico) é transmitida e absorvida, via educação, para a geração presente, tem-se a sua configuração como um bem de consumo. Estes indivíduos, inseridos nesse contexto histórico, estão assim munidos e equipados para enfrentarem as necessidades inerentes de sua época e, ainda, para fazerem novas descobertas. Por outro lado, a cultura se 61 revela um bem de produção por constituir-se no acervo de conhecimentos e de instrumentos que permitirão aos seres humanos atuarem sobre a natureza para garantirem a sua sobrevivência enquanto espécie. Verifica-se, dessa forma, que esse comportamento dual da cultura é inerente ao processo da existência humana, ocorrendo em qualquer sociedade. O aspecto negativo e perigoso desse quadro, no entanto, reside justamente quando o indivíduo deixa de ser um bem de produção para si próprio (isto é, quando deixa de utilizar a cultura que tem à sua disposição em determinando momento em benefício próprio e com o intuito de melhorar a compreensão que tem das suas relações com o mundo e com seus semelhantes) e torna-se única e exclusivamente um bem de produção para outros. Segundo Pinto (1979), com o evoluir da exploração da natureza pelos seres humanos e com o crescimento numérico dos diversos grupos sociais, verifica-se um alargamento e uma ampliação dos conhecimentos culturais, dos bens e dos instrumentos produzidos, que conduzem a uma distribuição da apropriação da cultura. Essa distribuição, inicialmente, é uma consequência normal e esperada do aumento do volume de cultura, que se evidencia a partir de certo período. O que se nota, entretanto, é que essa cultura, depois de distribuída, deixa de ser propriedade comum do grupo (bem coletivo) e de propiciar, a todos os seus membros, os resultados benéficos de sua conservação. Na verdade, uma classe minoritária da sociedade se apropria, em um primeiro momento, da parte ideal e subjetiva (das ideias, das criações artísticas e ideológicas) da produção da cultura, relegando à maioria da população, apenas a possibilidade de produzir os bens culturais, isto, é, de manejar e operar, por meio da força muscular, os materiais, os instrumentos, as máquinas e as ferramentas que ora servirão para transformar a realidade. Em um segundo momento, essa mesma minoria, agora já enriquecida pela exploração e pela comercialização dos frutos materiais da cultura, passa, não somente a absorver os produtos da fabricação dos que só manipulam os instrumentos materiais como, também, chega ao ponto de adquirir o ser humano como mais um instrumento dessa produção. Tem-se, assim, a forma suprema de distorção na apropriação da cultura, com a divisão da sociedade em dois grupos bastante desiguais, ambos administradores de produtos da cultura. Ao minoritário e dominante, cabe a parte exclusiva da criação ideal da cultura e ainda da posse dos meios e instrumentos de produção dessa cultura. Já à grande parcela da população, cabe apenas a operacionalização desses instrumentos da cultura. Toda essa realidade histórica apresenta importantes repercussões no surgimento e desenvolvimento da ciência. Por um longo período inicial de formação da ciência, nota-se que 62 uma classe, constituída pelas pessoas do seleto grupo letrado e “culto”, se apropria do aspecto subjetivo da cultura, tornando-se dona das ideias e das finalidades a serem estabelecidas. Os seus membros se sentem responsáveis pelo conhecimento “puro” e, para atingirem esse fim, se afastam do trabalho direto na natureza, do contato imediato com os corpos e passam a se dedicar à explicação imaginativa e às especulações dos fenômenos, principalmente as de caráter matemático e filosófico. A outra classe, por outro lado, está privada de investigar com fins científicos os corpos ou instrumentos que manipula, está proibida de indagar a respeito das propriedades e de levantar idéias a respeito dos mesmos, principalmente porque a obrigação de operá-los contínua e uniformemente de modo rotineiro, embota o espírito crítico e indagador. Dessa forma, aqueles que de fato trabalham e operam com os instrumentos da cultura, se mostram incapazes de construir um conceito e uma reflexão eficazes sobre aquilo que os cercam, diariamente. Com isso, esses indivíduos se vêem impedidos, não de pensar a respeito das coisas e do mundo, mas de terem reconhecidas e valorizadas as suas ideias e questionamentos. Tal privilégio passa a ser único e exclusivo da classe “culta”. Tem-se, aí, portanto, a origem da divisão histórica do trabalho nas suas formas intelectual e manual, e a explicação do porquê, desde os períodos mais remotos, introduziu-se a separação entre a origem material do conhecimento e a sua formulação teórica. É o que se evidencia, por exemplo, nos períodos do platonismo e de algumas escolas gregas e medievais, nos quais os representantes da classe “pensante” procuraram pela especulação, pelo esforço imaginativo ou mesmo pela intuição, descobrir a essência das coisas, a matéria primeira da composição do universo, as forças ocultas que explicam a ocorrência dos fenômenos e outras diversas questões relacionadas às ideias, sem nenhuma vinculação com o aspecto material. Segundo Pinto (1979), é exatamente por esta razão que a matemática e as teorias astronômicas, de caráter mais abstrato (já que lidam com números e figuras), de pequena base de observação e de praticamente nenhuma experimentação, encontraram grande disseminação e aprovação entre a elite culta da época, se tornando as principais ciências estudadas e divulgadas. Essa situação se mantém até que, após o Renascimento Europeu, verificam-se mudanças na mentalidade e nas condições históricas, principalmente com o surgimento da burguesia, e com a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas de navegação, de novos instrumentos de medição, de novas máquinas, de novos motores, de novos engenhos, de novas forças físicas de impulsão, etc. A fração culta da sociedade se vê, então, obrigada a se interessar pela pesquisa e pela produção de tais instrumentos, já que somente dessa maneira ela teria a possibilidade de manter o domínio que vinha exercendo. 63 Desse modo estabelece-se, frente a essa nova realidade, uma atitude diferente da classe culta, que passa a perceber a compreensão do trabalho manual como uma das maneiras de se retirar, da natureza, os segredos de suas forças e, assim, colocá-las a seu serviço. Nota-se, então, uma passagem do modo contemplativo da natureza, para a decidida e metódica intervenção em seus processos, em especial por meio da realização de experimentos. Tal constatação mostra que o desenvolvimento da experimentação está relacionado ao surgimento de uma nova mentalidade, que proporcionou uma ampliação do conceito de cultura e uma maior valorização do trabalho do pesquisador científico. Isso não significa que a divisão social do trabalho esteja completamente superada. Longe disso. Ela ainda persiste em nossa sociedade, principalmente pelo fato de existir uma desigualdade na posse dos bens de produção, que se reflete e se reforça em uma desigualdade social. A finalidade da ciência produzida por uma sociedade dividida em classes, é um outro aspecto que merece ser discutido. Com efeito, a criação do conhecimento científico, como já mencionado nesse trabalho, não se dá de modo espontâneo, mas é dirigida por decisões, especulações e inferências feitas por indivíduos pertencentes a um específico grupo social, em uma determinada época e inseridos em um certo contexto histórico. Isso significa que, necessariamente, tais decisões representam e concretizam a vontade de alguém. Sendo a apropriação da ciência um processo desigual, e estando a classe dominante e “culta” responsável pela concatenação das idéias, é certo que a fixação dos fins a serem alcançados com a produção científica não estará em desacordo com os interesses desse grupo. Segundo nos afirma Pinto, [...] são apenas as chamadas elites as que dispõem dos instrumentos de produção da ciência, e por isso também são elas que, em sua consciência social de classe, estabelecem as finalidades da pesquisa e da educação científica, sabendo o que fazem sempre em benefício de si próprias. (PINTO, 1979, p. 148). Mais ainda, pode-se afirmar que a produção científica estará relacionada com a economia social, uma vez que determinará que bens deverão surgir como mercadorias, objetos de compra e venda. Além disso, não serão quaisquer ideias as que irão ser concebidas e, muito menos aceitas, uma vez que a ciência está vinculada a uma economia social e aos interesses da produção social. [...] a criação da ciência e seu conteúdo assumem nas sociedades divididas em estamentos e em classes um caráter obrigatoriamente ideológico, isto é, reflexo de condições concretas, particulares, na consciência do grupo que a produz. (PINTO, 1979, p. 151). 64 Nesse sentido, serão apenas as ideias capazes de perpetuar o monopólio do saber teórico e o domínio da classe dominante sobre as menos favorecidas as que serão estimuladas e defendidas. Não faz sentido, portanto, falar em ciência “pura”, como se o ser humano não pensasse sempre por motivo de finalidades definidas e em função daquilo que deseja e projeta alcançar. Segundo apregoa Pinto, [...] exigir do cientista que inicie o trabalho despido dos preconceitos de sua época, de sua classe, de sua formação intelectual, supor que esteja livre das pressões ideológicas e materiais que sobre ele atuam, dos conhecimentos errôneos do tempo, (esses justamente só irão ser denunciados em consequência do trabalho racional que será empreendido pelo pesquisador no estudo da realidade), seria inverter a sequência histórica dos fatos no curso do processo epistemológico, seria imaginar que o cientista fosse uma criatura angélica, um ser intemporal e insocial, o que significaria toma-lo por um indivíduo extra-histórico. (PINTO, 1979, p. 265). Sendo assim, é importante que cada pesquisador e cientista tenha em mente esse fato, para que possa desenvolver o seu senso crítico e munir-se de conhecimentos filosóficos a respeito dos grandes temas e das direções de pensamentos de sua época, que lhe capacitarão a debater e a fazer escolhas mais conscientes e direcionadas para propósitos verdadeiramente humanos de transformação da realidade e menos condizentes com a alienação humana. 3.3.1 O significado histórico dos instrumentos culturais materiais Conforme mencionado anteriormente, tanto as ideias, quanto os instrumentos, as máquinas ou as ferramentas utilizadas pelos seres humanos para modificar e transformar a realidade na qual estão inseridos em um determinado momento, são elementos indissociáveis da cultura da época. Isso significa que, ao lado dessas ideias e de todo o processo de dominação e apropriação da cultura que elas engendram, também desempenham papéis importantes, os instrumentos culturais materiais, isto é, “os implementos operatórios que contribuem para a execução da pesquisa, a formulação de novas ideias, as invenções e as descobertas de aspectos ainda desconhecidos da realidade.” (PINTO, 1979, p. 266). Segundo Pinto (1979), desde os instrumentos mais elementares e clássicos (a balança, o densímetro, o microscópio, o amperímetro, o termômetro) até os mais modernos, raros e sofisticados dispositivos (os aceleradores de partículas, os computadores eletrônicos) encontrados apenas nos grandes laboratórios de nações altamente desenvolvidas, verifica-se uma mesma situação existencial. O indivíduo materializa os conhecimentos científicos anteriores na construção de instrumentos e produz, com o auxílio dos mesmos, ideias e novos 65 instrumentos que se acrescentarão aos anteriores, conferindo-lhe maior capacidade de investigar a natureza, de descobrir propriedades novas da matéria e de pensar teorias originais. Em outras palavras, a instrumentalidade dos aparelhos e artefatos de que se vale a pesquisa científica não significa outra coisa senão a concretização, em um determinado objeto, o instrumento científico, de forças da natureza que o homem vai utilizar para vencer outras forças da natureza, aquelas contra as quais está lutando, está trabalhando. (PINTO, 1979, p. 463-464). Nesse sentido, pode-se afirmar que os instrumentos utilizados pelos cientistas, ao longo dos séculos, apresentam um caráter eminentemente histórico. Situação essa que não deve ser compreendida de um modo simples e trivial, como uma mera sucessão cronológica de instrumentos curiosos e antiquados, dignos de uma rica sala de museu. Na verdade, o importante é entender que ao longo do processo de invenção e produção de cada um desses artefatos verifica-se, igualmente, um processo de maturação e de desenvolvimento da capacidade reflexiva e de apreensão da realidade, pelos seres humanos. “Tudo se passa como se o seu cérebro desenvolvesse novos mecanismos sensoriais, capazes de pôr a consciência em contato com aspectos ocultos, insuspeitos e inatingíveis do mundo exterior.” (PINTO, 1979, p. 268). Assim, quando o ser humano propicia o aumento de sua sensibilidade através da utilização dos instrumentos que cria, favorece o desenvolvimento de sua racionalidade, na medida em que os resultados obtidos dessas observações permitem a elaboração de conceitos, ideias e teorias mais próximas do real. [...] o homem primitivo, (por exemplo), depois de haver inventado o arco e a flecha não consegue, é claro, enviar nenhum satélite artificial ao espaço, mas consegue caçar animais que até então estavam fora de seu alcance; o homem neolítico, que descobriu a roda do oleiro, não era capaz de fabricar substâncias sintéticas, mas fabricava vasos e artefatos de cerâmica, antes inexistentes. Em todos estes exemplos, vemos o implemento natural, que nada mais é do que uma ideia cultural convertida em instrumento, retornando à natureza, em forma de força relativamente original, autônoma e distinta das demais, para atuar no mundo inanimado, modifica-lo e criar objetos ou resultados inéditos. (PINTO, 1979, p. 532). Tem-se, desse modo, o estabelecimento de ciclo de implicações recíprocas. Por um lado, a ciência e todo o cabedal de conhecimento que ela proporciona criam, em um determinado momento, o instrumento científico. Por outro, esse artefato, ao proporcionar melhores condições de observação e resultados, cria a ciência do momento seguinte, que servirá de base para a invenção de novos instrumentos em outro instante, e assim sucessivamente. De todas as considerações feitas anteriormente, fica evidente a historicidade da ciência 66 e do conhecimento científico. Historicidade essa, que não pode, conforme procurou-se mostrar, ser simplesmente confundida com o desenrolar cronológico de fatos e momentos, tal como uma simples sucessão de acontecimentos no tempo. Em verdade, o saber científico é histórico não porque transcorre no fluxo de tempo, mas primordialmente porque decorre desse fluxo de tempo, do passado existente em cada momento. Isso significa que, a análise completa do desenvolvimento da ciência e da teoria do conhecimento a ela subjacente precisa ser encarada sob duas óticas: a da historicidade do processo do mundo, enquanto tal, e a da historicidade do processo evolutivo da consciência. Em outras palavras, é preciso fundamentar a ciência na condição existencial do ser humano. Com efeito, o desenvolvimento biológico do ser humano, enquanto uma espécie animal, permite o estabelecimento de novas relações com a natureza e, por conseguinte, a realização de um trabalho sobre ela. Essas novas associações, por sua vez, são traduzidas em um desenvolvimento intelectual e cultural, seja por meio da elaboração de novas ideias ou de novos instrumentos materiais e possibilitarão, futuramente, uma diferente intervenção na natureza. Dessa intervenção, resultará uma nova compreensão da realidade e o estabelecimento de leis e teorias científicas, que irão, por sua vez, fornecer subsídios para uma nova intervenção na natureza e, assim, o ciclo se reiniciará. Dessa forma, pode-se concluir que a teoria do conhecimento se confunde, em essência, com a teoria do conhecimento do ser humano. Indivíduo este que não deve ser visto de modo isolado mas, sim, como um ser social, que traz no íntimo todo um conjunto de experiências resultantes da sua existência no mundo e que representa, ao mesmo tempo, os objetivos e as aspirações políticas, econômicas e ideológicas de um grupo de pessoas, em uma determinada época e local. Nesse contexto, é imprescindível que os professores e os autores de materiais didáticos, estejam cientes e atentos a essa historicidade da ciência e da produção do conhecimento científico, para que possam evitar, dessa maneira, a disseminação de ideias distorcidas e empobrecidas a respeito do tema, que enfoquem, principalmente, o gênio individual criador de cada personagem da ciência, em detrimento de todo um longo processo de evolução, de amadurecimento e de desenvolvimento da consciência, da intelectualidade e do mundo. É óbvio que as ideias, as experiências e as interpretações individuais dos cientistas apresentam papel importante no avanço da ciência. Mas não devemos nos conduzir à errônea interpretação de acreditar que fora o gênio de personalidades privilegiadas isoladas, agindo a partir de si mesmo, sem raízes externas, sem qualquer influência do meio e do momento histórico, que criaram e impulsionaram a ciência e todo o conhecimento científico. 67 4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Considerando toda a discussão anteriormente realizada acerca dos benefícios atingidos com a inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências, e tendo sempre como elemento norteador a concepção de que o desenvolvimento da ciência é um caso particular do desenvolvimento da cultura geral e que, portanto, a ciência, a produção de seu conhecimento, a razão e o método científico são produtos da relação existencial entre o homem e o meio no qual ele se insere, passamos a nos dedicar à definição e à delimitação do assunto de pesquisa. Como primeira providência, era preciso determinar, com que área da Física (mecânica, termodinâmica, ótica, ondas, etc.) trabalhar e, em um segundo momento, que temática ou que momento e fato históricos desejaríamos enfocar e estudar dentro dessa área. A opção pela Ótica se concretizou a partir da pesquisa bibliográfica realizada em revistas científicas voltadas para o ensino da Física (Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física, Investigações em Ensino de Ciências, Ciência & Educação, etc.) e em dissertações e materiais didáticos produzidos nos cursos de mestrado em ensino de ciências. Verificou-se que a maior parte dos materiais já desenvolvidos priorizavam aspectos, experimentos e passagens relacionadas à mecânica. Poucos deles se dedicavam a analisar aspectos históricos e filosóficos da ótica. Acrescentando o meu particular interesse e fascínio por essa área do conhecimento, não foi, portanto, difícil fazer a escolha. O episódio da realização, por Isaac Newton, do experimento que evidencia a decomposição da luz branca, foi selecionado por ser, conforme já mencionado anteriormente, um experimento muito relatado e comentado nos livros didáticos de Física. São raros os compêndios que não fazem menção, ainda que por meio de desenhos, dessa descoberta. Uma vez selecionado e delimitado o assunto de pesquisa, iniciou-se o estudo e a análise do tema. A leitura do livro “Ótica: um tratado das reflexões, refrações, inflexões e cores da luz”, de Isaac Newton, mais especificamente de algumas proposições do Livro I desse compêndio, evidenciaram uma linha de raciocínio e uma construção lógica muito distantes e diferentes da maneira com que tal assunto é abordado no ensino básico. Diante disso, optou-se por fazer um estudo mais profundo não apenas desse encadeamento e dessa sequência argumentativa empregada por esse cientista mas, também, “da razão de Newton”, isto é, do seu modo de raciocinar, de observar e compreender a natureza. No entanto, admitindo que a ciência seja um produto da relação existencial entre o homem e o meio, um estudo dessa envergadura somente ficaria completo e embasado, se 68 também nos dedicássemos à análise do contexto histórico e filosófico vigente não somente à época de Newton mas, também, anteriormente a ele. Isso porque, certamente, os princípios filosóficos que nortearam as ações de Newton, foram herdados das modificações e transformações do pensamento ocorridas em momentos históricos que precederam a sua época. Sendo assim, os capítulos que se seguem constituem, na realidade, os resultados obtidos dessas pesquisas e estudos. Procurou-se, em cada um deles, compreender, evidenciar e destacar os elementos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a construção da lógica newtoniana e, por conseguinte, justificam e explicam a maneira como Newton conduziu a realização dos experimentos na determinação de que a luz branca é uma mistura de raios com diferentes refrangibilidades. 4.1 Do contexto histórico e filosófico que precede a época de Isaac Newton O próximo capítulo desse trabalho inicia as discussões acerca do contexto histórico e filosófico anterior a Newton, conhecido como o período da Revolução Científica. Conforme veremos, tal momento é considerado pelos historiadores da ciência como um poderoso movimento de transformação das idéias, através do qual todo o sistema de pressupostos herdado da Idade Média (em especial os pressupostos Aristotélicos) é questionado, demolido e substituído por um sistema completamente novo. E é exatamente no decorrer de todo esse processo, que modificações foram gradualmente ocorrendo, influenciando filósofos e preparando o cenário para que Newton e todos os demais cientistas dos séculos seguintes tivessem condições de formular e estabelecer novas teorias a respeito dos fenômenos da natureza. Dessa maneira, a caracterização das transformações econômicas, políticas, culturais e religiosas, bem como as respostas filosóficas e as descobertas científicas de Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu Galilei, Bacon, Descartes, e alguns filósofos ingleses – Hobbes, Boyle e Locke – constituirão a temática desse capítulo. 4.2 As regras do filosofar de Isaac Newton Com base nas informações obtidas no contexto histórico e filosófico, pretende-se em “As regras do filosofar de Newton”, verificar como as mudanças de mentalidade, de pressupostos filosóficos e de cenário econômico, social e político influenciaram a maneira de Newton pensar e compreender a natureza. 69 Qual o papel que a experimentação e a matemática exercem no método de Newton? Qual a origem de tal influência? Que concepção tem o cientista acerca do universo? O entendimento desses pressupostos (embasado por essa concepção histórica) é indispensável para que consigamos, ao analisar e estudar os experimentos por ele realizados para mostrar que a luz branca é uma mistura de raios com diferentes refrangibilidades, compreender a verdadeira razão de determinadas afirmações e o real motivo da adoção de certos procedimentos. Com isso, intenciona-se traçar uma figura mais humana de Newton, colocando-o como um ser que sofre a influência do meio em que vive. 4.3 A teoria das cores de Newton Tendo em mente tanto o contexto histórico e filosófico, quanto as regras do filosofar de Newton, pretende-se, no capítulo “A teoria das cores de Newton”, fazer uma análise mais específica do encadeamento lógico, das argumentações e das dificuldades enfrentadas pelo cientista ao realizar o tão difundido experimento da decomposição da luz branca. Além disso, também objetiva-se comparar a descrição feita por Newton em “Ótica” do seu experimento, com a maneira como os livros didáticos apresentam e descrevem essa mesma situação. Com este intuito, será feita uma análise de alguns livros didáticos utilizados pelas escolas de ensino médio do país, para averiguar que tipo de história da ciência está sendo ensinada aos alunos, no que tange a decomposição da luz branca. É óbvio que outros materiais como pára - didáticos, filmes, experimentos, etc. poderiam ter sido também analisados. No entanto, optou-se pelo livro didático, por ser esta a forma mais tradicional de mediação entre alunos e professores, comumente empregada nas escolas do país como meio de transmissão de conhecimento. Para alguns docentes, é a única fonte de consulta e leitura para o preparo das aulas. Ainda é bastante consensual que o livro didático (LD), na maioria das salas de aula, continua prevalecendo como principal instrumento de trabalho do professor, embasando significativamente a prática docente. Sendo ou não intensamente usado pelos alunos, é seguramente a principal referência da grande maioria dos professores. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2002, p. 36). A seleção dos livros didáticos a serem analisados foi feita com base em dois critérios: a adoção do material por grandes escolas particulares de Belo Horizonte e a indicação do livro no Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) de 2009. 70 Este programa, instituído pelo governo federal em 2004, por meio da resolução nº 38 de 15/10/2003, prevê a universalização dos livros didáticos para os alunos do ensino médio das escolas públicas de todo o país. Tem a duração de 3anos a partir da data de escolha. Finalizado esse prazo, uma nova seleção do material é feita pelos professores das escolas cadastradas. Em relação aos livros de Física, esta primeira escolha ocorreu em 2008, com a utilização dos livros em 2009 e é por esta razão que nos dedicaremos ao PNLEM 2009. As informações, os critérios utilizados para a análise do material (com a divisão dos temas em dimensões e categorias) e os resultados oriundos de todo esse processo, serão apresentados de modo completo no capítulo “A teoria das cores de Newton”. Conforme veremos, a comparação com o encadeamento lógico adotado por Newton em “Ótica”, demonstra uma realidade preocupante no que diz respeito ao ensino da decomposição da luz branca. 4.4 A proposta didática O Apêndice A desse trabalho acadêmico será destinado à apresentação da proposta didática que, conforme constam nos objetivos iniciais, deverá ser elaborada com base em todos esses estudos e discussões realizadas a respeito da decomposição da luz branca. Na verdade, pretende-se construir uma sequência didática para os alunos do segundo ano do ensino médio, a ser desenvolvida em um total de aproximadamente 10 aulas e que proporcione a compreensão de que Newton não formulou a teoria da decomposição da luz branca a partir de uma simples observação (estimulada talvez por uma mera idéia repentina) mas, sim, como conseqüência de todo um processo de construção histórica e filosófica do pensamento científico. A opção pela sequência didática justifica-se por ser esta uma estratégia de ensino com um caráter claramente processual e que, portanto, se aproxima da visão histórica, processual, complexa e humana da produção do conhecimento, defendida nesse trabalho. Com efeito, partindo-se da ideia de que o homem é um ser social, cuja existência ora exerce influência sobre, ou ora é influenciada pelo contexto histórico e filosófico de uma determinada época, não é difícil conceber e compreender a complexidade inerente a todo processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, a toda prática educativa. Primeiro, porque pressupõem o estabelecimento de uma relação entre seres humanos que, como sabemos, são seres sociais, que trazem consigo conhecimentos adquiridos das diferentes formas de se interagir com o meio e, por isso mesmo, demonstram valores, ambições, desejos, 71 opiniões, etc. diferentes e, muitas das vezes, conflitantes. Em segundo, porque o próprio processo de ensino/aprendizagem e a própria prática educativa sofrem constante influência de uma série de fatores externos, a saber: o tipo de atividade metodológica, os aspectos materiais da situação (materiais curriculares e recursos didáticos disponíveis), o estilo de ensinar do professor e as relações por ele determinadas, os conteúdos culturais, o sentido, o papel e os instrumentos de avaliação, a organização social da aula (individual, em grandes, pequenos, fixos ou variáveis grupos), a utilização dos espaços e do tempo, etc. Nesse sentido, reconhecer a grandiosidade de cada uma dessas variáveis e adotar uma postura reflexiva diante delas, com o estabelecimento de intervenções metodológicas condizentes com essa visão humana, constituem o papel de todo professor que deseje melhorar a sua prática educativa. Vale ressaltar aqui que compartilhamos com Zabala (1998), o entendimento do que seja uma prática educativa. A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes, etc. Mas a prática é algo fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, idéias, valores, hábitos pedagógicos, etc. (ZABALA, 1998, p. 16). Partindo dessa visão contextualizada da prática, não podemos nos esquecer de que ela não se concretiza apenas em sala de aula. Na verdade, trata-se de um processo, do qual fazem parte o planejamento anterior e a avaliação. A intervenção pedagógica tem um antes e um depois que constituem as peças substanciais em toda prática educacional. O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte inseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica, nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. Por pouco explícitos que sejam os processos de planejamento prévio ou os de avaliação da intervenção pedagógica, esta não pode ser analisada sem ser observada dinamicamente desde um modelo de percepção da realidade da aula, onde estão estreitamente vinculados o planejamento, a aplicação e a avaliação. (ZABALA, 1998, p. 17). E é exatamente para que se consiga fazer a análise da intervenção pedagógica, ou em outras palavras, a análise da tríade planejamento-aplicação-avaliação, que deve-se eleger um elemento, uma unidade, que represente todo o processo e que carregue, intrinsecamente, todas as variáveis que nele incidem. Para Zabala (1998), essa unidade é a atividade ou tarefa, que se exprime por meio de uma exposição, um debate, uma leitura, uma pesquisa, um exercício, um experimento, uma ação motivadora, etc. 72 No entanto, não é apenas a atividade ou tarefa que definem, em si, as características da intervenção pedagógica de uma prática educativa. Na verdade, ainda segundo Zabala (1998), é a ordem e as relações que se constroem entre essas atividades que determinam, de modo significativo, o tipo e as características do ensino. As atividades, apesar de concentrarem a maioria das variáveis educativas que intervêm na aula, podem ter um valor ou outro segundo o lugar que ocupem quanto às outras atividades, as de antes e as de depois. É evidente que uma atividade, por exemplo, de estudo individual, terá uma posição educativa diferente em relação ao tipo de atividade anterior, por exemplo, uma exposição ou um trabalho de campo, uma pesquisa bibliográfica ou uma experimentação. (ZABALA, 1998, p. 18). Sendo assim, a atividade ou a tarefa deixa de ser a unidade representativa de todo o processo e dá lugar às sequências de atividades ou às sequências didáticas que, de um modo geral, “[...] são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos.” (ZABALA, 1998, p. 18). Estar atento a esta ordem e encadeamento lógico das atividades, e não apenas ao conteúdo e à forma de cada uma delas é, portanto, um dos cuidados que os professores devem ter ao fazerem a opção pelo trabalho com as sequências didáticas. Com a sequência didática proposta no Apêndice A desse trabalho, pretendemos, inicialmente, respeitar e reforçar o caráter processual da produção do conhecimento, uma vez que esta própria estratégia, por si só, guarda elementos que a tornam uma sucessão de estados (com o planejamento, a aplicação e a avaliação dos resultados), elaborados com o objetivo de se conduzir à evolução de determinada ideia. Além disso, pode-se fazer uma comparação entre o longo processo de produção do conhecimento e a utilização da sequência didática. Em ambos, deve-se sempre lembrar que os seres envolvidos estão sujeitos à influência de uma série de fatores, a maioria deles oriundos da relação com o meio. Fatores estes que condicionam, impedem, dificultam ou mesmo delimitam o desenvolvimento ideal pretendido. 73 5 A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA A importância e as contribuições da história e da filosofia da ciência ao ensino, discutidas no capítulo 2, reforçam a necessidade de se desenvolver trabalhos e atividades que busquem, diretamente no contexto histórico vigente em determinada época, os elementos necessários para uma melhor compreensão do processo de produção do conhecimento científico e da lógica e da argumentação utilizadas por determinado cientista ao explicar um fenômeno. Por esta razão, acredito que qualquer trabalho inserido nessa linha da história e da filosofia da ciência precisa estar bem fundamentado quanto ao momento histórico vigente, o que pode ser feito por um recorte ou uma delimitação e caracterização do período no qual o cientista, ou o fenômeno, ou a teoria a ser abordada estão inseridos. Isto posto, e lembrando que o objetivo dessa dissertação é mostrar ao aluno que o raciocínio e a argumentação empregados por Isaac Newton (1642-1727) para explicar o fenômeno da dispersão da luz branca foram o resultado de um lento processo de desenvolvimento do pensamento científico, torna-se imprescindível que seja feita uma análise e uma breve caracterização do momento e do contexto histórico que se estende da segunda metade do século XV ao final do século XVII e que é conhecido como “Revolução Científica”. 5.1 A Revolução Científica: caracterização geral A Revolução Científica é considerada pelos historiadores da ciência como um poderoso movimento de transformação das idéias, através do qual todo o sistema de pressupostos herdado da Idade Média (em especial os pressupostos Aristotélicos) é questionado, demolido e substituído por um sistema completamente novo. De acordo com Bernal (1976), este período pode ser dividido em três fases específicas: a fase do Renascimento, de 1440 a 1540; a fase das Guerras de Religião, de 1540 a 1650 (segunda metade do século XVI e primeira metade do século XVII); e a fase da Restauração, de 1650 a 1690 (segunda metade do século XVII). Em cada uma delas, uma série de acontecimentos sociais, políticos, econômicos e religiosos contribuíram de modo significativo para que matemáticos, físicos, biólogos, químicos, médicos, filósofos e astrônomos formulassem novas teorias explicativas acerca do funcionamento do universo, da posição do homem dentro desse cosmo, dos processos de construção da ciência, das relações entre o homem e a ciência e entre a ciência e a fé religiosa. 74 5.1.1 A primeira fase da revolução científica: contextualização histórica A partir do ano 1000 podemos identificar alguns sintomas de mudanças na realidade da Europa Ocidental. O perigo das invasões bárbaras diminuiu, trazendo uma certa estabilidade e segurança internas. O domínio muçulmano na Península Ibérica enfraqueceu-se e os cristãos intensificaram a recuperação do seu território (Guerra de Reconquista). Essa nova realidade teve repercussão não só no crescimento demográfico, já que o índice de nascimentos começara a superar lenta, mas firmemente, a taxa de mortalidade, como também no estímulo para o aumento da produção agrícola. Importantes inovações técnicas foram sendo introduzidas. Generalizou-se o uso de instrumentos de ferro como a foice, a enxada, o arado e a charrua, antes feitos de madeira, permitindo ao camponês realizar uma melhor preparação do terreno para a semeadura e obter melhores colheitas. O crescimento populacional não ficou restrito aos grupos aristocráticos, atingindo também as camadas populares, o que resultou no aumento numérico da força de trabalho e na ampliação do mercado consumidor. Os feudos começaram a produzir mais do que necessitavam, passando a trocar os seus excedentes, o que ocasionou a volta do comércio in natura. Aos poucos, a produção auto-suficiente da época feudal passou a ser substituída por uma nova forma de produção, a produção para o mercado, caracterizada pela existência de sobras que podiam ser vendidas. Os camponeses foram se libertando da lavoura de subsistência, passando a se ocupar em outras atividades econômicas não vinculadas diretamente à terra, como o artesanato e o comércio. Se, durante mais de seis séculos, o Ocidente se definhara sob uma economia estagnada, na qual as mercadorias eram, em geral, negociadas por escambo, agora era possível assistir a uma vigorosa ascensão do comércio baseado no dinheiro. Embora não tivessem desaparecido durante o período feudal, as moedas eram um bem escasso e raro, utilizadas somente na compra de produtos que não se podia obter pela permuta, como o sal. A partir do século XIII, a cunhagem de moedas de ouro voltou a ser praticada e foi nessa época que se passou a distinguir nelas o seu valor intrínseco (peso em ouro) do seu valor extrínseco (como instrumento de troca, como signo monetário). Se, até o século X, a Europa Ocidental conheceu o esvaziamento das cidades e a ruralização da maioria da população, a partir do século XI, tem início o fenômeno da urbanização em que muitas cidades foram repovoadas ou fundadas, sempre em função do renascimento e da expansão do comércio. Outro acontecimento de importância que contribuiu para o renascimento do comércio 75 foi o movimento das Cruzadas, convocado pelo papa Urbano II, no Concílio realizado em Clermont, no sudeste da França, no mês de outubro de 1095. Se, inicialmente, o objetivo das Cruzadas foi religioso (libertar a Terra Santa do domínio muçulmano), os resultados econômicos e sociais foram os mais permanentes, já que os cristãos ocidentais conseguiram manter o domínio da Palestina somente por dois séculos, de 1098 a 1291, quando as forças do Islã tomaram o último reduto cristão na Terra Santa, pondo fim ao movimento das Cruzadas. Segundo Huberman (1986), as Cruzadas, do ponto de vista econômico, ajudaram a despertar a Europa de seu sono feudal, espalhando sacerdotes, guerreiros, trabalhadores e uma crescente classe de comerciantes por todo o continente; intensificaram a procura de mercadorias estrangeiras; arrebataram a rota do Mediterrâneo das mãos dos muçulmanos e a converteram, outra vez, na maior rota comercial entre o Oriente e o Ocidente, tal como antes. (HUBERMAN, 1986, p. 21). À medida que esse comércio internacional se desenvolveu, surgiram novas relações de trabalho nas cidades. Muitos artesãos que, a princípio, eram autônomos, passaram a depender de um comerciante que lhes fornecia a matéria-prima e os instrumentos de trabalho ou lhes financiava a produção. Esses comerciantes passaram, também, a contratar trabalhadores por uma jornada de trabalho (jornaleiros), tornando-se dependentes do comerciante-manufatureiro e tendo suas condições de vida deterioradas. As transformações provocadas pelo renascimento comercial determinaram o surgimento de um novo ideal de vida, fundamentado na valorização do luxo e do conforto. Essa nova mentalidade justificou a preocupação do burguês de trabalhar intensamente, aumentar cada vez mais seus negócios e seus lucros, para enriquecer. A mudança do padrão de riqueza, da terra para dinheiro, fortaleceu os comerciantes e enfraqueceu os senhores feudais, que possuíam terras. A necessidade de superar os obstáculos, para desempenhar de maneira mais lucrativa o comércio, levou a burguesia a se aliar aos reis, que puderam, assim, centralizar novamente o poder, resultando na formação do Estados Nacionais. Do ponto de vista cultural, todas essas transformações políticas, econômicas e sociais, repercutiram em um movimento conhecido como Renascimento. O comércio e a riqueza alteraram o comportamento, as concepções estéticas e religiosas dos europeus, principalmente da burguesia, que exigia uma cultura adaptada à sua visão de mundo, uma cultura mais profana, menos religiosa, mais aberta e acessível. 76 Na verdade, o Renascimento resultou em um notável acervo de novas realizações no campo da arte, da literatura, da ciência, da filosofia, da política, da educação e da religião que extrapola para além dos limites da influência grega e romana. Ao mesmo tempo, o Renascimento incorporou certo número de ideais e de atitudes que marcaram a mentalidade do mundo moderno. Destacam-se entre eles o otimismo em relação à existência; o hedonismo ou a valorização da vida e da alegria de viver, do prazer; o naturalismo, isto é, a valorização da natureza, dos fenômenos naturais, das coisas que cercam o homem. A valorização da natureza é um reflexo da valorização do homem, pois ele vive na natureza que merece ser estudada, conhecida e dominada em seu benefício. O naturalismo renascentista é manifesto nas obras artísticas e no grande desenvolvimento científico que ocorreu no período. Também podemos destacar o individualismo e o antropocentrismo, que é a colocação do homem como o centro de todos os fenômenos importantes da cultura, ao lado das realizações humanas que estão acima de todas as coisas. Todas as obras renascentistas inspiram-se em feitos humanos e foram concretizadas para benefício e glória dos homens. A aceitação conformada das “verdades” e da realidade impostas pela Igreja, na primeira fase da Idade Média, foi substituída pelo racionalismo, ou seja, a valorização das possibilidades ilimitadas da razão humana em atingir a verdade nas áreas científicas e religiosas, promovendo o desenvolvimento do espírito crítico. Finalmente, a cultura renascentista é uma cultura essencialmente urbana, uma vez que se desenvolveu nas grandes cidades que, então, estavam crescendo, ligadas ao comércio e à burguesia mercantil: Florença, Gênova, Veneza, Roma, Milão, Paris, Londres, Amsterdã, Bruxelas, Colônia, Salamanca e outras. O estudo do homem e da natureza conduziu ao Renascimento Científico. A leitura das obras da Antiguidade Clássica, o desenvolvimento do espírito crítico e a rejeição do “princípio da autoridade” conduziram ao nascimento da ciência experimental. Generalizou-se, então, o costume de observar os fenômenos da natureza, explicando-os racionalmente e relacionando-os com fenômenos já conhecidos. O resultado foi o desenvolvimento das ciências em geral. A importância do Renascimento Cultural e de sua conotação humanista vai, portanto, muito além de uma simples modificação na forma de expressão cultural de uma nova sociedade moderna. Segundo Bernal, [...] o que lhe confere importância na ciência, na arte e na política, é o fato de ser um movimento consciente e, ainda por cima, um movimento revolucionário. Nos seus aspectos intelectuais, foi a obra de uma pequena minoria consciente de eruditos e de artistas que se colocaram em oposição global ao padrão da vida medieval e se esforçaram por criar novas formas tão semelhantes quanto possíveis às da 77 antiguidade clássica. Já não se contentavam em ver os Antigos através da longa cadeia da tradição, através dos Árabes e dos escolásticos; queriam vê-los directamente, escavando-lhes as estátuas, lendo-lhe os textos. Para isso, tiveram de ler os originais gregos e encontraram, em primeira mão, não só o pensamento de Platão e Aristóteles, mas também o de Demócrito e Arquimedes. (BERNAL, 1976, p. 379). E como conseqüência de toda essa nova realidade, Bernal afirma que [...] o Renascimento marcou um rompimento definitivo e deliberado com o passado. Inevitavelmente, muitos aspectos desse passado permanecem; mas toma-se novo rumo, e as formas medievais de economia, de construção, de arte, de pensamento, desaparecem para sempre, substituídas por uma cultura nova, capitalista na economia, clássica na arte e na literatura, científica na atitude perante a natureza. (BERNAL, 1976, p. 380). Ao final da Idade Média, e consequentemente dessa primeira fase do Renascimento, a Europa Ocidental já havia consolidado os principais traços de sua estrutura política, socioeconômica e cultural. Existiam Estados com poder político centralizado; a economia estava unificada dentro dos limites de cada nação e a atividade comercial era predominante. Uma ampla transformação social favoreceu a consolidação da burguesia que, com o Renascimento Cultural, adquiriu cultura e projeção social. O continente já se encontrava pronto para expandir-se política e economicamente em regiões afastadas e desconhecidas: a África, a Ásia e a América. E é exatamente o que se verifica com o Expansionismo Marítimo Europeu. 5.1.2 A segunda fase da revolução científica: contextualização histórica A fase das Guerras de Religião, que se estende de 1540 a 1650, é considerada como o período no qual começam a se sentir os primeiros resultados das transformações ocorridas no período anterior. É marcada, historicamente, pelas Guerras de Religião, isto é, por conflitos com contornos claramente políticos e sociais, mas exteriorizados na forma de divergências religiosas, principalmente entre católicos e protestantes. Tais guerras apresentam como origem ou causa o movimento da Reforma Protestante. O homem europeu do início da Idade Moderna era, de modo geral, angustiado e atormentado por dúvidas sobre a sua natureza e o sentido de sua existência. O Humanismo e o movimento Renascentista, conforme mencionado anteriormente, vinham colocando em xeque as verdades dogmáticas estabelecidas pelo pensamento medieval em todos os domínios. A maneira de compreender o Universo, a natureza, o homem e, sobretudo, Deus estava sendo 78 refeita e influenciando sábios, artistas e cientistas que, com suas novas idéias, atuavam no sentido de criar uma nova cultura. Entretanto, a Igreja Católica, muito mais interessada em preservar a sua hegemonia e seus privilégios, relegou a um plano muito secundário as preocupações e as necessidades espirituais de seus adeptos. Foi nesse contexto que teve início, sob a liderança de Martinho Lutero, a Reforma Protestante, movimento que significou a ruptura da unidade da Igreja Católica, uma vez que proporcionou o surgimento de diversas igrejas reformadas, genericamente denominadas protestantes, pondo fim à hegemonia que exercera por muitos séculos. No entanto, muito antes de Lutero iniciar o movimento reformista, muitos clérigos e pensadores católicos leigos já tinham consciência da necessidade de mudanças na Igreja, corrigindo seus desmandos, eliminando os abusos e conclamando os padres a aceitarem suas responsabilidades pastorais. Era evidente, também, a necessidade de atender às angústias a que os fiéis estavam submetidos e para as quais a Igreja não tinha respostas claras. Somente quando a Revolução Protestante começou a ameaçar seriamente a hegemonia católica, com toda a nação alemã na iminência de tornar-se luterana, é que teve início a ação direta dos papas reformistas. Nesse aspecto, a reação católica realizou-se em dois sentidos. Por um lado, era preciso combater os avanços do protestantismo e, ao mesmo tempo, promover alterações no interior da própria Igreja a fim de evitar novas cisões. Surgem, então, a Contra-Reforma e a Reforma Católica, que foram colocadas em prática ao mesmo tempo. Dentre algumas medidas adotadas pela Contra-Reforma como meio de se conter os avanços do protestantismo, tem-se a organização e a fundação de ordens religiosas (como a Companhia de Jesus) que buscavam um profundo revigoramento da espiritualidade e uma renovação do sentimento religioso através de uma vida voltada para uma maior e mais perfeita comunicação com Deus; e a reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que atuava na Europa, principalmente na Espanha e em Portugal, desde a Idade Média, julgando e punindo aqueles que fossem suspeitos de heresia. Segundo Burns (1967), o resultado mais evidente e imediato da Reforma foi a divisão da cristandade ocidental em várias seitas ou doutrinas hostis que fizeram desaparecer o ideal medieval de organização de uma Igreja Universal que orientasse a todos os cristãos da Europa. “Já não havia, como na Idade Média, um único rebanho e um único pastor para toda a Europa latina e teutônica.” (BURNS, 1967, p. 481). Um de seus maus frutos, no entanto, foi a série de guerras religiosas que assolaram a Europa por quase quarenta anos, muitas das quais extremamente violentas e sanguinárias. As razões para tais conflitos apresentavam cunho 79 religioso mas, ao mesmo tempo, tinham uma outra forte conotação: as convicções e práticas econômicas da nova burguesia encontravam maior força de expressão em termos calvinistas, que em termos católicos. 5.1.3 A terceira fase da revolução científica: contextualização histórica A fase da Restauração, que se estende de 1650 a 1690, é considerada como um período de compromissos e transformações no campo da política. É marcada, historicamente, pelo estabelecimento do Absolutismo como a nova estrutura político-administrativa européia, resultante de todo o processo de modificação econômica, política, social e ideológica que teve início em fins da Idade Média. Pela caracterização política da primeira fase da revolução, sabe-se que o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, foi marcado por um movimento gradual de centralização do poder nas mãos dos reis, que culminou com a formação dos Estados Nacionais. No entanto, nessas instituições políticas, o poder do rei era limitado. A aliança com a burguesia, o forte poder político exercido pela Igreja e ainda a existência de assembléias populares, restringiam o poder real. Com o início da Reforma Protestante, entretanto, muitos reis, para se verem livres da interferência da Igreja, adotaram religiões protestantes como religiões oficiais de seus Estados, o que lhes reforçou o poder. Também o expansionismo europeu, que aumentou a riqueza dos reis, e a colonização da América, que consolidou o poder internacional dos Estados, contribuíram para que o poder dos reis fosse aumentando gradativamente até que eles passaram a controlar todas as atribuições que existiam dentro do Estado, muito além dos poderes que eles detinham nos Estados Nacionais. À medida que os monarcas aumentavam os seus poderes, a participação do povo no governo ia diminuindo, até que os Parlamentos chegaram a desaparecer quase totalmente, e as leis se tornaram atribuição exclusiva dos soberanos. A partir daí, a centralização que existia no Estado Nacional foi se tornando excessiva até que se hipertrofiou. A essa hipertrofia do poder real é dado o nome de absolutismo, ou seja, o absolutismo é uma estrutura político-administrativa na qual todos os poderes são exercidos indiscriminadamente pelos reis, muito além do poder existente nos Estados Nacionais. O absolutismo criou um novo tipo de Estado, o Estado Moderno, denominação dada a todos os Estados Nacionais que se tornaram absolutistas. Como se evidenciou, a origem do 80 absolutismo pode ser buscada nos acontecimentos que marcaram o fim da Idade Média. Entretanto, antes de tudo, o absolutismo foi uma evolução natural da estrutura política européia e não uma imposição de reis despóticos. Numa época de grande instabilidade em que a ordem e a segurança são desejadas, o absolutismo foi desejado pelo povo, pregado nas igrejas, pretendido pela burguesia e teorizado por pensadores. O cenário que é o elemento indispensável à compreensão da Revolução Científica está, dessa maneira, traçado e caracterizado. Todas as modificações políticas, econômicas e culturais relatadas anteriormente, permitem classificar o momento histórico no qual acontece a Revolução Científica como um período de crítica destrutiva e síntese construtiva, já que todo o conjunto de pressupostos da Idade Média é paulatinamente substituído por um sistema radicalmente novo. E desse novo sistema fazem parte tanto os acontecimentos políticos, econômicos e sociais já descritos, como também as novas maneiras de pensar, agir e se comportar da nova classe social. Como afirma Bernal (1976, p. 371), nesse momento histórico “um sistema de pensamento radicalmente novo estava construído na nova sociedade a partir de elementos derivados directamente do antigo, mas transformados pelos pensamentos e pelos actos dos nomes empenhados em fazer a revolução.”. Sendo assim, prosseguiremos a análise da Revolução Científica, evidenciando quais foram as principais transformações sofridas no pensamento e no conhecimento humano à época dessa revolução, principalmente no que diz respeito às maneiras de pensar, conceber, compreender e fazer ciência. 5.1.4 A transição do feudalismo para o capitalismo e as transformações da mentalidade A transição do feudalismo para o capitalismo não ocorreu de modo abrupto e repentino. Como relatado anteriormente, foram necessários cerca de 150 anos de transformações para que uma visão de mundo fosse substituída por outra, muito distinta. Situação semelhante se verifica em relação à mentalidade humana nesse período. A passagem de uma concepção medieval para uma concepção moderna também foi fruto de um lento processo de construção e reconstrução, ao longo do qual elementos peculiares da concepção de mundo medieval coexistiram (e ainda coexistem) com os elementos modernos. De uma maneira geral, verifica-se que a tendência dominante do pensamento medieval estava em colocar o homem em uma posição mais significante e importante que a própria natureza física. Segundo nos relata Burtt (1983), acreditava-se que tudo na natureza estaria subordinado ao homem, que seria, portanto, o controlador do universo. Nesse sentido, todo o 81 mundo da natureza existiria para o benefício do homem sendo, portanto, totalmente inteligível a ele. Essa inteligibilidade, por sua vez, ocorreria principalmente através das experiências sensoriais espontâneas do homem, o que permitia a interpretação do mundo segundo as categorias de substância, essência, matéria, forma, quantidade e qualidade, em distinção às categorias de tempo, espaço, massa e energia aceitas pela modernidade. Sendo assim, quando o homem observava um objeto distante, algo partia de seus olhos para o objeto, e não do objeto para seus olhos. As coisas que pareciam (aos sentidos) diferentes eram consideradas substâncias diferentes, como o vapor, a água e o gelo. A chuva caía porque beneficiava as culturas dos homens. Os corpos leves, como o fogo, tendiam a subir para o lugar que lhes pertenciam, da mesma maneira que um corpo mais pesado, como a água ou a terra, tendia a descer para seus lugares apropriados. Em suma, “a ciência medieval afirmava a sua pressuposição de que o homem, com seus meios de conhecimento e suas necessidades, era o fator determinante no mundo.” (BURTT, 1983, p. 12). Sendo o homem colocado nessa posição de destaque, seria natural que o local no qual ele vivesse também desfrutasse de posição privilegiada no cosmos. A Terra, vista como uma coisa vasta e sólida era então colocada em repouso no centro do universo, sendo que o Sol e o céu estrelado, considerado uma esfera leve e etérea, estariam se movendo suavemente em torno dela. Com o início das transformações que a posteriori conduziriam à revolução científica, toda essa concepção de mundo e de Homem, capaz de se relacionar com a natureza e de produzir algum conhecimento, começa a ser contestada, questionada, ampliada e modificada. Além disso, pode-se afirmar que todas essas transformações vivenciadas ao longo desse período também se refletiram intensamente na produção do conhecimento. De fato, como nos mostra o historiador inglês Burke (2003), o renascimento do comércio criou uma nova dinâmica de mercados. Ao interligar diversas regiões, intensificou-se também a troca de conhecimentos entre os países europeus, e destes com regiões mais distantes da Ásia e da América. Algumas regiões se tornaram, portanto, além de centros dinâmicos da economia comercial, pólos específicos de produção, difusão, concentração e distribuição do conhecimento. Dentre elas, destacam-se Roma, Paris e Londres. É o que o historiador define como o processamento do conhecimento. A sistematização do conhecimento nas cidades e fora delas era parte de um processo mais amplo de elaboração ou ‘processamento’, que incluía compilar, checar, editar, traduzir, comentar, criticar, sintetizar ou, como se dizia na época, ‘resumir e metodizar’. 82 As cidades foram descritas como ‘centros de cálculo’, isto é, lugares em que a informação local de diferentes regiões e relativa a diferentes tópicos era transformada em conhecimento geral. (BURKE, 2003, p. 72-73). Ainda segundo Burke (2003), esses conhecimentos produzidos nas cidades após o renascimento do comércio, podiam ser agrupados e classificados em diferentes categorias: teórico (conhecimento dos filósofos) e prático (conhecimento dos empíricos); público e privado (aqui considerado no sentido de informação restrita a um grupo da elite), alto (entendido como o conhecimento masculino por Giovanni Maria Tolosami) e baixo (o conhecimento feminino), etc. Essas classificações sofreram modificações com o passar do tempo, sendo muitas vezes contestadas por diferentes indivíduos ou grupos. Independente da categoria à qual o conhecimento esteja inserido, é importante ressaltar que serão exatamente destes centros ou destas cidades, que serão produzidas, como veremos a seguir, as principais teorias científicas e filosóficas quem embasarão o pensamento do homem moderno. 5.1.4.1 As contribuições de Nicolau Copérnico (1473-1543) O grande motor propulsor de toda essa transformação foi, indubitavelmente, a publicação, em 1543, do De Revolutionibus orbium celestium, de Nicolau Copérnico. Nessa obra, o astrônomo defende, em capítulos distintos, as seguintes teses: a) o mundo deve ser esférico; b) a Terra deve ser esférica; c) com a água, a Terra forma uma única esfera; d) o movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo ou então composto de movimentos circulares; e) a Terra se move em um círculo orbital em torno de seu centro, girando também sobre o seu eixo; f) comparados com a dimensão da Terra, é enorme a vastidão dos céus. No capítulo 7, Copérnico discute as razões pelas quais os antigos consideravam que a Terra estava imóvel no centro do mundo. As razões da insustentabilidade dessa visão, e que constituem o grande triunfo da teoria copernicana são discutidas no capítulo seguinte. O capítulo 9 discute se é possível atribuir à Terra mais movimentos e fala do centro do universo. 83 O último capítulo, por sua vez, é reservado às considerações acerca da ordem das esferas celestes. Segundo Reale e Antiseri (2007), a teoria copernicana subverteu o mundo. Não por apresentar idéias unicamente inovadoras e diferentes. Na verdade, Copérnico arrasta “para o seu mundo, muitos aspectos e estruturas do velho mundo.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 225), tais como a idéia ptoleimaca de que o mundo não é infinito e a concepção de que a forma perfeita é a esférica e o movimento perfeito e natural é o circular. O que, de fato, torna a sua teoria revolucionária, é exatamente a coragem de mudar de caminho, de paradigma e, consequentemente, de impor ao mundo das idéias uma nova tradição de pensamento. Tirando a Terra do centro do universo, Copérnico também retira o homem de sua posição privilegiada no cosmos e coloca em voga questões referentes ao relacionamento do Homem com o universo e com Deus. [...] Copérnico tira a Terra do centro do universo e, com ela, o homem. A terra não é mais o centro do universo, mas corpo celeste como os outros: ela, precisamente, não é mais o centro do universo criado por Deus em função do homem concebido como o ponto mais alto da criação, em função do qual estaria todo o universo. E, como a Terra não é mais o lugar privilegiado da criação e se ela não é diferente dos outros corpos celestes, então não poderia haver outros homens também em outros planetas? E, ocorrendo isso, como resistir a verdade da narração bíblica sobre a descendência de todos os homens de Adão e Eva? E como Deus, que desceu a esta Terra para redimir os homens, poderia ter redimido outros eventuais homens? [...]. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 186). Que razões, no entanto, teriam levado Copérnico a propor essa nova e revolucionária teoria? Que fatores contribuíram para isto? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada no ambiente intelectual e histórico vivenciado pelo astrônomo, àquela época. Conforme mencionado anteriormente, vivia-se a época da Renascença, da revolução comercial, da ascensão da burguesia, das viagens ultramarinas e das descobertas de continentes desconhecidos e civilizações ainda não estudadas. Os comerciantes desviavam as suas atenções das feiras locais para os grandes e inexplorados centros comerciais na América. Os limites do conhecimento humano, de uma hora para outra, se tornavam pequenos e insuficientes perante a constante ampliação de seus horizontes. A circunavegação da Terra comprovou a sua esfericidade. Locais distantes do continente europeu mostravam-se densamente povoados e instigavam indagações a respeito da certeza de a Europa ser o centro de importância do universo. A Reforma Protestante contribuía para libertar o pensamento humano e fazer aparecer, ao lado de Roma, numerosos centros religiosos. 84 Nesse burburinho de idéias e concepções novas, algumas das quais estranhas e radicais, não é difícil para Copérnico sugerir que uma nova mudança, talvez até maior do que as que outrora haviam ocorrido, devesse ser executada: o deslocamento do centro astronômico da Terra para o Sol. Aliado a todos esses acontecimentos históricos, revisitava-se, nesse momento, a idéia, herdada ainda da Antiguidade, de que a natureza tenderia sempre a executar as suas funções da maneira mais cômoda e com o menor trabalho possível buscando, para tanto, os movimentos e as configurações mais simples. E nesse contexto, o sistema copernicano se encaixava perfeitamente. Os complexos epiciclos haviam sido reduzidos, várias irregularidades do sistema ptoleimaco haviam sido corrigidas. Além disso, tem-se a contribuição de alguns fatos relacionados à própria história da matemática. À exceção dos dois últimos séculos, nos quais a álgebra finalmente libertou o conhecimento humano das representações geométricas, a geometria sempre foi a ciência matemática mais importante. Na Antiguidade, a álgebra desenvolveu-se em uma estreita dependência com a geometria. Os pitagóricos, por exemplo, buscaram estabelecer a ligação entre a aritmética e a geometria por meio dos números triangulares e dos números quadrados. Figura 1 – Os números triangulares e as suas representações geométricas Fonte: STRUIK, 1989, p. 78. Figura 2 – Números quadrados e as suas representações geométricas Fonte: STRUIK, 1989, p. 78. Nos “Elementos” de Euclides, por sua vez, o raciocínio algébrico é totalmente expresso em uma forma matemática. A expressão A é introduzida como sendo o lado do quadrado de área A e o produto ab como sendo a área de um retângulo de lados a e b. As equações lineares e quadráticas são resolvidas por construções geométricas, conduzindo à chamada ‘aplicação de áreas’. (STRUIK, 1989, p. 92). 85 No final da Idade Média, com o declínio do regime feudal e as transformações decorrentes do renascimento cultural, verificou-se uma retomada dos estudos matemáticos. Estes, por sua vez, empregavam em sua grande maioria, os mesmos métodos e partiam das mesmas premissas que os antigos. Em virtude de toda essa influência geométrica, é possível compreender porque os matemáticos dos séculos XV e XVI, apesar de contarem com um simbolismo algébrico mais amplo, ainda guardavam certa dependência da representação geométrica. O objeto de interesse naquele momento estava na teoria das equações e, em particular, na busca de métodos capazes de transformar equações complexas (quadráticas e cúbicas) em equações equivalentes e mais simples. No entanto, considerando a influência geométrica, essa busca, significava reduzir figuras complexas a simples – triângulos ou círculos simples - que fossem equivalentes à combinação mais elaborada substituída. Considerando que desde a Antiguidade, da Idade Média e até a época Galileu a astronomia era pensada como um ramo da geometria, não é difícil entender que pouco tempo foi necessário até que surgisse um pensador que propusesse a questão da redução do complexo ao simples também na astronomia. E é exatamente Copérnico quem faz isso. O astrônomo descobre e prova, matematicamente, que a complexa representação geométrica do sistema de Ptolomeu (com epiciclos, excêntricos, etc) poderia ser reduzida a uma representação mais simples se o ponto de referência astronômico fosse transferido da Terra para o Sol. Matematicamente, não está em questão qual dos sistemas (de Ptolomeu ou de Copérnico) é verdadeiro. Na medida em que a astronomia é matemática, ambos são verdadeiros, pois ambos representam os fatos, mas um é mais simples e harmonioso que o outro. (BURTT, 1983, p. 38). Por estas passagens, percebe-se que Copérnico não discute a sua teoria em termos de verdadeiro ou falso. Ele apenas procura seguir e aplicar o princípio da simplicidade, já mencionado anteriormente, para encontrar a resposta à seguinte questão: que movimentos devemos atribuir à Terra de modo a obter a geometria mais simples e mais harmoniosa do céu? Por fim, mas não menos importante, pode-se citar a influência filosófica no pensamento da época. Segundo nos relata Burtt (1983), nos séculos XV a XVII presencia-se a coexistência de duas correntes filosóficas: o aristotelismo e o neoplatonismo. A primeira, minimizava a importância da matemática e colocava a natureza como algo fundamentalmente qualitativo, que deveria ser explorada e interpretada por meio da lógica e não por meio da matemática. A segunda, por sua vez, que vinha ressurgindo na Europa como conseqüência do 86 Renascimento e que sofria forte influência dos pitagóricos, colocava o universo (e a natureza) como algo fundamentalmente geométrico e, por conseguinte, dotado de uma harmonia simples, bela e estritamente matemática. A Terra, na condição de corpo pertencente a esse universo, era também fundamentalmente matemática em sua estrutura, o que legitimava a busca por uma interpretação geométrica mais simples para os fatos. Sendo Copérnico um seguidor do neoplatonismo, fica evidente a naturalidade com que ele se [...] convencera de que o universo é integralmente composto de números e, por conseguinte, o que quer que fosse matematicamente verdadeiro seria real ou astronomicamente verdadeiro. A nossa Terra não constituía exceção – também ela era de natureza essencialmente geométrica – e, portanto, o princípio da relatividade dos valores matemáticos aplicava-se ao domínio humano, assim como a qualquer outra parte do reino astronômico. Para ele, a conversão das coisas na nova visão do mundo [heliocêntrico] não era mais que uma redução matemática de um complexo labirinto geométrico em um sistema simples, belo e harmonioso [...] (BURTT, 1983, p. 43). 5.1.4.2 As contribuições de Tycho Brahe (1546-1601) Três anos após a morte de Copérnico, tem-se o nascimento do dinamarquês Tycho Brahe que, sobretudo, destaca-se por ser um virtuoso observador astronômico. Diferentemente da prática comum de observação dos planetas apenas quando em posições ou configurações favoráveis, Brahe desenvolveu e introduziu a prática de observá-los, a olho nu, enquanto se moviam nos céus. Para tanto, construiu e desenvolveu equipamentos e instrumentos maiores e mais estáveis, com os quais obteve medidas e resultados com alto nível de precisão. Quanto à defesa e aceitação dos modelos astronômicos de Ptolomeu e Copérnico, Brahe é categórico ao afirmar: nem um, nem o outro. Em relação ao modelo de Copérnico, Brahe critica o fato de a Terra ser considerada como um corpo em movimento. [...] se fosse verdade que a Terra gira de lesta para oeste, então – essa é a objeção de Brahe - o trajeto de uma bala disparada em direção ao poente por um canhão deveria ser mais longo do que o trajeto de uma bala disparada pelo mesmo canhão em direção ao levante. E isso porque, no primeiro caso, a Terra estaria se movendo em direção oposta à da bala, ao passo que, no segundo caso, a Terra se moveria na direção da bala, de modo que este último trajeto deveria ser mais curto do que o da bala disparada em direção ao ocidente. Mas, como esses previstos trajetos diferentes não se dão na prática, Brahe concluía então que a Terra está imóvel. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 229-231). Em relação ao modelo ptoleimaco, Brahe, ainda que não estivesse embasado pelo neoplatonismo que influenciou Copérnico, consegue perceber a exagerada complexidade desse modelo e apregoa ser supérfluo recorrer a tão numerosos epiciclos, por meio dos quais 87 se explicava o comportamento dos planetas em relação ao Sol. Sendo assim, o astrônomo propõe um outro modelo, conhecido como “tychônico”. Por ele, a Terra era mantida imóvel e no centro do universo. Ao seu redor, estariam girando o Sol, a Lua e as estrelas fixas. O Sol, por sua vez, estaria no centro do movimento de rotação dos demais planetas (FIG. 3). Figura 3 – O sistema Tychônico a) Representação do modelo astronômico de Tycho Brahe Fonte: HAWKING, 2005, p. 136. b) Identificação dos corpos integrantes ao sistema tychônico Fonte: NELY, 2009. Apesar de não ser um sistema estruturado de modo simétrico, o modelo astronômico de Brahe foi abraçado pela grande maioria daqueles que estavam insatisfeitos com o modelo de Ptolomeu mas que, no entanto, não concordavam com as idéias de Copérnico. Nesse sentido, Reale e Antiseri (2007, p. 233) afirmam que o sistema tychônico foi “[...] engenhosamente concebido: mantinha as vantagens matemáticas do sistema de Copérnico e, além disso, evitava as críticas de natureza física e as acusações de ordem teológica [...].”. 5.1.4.3 As contribuições de Kepler ( 1571-1630) Como mencionado anteriormente, no meio século posterior a Copérnico, os astrônomos não tiveram coragem suficiente para apoiar e divulgar o heliocentrismo. No entanto, no final da década oitenta e início da década noventa desse mesmo século, o jovem matemático e astrônomo Johannes Kepler, retoma os estudos de Copérnico e se transforma no primeiro grande defensor e entusiasta dessa teoria. 88 Sei, com certeza, que tenho para com ela [a teoria de Copérnico] este dever, o de, assim como confirmei-a como verdadeira no mais profundo de minha alma, e assim como contemplo a sua beleza com incríveis deleito e encanto, assim também devo defendê-la publicamente perante meus leitores com todas as forças de que disponho. (KEPLER; FRISCH apud BURTT, 1983, p. 45). Mas que fatores explicariam a sua opção pelo copernicismo? Novamente, o fato de ter sido influenciado por um contexto histórico e filosófico semelhante ao experimentado por Copérnico. Aos vinte e dois anos, Kepler havia abandonado a teologia para se dedicar à matemática. Por esta razão, o pano de fundo neoplatônico, que justificava em grande parte o desenvolvimento da matemática da época e cujas idéias já haviam sido incorporadas ao modelo astronômico de Copérnico, conquistou a convicção e a simpatia do jovem astrônomo e se transformou na fundamentação filosófica de todo o seu pensamento. A unidade e a simplicidade da natureza, bem como a concepção de que o Universo havia sido criado por Deus a partir de considerações matemáticas e que, portanto, a sua estrutura e as suas leis deveriam ser definidas somente em termos de considerações matemáticas, passaram a constituir a base de toda a teoria kepleriana. Aliado a essa concepção, tem-se ainda como razão para aceitar o copernicismo o fato de ao Sol ser reservada uma posição central, de destaque, atitude que ia ao encontro das ânsias de Kepler. Segundo afirma Burtt (1983), apesar de ser um dos fundadores da ciência moderna, Kepler cultivava certos pensamentos místicos e supersticiosos, com especial destaque para a exaltação e valorização do Sol. De acordo com o astrônomo, o Sol seria o olho do mundo, o responsável por iluminar, aquecer e mover todos os corpos do universo. Em primeiro lugar, a menos que talvez um cego possa negá-lo perante ti, dentre todos os corpos do universo o mais notável é o Sol, cuja essência integral nada mais é que a mais pura das luzes que possa existir em qualquer estrela; que é por si só, o produtor, o conservador e aquecedor de todas as coisas; é uma fonte de luz, rico em frutífero calor, absolutamente claro, límpido e puro para a vista, a fonte da visão, pintor de todas as cores, embora, ele próprio vazio de cor, denominado rei dos planetas; por seu movimento, coração do mundo; por seu poder, olho do mundo; por sua beleza, único que podemos considerar merecedor do Deus Altíssimo; desejara Ele um domicílio material para si, escolhendo um lugar onde habitar com os anjos benditos... Pois se os germânicos elegem como César o que tem poder máximo em todo o império, quem hesitaria em conferir os votos dos movimentos celestes àquele que já vem administrando todos os demais movimentos e mudanças por graça da luz, que é sua posse exclusiva? [...]. (KEPLER; FRISCH apud BURTT, 1983, p. 45-46). Combinando-se os elementos supersticiosos à sua ânsia matemática de encontrar fórmulas precisas que pudessem ser confirmadas pelos dados, Kepler partiu da cogitação de que se o sistema de Copérnico era verdadeiro, então deveriam existir muitas outras harmonias 89 matemáticas no universo a serem descobertas e que serviriam para confirmação do copernicismo. Com isso em mente e com base no estudo e na análise dos dados já disponíveis (alguns deles obtidos ainda por Tycho Brahe), dedicou-se intensamente a procurar, determinar e formular leis matemáticas que melhor explicassem o funcionamento do universo, bem como as relações entre os corpos celestes. Desses estudos, destacam-se: a) a publicação, em 1596, do Mysterium Cosmographicum, através do qual ele assegura que o número de planetas, bem como a dimensão de suas órbitas poderiam ser explicados por meio de relações matemáticas entre estas últimas e os cinco sólidos platônicos existentes (cubo, tetraedro, dodecaedro, icosaedro e ortoedro). Em outras palavras, as distâncias entre as órbitas de cada um dos seis planetas guardariam certa semelhança com as distâncias que seriam obtidas caso as esferas hipotéticas de cada planeta fossem inscritas e circunscritas pelos sólidos platônicos. Figura 4 – Modelo de Kepler relacionando as distâncias orbitais dos seis planetas às distâncias obtidas pela inscrição e circunscrição aos sólidos platônicos Fonte: HAWKING, 2005, p. 104. 90 b) a descoberta e a divulgação das três leis matemáticas que regiam o movimento dos corpos em torno do Sol. Segundo Burtt (1983), tais leis não tinham especial importância para Kepler, visto que eram consideradas apenas como mais algumas dentre as diversas relações matemáticas por ele obtidas, quando se considerava válido e verdadeiro o modelo de Copérnico. Diferentemente do que se observa com os trabalhos científicos posteriores, não há grandes preocupações com as utilidades futuras dessas descobertas. O objetivo central era encontrar as harmonias matemáticas no modelo de Copérnico. No entanto, tais leis e em especial a primeira, são de fundamental importância no curso do desenvolvimento do pensamento científico, visto que significaram a ruptura com algumas idéias ainda aceitas desde a Antiguidade. A associação das distâncias orbitais dos planetas com as distâncias entre os sólidos platônicos inscritos e circunscritos logo mostrou-se falha. E durante muito tempo, buscou-se encontrar as verdadeiras relações. Passados mais de dez anos de tentativas frustradas, Kepler finalmente mostrou a incompatibilidade dos dados observados com as combinações das trajetórias circulares. Depois de tentar as trajetórias ovais, o astrônomo percebeu que os dados se harmonizavam com a teoria quando aos planetas eram atribuídos movimentos em torno de órbitas elípticas. Estava, portanto, quebrado o paradigma clássico da perfeição e da naturalidade do movimento circular. E os princípios da cosmologia aristotélica se haviam despedaçado. Em seu lugar, colocavam-se relações matemáticas racionais. Analisando a teoria kepleriana e, principalmente, a maneira através da qual o astrônomo encontra as suas verdades, podem-se identificar algumas peculiaridades da filosofia subjacente ao procedimento científico adotado por Kepler. Primeiramente, ele estabelece uma nova concepção de causalidade para os fatos. Tal concepção estava centrada na harmonia matemática dos mesmos. Sendo assim, os fatos observados comportavam-se daquela maneira, porque obedeciam a uma harmonia matemática que outrora fora estabelecida por Deus. Como exemplo, pode-se citar a causa apresentada para o fato de existirem seis planetas: os cinco sólidos regulares são inseridos entre as esferas desses planetas e, portanto, só poderiam existir seis planetas. Em segundo lugar, certamente como conseqüência dessa nova noção de causalidade, tem-se uma modificação na idéia de hipótese científica. Se a causa de qualquer fato observado está fundamentada na harmonia matemática, então qualquer tentativa de explicação desse fato, por meio do levantamento de hipóteses, deve conter, obrigatoriamente, um enunciado 91 referente a esta harmonia matemática, isto é, um enunciado que revele a conexão matemática e racional daquilo observado. Caso contrário, a hipótese em questão não poderá ser considerada verdadeira. Além disso, essa hipótese deve ser passível de verificação exata no mundo observado. Por fim, tem-se a elaboração de uma nova doutrina do conhecimento, que estabelece que o conhecimento certo e verdadeiro do universo e dos fenômenos que nele se observam é aquele que pode ser traduzido, expresso e evidenciado em quantidades. A quantidade passa, então, a ser considerada a característica fundamental ou a qualidade primária de todas as coisas, sendo a única capaz de ser verdadeiramente conhecida pelo pensamento humano. Todas as demais qualidades mutáveis e superficiais não são reais e, portanto, não existem de maneira tão verdadeira. De modo geral, pode-se afirmar que essas modificações nas concepções de causalidade, hipótese científica, realidade e conhecimento são as contribuições filosóficas mais importantes de Kepler e que, conforme veremos posteriormente, servirão como base sólida e fértil para o desenvolvimento dos estudos científicos de Newton. 5.1.4.4 As contribuições de Galileu Galilei (1564-1642) Galileu foi contemporâneo de Kepler e, com ele, estabeleceu uma fiel relação de amizade, evidenciada pelo grande intercâmbio de correspondências. De um modo geral, os trabalhos de Galileu, assim como os de Kepler, foram fortemente influenciados pelas condições ambientais gerais vivenciadas na época, e também pelos resultados obtidos diretamente de suas próprias realizações e pesquisas. Assim como o astrônomo alemão, Galileu também foi adepto e defensor do sistema de Copérnico. A atribuição de movimento à Terra, impulsionou-lhe a estudar mais cuidadosa, minuciosa e matematicamente, os movimentos de pequenas partes da Terra e também dos corpos nela existentes, permitindo-lhe a descoberta da causa de alguns fenômenos naturais, que não poderiam ser explicadas com base no modelo ptoleimaco até então aceito. Tais descobertas, no entanto, não foram inicialmente divulgadas pelo físico italiano, que temia represálias semelhantes às sofridas por Copérnico. Essas preocupações e temores se extinguiram completamente em 1610 quando, depois de construir um telescópio, Galileu o aponta para o céu. Segundo Hawking (2005, p. 57), as observações por ele feitas são tão significativas e importantes que a partir de então “o cosmo literalmente se abre para a humanidade.”. 92 Dentre algumas das grandes coisas vistas por Galileu, estão: a) o acréscimo de inúmeras estrelas jamais vistas, à multidão de estrelas fixas já existentes; b) o fato de a superfície da lua não ser lisa e polida mas cheia de imperfeições, montanhas, crateras e sinuosidades, tal como a superfície da Terra. Esta constatação é de extrema importância, visto que derruba a necessidade de qualquer distinção entre corpos celestes e terrestres, que era um dos pilares da teoria aristotélicaptolemaica; c) a constatação de que a galáxia (e, consequentemente a Via Láctea), nada mais é do que um aglomerado de estrelas, distribuídas ao acaso; d) a descoberta da existência de quatro satélites girando ao redor de Júpiter, um evento de tremendas conseqüências para os simpatizantes do geocentrismo, que acreditavam que todos os corpos celestes se moviam exclusivamente ao redor da Terra. Na verdade, este fato proporcionou a Galileu uma visão, no céu, de modelo em escala reduzida do sistema de Copérnico; e) as manchas solares que, diferentemente do que sustentava a concepção aristotélica, comprovaram que o Sol também sofre alterações e mutações; f) as fases de Vênus que, em particular semelhança com as fases da Lua, evidenciaram que todos os planetas recebem luz solar e, portanto, são corpos de natureza escura. Todos esses dados foram reunidos e apresentados à comunidade científica, ainda no mesmo ano, no Siderius Nuntius, O Mensageiro Celeste. Este tratado contribuiu, por um lado, para abalar por completo a imagem do mundo aristotélico-ptoleimaco e, por outro, para afastar alguns obstáculos que se interpunham no caminho da aceitação e confirmação da teoria de Copérnico. Além disso, segundo Reale e Antiseri (2007), ao levar o telescópio para dentro da ciência e utilizá-lo como instrumento científico potencializador dos sentidos, Galileu supera todo um conjunto de paradigmas e obstáculos epistemológicos (existiam na época arraigados preconceitos na ciência acadêmica com relação ao emprego de lentes, já que supunha-se enganarem os olhos) que dificultavam o avanço de pesquisas e a confirmação de teorias e transforma este instrumento em um “elemento decisivo do saber” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 254). 93 O período que se estende da publicação do Siderius Nuntius a 1615, é marcado pela divulgação de novos trabalhos de Galileu, sempre defendendo e empregando a teoria de Copérnico na análise dos fenômenos. É então nessa época que se percebe uma alteração no teor das críticas feitas ao astrônomo italiano. De questionador e opositor à filosofia aristotélica, Galileu passa a ser considerado um opositor às palavras das Sagradas Escrituras. Na tentativa de apaziguar e amenizar a situação, o astrônomo defende a separação entre fé e ciência e exalta a autonomia dos conhecimentos científicos. A ciência e a fé são incomensuráveis. E, sendo incomensuráveis, são compatíveis. Ou seja, não se trata de um ou–ou, mas muito mais de um e-e. O discurso científico é discurso empiricamente controlável, que visa a nos fazer compreender como funciona este mundo, ao passo que o discurso religioso é discurso de salvação, que não se preocupa com ‘o quê’, mas sim com o ‘sentido’ das coisas e da nossa vida. A ciência é cega para o mundo dos valores e do sentido da vida, ao passo que a fé é incompetente a respeito de questões factuais. Ciência e fé tratam cada qual de suas questões próprias: é essa a razão pela qual se harmonizam. Elas não se contradizem e nem podem se contradizer, já que são incomensuráveis: a ciência nos diz ‘como vai o céu’ e a fé nos diz ‘como se vai ao céu’. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 265). Em 1616, as autoridades eclesiásticas se posicionam e o Santo Ofício da Inquisição proíbe a divulgação das teorias de Copérnico e Galileu é impedido, sob pena de ser preso, de ensinar e defender, com palavras ou escritos, essa teoria. Entre os anos de 1624 a 1630, em uma polêmica com o jesuíta Horácio Grassi que viria a se tornar o papa Urbano VIII, Galileu tem reavivadas as esperanças de poder retomar os seus estudos astronômicos e as suas antigas convicções. Começa então a preparar a publicação do Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptoleimaco e copernicano, que ocorre no ano de 1632. Escrito em italiano e não em latim, e organizado na forma de diálogo entre três personagens (Simplício, representante da filosofia aristotélica; Salviati, cientista defensor da teoria copernicana e, certamente, a figura representativa do próprio Galileu e Sagredo, representante do povo, aberto para a novidade, mas que deseja conhecer as razões de ambas as partes), este tratado se configura como uma obra de crítica e combate à filosofia aristotélica. A reação da igreja católica foi imediata, sendo Galileu obrigado a abjurar as suas teses e, em seguida, condenado à prisão no palácio de um de seus amigos. Aí, nesse retiro, Galileu completou os seus trabalhos sobre dinâmica e estática, que seriam publicados, no ano de 1638, em seu último livro, Discursos e demonstrações matemáticas sobre as duas novas ciências. Não menos copernicano do que os Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo, esta obra reúne as descobertas referentes à resistência de materiais e ao estudo dos 94 movimentos dos corpos e representa a contribuição mais madura e original de Galileu à história das idéias científicas. E quais seriam os pressupostos filosóficos que embasam todos os trabalhos e publicações de Galileu? Qual é a maneira galileana de compreender e perceber a ciência e a natureza? Primeiramente, pode-se afirmar que a natureza se apresenta a Galileu, talvez até mais do que a Kepler, como um sistema simples e ordenado que age segundo leis imutáveis, fundamentadas em princípios matemáticos e geométricos. A natureza é o domínio da matemática. [...] A filosofia está escrita nesse grande livro permanentemente aberto diante de nossos olhos – refiro-me ao universo- mas que não podemos compreender sem primeiro conhecer a língua e dominar os símbolos em que está escrito. A linguagem desse livro é a matemática e seus símbolos são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem cuja ajuda é impossível compreender uma única palavra de seu texto; sem cuja ajuda, vagueia-se em vão por um labirinto escuro [...]. (BURTT, 1983, p. 61). Nesse sentido, as demonstrações matemáticas, e não a lógica escolástica, adquirem papel de destaque, sendo consideradas um meio efetivo para se desvendar os mistérios da natureza. Um outro meio válido nesse processo de descoberta e explicações dos fenômenos naturais é o das observações e experimentações. Na verdade, o que Galileu propõe é a combinação, de maneira justa, desses métodos matemático (demonstrações) e experimental. Segundo ele, as características e leis do mundo no qual vivemos nos são reveladas através dos sentidos. “Os fatos sensoriais estão perante nós para serem explicados; não podem ser revogados ou ignorados.” (BURTT, 1983, p. 62). Ao contrário, eles devem ser explicados em termos matemáticos. Se, no entanto, não nos for possível ter uma intuição imediata das conclusões plausíveis advindas de um determinado fato observado, então se faz necessário a realização de experiências, que possam fornecer dados suficientes a uma análise mais profunda. Essa análise, por sua vez, deve ser executada com a ajuda do método resolutivo, que é, essencialmente, um método de demonstrações matemáticas. [...] O mundo dos sentidos não é a sua própria explicação; tal como se apresenta, ele é um código não decifrado, um livro escrito em língua estranha, que deve ser interpretado ou explicado em termos do alfabeto dessa língua. Após vaguear por muito tempo em direções errôneas, o homem por fim descobriu os rudimentos desse alfabeto, ou seja, os princípios e unidades da matemática. Descobrimos que todos os ramos da matemática sempre se aplicam ao mundo material; os corpos físicos, por exemplo, são sempre figuras geométricas, muito embora nunca revelem as formas 95 exatas que nos compraz tratar na geometria pura. Por conseguinte, quando tratamos de decifrar uma página pouco familiar da natureza, o método é, obviamente, o de buscar nela o nosso alfabeto; resolve-la em termos matemáticos [...]. (BURTT, 1983, p. 64). Diante do exposto acima, fica evidente a existência de um método galileano de análise, observação e explicação da natureza. Segundo Burtt (1983), este método pode ser didaticamente dividido em três etapas: a intuição ou resolução, a demonstração e a experiência. Na etapa inicial da intuição, a experiência sensorial proporcionada por determinado fenômeno deve ser analisada e examinada de modo mais completo possível, com o objetivo de se intuir uma forma matemática simples de se traduzir o fenômeno observado. Em seguida, os fatos sensoriais em si deverão ser deixados de lado, visto que não haverá mais necessidade de se recorrer a eles. Os elementos resultantes da etapa inicial e que, de certa forma, guardam a essência dos fatos sensoriais, deverão passar por um processo de demonstrações dedutíveis, a partir da aplicação da matemática pura. Fica evidente, dessa maneira, que o método da demonstração matemática é, para Galileu, independente da verificação sensorial. [...] Ele [Galileu] insistia em que a partir de poucas experiências podia-se chegar a diversas conclusões válidas, as quais iam muito além da experiência mesma, uma vez que o conhecimento de um único fato, adquirido através da descoberta de suas causas, prepara a mente para a compreensão e a determinação de outros fatos sem a necessidade de recorrer-se à experiência [...]. (BURTT, 1983, p. 62). Em seu estudo sobre os projéteis, por exemplo, o físico italiano afirma que, uma vez sabido que a trajetória seguida pelo projétil é uma parábola, é possível demonstrar, somente através da aplicação da matemática pura e sem a realização de qualquer experiência, que o alcance máximo ocorrerá para um ângulo de lançamento de 45°. Contudo, visando a obtenção de resultados mais seguros e, segundo relata o próprio Galileu, com o intento de convencer aqueles que não acreditam na aplicabilidade da matemática, deve-se desenvolver, sempre que possível, demonstrações matemáticas cujas conclusões sejam suscetíveis de comprovação por meio da experiência. As teorias ou os princípios assim obtidos poderiam ainda estimular a explicação de fenômenos correlatos mais complexos e a descobertas de leis matemáticas adicionais. Nesse momento, uma pergunta se coloca: a estrutura matemática da natureza é percebida, pelo cientista italiano, como algo final, que simplesmente existe dessa maneira, ou pode ser explicada por outras razões e circunstâncias? 96 Assim como Kepler, a resposta dada por Galileu a essa questão tem uma base religiosa. De fato, o uso da palavra natureza pelo físico italiano não exclui uma interpretação religiosa para as causas das coisas. Na verdade, Galileu admite a existência de um Deus que, agindo tal qual um geômetra, seria o criador dessa harmonia matemática. E como seria, na visão de Galileu, a ação deste Deus? Diferentemente da interpretação medieval que colocava Deus como a causa final de todas as coisas e, consequentemente, interpretava os porquês dos fatos em termos de sua utilidade para o homem, na eterna busca de sua união com Deus; a interpretação galileana procura centrar a sua análise no como dos fatos e, com isso, elimina qualquer necessidade desta causalidade final. Nesse contexto, Deus, tal como concebiam os aristotélicos, perde o seu papel no cosmo de Galileu. No entanto, segundo nos relata Burtt (1983), negar simplesmente a existência de Deus, àquela época, é algo muito radical e, por esta razão, o físico italiano opta por inverter a sua posição. De causa final de todas as coisas, passa a ser visto como “A Primeira Causa Eficiente, ou o Criador dos átomos” (BURTT, 1983, p. 78). Desse modo, Deus passa a ser considerado como um imenso inventor mecânico que, ao criar os átomos, permite que toda uma sucessão de movimentos (junções e separações) com características matemáticas possam ocorrer e explicar como ocorrem os mais diversos fenômenos observados na natureza. A diferença, no entanto, entre conhecimento de Deus e o dos homens estaria no fato de o primeiro ser completo e imediato, e o segundo parcial e lento, exigindo esforços para ser verdadeiramente apreendido. Quanto à verdade, da qual as demonstrações matemáticas nos dão conhecimento, ela é a mesma que a sabedoria divina conhece; mas a maneira pela qual Deus conhece as proposições infinitas, das quais conhecemos algumas poucas, é muito mais perfeita que a nossa, que procede através do raciocínio e caminha de conclusão em conclusão, enquanto que a sua dá-se através de um pensamento ou intuição. (BURTT, 1983, p. 66). É exatamente essa base religiosa que permitiu a Galileu afirmar que as passagens controversas das Escrituras, cujas diversas interpretações evidenciam a dificuldade dos teólogos em conceber certezas, precisariam ser explicadas à luz da ciência. As discussões em torno de um fenômeno natural deveriam, portanto, iniciar-se por experiências e demonstrações e, não, pela autoridade das Escrituras pois [...] do mundo Divino provieram tanto a Sagrada Escritura quanto a natureza. Sendo a natureza inexorável e imutável e nunca ultrapassando os limites das leis a ela impostas, acredito que, no que concerne aos efeitos naturais, aquilo que a 97 experiência sensorial expõe aos nossos olhos ou que as demonstrações necessárias nos comprovam não deveria ser posto em dúvida, em nenhuma circunstância, e muito menos condenado em função do testemunho dos textos da Escritura, os quais, entre suas palavras, podem abrigar significados contrários aos daquelas. Não é menos admirável a maneira como Deus se nos revela nas ações da natureza que nos ditames da Escritura Sagrada. (BURTT, 1983, p. 67). Observa-se, dessa maneira, que a ciência galileana é independente da fé, aqui traduzida e representada pelos ensinamentos divulgados nas Sagradas Escrituras. Isso significa que as explicações dos fenômenos naturais devem ser sempre pautadas em demonstrações matemáticas e experiências sensatas e nunca baseadas nos ditames dessas escrituras. Além disso, os fatos sensoriais desse modo observados ou as conclusões assim obtidas, representarão verdades e certezas e não deverão ser postos em dúvida, já que exibem a harmonia matemática estabelecida por Deus. Além de ser independente da fé, a ciência galileana é também realista e objetiva. Realista no sentido de que Galileu, assim como Copérnico, não percebia a ciência apenas como um conjunto de cálculos úteis para fazer previsões mas, sim, como uma descrição verdadeira da realidade. E objetiva, na medida em que se preocupava em descrever as qualidades objetivas (primárias) dos corpos, isto é, aquelas quantitativamente determináveis e, portanto, mensuráveis. As cores, odores, sabores, textura, compreendidas como qualidades subjetivas (secundárias), variariam de homem para homem e, portanto, não poderiam constituir o objeto da ciência. E essa objetividade da ciência, por sua vez, tem algumas conseqüências. Segundo Reale e Antiseri (2007), ela exclui o homem do universo de investigação da física e, junto com ele, uma série de coisas e objetos ordenados e hierarquizados em sua função. Exclui ainda a investigação qualitativa em benefício da quantitativa e elimina as causas finais em favor das causas mecânicas e eficientes. Em síntese, “o mundo descrito pela física de Galileu não é mais o mundo de que fala a física de Aristóteles.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 282). 5.1.4.5 As contribuições filosóficas de Francis Bacon (1561-1626) O período que se estende da segunda metade do século XVI até a segunda metade do século XVII e que é caracterizado, na Inglaterra, pela passagem do catolicismo ao protestantismo e por uma rápida expansão e desenvolvimento do setor industrial, evidencia o momento histórico vivenciado pelo jurista inglês Francis Bacon. Considerado o “filósofo da época industrial”, Bacon dedicou grande parte do seu tempo a 98 refletir sobre o conhecimento e sobre a melhor maneira de colocá-lo a serviço do homem. Para ele, a ciência deveria dar frutos na prática, isto é, o conhecimento por ela produzido deveria ser capaz de promover melhorias nas técnicas e nas condições da vida humana. Segundo nos alerta Andery et al. (2003), Bacon não propõe que todo conhecimento particular tenha uma utilidade prática e imediata na vida humana; mas “é o conjunto do saber que deve estar voltado para atender as necessidades do homem.” (ANDERY et al., 2003, p. 195). “A ciência pode e deve transformar as condições da vida humana. Ela não é realidade indiferente aos valores da ética, mas sim instrumento construído pelo homem tendo em vista a realização dos valores de fraternidade e progresso.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 322). Nesse sentido, e para que o conhecimento cumpra a sua finalidade de se colocar a serviço do homem, Bacon se esforçou por estabelecer um método que permitisse uma compreensão mais correta dos fenômenos e das verdades a eles subjacentes. Tal método foi desenvolvido a partir de considerações e reflexões feitas pelo filósofo sobre o saber da época. Como descrevem Reale e Antiseri (2007), Bacon via o saber da época impregnado de “antecipações da natureza”, isto é, de “noções que alcançam fácil concordância, porque, extraídas de poucos dados, sobretudo dos que se repetem habitualmente, logo ocupam o intelecto e preenchem a fantasia.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 333). Como conseqüência, o saber se mostra “[...] entretecido de axiomas que, sendo produzidos precipitadamente a partir de poucos e insuficientes exemplos, sequer arranham a realidade, servindo apenas para alimentar disputas estéreis.” (REALE; ANTISERI, 2003, p. 333). Nesse sentido, o filósofo propõe que as antecipações da natureza sejam substituídas por “interpretações da natureza”. “Recolhidas de dados diversos e muito distantes entre si, elas não podem logo tomar o intelecto; por isso, parecem difíceis e estranhas à opinião comum, quase semelhantes aos mistérios da fé.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 334). E essas interpretações, para serem obtidas, precisam seguir um método, um novum organum que, segundo Bacon, seria um novo instrumento eficaz de se atingir a verdade; constituído, essencialmente, de duas etapas. A primeira, implicaria em limpar a mente dos ídolos, isto é, das falsas noções que invadiram o intelecto humano. A segunda, por sua vez, corresponderia na aplicação das regras do método de Bacon, ou método da indução. No que diz respeito à primeira etapa, Bacon acredita que o homem, ao produzir conhecimento, pode cometer quatro tipos de erros (ídolos) se seguir o seu impulso natural. 99 Os primeiros são os ídolos da tribo, ou seja, as falhas inerentes a todo ser humano e decorrentes de interpretações equivocadas tanto de seus sentidos quanto de seu intelecto. Segundo o filósofo, não se pode confiar nas informações fornecidas pelos sentidos (senão aquelas corrigidas pela experimentação) nem nas advindas do intelecto, já que estão sujeitas a inúmeras falhas, sendo a tendência de se generalizar a partir de casos favoráveis e contrariando qualquer instância negativa que se apresente, uma delas. Quando encontra alguma noção que o satisfaz, porque considera verdadeira ou porque convincente e agradável, o intelecto humano leva todo o resto a validá-la e coincidir com ela. E até quando a força ou o número das instâncias contrárias é maior, no entanto, ou não são levadas em conta por desprezo ou são confundidas com distinções e rejeitadas, não sem grave e danoso prejuízo, desde que isso conserve imperturbável a autoridade das primeiras afirmações. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 335). Os segundos são os ídolos da caverna, da gruta particular de cada um e, portanto, estão relacionados aos erros cometidos em decorrência da individualidade de cada estudioso, isto é, da sua história de vida, do seu ambiente, de sua formação, dos seus hábitos, dos seus objetivos ao iniciar determinado estudo. Todos esses aspectos fazem o cientista compreender, interpretar e analisar um fenômeno mediante determinado prisma. Além das aberrações comuns ao gênero humano, cada um de nós tem caverna ou gruta particular na qual a luz da natureza se perde e se corrompe, por causa da natureza própria e singular de cada um, por causa de sua educação e das conversações com os outros, por causa dos livros que lê e da autoridade que admira e honra ou por causa da diversidade de impressões, à medida que elas encontrem o espírito já ocupado por preconceitos ou então descongestionado e tranqüilo. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 336). O terceiro tipo, são os ídolos do foro, isto é, as falhas provenientes dos contatos recíprocos entre os seres humanos e que, portanto, são decorrentes da linguagem que usamos e da comunicação estabelecida. As palavras que usamos limitam a nossa concepção das coisas, na medida em que nem sempre é possível fazer com que elas correspondam, da maneira mais fiel possível, aos fatos e fenômenos observados na natureza. Assim, o uso de palavras vagas e, muitas vezes, sem correspondência com qualquer aspecto do real, acaba por gerar inúmeras controvérsias em torno de nomes e definições. Os ídolos que, através das palavras, penetram no intelecto, são de duas espécies: são nomes de coisas inexistentes ou são nomes de coisas que existem, mas confusos, indeterminados e impropriamente abstraídos das coisas. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 337). 100 Os últimos ídolos, por sua vez, são os do teatro que correspondem às distorções introduzidas no pensamento advindas da aceitação de falsas teorias ou sistemas filosóficos. Nesse momento Bacon tece críticas contumazes ao sistema filosófico aristotélico, principalmente no que diz respeito à sua incapacidade e esterilidade para produzir resultados práticos que beneficiem a vida humana. Para ele, a filosofia aristotélica era “boa somente para as disputas e as controvérsias, mas estéril em obras vantajosas para a vida do homem.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 322). Uma vez libertado o intelecto humano de todos estes ídolos e das antecipações da natureza, Bacon afirma ser o momento de o homem encaminhar-se para o verdadeiro estudo da natureza por meio de um método por ele proposto e intitulado de método da indução. Tal método funciona como um procedimento de pesquisa composto por duas partes. A primeira consiste em extrair e fazer surgir os axiomas da experiência, e a segunda em deduzir e derivar novos experimentos dos axiomas. Para se atingir o objetivo proposto na primeira etapa, Bacon sugere sejam feitas, com base naquilo que se deseja estudar, três relações (por ele intituladas de tábuas) ou listas, propriamente ditas: a tábua da presença, na qual se relacionam todas as situações nas quais se apresenta o fenômeno; a tábua das ausências, na qual se relacionam as situações em que o fenômeno em questão está ausente e, por fim, a tábua dos graus, na qual são registradas todas as instâncias em que o fenômeno se apresenta segundo uma maior ou menor intensidade. Feito isso, o filósofo procede ao método da indução propriamente dito, aqui compreendido como a eliminação ou a exclusão da hipótese falsa, por meio da comparação das respostas obtidas nas três tábuas. Dessa maneira, obtém-se uma primeira colheita, isto é, uma primeira hipótese, que deve passar agora pelas fases da dedução e da experimentação. Dedução dos fatos implicados e previstos pela hipótese e experimentação e verificação de suas veracidades. Nesse sentido, deve-se construir uma rede de investigações e um rico conjunto de técnicas experimentais, capazes de permitirem a realização de um grande número de experiências ordenadas. Se, no entanto, durante a pesquisa de uma determinada natureza, o intelecto humano se encontrar em dúvida e inseguro quanto uma ou outra decisão, Bacon sugere seja realizado o chamado “experimentum crucis”, isto é, aquele capaz de efetivamente permitir a confirmação de uma teoria e a eliminação de outra. Em síntese, esse método baconiano que busca a eliminação da mente humana das antecipações da natureza, que incentiva a realização dos experimentos e que “coloca chumbo e pesos no intelecto humano” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 339), exercerá influência 101 histórica e decisiva sobre aqueles que seriam os seus seguidores e continuadores, com especial destaque para Isaac Newton. 5.1.4.6 Algumas contribuições de Renè Descartes (1596-1650) Inserido nesse contexto de transformações que assolaram o pensamento europeu no decorrer do movimento da Revolução Científica, tem-se o filósofo francês Renè Descartes. De acordo com Burtt (1983), a sua importância para o movimento pode ser considerada dupla: ele elaborou uma hipótese abrangente e detalhada da estrutura matemática do universo e utilizou um método matemático e dedutivo próprios e um dualismo metafísico para explicar o posicionamento e os interesses do homem em relação à natureza. De um modo geral, o desenvolvimento de toda a filosofia de Descartes está pautado em sua completa certeza e convicção de que é possível conhecer e chegar a verdades indubitáveis. E o caminho a ser percorrido para se atingir tal feito passa pela dúvida. Duvidar de tudo, particularmente da existência das coisas provenientes dos sentidos é o método utilizado pelo filósofo para conhecer as verdades, consideradas como idéias claras e distintas. A existência do pensamento humano, no entanto, é a única idéia que não pode ser atingida pela dúvida. Isso porque, ao ser capaz de duvidar de tudo, Descartes chega à conclusão de que é um ser pensante e, portanto, existe: “Penso, logo existo”. A existência do pensamento humano é, dessa maneira, estabelecida como a primeira verdade indubitável para o filósofo. Como conseqüência disso, tem-se um segundo princípio, também verdadeiro: o da existência de Deus. Com efeito, se somos seres capazes de formular idéias a respeito das coisas exteriores e daquelas que nos chegam pelos sentidos, é porque tanto o nosso corpo, quanto essas coisas existem e foram criadas por um ser bom e perfeito: Deus. Assim, a existência do pensamento humano e a existência de Deus são as duas verdades ou princípios inicialmente estabelecidos e dos quais deriva toda a filosofia de Descartes. Se a dúvida foi o ponto de partida para que Descartes estabelecesse esses dois princípios, o método de raciocínio por ele empregado nesse processo foi o matemático. As regras metodológicas de Descartes indicam o caminho correto para todo indivíduo que deseja chegar a verdades. 102 [...] regras certas e fáceis que, sendo observadas exatamente por quem quer que seja, tornem impossível tomar o falso por verdadeiro e, sem qualquer esforço mental inútil, mas aumentando sempre gradualmente a ciência, levem ao conhecimento verdadeiro de tudo o que se é capaz de conhecer. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 359). De um modo geral, essas quatro regras ou preceitos são assim apresentados: O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal; isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir. (DESCARTES, 1973, p. 45-46). A ênfase na dúvida e a aplicação do método matemático de raciocínio traduzem, portanto, a maneira pela qual a razão é capaz de chegar a verdades claras e distintas evitandose, assim, os erros. A importância que Descartes atribui à matemática evidencia-se, não apenas em seu método descrito anteriormente, mas também na maneira como ele percebe o mundo. Influenciado pelos estudos e pelas realizações matemáticas de Kepler e Galileu, e seguindo uma convicção profunda que há muito se estabelecera em sua mente, Descartes procurou demonstrar, em seus trabalhos, que a matemática era a única chave para se desvendar os segredos da natureza. Nesse sentido, mergulhou insistentemente no campo da geometria e inventou um instrumento que permitiu a união de elementos da aritmética e da álgebra com os elementos da geometria, principalmente ao se constatar uma correspondência biunívoca entre essas duas áreas. Por meio deste instrumento, conhecido como geometria analítica, Descartes percebeu que a extensão do espaço (comprimento, largura e espessura) poderia ser, por mais complicada que fosse, representada e traduzida por meio de fórmulas e números e, de modo análogo, que determinadas verdades numéricas poderiam ser, sob certas circunstâncias, representações espaciais. Tal constatação ampliou a esperança do filósofo de que o mundo da Física pudesse ser redutível unicamente a qualidades matemáticas, o que evidenciaria o fato de ser a matemática a chave única e adequada para revelar as verdades da natureza ou do mundo físico. 103 E quais seriam, então, as características desse universo cartesiano? Segundo Reale e Antiseri (2007), o universo de Descartes seria composto basicamente por matéria (ou extensão) e movimento. Inicialmente, Deus teria colocado todas as coisas dotadas de extensão em movimento, sendo que os fenômenos observados seriam provocados pelo choque dessas partículas movendo-se umas sobre as outras. Através dessas colisões, a quantidade de movimento inicial seria transmitida a outras partes do universo, de modo que não haveria necessidade de recorrer a forças ou atrações para explicar o movimento (princípio da conservação). Tudo aconteceria segundo a regularidade e a precisão de uma máquina ou um relógio mecânico. Além disso, existiria nesse universo uma espécie de éter que, uma vez impelido pela ação Divina a executar determinado movimento, criaria uma série de redemoinhos e vórtices, nos quais objetos visíveis, como os planetas, seriam arrastados e conduzidos a determinados pontos. Essa maneira de conceber o universo é, sem dúvida, uma visão fundamentalmente diferente do modo platônico-aristotélico até então existente. A condição natural dos corpos de quietude é substituída pela concepção de movimento, agora compreendido como um estado. O lugar natural dos corpos deixa de existir, já que as coisas não têm uma direção finalisticamente definida. Além disso, o Deus que antes era relegado à condição de fim (já que o homem deveria encontrar o seu caminho de volta a Ele), passa a ser compreendido como a causa primeira do movimento e dos acontecimentos do universo, percebido como uma grande máquina matemática. Aliado à existência desse universo mecânico, dinâmico e matemático, intitulado de Res Extensa, Descartes admite ainda a existência de um outro mundo, completamente independente do primeiro (a Res Cogitans), cuja essência é o pensamento, a vontade, a percepção e o sentimento, isto é, um mundo sem extensão. No caso do ser humano, a Res Extensa seria o seu corpo e a Res Cogitans a sua alma. Para Descartes, a Res Cogitans se uniria ao corpo como um todo, mas exerceria as suas funções em uma região particular (glândula pineal), de onde se irradiaria por todo o restante do corpo por meio das essências, ou espíritos animais, dos nervos e mesmo do sangue. Assim, afirmava o filósofo que por meio de uma parte do corpo, uma substância sem extensão entrava em relação efetiva com o reino da extensão, fato que é conhecido como o dualismo cartesiano. Novamente, tem-se uma ruptura com a visão antiga. Além de o mundo ser uma máquina dinâmica e matemática, algumas coisas que o tornavam um lugar vivo, espiritual e gracioso, tais como as características secundárias dos objetos, foram reunidas e colocadas em um mundo diferente e independente do mundo verdadeiramente extenso. Como nos afirma 104 Burtt (1983, p. 98), “[...] foi uma mudança incalculável na visão de mundo da opinião inteligente da Europa.”. 5.1.4.7 As contribuições filosóficas inglesas do século XVII A obra de Descartes exerceu grande influência na Europa durante a segunda metade do século XVII, despertando amplo interesse e severas críticas. Na Inglaterra, ela despertou, mais particularmente, a atenção de Thomas Hobbes, Robert Boyle e John Locke. Hobbes (1588-1679) viveu na Inglaterra em um período muito conturbado e marcado por uma série de disputas políticas. De um lado, as forças parlamentares desejavam a instauração de uma monarquia parlamentar e, de outro, as forças da nobreza propunham o governo de um só homem com poderes absolutos. Nesse sentido, grande parte de sua obra esteve ligada a essas questões políticas, especialmente por ter se destacado, conforme mencionado anteriormente, como um dos teóricos e defensores da monarquia absolutista. Hobbes defendia a idéia do “contrato social”, no qual todos os homens abririam mão de seus próprios direitos, transferindoos para alguém, como meio de se garantir a sobrevivência humana. Em conjunto com essas inquietações, Hobbes desenvolveu também um forte interesse pela filosofia, chegando a elaborar um sistema no qual as preocupações com a sociedade e as questões políticas estivessem associadas ao estudo da produção do conhecimento científico. Por este sistema, a filosofia não se ocuparia de Deus, da teologia, e nem de tudo o que não estivesse bem fundado. Ela se dedicaria unicamente ao estudo dos corpos, fossem eles artificiais (filosofia civil ou política) ou naturais (filosofia da natureza). Dentre estes últimos, os corpos ainda poderiam ser divididos em físicos ou humanos. Tudo aquilo que não fosse corpóreo ou que fosse espiritual deveria ser excluído da filosofia. Figura 5 – A divisão da filosofia segundo Thomas Hobbes Fonte: REALE; ANTISERI, 2007, p. 489. Por esta divisão, já evidencia-se uma das tendências do pensamento de Hobbes que é a crítica ao dualismo cartesiano. Para ele, todas as coisas, inclusive o pensamento, deveriam ser reduzidas a corpos e movimentos, não fazendo sentido a consideração da Res Cogitans de 105 Descartes. Mesmo aqueles corpos que aparentemente não demonstravam algum movimento a olho nu, possuíam algum tipo de movimento interno. Nesse contexto, o conhecimento era possível porque os objetos ou corpos eram capazes de produzir sensações, imaginações e sentimentos nos seres humanos. No mecanismo das sensações, os objetos sensíveis afetavam os órgãos sensoriais de modo que se produzisse, nos seres vivos, a sensação, que era algo que vinha de um movimento interno do objeto, mas não se confundia com ele. A imaginação e o sentimento, por sua vez, dependeriam dessas sensações e aconteceriam na ausência do objeto real. Assim, a produção do conhecimento (científico, inclusive) dependeria da imaginação, do sentimento e da sensação mas, acima de tudo, seria um processo lógico e racional. As impressões e sensações proporcionadas pelos objetos seriam traduzidas em nomes que, por sua vez, seriam associados, de um modo quase matemático (por adição ou subtração de idéias) para formar as proposições e concretizar o raciocínio. Em síntese, a razão para Hobbes estaria completamente desvinculada da fé, sendo uma espécie de cálculo (adição e subtração) efetuado com os nomes das coisas, isto é, com as sensações que outrora foram produzidas. Paralelamente a esse movimento matemático dentro da ciência, desenvolvia-se uma outra corrente científica não exclusivamente matemática, de método empírico e experimental cujos principais defensores foram William Gilbert (o pai do magnetismo), William Harvey (descobridor da circulação sanguínea) e Robert Boyle (1627-1691), sendo que as idéias deste último foram por demais importantes para o desenvolvimento e a formulação do pensamento de Newton. Segundo Burtt (1983), Boyle exemplifica, em sua maneira de pensar, todas as principais correntes intelectuais existentes à sua época. Os princípios, interesses e crenças importantes dessas correntes foram reunidos em seu pensamento e harmonizados com êxito considerável em torno de dois aspectos principais: a ciência experimental e a religião. Boyle não era um matemático. Mesmo assim, ao contrário do que se possa pensar, demonstrou estar de acordo com Galileu e Descartes ao afirmar que o mundo inteiro parece ter uma estrutura fundamentalmente matemática, sendo os princípios matemáticos e mecânicos a chave para a interpretação e a explicação dos fenômenos. No entanto, segundo Boyle, a análise racional dos fatos sensoriais deveria ser sempre confirmada por meio de experimentos exatos, cujos resultados serviriam para fortalecer a razão. Vale ressaltar, nesse momento, que Boyle não coloca a primazia do experimento sobre a razão. Na verdade, conforme nos ressalta Burtt (1983), para o cientista, 106 [...] a experiência é apenas um assistente da razão, visto como efetivamente proporciona informações ao entendimento, mas o entendimento permanece sendo o juiz e tem o poder ou o direito de examinar e utilizar os testemunhos que a ele são apresentados. (BURTT, 1983, p. 137). Sendo um partidário da visão matemática da natureza, é de se esperar que Boyle também demonstre uma visão mecânica do universo, isto é, uma visão baseada na noção de movimento do mesmo. Com efeito, assumindo a idéia corpuscular da matéria, isto é, supondo ser ela constituída de pequenas partículas, os átomos, Boyle procura comprovar, por meio da realização de experimentos, que todas as qualidades primárias e secundárias da matéria, assim como a enorme variedade de corpos (com formas e volumes diferentes) e a diversidade quase infinita de fenômenos, são todos resultantes dos movimentos, junções, combinações e separações dessas pequenas partículas. Assim como Descartes, Boyle também aceitava a idéia da existência de uma substância fluida (éter) a preencher o espaço. Ainda que poucos experimentos adequados tivessem sido realizados com o intuito de se comprovar a existência de tal substância, recorria-se à ela para explicar a comunicação e a transmissão de movimento de um corpo a outro por impacto sucessivo, ou para explicar alguns fenômenos curiosos como o magnetismo que, até então, não podiam ser elucidados com base nos movimentos universais e mecânicos das partículas. E nesse mundo essencialmente mecânico, qual seria o lugar reservado a Deus? Para Boyle, a existência da razão e da inteligência humanas, assim como da ordem e beleza do universo como um todo, seriam as evidências mais concretas da existência de um Criador poderoso, sábio e bom. Criador este que seria responsável por evitar o despedaçamento do universo e, ainda, por mantê-lo em funcionamento de modo harmonioso. [...] Este criador supremamente poderoso e artífice do mundo não abandonou uma obra-prima tão digna dele, mas sim a mantém e preserva, regulando de tal modo os movimentos estupendamente rápidos dos grandes globos e de outras vastas massas de matéria que nenhuma irregularidade perceptível desorganiza o grande sistema do universo, nem o reduz a uma espécie de caos, ou estado confuso de coisas embaralhadas e degeneradas. (BOYLE apud BURTT, 1983, p. 153). Para finalizar a caracterização e as contribuições da filosofia inglesa no século XVII, é preciso considerar as idéias do inglês John Locke (1632-1704). De origem social burguesa, Locke desempenhou um papel extremamente ativo e participativo na vida pública, sendo considerado um dos mentores, defensores e divulgadores do liberalismo. Em relação às suas preocupações filosóficas, têm-se no processo de produção do conhecimento e no entendimento humano, os principais pilares. Em sua obra “O Ensaio 107 sobre o intelecto humano”, Locke aborda os limites, as condições e as possibilidades efetivas para o conhecimento humano e estabelece os princípios do empirismo lockiano. De um modo geral, o filósofo inglês assimila o princípio cartesiano de que o único objeto do pensamento humano é a idéia. No entanto, discorda quanto ao fato de que essa idéia seja algo inato a todo ser humano. Para ele, todas as idéias que diziam respeito a objetos externos ou a operações internas da mente derivavam da experiência, uma vez que seria impossível, ao intelecto humano, criar ou inventar idéias, nem tampouco destruir aquelas que já existiam. Dessa maneira, a experiência constituía a fonte e, ao mesmo tempo, o limite para o conhecimento humano. Nesse contexto, em sua doutrina sobre as idéias, Locke afirma existirem dois tipos principais de idéias: as idéias de sensação e as idéias de reflexão. As primeiras seriam aquelas que se constituiriam a partir das experiências com os objetos do mundo exterior e, portanto, seriam proporcionadas pelos sentidos (idéias de cor, som, sabor, extensão, figura, movimento). Já as outras, seriam aquelas advindas de operações internas da mente tais como as idéias de percepção, vontade, dor, prazer, etc. Além disso, o filósofo também classificava as idéias em simples ou complexas. As simples seriam aquelas adquiridas inicialmente e passivamente pela mente humana, por meio dos sentidos ou através da reflexão das operações dessa mente acerca dos objetos externos. Seriam, portanto, idéias claras e distintas e impossíveis de destruição. Já as complexas, seriam aquelas desenvolvidas pela mente a partir das operações de soma e de comparação entre as idéias simples já existentes. Exigiriam um papel constante e ativo do sujeito nesse processo de construção do conhecimento. [...] Estas idéias simples, os materiais de todo o nosso conhecimento, são sugeridas ou fornecidas à mente unicamente pelas duas vias acima mencionadas: sensação e reflexão. Quando o entendimento já está abastecido de idéias simples, tem o poder para repetir, comparar e uni-las numa variedade quase infinita, formando à vontade novas idéias complexas. Mas não tem o poder [...] de formar uma única nova idéia simples na mente, que não tenha sido recebida pelos meios acima mencionados. [...] Semelhante inabilidade será descoberta por quem tentar modelar em seu entendimento alguma idéia que não recebera dos sentidos dos objetos externos, ou mediante a reflexão das operações de sua mente acerca deles. Gostaria que alguém tentasse imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar, ou tentasse formar a idéia de um aroma que nunca cheirou; quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem idéias das cores, e um surdo noções reais dos diversos sons. [...] Mediante esta faculdade de repetir e unir suas idéias, a mente revela grande poder para variar e multiplicar os objetos de seus pensamentos de modo infinito e muito além do que lhe foi fornecido pela sensação ou reflexão [...] Tendo, contudo, adquirido as idéias simples, a mente deixa de se limitar pela mera observação do que lhe é oferecido externamente, passando, mediante seu próprio poder, a reunir as idéias que possui para formar idéias complexas originais, pois jamais foram assim recebidas unidas. (LOCKE apud ANDERY et al., 2003, p. 225-226). 108 São estes, portanto, os principais pontos do empirismo de Locke que, juntamente com as suas idéias políticas, pautadas no direito à liberdade, à igualdade e à racionalidade, transformaram o filósofo não apenas em um dos principais defensores do Iluminismo mas, também, no precursor de uma filosofia mais crítica, centrada no problema do conhecimento humano e na importância da experiência como fonte e meio de se produzir este conhecimento. É certo que muitos outros personagens integram e completam o quadro de pensadores e filósofos da ciência durante o período da Revolução Científica. No entanto, estes mencionados ao longo do capítulo proporcionaram, de uma forma ou de outra, modificações e transformações no pensamento, preparando o terreno para que Isaac Newton desenvolvesse toda a sua filosofia e se consolidasse como um dos mais importantes nomes da ciência. Cabe ressaltar, no entanto, que, devido à extensão do período, e ao grande número de contribuições, é impossível identificar se este ou aquele exerceram influência direta e específica sobre Newton. Interessa-nos, apenas, compreender quais as idéias compartilhadas pelo ambiente intelectual de cada época para que, no capítulo seguinte, possamos entender como Newton se posicionava perante algumas delas. Com o intuito de facilitar a visualização desse extenso período, tem-se, na figura abaixo, uma representação de uma linha do tempo com os principais pensadores desse período. Figura 6 – Representação dos principais pensadores que fizeram parte do período da Revolução Científica Fonte: Elaborado pela autora. Por esta representação, fica evidente que as idéias desses pensadores, muitas das vezes, coexistem em diversos momentos desempenhando, portanto, um papel dual na construção do conhecimento: ora exercem a influência sobre, e ora sofrem a influência das correntes e pensamentos vigentes no momento em questão. 109 6 AS REGRAS DO FILOSOFAR DE NEWTON Conforme descrito no capítulo anterior, o período da Revolução Científica (que se estende do final do século XV ao início do século XVII) caracteriza-se por um conjunto de intensas modificações e transformações no modo de pensar e na maneira de conceber a produção do conhecimento científico e a relação homem-natureza. Todas essas modificações foram, gradualmente, marcando épocas distintas, influenciando filósofos e preparando o cenário para que Newton e todos os demais cientistas dos séculos seguintes tivessem condições de formular e estabelecer novas teorias a respeito dos fenômenos da natureza. O fato de que a história subsequente [ao período da Revolução Científica], durante quase cem anos de matemática, mecânica e astronomia tenha-se apresentado principalmente como um período de maior apreciação e de mais extensa aplicação das descobertas de Newton, e de que esse século seja repleto de estrelas de primeira grandeza em cada um daqueles campos, só pode ser atribuído à circunstância de que o terreno estivesse preparado, [e de que estas pessoas estivessem prontas para fazer a colheita]. [...] Um dos aspectos mais curiosos e exasperantes de todo esse magnífico movimento é que nenhum dos seus grandes representantes parece ter sabido, com satisfatória clareza, o que estava fazendo, ou como o fazia. E, quanto à filosofia fundamental do universo, compreendida pelas conquistas científicas, Newton pouco mais fez que encampar as idéias a esse respeito que foram formuladas para ele por seus antecessores intelectuais, simplesmente atualizando-as ocasionalmente, nos pontos em que suas descobertas pessoais, obviamente, fizeram uma diferença, ou remodelando-as ligeiramente em uma forma mais ao gosto de certos interesses seus, extracientíficos. (BURTT, 1983, p. 167-168). Em termos filosóficos, pode-se afirmar que a Revolução Científica proporcionou o aparecimento de duas correntes filosóficas. A primeira delas seria uma corrente resultante do neoplatonismo e que, conforme relatado no capitulo anterior, já havia influenciado Copérnico, Kepler, Galileu, etc. Também intitulada de filosofia mecânica por Barbatti (1999), esta corrente defende a redução da natureza a entes matemáticos e geométricos e tem, portanto, na geometria euclidiana, o seu principal instrumento. “A única forma de garantir a certeza de algo é dispô-lo matematicamente.” (BARBATTI, 1999, p. 155). A outra corrente, por sua vez, que já se fazia presente no modo baconiano de compreender a produção do conhecimento, parte do princípio de que a única forma de se estabelecer verdades é por meio da realização de experimentos criteriosos e, então, é intitulada de filosofia empírica. Ainda de acordo com Barbatti (1999), essas duas correntes permeiam toda a produção do conhecimento científico da Idade Moderna e, portanto, servem como base e fundamentação da filosofia e do método de Newton, conforme veremos a seguir. 110 6.1 As regras da filosofia de Newton e o seu método No ano de morte de Galileu, em 1642, nascia Isaac Newton. Segundo Reale e Antiseri (2007, p. 290), “Newton foi o homem que levou a revolução científica a termo.”. De fato, com suas descobertas mecânicas, astronômicas, óticas, matemáticas, etc., Newton estabeleceu um novo sistema de mundo e permitiu a configuração da fisionomia da física clássica. Além disso, suas preocupações com questões teológicas e o estabelecimento da “razão de Newton”, isto é, de um modo de raciocinar que não se prende em hipóteses sobre a natureza íntima ou a essência das coisas, mas que, controlada pela experiência, procura e prova as leis de seu funcionamento, fizeram dele um dos grandes nomes da ciência moderna e conferiram à sua obra, uma importância de caráter filosófico. [...] com Isaac Newton, acabava um período da atitude dos filósofos em relação à natureza e começava outro, inteiramente novo. Em sua obra, a ciência clássica alcançou existência independente e, daí em diante, começou a exercer toda a sua influência sobre a sociedade humana. Se alguém devesse assumir a função de descrever essa influência em suas numerosas ramificações, Newton poderia constituir o ponto de partida: tudo o que foi feito antes era apenas introdução. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 291). Mas quais seriam então, as características desse método newtoniano de observação e análise da natureza? Segundo nos apregoa Burtt (1983), por ser Newton o herdeiro natural das duas correntes filosóficas mais eminentes àquela época (a empírica e experimental, e a dedutiva e matemática), o seu método de análise e interpretação dos fenômenos apresenta dois aspectos bem fortes e definidos: um matemático e outro experimental. Assim como Copérnico, Kepler, Galileu e Descartes, Newton também atribuiu à matemática um papel de grande significação. Já pelo próprio título dado ao seu famoso livro “Os Principia” (Princípios matemáticos da filosofia natural), fica evidente a sua constante esperança de que todos os fenômenos naturais pudessem, por fim, ser explicados por meio de argumentos e demonstrações matemáticas. No entanto, diferentemente de seus antecessores que acreditavam que todos os segredos do mundo podiam ser completamente desvendados pelos métodos matemáticos, Newton afirmava que “[...] o mundo é o que é; enquanto leis matemáticas exatas puderem ser nele descobertas, ótimo; de outra forma, nós teremos de buscar a expansão da nossa matemática, ou contentarmo-nos com algum outro método.” (NEWTON apud BURTT, 1983, p. 171). E este outro método, ao qual ele se refere, é o empírico ou experimental. Em Ótica: 111 um tratado das reflexões, refrações, inflexões e cores da luz (1704), por exemplo, a utilização de tal recurso se mostra evidente. Escrito na forma de definições, axiomas, proposições e teoremas, este livro tem, nas palavras do próprio autor, as demonstrações desses teoremas e proposições baseadas em demonstrações por experiências. Além desse viés matemático-empírico de demonstrações de fenômenos, o método estabelecido por Newton também sugere regras e maneiras específicas de raciocínio, que traduzem toda uma visão peculiar sobre a natureza, a estrutura do universo, o modo como se deve investigar e, mais ainda, o que se deve procurar. Conhecidas como as regras da filosofia newtoniana, podem ser caracterizadas da seguinte maneira: Regra I: “Não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que as que são tanto verdadeiras como suficientes para explicar as suas aparências.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 296). Em outras palavras, essa regra traduz a idéia de que, na natureza, os eventos e os fenômenos são, em sua essência, simples. Dessa maneira, não há necessidade de se formular hipóteses complexas para explicá-los. Como uma consequência direta dessa premissa, tem-se exatamente a regra II do filosofar newtoniano, a saber: Regra II: “Por isso, tanto quanto possível, aos mesmos efeitos devemos atribuir as mesmas causas.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 296). Na verdade, essa regra traduz a idéia da uniformidade da natureza e permite a análise de fenômenos similares em locais e situações diferentes. Sendo assim, a compreensão de como a luz se reflete, por exemplo, na superfície da Terra, permite que sejam feitas considerações a respeito de seu comportamento na superfície dos outros planetas. De modo análogo, pode-se estudar a questão da respiração no homem e nos animais, ou ainda a queda de pedras na Europa e na América. A terceira regra também pode ser entendida como parte do princípio da uniformidade e apregoa que: Regra III: “As qualidades dos corpos que não admitem aumento nem diminuição de grau e que se descobre pertencerem a todos os corpos no interior do âmbito dos nossos experimentos devem ser consideradas qualidades universais de todos os corpos.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 296). Segundo Newton, como só é possível conhecer as qualidades dos corpos através dos experimentos, devem ser consideradas universais todas aquelas qualidades que se revelarem concordantes em todos os experimentos e que ainda não puderem ser diminuídas nem retiradas. Nesse sentido, a extensão, a dureza, a impenetrabilidade, o movimento e a inércia constituem, para Newton, as qualidades universais ou fundamentais dos objetos. 112 Por fim, na sua regra final, Newton estabelece aquele que entende ser o único método válido para alcançar e fundamentar as proposições da ciência: o método indutivo. Regra IV: Na filosofia experimental, as proposições inferidas por indução geral dos fenômenos devem ser consideradas como estritamente verdadeiras ou como muito próximas da verdade, apesar das hipóteses contrárias que possam ser imaginadas, até quando se verifiquem outros fenômenos, pelos quais se tornem mais exatas ou então sejam submetidas a exceções. (REALE; ANTISERI, 2007, p. 298). Reunindo todas essas quatro regras de raciocínio com a característica matemáticaexperimental do método, é possível identificar, segundo Burtt (1983), três etapas principais no método de Newton. A primeira corresponde à simplificação dos fenômenos pela realização de experimentos, de modo que se possa apreender e compreender que características variam quantitativamente e de que forma ocorre essa variação. Os conceitos fundamentais de refringência e de massa (para a Física), assim como alguns princípios básicos da refração, do movimento e das forças foram todos assim obtidos. Em um segundo momento, deve-se proceder à elaboração matemática de tais proposições, geralmente com o auxílio do cálculo, até que se consigam estabelecer relações matemáticas entre elas. Por fim, mas não menos importante, devem ser realizados experimentos exatos mais aprofundados [...] (1) para verificar a aplicabilidade dessas deduções em qualquer campo e para reduzi-las à sua forma mais geral; (2) no caso de fenômenos mais complexos, detectar a presença e determinar o valor de quaisquer causas adicionais (na mecânica, as forças) que possam ser submetidas a tratamento quantitativo; e (3) sugerir, nos casos em que a natureza de tais causas adicionais permaneça obscura, uma expansão do nosso presente aparato matemático, para lidar com elas mais eficazmente. (BURTT, 1983, p. 176) Verifica-se, portanto, que no início e no fim de toda etapa científica importante devem, segundo Newton, ocorrer experimentações. Isso porque este procedimento permite, não apenas a descoberta das características que possam ser expressas em linguagem matemática como, também, a aplicação dessas relações descobertas a determinadas situações mais simples que possibilitarão, por meio da indução matemática (regra IV do filosofar de Newton), a previsão de seus efeitos em casos mais complexos. Trata-se, exatamente, do que Newton intitula de método da análise e síntese. 113 É importante ressaltar ainda que, no decorrer de todas essas etapas, e em especial nas experimentais, Newton descarta a possibilidade de levantar hipóteses. Em princípio, pode parecer estranho que, em se tratando de experimentos, não sejam elaboradas hipóteses. No entanto, por hipótese, Newton compreende tudo aquilo que não pode ser deduzido diretamente dos fenômenos e, dessa maneira, exclui de seu método, toda e qualquer elaboração de hipóteses. As afirmações e proposições particulares deveriam, segundo ele, ser deduzidas dos fenômenos através das observações e experimentações e, em seguida, tornadas gerais pelo método da indução. Pelo que foi descrito anteriormente, percebe-se que o método de análise e síntese desenvolvido por Newton procura estabelecer explicações científicas satisfatórias para os fenômenos naturais em termos de como acontecem, que grandezas estão envolvidas e quais as relações matemáticas entre elas. As questões referentes às origens ou às causas de cada um desses fenômenos, no entanto, que não podem ser extraídas diretamente das observações e dos experimentos, não são exploradas por este método da análise e síntese. Na verdade, Newton utiliza-se de argumentos filosóficos e teológicos para conseguir explorar algumas causas dos fenômenos. Segundo ele, Deus está na origem das coisas: fez o universo, o homem, e formou a matéria de que são constituídos os corpos. Além disso, Deus colocou todas as coisas em ordem e em movimento e é o responsável por corrigir as suas possíveis perturbações e por manter todas as coisas funcionando, em harmonia. A ordem do mundo, portanto, evidencia a existência desse ser inteligente e poderoso que está na origem de todos os fenômenos. [...] Newton estava seguro, de que certos fatos empíricos, abertos à observação geral, implicavam, de forma não qualificada, a existência de um Deus de uma certa natureza e função definidas. Deus não era afastado do mundo que a ciência buscava conhecer; com efeito, cada passo verdadeiro na filosofia natural traz-nos mais próximos de um conhecimento da causa primeira, e deve ser, por esta razão, altamente valorizado [...]. (BURTT, 1983, p. 220). O método adotado por Newton para “fazer ciência” e os resultados por ele obtidos foram tão significativos e importantes para o mundo moderno que diversos historiadores e filósofos da ciência, veêm se debruçando sobre análises e estudos mais específicos de suas características e pressupostos. Conforme nos apregoa Sapunaru (2008), os historiadores Isaac Bernard Cohen e George Smith seriam alguns deles. Diferentemente da visão apresentada por Burtt (1983), que coloca as experimentações como as primeiras possibilidades de simplificação dos fenômenos 114 e, portanto, como o primeiro passo a ser adotado na análise fenomênica, esses dois filósofos e pensadores acreditam que a idealização matemática era o elemento primeiro e norteador de todo o processo desenvolvido por Newton. Nesse sentido, Sapunaru (2008) conclui que Cohen e Smith entendem o “estilo newtoniano” como uma maneira de [...] tratar um sistema físico de modo idealizado – matemática, modelos, aproximações – utilizando-se, primeiro, a indução e, depois, a dedução, confrontando-a com a realidade da natureza – mediante experimentos reais- e, finalmente, ajustando-o em direção à verdade. (SAPUNARU, 2008, p. 60). Nessa visão idealista da ciência, portanto, as deduções e os modelos matemáticos de aproximação de um fenômeno ao mundo real apareceriam a priori, isto é, antes mesmo da realização de experimentos. Neste trabalho, no entanto, não nos cabe discorrer a respeito dessas duas leituras (a de Burtt ou a idealista de Cohen e Smith) acerca do método de Newton, nem estabelecer a veracidade de uma ou outra. O que se torna importante é perceber e reconhecer que, independentemente do elemento utilizado por Newton para iniciar a análise de um determinado fenômeno (se empírico ou matemático), o fator apriorístico não é e nem pode ser o que determina o processo. De fato, segundo a concepção de construção e produção do conhecimento defendida neste trabalho, a leitura idealista defendida por Cohen e Smith e a experimental de Burtt, não apareceriam para Newton como algo sobrenatural, tal como um insight ou uma “luz” vinda de algum lugar. Na verdade, elas são fruto da tanto da relação do ser humano Newton com o meio em que estava inserido, bem como de seu entendimento, posicionamento e compreensão acerca das descobertas e dos avanços científicos anteriores. [...] Newton, profundo conhecedor do pensamento de Johannes Kepler, já sabia que a ‘forma geométrica’ da órbita planetária era elíptica, fato que poderia levantar dúvidas sobre qual a real definição de ‘indução’ referida por Cohen e Smith. (SAPUNARU, 2008, p. 60). Sendo assim, a verdadeira compreensão do método de Newton vai muito além do mero estabelecimento da ordem correta para o emprego da matemática ou das experimentações no processo de análise de um fenômeno. Na verdade, passa pela certeza de que Newton, na condição de um ser que estabelece relações com o meio, se apóia na realidade e na ciência de seu tempo para fazer uso da matemática e também para elaborar e realizar as experimentações de que necessita. 115 6.2 Algumas considerações sobre a história da ótica Como descrito anteriormente, a junção e a exploração de um método experimental e matemático, aliadas às considerações de ordem filosóficas e teológicas, são as principais características do método de Newton e de sua maneira de pensar a respeito das coisas e dos fenômenos do universo e que se tornam evidentes em toda a sua obra e, em especial, na Ótica (1704). Na verdade, a publicação deste livro não marca e nem representa o início dos estudos e reflexões acerca dos fenômenos relacionados com a luz. Com efeito, segundo nos relata Bassalo (1986), a luz sempre despertou o interesse e a curiosidade dos seres humanos, principalmente no tocante à existência de pontos brilhantes no céu escuro, na relação entre a luz e o fogo e no fato de a noite ser associada à ausência da luz solar. Já nas primeiras civilizações, verificam-se tentativas de se explicar a origem dos fenômenos luminosos. Na maior parte das vezes, eram feitas associações desses fenômenos com as figuras dos Deuses de adoração. Para os egípcios, por exemplo, a luz era Maât, filha de Rá, o Deus do Sol. É somente com os gregos que luz passa a ter uma realidade mais objetiva, sendo desarticulada da figura dos Deuses. Na medida em que eles compreenderam que deveria existir uma relação entre os nossos olhos e aquilo que vemos, uma questão se tornou o cerne das discussões: a luz vem dos objetos que vemos, ou sai de nossos olhos em direção a eles? Para Homero, poeta grego que viveu entre os séculos IX e XVII a.C, a luz provinha dos olhos. “Já para o filósofo grego Pitágoras, eram os olhos que recebiam os raios luminosos emitidos por objetos luminosos, tais como: astros, chamas, pirilampos, etc., ou resvalados por objetos não luminosos.” (BASSALO, 1986, p. 139). Platão (428-348 a.C), tentando elucidar a dificuldade encontrada pelos partidários de Homero em explicar o fato de não conseguirmos enxergar à noite, formula a sua teoria a respeito do assunto. Para ele, a visão de um objeto era o resultado da combinação de três jatos de partículas: um partindo dos olhos, um segundo emitido do objeto visualizado e outro oriundo das fontes iluminadoras, tais como o Sol. Como se pode notar, entre a maior parte dos filósofos da antiguidade, prevalecia a idéia do caráter corpuscular da luz, com os raios (ou partículas) visuais partindo dos olhos em direção aos objetos, ou vice-versa. Uma exceção à essa visão, entretanto, pode ser encontrada na teoria apresentada por Aristóteles (384-322 a.C). Segundo o filósofo, a luz era o resultado de uma atividade em um determinado meio o que, na visão de Bassalo (1986), pode ser 116 considerada a idéia precursora da teoria ondulatória. Vale a pena ressaltar que esse conflito sobre a natureza da luz (se corpuscular ou ondulatória) permaneceu de caráter especulativo-dogmático até o século XVII, quando, com base nos trabalhos de Descartes, Fermat, Newton e Huygens, adquiriu, de fato, a conotação de filosófico-científico. Além das questões relacionadas à natureza da luz, também fizeram parte do cenário da ótica anterior à era cristã, as preocupações acerca da finitude ou não da velocidade da luz; as explicações para a formação do arco-íris, as questões relacionadas às propriedades óticas das esferas de cristais e de vidros, bem como as propriedades refletoras das superfícies espelhantes curvas ou planas. De um modo geral, todos esses fenômenos eram divididos em dois ramos distintos: a Ótica, que estudava a teoria geométrica da percepção do espaço e dos objetos nele existentes, e a Catóptrica, que se debruçava sobre a teoria dos espelhos e alguns poucos fenômenos relacionados com a refração. Somente nos primeiros séculos de nossa era cristã, é que foram adicionados, à lista de fenômenos óticos, novos acontecimentos. O estadista e filósofo romano Lucius Annaeus Sêneca (4 a.C - 65 d.C), por exemplo, parece ter sido o primeiro a observar o fenômeno da decomposição da luz solar nas margens de vidros. Cláudio Ptolomeu (85-165 d.C), por sua vez, estudou a refração da luz de um modo analítico, tentando estabelecer uma relação matemática entre os ângulos de incidência e de refração de raios luminosos que atravessavam superfícies diferentes. Foi durante a época da Renascença, contudo, que verificou-se um grande avanço na fabricação de instrumentos óticos. A melhoria das técnicas de polimentos de vidros, evidenciada nesse momento histórico, estimulou não apenas a fabricação e a utilização dos óculos como, ainda, possibilitou a construção do telescópio e do microscópio (inventado por Hans Jessen e seu filho Zacharias, em 1590). No entanto, foi com o astrônomo e físico Galileu Galilei que estes instrumentos ganharam usos verdadeiramente científicos permitindo, conforme já mencionado no capítulo anterior, a superação de todo um conjunto de paradigmas e obstáculos epistemológicos (existiam na época arraigados preconceitos na ciência acadêmica com relação ao emprego de lentes, já que supunha-se enganarem os olhos), que dificultavam a evolução do conhecimento e a descoberta de novos fenômenos. No século XVII a ótica passou por profundas modificações, impulsionadas por uma série de descobertas e publicações, e é nesse contexto que se deve inserir o trabalho de Newton referente à Teoria das Cores. 117 Segundo Assis em comentários a obra de Newton (2002), alguns exemplos que ilustram tal afirmação, citados em ordem cronológica, seriam: a) a publicação, em 1611, do Dioptrice de Kepler, no qual são apresentadas explicações razoáveis para o funcionamento das lentes e dos telescópios refratores; b) a descoberta, por Snell, entre 1621 e 1625 da lei correta para a refração da luz; c) a publicação em 1637-1638 do Discours de la Méthode, de Descartes, no qual, no apêndice La Dioptrique, aparece publicada pela primeira vez a lei correta de refração da luz, além de serem descritas experiências em globos de vidro cheios de água e em prismas de vidro; d) a publicação, em 1664, de Robert Boyle do Experiments and considerations touching coulours – The beginning of an Experimental History of Coulours, no qual são relatados experimentos com prismas; e) a publicação, em 1665, do Micrographia, de Hooke, onde ele descreve observações feitas no microscópio. Segundo esse mesmo autor, é certo que Newton conheceu e estudou nos anos de 1664-5 os trabalhos de Descartes e de Boyle e Hooke. [...] A partir de 1664 Newton passa a acompanhar toda a literatura contemporânea que ia sendo publicada, e a ser por ela influenciado, além de se corresponder com muitos cientistas, o que torna difícil determinar as influências. A partir de então ele é fruto tanto de seu meio quanto de sua própria originalidade [...]. (NEWTON, 2002, p. 20). Vale ressaltar que Newton se inicia na ótica em 1664, quando toma conhecimento da lei correta da refração por meio dos trabalhos de Descartes. A partir de então, realiza as suas primeiras experiências e, em 1666, em um ensaio intitulado Of Colours, escreve pela primeira vez, e de modo sistematizado, as suas idéias sobre o espectro produzido pela passagem de luz solar através de um prisma. Esse ensaio, que continha ainda uma breve discussão do que viria a ser o seu experimentum crucis, não chega a ser publicado. É somente em 1672, com a publicação de seu artigo “Nova teoria sobre luz e cores”, nas Philosophical Transactions da Royal Society de Londres, que as primeiras contribuições de Newton para a ótica são tornadas públicas. Dentre elas, destaca-se a idéia (que é o objeto de estudo dessa dissertação) de que a luz branca é uma mistura heterogênea de raios com cores e refrangibilidades diferentes. 118 Segundo Silva (1996), as reações e as críticas a esse trabalho de Newton (principalmente aquelas enviadas pelo padre Pardies, por Hooke e por Huygens) suscitaram tamanha polêmica que Newton resolveu se calar sobre a ótica por quase 30 anos. Somente em 1704, após a morte de seu maior rival, Robert Hooke, é que Newton publica sua teoria completa no livro “Ótica: um tratado das reflexões, refrações, inflexões e cores da luz”. Na verdade, a Ótica (1704) está dividida em três livros. No Livro I (que também encontra-se dividido em duas partes), são abordadas as questões referentes à decomposição da luz branca nas cores do espectro ao atravessar um prisma e alguns assuntos correlatos; no Livro II, o estudo recai essencialmente sobre as cores produzidas por corpos transparentes delgados e espessos, fenômeno atualmente conhecido como os anéis de Newton. No Livro III, por sua vez, há observações sobre a inflexão da luz (fenômeno atualmente conhecido como difração da luz) e, em seguida, são propostas algumas questões que o próprio Newton esperava que pudessem servir como elemento norteador para pesquisas adicionais e futuras. De uma maneira geral, a estrutura do livro se assemelha com a de Os Elementos, de Euclides, já que são apresentadas definições, axiomas, proposições e teoremas. No entanto, as provas das proposições e dos teoremas não se pautam por rigorosas demonstrações matemáticas mas, como o próprio Newton define, são realizadas por meio de demonstrações por experiências. Para esta dissertação, será enfocada a parte I do Livro I, mais especificamente a seqüência de experimentos realizados para demonstrar a proposição 2, que afirma que “A luz do Sol consiste em raios que se refratam diferentemente.” (NEWTON, 2002, p. 54). Por esta razão, o próximo capítulo será destinado a uma análise mais profunda da seqüência lógica, da argumentação e das dificuldades enfrentadas por Newton com a realização dessa experiência, que relata o procedimento por ele utilizado ao fazer passar a luz solar por um orifício da janela e atingir o prisma, e é, normalmente, a parte da teoria enfatizada pelos livros didáticos e pelos professores, ao abordarem o fenômeno da decomposição da luz branca. 119 7 A TEORIA DAS CORES DE NEWTON: UMA ANÁLISE DA PROPOSIÇÃO 2 DO LIVRO I DE ÓTICA Conforme mencionado anteriormente, este capítulo será destinado à análise do encadeamento lógico, das argumentações e das dificuldades enfrentadas por Newton ao realizar o tão difundido experimento da decomposição da luz branca. Um dos objetivos desse trabalho é a elaboração de um material didático que auxilie na compreensão de que Newton não formulou a teoria sobre a decomposição da luz branca a partir de uma simples observação, estimulada talvez por uma mera idéia repentina. Portanto, será feita, inicialmente, uma análise de como tal conteúdo é abordado nos livros didáticos. Em seguida, será o momento de verificar como Newton se posiciona, mais criticamente, em seu artigo publicado em 1672 nas Philosophical Transactiosl e em Ótica (1704), ao relatar os experimentos e a sequência lógica por ele empregada para concluir que a luz branca é composta por raios com diferentes refrangibilidades. 7.1 A decomposição da luz branca nos livros didáticos Buscando compreender como a teoria da decomposição da luz branca é apresentada nos livros didáticos, foram selecionados alguns exemplares (volume único ou volume 2) para que pudesse ser feita uma análise mais específica dos aspectos, da sequência e da argumentação empregada. Para a seleção do material, utilizou-se como critério a indicação no Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) de 2007 (o que abrange a maior parte do universo das escolas públicas) e a adoção do material por grandes escolas particulares de Belo Horizonte. Ao todo, foram analisados 8 livros didáticos (veja QUAD. 1), sendo que os seis primeiros correspondem à indicação do PNLEM1 e, os demais, são exemplares adotados por algumas escolas particulares de Belo Horizonte que não constam da lista do PNLEM. 1 Vale ressaltar que os livros adotados no PNLEM são escolhidos com base em critérios estabelecidos em editais de convocação para a inscrição no processo de avaliação e seleção de obras didáticas para o programa nacional do livro didático – ensino médio. Dentre essas diretrizes, destaca-se, por exemplo, a idéia de que a Física, concebida ainda como uma atividade social e cultural, que é caracterizada pela sua historicidade, permite compreender que suas teorias e modelos explicativos não são melhores ou piores em si mesmos, nem são os únicos possíveis, nem são as últimas respostas que a humanidade poderá dar às nossas inquietações, nem às nossas necessidades. De outra forma, todas as construções do conhecimento físico são fortemente permeadas pelos contextos sócio-cultural-histórico-econômicos em que se desenvolvem. 120 Quadro 1 – Relação dos livros didáticos analisados TÍTULO A B C D E F G H Física- Série Brasil Física – Ciência e Tecnologia AUTOR(ES) VOLUME Alberto Gaspar Carlos Magno Torres Paulo César Penteado José Luiz Sampaio Universo da Física Caio Sérgio Calçada José Luiz Sampaio Física Caio Sérgio Calçada Antônio Máximo Luz Curso de Física Beatriz Álvares Alvarenga Aurélio Gonçalves Física – para o Filho Ensino Médio Carlos Toscano José Roberto Bonjorno Física – História e Regina A. Bonjorno Cotidiano Valter Bonjorno Clinton Márcio Ramos Francisco Ramalho Os fundamentos Nicolau Ferraro da Física Paulo Antônio Toledo ANO EDITORA PUBLICAÇÃO Único 2004 Ática 2 2005 Moderna 2 2001 Atual Único 2003 Atual 2 2005 Scipione Único 2002 Scipione – Série Parâmetros 2 2003 FTD 2 2003 Moderna Fonte: Elaborado pela autora. Como elementos norteadores de nossa análise, foram estabelecidas duas dimensões principais, adaptadas da tabela de critérios sugerida pela pesquisadora portuguesa Laurinda Leite (2002): a) a organização da informação histórica; e b) os materiais usados para apresentar a informação histórica referente à decomposição e à composição da luz branca. Essas dimensões (que ainda foram divididas em subdimensões) procuram traçar um perfil de como a informação histórica referente ao episódio da decomposição/composição da luz branca está apresentada nos livros, com especial enfoque aos experimentos, às situações e às argumentações empregadas para se comprovar tal fato. O Quadro 2 a seguir, nos fornece uma visão desses parâmetros utilizados: 121 Quadro 2 – Dimensões e subdimensões utilizadas na análise dos livros didáticos Dimensão I – Organização da informação histórica Especificação Vida de Newton • dados biográficos (nome, data de nascimento e/ou de morte) • episódios/anedotas (casado com..., formou-se em....) Cientista Características pessoais de Newton • famoso/gênio (brilhante, mais importante, formidável) • comum • menção a evidências anteriores do fenômeno • fenômeno associado apenas à passagem da luz pelo prisma, sem qualquer referência ao contexto histórico. • menção à descoberta de Newton • descrição de algum experimento realizado por Newton ao estudar o fenômeno da decomposição O fenômeno da decomposição ⇒ enfoque apenas na passagem da luz solar por um prisma da luz branca e a conclusão de ⇒ emprego de outros experimentos realizados por Newton que a luz solar é uma mistura • menção e/ou descrição de experimentos que evidenciem o de cores com refrangibilidades fenômeno da composição da luz branca diferentes. • desencadeamento dos fatos ⇒ define-se primeiramente o fenômeno da dispersão da luz e usa-se o experimento com o prisma para ilustrar ⇒ utiliza-se o experimento com o prisma como elemento desencadeador de observações que conduzirão à interpretação do fenômeno. • modo direto: conclusões são estabelecidas direta e tão somente a partir das observações oriundas da passagem da luz solar através de um único prisma • modo indireto: outras possibilidades (como a criação das cores pelo próprio prisma) são levadas em consideração e analisadas, Explicação dos fenômenos da antes que uma conclusão final seja estabelecida com base decomposição e composição apenas na observação de um experimento) da luz • emprego de argumentos teóricos: definições e novos conceitos são elaborados a partir das observações feitas, e empregados na análise dos fenômenos. • emprego de argumentos epistemológicos: argumentos baseados na filosofia e no modo através do qual o cientista concebe a produção do conhecimento científico Dimensão II – Materiais usados para apresentar a informação histórica referente à decomposição e à composição da luz branca • retrato de Newton • retratos das máquinas, das montagens de laboratório, etc (usadas por Newton) • originais (textos ou documentos produzidos pelo Newton) • experiências históricas atribuídas a Newton • fontes secundárias (desenhos, textos, diagramas elaborados pelos autores do livro didático) • outros (poesia, pintura, moeda, selos, música, etc). Subdimensão Fonte: adaptado de Leite (2002). Vale ressaltar que a análise foi feita de modo a verificar se, nos capítulos referentes à refração da luz dos livros didáticos, era possível verificar a presença ou não de cada uma 122 dessas subdimensões. Os resultados encontrados dessas análises foram agrupados no Quadro 3 e no Quadro 4, representativos dos dados obtidos para as dimensões I e II, respectivamente. Nelas, o símbolo ☺ indica a presença do item, e × a ausência do mesmo. Quadro 3 – Análise da organização da informação histórica – Dimensão I Subdimensão Especificação Vida de Newton • dados biográficos • episódios/anedotas Cientista Características pessoais de Newton • famoso/ gênio • comum • menção a evidências anteriores do fenômeno • fenômeno associado apenas à passagem da luz pelo prisma, sem qualquer referência ao contexto histórico. • menção à descoberta de Newton • descrição de algum experimento realizado por Newton ao estudar o fenômeno da decomposição ⇒ enfoque na passagem da luz Fenômeno da solar por um prisma decomposição da luz branca e a ⇒ emprego de outros experimentos conclusão de que a realizados por Newton luz solar é uma (Associação de prismas, etc). mistura de cores • menção e/ou descrição de com experimentos que evidenciem o refrangibilidades fenômeno da composição da luz diferentes branca • desencadeamento dos fatos ⇒ define-se primeiramente o fenômeno da dispersão da luz e usa-se o experimento com o prisma para ilustrar ⇒ utiliza-se o experimento com o prisma como elemento desencadeador de observações que conduzirão à interpretação do fenômeno • modo direto Explicação dos • modo indireto fenômenos da decomposição e • emprego de argumentos teóricos composição da • emprego de argumentos luz epistemológicos Fonte: Elaborado pela autora. A B C D E F G H × × × × × × × × ☺ × ☺ ☺ × × × ☺ × × × × × × × × × × × × × × ☺ × × × × × × × × × ☺ ☺ ☺ ☺ × × ☺ × × × × × ☺ ☺ × ☺ × × × × ☺ ☺ × ☺ × × × × ☺ ☺ × × × × × × ☺ ☺ × × ☺ ☺ ☺ ☺ × ☺ ☺ × ☺ ☺ × × × × × × ☺ ☺ ☺ ☺ × × ☺ ☺ × × × × ☺ ☺ × × × × × × ☺ ☺ × × × × × × × × × × 123 Quadro 4 – Análise dos materiais usados para apresentar a informação histórica referente à decomposição/composição da luz branca – Dimensão II Subdimensões Retrato de Newton Foto das máquinas, equipamentos de laboratório Originais Experiências históricas atribuídas a Newton Fontes secundárias Outros A × × × × ☺ × B × × × × ☺ × C × × × × ☺ × D × × × × ☺ × E × ☺ ☺ ☺ ☺ × F × ☺ × ☺ ☺ × G × × × × ☺ × H × ☺ × ☺ ☺ × Fonte: Elaborado pela autora. Pelos resultados visualizados em cada uma das tabelas, percebe-se que o episódio da decomposição/composição da luz branca é muito pouco explorado em termos de uma conotação histórica, já que apenas 3 (E, F e H), dos 8 livros didáticos analisados, fazem menção aos experimentos históricos realizados por Newton. O próprio livro G, cujos autores dizem fazer abordagens da história e do cotidiano, simplesmente desconhece qualquer influência histórica nesse episódio, não chegando sequer a mencionar o papel relevante de Newton no processo. Mais da metade dos materiais (A, B C, D e G) opta por descrever, primeiramente, o fenômeno da dispersão da luz branca através de um prisma (já supõem que a luz branca é uma mistura de cores) para, em seguida, utilizar a experiência com esse dispositivo ótico como meio de ilustrar o fenômeno. Um estudo mais detalhado da história da ciência e, mais especificamente, da proposição 2 do livro I de Ótica do próprio Newton (veja item 7.3 a seguir), no entanto, nos mostra que a sequência na qual os fatos ocorreram é outra. De dificuldades e contradições entre a teoria prevista e os resultados obtidos com a passagem da luz através do prisma, é que foi desenvolvida a idéia de que a luz solar é uma composição de cores com diferentes refrangibilidades. Essa maneira de abordar o assunto, definindo a dispersão inicialmente, embora possa parecer para alguns didática, contribui para distorcer a lógica existente no processo de produção do conhecimento científico, já que anula os papéis importantes das contradições e das divergências teóricas – experimentais na evolução do conhecimento, colocando a descoberta científica em um patamar meio obscuro e misterioso. Dos três livros que efetivamente mencionam influências históricas no episódio da decomposição da luz branca, dois (E e F) conduzem a análise do fenômeno de uma forma mais próxima e condizente com o que de fato aconteceu, isto é, não concluem que a luz branca é uma mistura apenas baseados na realização de um experimento. Mencionam a possibilidade de o prisma ter criado essas cores e discutem, portanto, a necessidade de se 124 realizar um novo experimento (experimento 6 da parte I do livro I de Ótica do próprio Newton). Nessa discussão, o livro E apresenta alguns trechos de Ótica, nos quais Newton explica e evidencia o seu raciocínio ao realizar determinada ação, o que torna essa descoberta mais humana e menos fruto de “uma iluminação celestial”. O outro (H), por sua vez, introduz alguma referência histórica apenas na legenda de uma figura, que mostra Newton segurando o prisma para que a luz solar, oriunda de um orifício na janela, o atravesse. Aqui, temos reforçada a concepção de que apenas este único experimento (com um posicionamento aleatório do prisma frente ao feixe luminoso) serviu para que Newton formulasse toda a sua teoria a respeito da composição da luz branca. Por fim, no que diz respeito a essa composição da luz branca, apenas E e F citam a realização da passagem da luz solar por dois prismas como meio de obter uma luz branca. No entanto, nenhum deles aborda a dificuldade de se comprovar experimentalmente que essas duas luzes brancas, ainda que tivessem propriedades semelhantes, eram, de fato, iguais. Isso significa que o argumento epistemológico de Newton, baseado em suas regras do filosofar não é evidenciado em nenhuma das obras didáticas. Percebe-se, dessa forma que, apesar de ser comentado e explorado (na maior parte das vezes por meio da utilização de imagens coloridas) em todos os livros didáticos, o episódio da decomposição da luz branca recebe uma abordagem histórica que deixa a desejar. Quando presente, enfoca o fenômeno como fruto de um único experimento e, na melhor das hipóteses como fruto da realização de dois experimentos. A importância e as dificuldades com o correto posicionamento do prisma (que na verdade constitui o elemento desencadeador de todas as contradições entre a teoria prevista por Newton e os resultados observados), bem como a necessidade de se formular novos conceitos (cores e luzes homogênea e heterogênea) e de se empregar argumentos filosóficos na comprovação de sua teoria são totalmente desconsideradas. E veremos, no item a seguir, como tais aspectos são importantes e necessários na comprovação de que a luz solar é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. 7.2 Uma análise da proposição 2 do Livro I de Ótica de Newton: desenvolvimento lógico e argumentação envolvida Ao iniciar a parte I do Livro I de Ótica, Newton apresenta uma série de definições (de raio de luz, de refringência, de reflexibilidade, de ângulo de incidência em superfícies refletoras e refratoras, de ângulo de reflexão e refração, de luz simples e luz composta, de 125 cores homogêneas e heterogêneas) e axiomas, tais como “os ângulos de reflexão e refração estão no mesmo plano que o ângulo de incidência.” (NEWTON, 2002, p. 41); “a refração do meio mais rarefeito para o meio mais denso se dá em direção à perpendicular, isto é, de forma que o ângulo de refração seja menor do que o ângulo de incidência.” (NEWTON, 2002, p. 42), etc. Todas essas informações iniciais denotam a sua intenção de apresentar uma síntese do conhecimento a respeito da ótica geométrica até então aceito. Em seguida, Newton parte para a discussão das proposições que, tomadas em conjunto, compreendem a sua teoria sobre as reflexões, refrações, inflexões e cores da luz. Vale a pena ressaltar que, em 1672, antes mesmo da publicação de Ótica, Newton já havia apresentado uma definição para a cor de uma luz, em um artigo publicado nas Philosophical Transactions. Segundo ele, “[...] Cores não são qualificações da luz derivadas de refrações ou reflexões dos corpos naturais (como é geralmente acreditado) mas propriedades originais e inatas que são diferentes nos diversos raios.” (NEWTON apud SILVA, 1996, p. 11). E é exatamente com essa definição em mente, que Newton realiza os experimentos e prova as proposições em Ótica (1704). A primeira delas, afirma que “as luzes que diferem em cor diferem também em graus de refrangibilidade” (NEWTON, 2002, p. 50), e é fundamental para o desenvolvimento de todo o seu trabalho, já que todas as demais se baseiam nela. Para prová-la, Newton apresenta dois experimentos. Como o foco da dissertação não está nessa proposição mas, na seguinte, é suficiente apenas compreender que, com ela, fica estabelecido que duas cores distintas, azul e vermelho, por exemplo, apresentam desvios diferentes quando observadas através de um prisma, ou seja, cores diferentes apresentam refrangibilidades diferentes e, por esta razão, são refratadas de modo diferente. A segunda proposição, por sua vez, apregoa que “a luz do Sol consiste em raios com diferentes refrangibilidades2” e, para prová-la, Newton apresenta oito experimentos distintos; todos eles enfocando o estudo da refração sofrida por um feixe de luz solar ao atravessar um prisma. Nesse trabalho, vamos nos ater mais especificamente aos quatro primeiros experimentos (experimentos do 3 ao 6), já que eles compreendem a sequência desenvolvida por Newton que os autores tentam abordar nos seus livros e materiais didáticos. Além disso, para a demonstração completa da proposição 2 será preciso ainda fazer uso de outros 2 O termo refrangibilidade é empregado por Newton para indicar uma propriedade específica dos raios luminosos: aqueles mais refrangíveis são os que apresentam um maior desvio na refração. Em contrapartida, o termo refringência é empregado em referência a uma propriedade das substâncias transparentes. Isso significa que uma substância mais refringente, é aquela que produz um maior desvio dos raios luminosos. 126 experimentos e de bases teóricas que são apresentadas em Ótica em proposições e partes do livro posteriores à proposição 2. 7.2.1 O experimento 3 da parte I, do Livro I de Ótica Em uma sala bem escura coloquei em um orifício circular de 1/3 de polegada de diâmetro que fiz na folha da janela um prisma de vidro por onde o feixe da luz solar que entrasse pelo orifício pudesse ser refratado para cima em direção à parede oposta da sala, formando ali uma imagem colorida do sol. (FIG. 7). (NEWTON, 2002, p. 54-55). Figura 7 – Representação esquemática do experimento 3 de Newton Fonte: NEWTON, 2002, p. 54. Conforme vimos, este experimento (que é o terceiro na sequência evidenciada em Ótica) é apresentado, por todos os livros didáticos que mencionam influências históricas no episódio da decomposição da luz, como sendo aquele que permitiu a Newton, concluir que a luz solar branca é, de fato, uma mistura ou uma composição de outras cores diferentes. De uma maneira bem simplista e da qual parece participar o acaso, Newton teria, segundo os relatos colhidos nos livros didáticos, despretensiosamente, colocado o prisma em frente à luz solar e, a partir da imagem colorida obtida, concluído facilmente e diretamente que as cores encontradas comporiam a luz solar branca. Uma leitura mais atenta de Ótica, no entanto, nos mostra que o caminho não foi bem esse. Inicialmente, Newton percebe uma discrepância entre a forma da imagem prevista pela teoria e a realmente projetada na parede. A imagem era oblonga e não circular, e terminada por dois lados retilíneos e paralelos e duas extremidades semicirculares. Tinha os lados nitidamente delimitados, mas suas extremidades o eram muito confusa e indistintamente, pois a luz ali diminuía e desaparecia gradualmente. (FIG. 8). (NEWTON, 2002, p. 55). 127 Figura 8 – Detalhe da imagem oblonga obtida após a refração Fonte: NEWTON, 2002, p. 57. Pelas teorias da refração até então aceitas, a imagem deveria ser circular. Com efeito, seja EG (FIG. 8) a janela na qual é feito um orifício F, ABC uma seção transversal do prisma, XY o sol, MN o papel colocado na parede e sobre o qual o espectro é projetado, PT a própria imagem cujos lados v e w são retilíneos e paralelos e cujas extremidades P e T são semicirculares. Considere ainda que XLJT e YKHP sejam dois raios: o primeiro tem origem na região superior do sol e vai até a parte mais baixa da imagem, e o outro se origina da região inferior do sol e vai até a parte mais alta da imagem. Pelas leis existentes, Newton afirma que as refrações nos dois lados do prisma são iguais. Isso significa que a refração do raio que atinge K é igual à do que incide em L, da mesma maneira que o raio em H sofre uma refração igual à do raio que chega em J. Dessa maneira, a sequência de refrações KH sofrida pelo raio YKHP é a mesma que a sequência LJ, sofrida por XLJT. Consequentemente, os dois raios têm, entre eles, a mesma inclinação (ângulo) antes e depois de serem refratados (inclinação esta que corresponde ao diâmetro do sol) e, portanto, o comprimento da imagem PT deveria ser igual à largura vw, o que corresponderia a uma imagem projetada no formato circular, semelhante ao sol. Além disso, é preciso destacar também a importância dada por Newton ao correto posicionamento do prisma. Nessa experiência e nas seguintes o eixo do prisma (isto é, a reta que, passando pelo meio do prisma de uma extremidade à outra, é paralela à aresta do ângulo refrator) era perpendicular aos raios incidentes. Ao redor desse eixo girei o prisma lentamente e vi a luz refratada na parede (ou seja, a imagem colorida do sol) primeiro descer, depois subir. Entre a subida e a descida, quando a imagem parecia estacionária, detive o prisma e fixei-o naquela posição, para que não se movesse mais. Pois nessa posição as refrações da luz dos dois lados do ângulo refrator, isto é, na entrada e na saída dos raios no prisma, eram iguais. [...] E nessa posição, por ser a mais conveniente, deve-se entender que todos os prismas são colocados nas experiências seguintes, a não ser quando alguma outra posição é descrita. [...] Portanto, estando o prisma colocado nessa posição, deixei a luz refratada incidir perpendicularmente sobre uma folha de papel branco colocada na parede oposta do quarto e observei a figura e as dimensões da imagem solar que a luz formou no papel. (NEWTON, 2002, p. 55). 128 Na figura seguinte, tem-se a representação de um prisma e de seu posicionamento durante a realização dos experimentos de Newton. Por ângulo refrator, compreende-se o ângulo formado pelas faces ACac e ABab, sendo que o eixo desse sólido geométrico, em torno do qual são realizadas as rotações, é exatamente uma reta paralela às arestas Aa, Bb e Cc, que passa pelo meio do prisma. Figura 9 – O ângulo refrator de um prisma e o posicionamento adotado por Newton durante a realização dos experimentos Fonte: NEWTON, 2002, p. 52. Conforme evidencia Newton, a peculiaridade desse posicionamento reside basicamente na obrigatoriedade de o ângulo de incidência do raio luminoso na primeira face do prisma e do ângulo com que ele emerge na outra face, serem iguais, isto é, os ângulos entre o raio incidente PQ e o prisma, e o raio emergente RS e o prisma, na FIG.10, são iguais. Figura 10 – Identificação dos ângulos com que um raio incide e emerge de um prisma, quando ele se encontra na posição de desvio mínimo Fonte: SILVA, 1996, p. 12. Quando isso acontece, é possível mostrar, matematicamente, que o ângulo de desvio, isto é, o ângulo formado pelo raio incidente e pelo raio emergente, é mínimo. Na figura 10, este ângulo está representado por δ e indica o quanto o raio incidente PQ foi desviado de sua posição original (linha tracejada). Em resumo, quando o prisma é colocado de modo em que 129 os raios incidente e refratado formem ângulos iguais dos dois lados do prisma, o raio incidente, ao atravessá-lo, sofre o menor desvio possível. Como consequência, tal orientação do prisma é conhecida como “posição de desvio mínimo”. Mas qual seria então, a importância de se colocar o prisma, durante a execução do experimento, na posição de desvio mínimo? É que ela é uma condição crucial e decisiva para a teoria de Newton. Somente posicionando o prisma dessa maneira, seria possível, segundo a previsão teórica e matemática de Newton, obter uma imagem completamente circular (FIG. 11). Figura 11 – Desenho utilizado por Newton na demonstração de que a imagem obtida deveria ser circular, quando o prisma estivesse na posição de desvio mínimo Fonte: SILVA, 1996, p. 116. Na verdade, ele havia calculado o ângulo formado pelos raios emergentes ao deixarem o prisma (considerando que ele estivesse na posição de desvio mínimo) e havia encontrado o valor de 31’ (trinta e um minutos) que correspondia exatamente ao ângulo entre esses raios antes de atravessarem o prisma. Segundo Silva: Newton apenas indicou o tipo de cálculo que efetuou, sem apresentar os detalhes necessários para seu perfeito entendimento. Provavelmente realizou uma série de cálculos bastante maçantes: considerou dois raios luminosos, incidindo sobre a primeira face do prisma, com ângulos um pouco diferentes de 54º4’, de tal modo a formarem um ângulo de 31’ entre si (ou seja, um deles seria de 54º19,5’ e o outro 53º48,5’). Calculou, então, as direções dos raios refratados pela primeira superfície do prisma, depois os ângulos de incidência (internos) na segunda face do prisma. A diferença obtida entre esses dois últimos ângulos foi de 31’. Ou seja: a abertura do feixe incidente é igual à abertura do feixe que sai do prisma. (SILVA, 1996, p. 15). Sendo assim, para Newton, se o prisma fosse colocado na posição de desvio mínimo, os raios incidente e refratado formariam ângulos iguais dos dois lados do prisma e este fato 130 matemático poderia ser empregado na demonstração de que a imagem do sol a ser obtida deveria ser circular. Era também, condição indispensável à obtenção de uma imagem circular, a incidência perpendicular dos raios emergentes do prisma na parede. Segundo nos relata Silva (1996), Newton havia mostrado que o feixe luminoso emergente do prisma incidiria perpendicularmente na parede, apenas quando a sua direção, antes da refração, formasse um ângulo de 44º56’ com a perpendicular (FIG. 12). Figura 12 – A incidência perpendicular dos raios na parede também era uma condição necessária para que a imagem obtida fosse circular Fonte: SILVA, 1996, p. 20. Para isso, o sol deveria estar em uma posição específica durante a realização do experimento, o que é algo bastante difícil, visto que tal astro se movimenta continuamente. Para contornar esse problema, conjectura-se (veja SILVA, 1996) a possibilidade da utilização de um espelho externo móvel que refletiria a luz solar na direção adequada, permitindo a incidência perpendicular dos raios na parede. No entanto, a experiência realizada mostrou que, ainda que o prisma estivesse na posição de desvio mínimo, e ainda que os raios incidentes atingissem a parede perpendicularmente, a imagem era bem diferente daquela prevista teoricamente. “Temos, portanto, pela experiência, que a imagem não é circular [...].” (NEWTON, 2002, p. 58). Fica evidente, nesse momento, um fato bastante interessante. Ao realizar esse experimento, Newton já conhecia as características e as propriedades matemáticas decorrentes da colocação do prisma na posição de desvio mínimo e é por esta razão que ele enfatiza, em sua Ótica, a importância desse posicionamento para o sucesso do experimento. Somos, portanto, levados a pensar que esta experiência não foi casual, como sugerida por alguns livros didáticos e, sim, cuidadosamente considerada e planejada pelo cientista que utilizou-se 131 das leis da refração de Snell-Descartes e de conhecimentos matemáticos anteriores em sua preparação. Além disso, a posição do desvio mínimo, que é o ponto chave para as conclusões de Newton, não chega a ser nem de longe abordada nos livros e materiais didáticos. Como vimos, as leis da refração conhecidas não permitiam uma explicação plausível para o fato de a imagem não ser circular e, então, Newton propôs que os raios que emergiram do prisma sofreram, na verdade, refrações diferentes (e não iguais como havia afirmado no início): aqueles que se dirigiram para a extremidade superior P da imagem (veja FIG. 8) sofreram o maior desvio e, portanto, foram mais refratáveis do que os outros que seguiram para a extremidade inferior T. “Essa imagem ou espectro PT era vermelho na extremidade menos refratada T, violeta na extremidade mais refratada P e verde amarelado e azul nos espaços intermediários.” (NEWTON, 2002, p. 58). Na verdade, esse argumento apresentado por Newton apenas reafirma a validade da relação entre cor e refrangibilidade, já indicada na proposição 1. Ele é, portanto, insuficiente para permitir a conclusão de que essas cores distintas comporiam a luz solar branca. Mesmo assim, deturpando o raciocínio seguido por Newton, os livros e materiais didáticos insistem em apresentar este experimento como a prova conclusiva de que a luz solar branca é uma mistura de várias cores, cada uma delas com diferentes refrangibilidades. Este fato contribui para reforçar, nos alunos, uma visão distorcida do cientista Newton e do modo como ele raciocinava em suas descobertas. Segundo Silva (2003), o próprio Newton percebe a insuficiência e a incompletude de seu experimento e passa, inicialmente, a cogitar e a eliminar possíveis interferências externas a ele. A abertura do orifício na janela, a distância em que o anteparo havia sido posicionado, a espessura do vidro da janela, e o próprio material do prisma, não poderiam ter gerado essa imagem colorida e oblonga do sol? A leitura de Ótica nos mostra que o cientista, de fato, se preocupou com estes detalhes em seu experimento. Como é fácil cometer erros ao colocar o prisma na posição de desvio mínimo, Newton afirma ter repetido o experimento umas quatro ou cinco vezes. Além disso, alterou o tamanho do orifício da janela e, principalmente, realizou-a com prismas feitos de materiais diferentes. E em todas elas, obteve os mesmos resultados: uma imagem oblonga e não circular do Sol. [...] o tamanho diferente do orifício na folha da janela, a diferente espessura do vidro por onde os raios o atravessavam e as diferentes inclinações do prisma em relação ao horizonte não causavam mudanças perceptíveis no comprimento da imagem. 132 Também não causavam nenhuma mudança as diferentes matérias dos prismas: pois em um recipiente feito de placas polidas de vidro cimentadas na forma de um prisma e cheio de água houve o mesmo sucesso da experiência [...]. (NEWTON, 2002, p. 57). Vale ressaltar mais uma vez que os livros e os materiais didáticos analisados não se preocupam em evidenciar essas repetições e essas variações do experimento realizadas por Newton, contribuindo para a transmissão da idéia de que as conclusões foram muito óbvias e extremamente fáceis de serem atingidas, visto que teriam sido o resultado de uma simples observação da imagem “circular” projetada na parede. Diante de tudo o que foi exposto, fica evidente o caráter não casual desse experimento 3. Newton estava embasado em leis da refração anteriormente descritas por Snell e Descartes e em toda uma demonstração matemática que lhe indicavam como proceder ao posicionar o prisma. Não, há, portanto, dúvidas quanto à influência dos estudos e das idéias anteriores nesse experimento. Além disso, percebe-se que a proposição 2 não é, de fato, demonstrada pela realização do experimento 3. Apenas fica reafirmado o que já se havia discutido na proposição anterior: raios luminosos com cores diferentes apresentam refrangibilidades diferentes. A comprovação verdadeira da proposição 2 exigirá de Newton a realização de outros experimentos e a utilização de argumentos teóricos e epistemológicos, como veremos a seguir. 7.2.2 O experimento 4 do Livro I de Ótica Em um experimento bastante similar ao anterior, Newton se dedicou a analisar as características da imagem formada pelo orifício, quando ele o avistava através do prisma. Para tanto, manteve o prisma na mesma posição descrita no experimento 3 (isto é, na posição de desvio mínimo) e olhou para o orifício através dele. Novamente, segundo as leis da refração aceitas, a imagem do orifício deveria ser circular. No entanto, observou que ela era também mais alongada, com o comprimento muitas vezes maior do que a largura. [...] a parte mais refratada dessa imagem aparecia violeta, a menos refratada vermelha, as partes do meio azul, verde e amarelo nessa ordem. A mesma coisa aconteceu quando retirei o prisma do sol e olhei através dele o orifício pela luz das nuvens além dele. (NEWTON, 2002, p. 58-59). Por este experimento, fica mais uma vez evidenciada a diferença de refração apresentada pelos raios ao atravessarem o prisma. No entanto, tal como acontece com o 133 experimento 3, ainda não é possível concluir que a luz solar branca é uma mistura de raios luminosos de cores com refrangibilidades diferentes. No que diz respeito aos materiais didáticos analisados, cabe ressaltar que nenhum deles aborda o experimento 4 de Newton. Acredito que isso seja uma conseqüência da pouca contribuição do experimento no sentido de comprovar a proposição 2 e, também, da não preocupação dos autores em evidenciar a seqüência lógica adotada por Newton ao demonstrar a sua proposição. Na verdade, considerando que um deles (livro H) considera o experimento 3 como a prova final para a proposição 2, torna-se desnecessário abordar qualquer outro experimento. 7.2.3 O experimento 5 do Livro I de Ótica Tentando encontrar uma explicação para o fato de a imagem obtida do Sol ser oblonga e não circular, ou seja, para o fato de que existem raios mais refrangíveis que outros, Newton passa a analisar os efeitos provocados pela associação de prismas. Nesse experimento, em especial, procura verificar se a elongação observada no comprimento da imagem poderia ter sido provocada por irregularidades no vidro (ranhuras, lados não totalmente planos, mas um pouco côncavos ou convexos, ondas ou sinuosidades provocadas pelos buracos da areia, etc.) do prisma ou por uma dilatação de cada raio. Com este intuito, acrescenta ao experimento 3 um segundo prisma, e analisa os efeitos provocados por esta segunda refração. [...] Ordenei todas as coisas como na terceira experiência e coloquei outro prisma logo depois do primeiro numa posição cruzada em relação a ele, de forma que pudesse refratar novamente o feixe da luz do sol que chegava até ele através do prisma. No primeiro prisma, esse feixe foi refratado para cima e, no segundo, para o lado. (FIG. 13). (NEWTON, 2002, p. 59). Figura 13 – Representação esquemática do experimento 5 de Newton Fonte: NEWTON, 2002, p. 60. 134 Nessa representação do experimento, S é o Sol, F o orifício na janela, ABC o primeiro prisma, DH o segundo prisma, PT a imagem oblonga do sol encontrada quando esse feixe atravessa apenas o primeiro prisma (isto é, quando o segundo é retirado), e pt a imagem formada pelas refrações cruzadas dos dois prismas. Por meio desse posicionamento do prisma, Newton esperava que as eventuais irregularidades que tivessem alterado o trajeto do raio luminoso na primeira refração, pudessem, agora, reconduzi-lo ao curso inicial, tal como se a segunda refração destruísse os efeitos regulares produzidos pela primeira e intensificasse os efeitos irregulares. Em relação à imagem, esperava-se que o formato oblongo fosse, agora, substituído por uma mancha quadrada. Com efeito, se a primeira refração provocou uma elongação na direção vertical, esperava-se, pelo posicionamento dos dois prismas, que uma outra elongação, agora na direção horizontal, fosse verificada. Em outras palavras, se a imagem PT fosse dividida em cinco partes menores, PQK, KQRL, LRSM, MSVN, NVT, acreditava-se que cada uma delas fosse dilatada em uma direção transversal originando, respectivamente, as regiões p π qk, kqrl, lrsm, msvn e nvt τ e provocando, dessa maneira, o aparecimento de uma mancha quadrada. [...] Pois a segunda refração espalharia os raios em uma direção tanto quanto a primeira o faz em outra, e assim dilataria a imagem em largura tanto quanto a primeira o faz em comprimento. E a mesma coisa deveria acontecer se alguns raios fossem por acaso mais refratados que outros. Mas o resultado é outro. [...]. (NEWTON, 2002, p. 60). No entanto, como a própria Figura 13 evidencia, a imagem finalmente projetada pt não se alarga pela refração no segundo prisma. Ela apenas fica mais oblíqua, com a extremidade superior p mais transladada que a extremidade inferior t, indicando que a luz violeta que aí se observa se refrata, novamente, mais que luz vermelha, encontrada em t. Além disso, os lados que em PT eram paralelos, retilíneos e bem definidos, permanecem exatamente dessa forma em pt, só que agora oblíquos em relação à posição inicial. Segundo nos informa Silva (1996), Newton teria considerado, como possível explicação para a elongação da imagem, o fato de a luz não se propagar em linha reta e, sim, efetuar um movimento curvo após cada uma das refrações. “Então comecei a suspeitar se os raios após sua passagem através do prisma não se moveriam em linhas curvas e, de acordo com sua curvatura maior ou menor, tenderiam a diversas partes da parede.” (SILVA, 1996, p. 27). Na verdade, essa idéia de Newton apresenta elementos que nos remetem à explicação dada por Descartes para o surgimento das cores e, mais uma vez, confirmam a influência de tal filósofo no pensamento de Newton. 135 [...] Segundo Descartes a luz é um movimento transmitido através do éter composto por pequenos glóbulos que penetram todos os corpos. Antes da luz ser refratada, esses glóbulos têm apenas um movimento retilíneo na direção de propagação. Quando atingem obliquamente uma superfície refratora os glóbulos adquirem um movimento de rotação em torno de seus próprios eixos. A velocidade de rotação é afetada pela velocidade dos glóbulos vizinhos. Assim, os glóbulos dos raios vermelhos do espectro pressionam os glóbulos vizinhos da região de sombra (glóbulos com velocidade de rotação pequena) e são pressionados pelos do outro lado cuja velocidade é maior. A diferença de velocidade entre os glóbulos vizinhos provoca um desvio dos raios. O efeito dos glóbulos vizinhos à extremidade violeta do espectro é contrário ao produzido nos raios vermelhos. As outras cores são resultado de velocidades intermediárias dos glóbulos. (SILVA; MARTINS, 1996, p. 318). A confirmação ou não dessa idéia da propagação curva da luz, passava, na verdade, por uma verificação de proporcionalidade. Com efeito, se a luz se propagasse em linha reta, o feixe emergente do prisma teria um formato cônico e, assim, por meio de elementos da geometria plana, seria possível comprovar a existência de uma proporcionalidade entre o tamanho da imagem, o tamanho do orifício e a distância entre eles. Como Newton consegue verificar essa proporcionalidade, fica comprovado que a luz se propaga em linha reta e, então, não poderia ser a trajetória curva a responsável pela imagem alongada. Ele prossegue, assim, na busca por uma explicação. Analisando mais cuidadosamente os resultados do experimento 5, o cientista conclui que a luz violeta sofreu, “tanto no primeiro prisma, como no segundo, uma refração maior do que o restante da luz.” (NEWTON, 2002, p. 61), enquanto a luz vermelha se mostrou a menos refratada no primeiro e também no segundo prisma. Buscando novas variações do experimento, Newton o repete colocando um terceiro prisma depois do segundo e, em seguida, um quarto depois do terceiro. Em todas elas, a luz mais refratada no primeiro prisma foi também a mais refratada nos demais experimentos, indicando uma constância de refração maior e permitindo a confirmação de que, em qualquer uma dessas circunstâncias, tal luz era sempre mais refrangível que o restante. Um outro fato percebido por Newton, diz respeito às formas das imagens, que mantinham sempre a mesma largura. Usando a idéia do experimento 3 de que se os raios fossem igualmente refratados deveriam formar imagens circulares, Newton supõe que a imagem oblonga PT pudesse ser constituída por um conjunto de regiões circulares, nas quais os raios igualmente refratados incidissem sobre um determinado círculo. Isso significaria, por exemplo, que o círculo AG (FIG.14) seria iluminado por todos os raios mais refratáveis do Sol (supondo que estivessem sozinhos), enquanto o círculo EL, seria iluminado pelos raios menos refratáveis (também supondo que estivessem sozinhos). Os demais círculos representariam as regiões iluminadas por raios com refrangibilidades intermediárias. 136 Figura 14 – Divisão das imagens em pequenas regiões circulares, nas quais incidiriam apenas raios refratados igualmente Fonte: NEWTON, 2002, p. 61. Dessa maneira, raciocina Newton que se a imagem circular Y do sol, formada por um feixe luminoso não refratado é transformada, pela primeira refração, em uma imagem alongada PT, então cada círculo AG, BH, CJ, DK, EL também deveria, após a segunda refração, ser transformado em imagens alongadas, aumentando a largura da imagem inicial PT. Como, pelo experimento, isso não se verifica, o cientista conclui que os raios não poderiam ser dilatados durante a refração, já que isso modificaria a largura da imagem. Não se verifica, pois, durante a refração, a dilatação dos raios luminosos. Além disso, também não deveriam ocorrer, segundo Newton, irregularidades na refração, com espalhamento (difusão) dos raios, uma vez que, se assim o fosse, as laterais AE e GL não poderiam ter sido transladadas tão perfeitamente em linha reta para ae e gl, respectivamente. Ao contrário, deveriam ter aparecido regiões com alguma penumbra, curvatura ou ondulação. Por este experimento, fica então ratificado o fato de que raios com cores diferentes apresentam refrangibilidades diferentes, sendo que o mais refrangível ao atravessar um prisma, demonstra essa mesma propriedade ao passar pelos demais. Além disso, fica evidenciado que, durante a refração, não existe uma dilatação dos raios e nem tampouco que a imagem oblonga é o resultado de uma propagação curva da luz. Não se consegue ainda, no entanto, demonstrar a proposição 2 e comprovar que a luz do sol é composta por esses raios com diferentes refrangibilidades. No que se refere aos livros e materiais didáticos, pode-se afirmar que, assim como acontece com experimento 4, este último experimento não chega sequer a ser mencionado, contribuindo, mais uma vez, para transmitir a idéia de que todas as conclusões obtidas por Newton foram elaboradas de modo direto e objetivo: observa-se e rapidamente conclui-se. 137 7.2.4 O experimento 6 do Livro I de Ótica Até o presente momento, os experimentos realizados por Newton não permitiram a confirmação de que as cores do espectro evidenciadas após a refração estivessem previamente presentes na luz solar branca. Existe ainda, tanto para Newton, quanto para outros pensadores da época, a possibilidade de essas cores terem sido criadas pelo prisma ou mesmo de serem o resultado de um processo de transformação ou modificação da luz solar decorrente da refração. E é exatamente para elucidar essa questão que Newton elabora o experimento 6, também conhecido como experimentum crucis (FIG. 15). Figura 15 – Desenho de Isaac Newton para o seu experimentum crucis Fonte: NEWTON, 2002, p. 66. Novamente, procura-se estudar o que acontece com a luz quando ela passa através de dois prismas. No entanto, são empregadas duas tábuas finas, no centro das quais foram feitos orifícios menores que os da janela, para permitir a passagem de luz. Assim, aumentando o orifício F da janela, Newton faz o raio incidente passar por um primeiro prisma ABC e produzir um espectro colorido sobre um anteparo DE (uma das tábuas finas) (FIG.16). Como há, nesse anteparo, um furo central, apenas a parte do espectro colorido que incidir nessa região conseguirá passar e atingir o segundo anteparo de. Mais uma vez, o orifício dessa tábua restringirá a passagem do raio que, conseguindo finalmente atravessar o orifício, incidirá sobre um segundo prisma abc, aí colocado. Saindo desse prisma, o raio será finalmente conduzido a um anteparo MN. 138 Figura 16 – Representação esquemática do experimento 6 Fonte: NEWTON, 2002, p. 67. Nessa montagem é importante ressaltar que os três anteparos DE, de e MN e o segundo prisma abc estão fixos, não podendo sofrer quaisquer translações ou rotações. Apenas o prisma ABC podia ser girado em torno de seu eixo, para permitir a Newton a seleção da parte do espectro que incidirá sobre DE. Por esta razão, os ângulos de incidência dos raios em abc (segundo prisma) são sempre fixos, em qualquer um dos casos estudados. Alterando o posicionamento de ABC, Newton percebeu que, para qualquer situação, o segundo prisma não modificava a cor do feixe que chegava até ele, isto é, não provocava um nova separação mas, sim, apenas uma mancha em MN da cor selecionada. Além disso, dependendo da parte do espectro selecionada para passar através de ABC, uma região diferente de MN era iluminada, sendo que a cor vermelha havia, novamente apresentado, depois de passar pelos dois prismas, o menor desvio e a violeta o maior. Por este experimento, ficam evidentes dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à impossibilidade de o prisma criar as cores do espectro. Se assim o fosse, a refração no segundo prisma não manteria a mesma cor e, sim, apresentaria (criaria) outras. O segundo, diz respeito à existência de comportamentos distintos para raios luminosos que atravessam prismas. O primeiro raio, que correspondia à luz solar branca, é separado em várias cores ao passar por ABC. Já aquele resultante da passagem pelos anteparos, não apresenta nenhuma separação ao emergir de de. Diante desses fatos, Newton afirma que a luz solar consiste em uma mistura de todas as cores que aparecem no espectro projetado no anteparo, sendo que cada uma delas é apenas separada (e não criada) pelo prisma, devido às suas diferentes refrangibilidades. Dessa maneira, estaria comprovada a proposição 2: “a luz do Sol consiste em raios com diferentes refrangibilidades”. 139 [...] E vi pela variação daqueles lugares [na parede] que a luz, tendendo para aquela extremidade da imagem em direção à qual a refração do primeiro prisma foi feita, sofreu no segundo prisma uma refração consideravelmente maior que a luz tendendo para a outra extremidade. E assim a verdadeira causa do comprimento da imagem foi detectada não ser outra, senão que a luz consiste em raios diferentemente refrangíveis que, sem qualquer diferença em suas incidências, foram, de acordo com seus graus de refrangibilidade, transmitidos em direção a diversas partes da parede. (SILVA; MARTINS, 1996, p. 318) Por essas palavras de Newton, não nos parece “difícil” compreender a idéia da existência de raios com refrangibilidades diferentes, como sendo a explicação para a imagem alongada produzida. O que, a princípio, não parece claro, é a comprovação da afirmação de que a luz solar é composta por esses raios, isto é, a idéia de que essas cores já existiriam na luz branca antes mesmo de ela sofrer a primeira refração; fato que efetivamente demonstraria a proposição 2. E na verdade, o estudo das idéias envolvidas e das críticas recebidas, nos mostra que essa conclusão não foi tão direta assim: exigiu argumentos teóricos e epistemológicos. No que diz respeito aos livros didáticos, percebe-se, mais uma vez, que o experimento 6, considerado como o experimentum crucis, é mencionado apenas por dois deles. Na verdade, apenas o experimento 3 aparece com freqüência nesses materiais. E, ao meu entender, os alunos são forçados a acreditar que Newton construiu toda a teoria da composição da luz branca com base em apenas um experimento. 7.2.4.1 O experimentum crucis e a argumentação utilizada por Newton Para compreendermos os aspectos subjacentes à argumentação de Newton, é importante mencionar alguns pontos de sua teoria sobre as cores, construídos até então. Como já havia sido demonstrado nos experimentos anteriores, os raios de cores diferentes apresentavam refrangibilidades distintas. De acordo com as definições apresentadas no início de Ótica, isso já permitiria classificar a luz solar como uma luz heterogênea ou composta. Com efeito, Newton apresenta uma distinção entre luz homogênea ou simples e heterogênea ou composta. “Denomino luz simples, homogênea e similar a luz cujos raios são todos igualmente refratáveis; e denomino luz composta, heterogênea e dissimilar a luz que tem alguns raios mais refratáveis que outros.” (NEWTON, 2002, p. 41). Dessa maneira, pela realização do experimento 3 da parte I, já seria possível classificar a luz solar como composta, uma vez que aceitando-se a definição, a classificação seguiria dessa própria definição, bastando para isso a realização de um único experimento. 140 Ao que tudo indica, essa é a maneira simplista com o autor do livro didático H parece lidar com a questão da decomposição da luz branca, já que basta a realização do experimento 3 para comprová-la. Ao que tudo indica, o autor assume a definição de Newton (mas não deixa isso claro aos alunos), aborda o experimento 3 e afirma que Newton conclui, através dele, que a luz solar é composta pelas cores evidenciadas após a passagem pelo prisma. No entanto, não foi bem assim que a questão foi abordada, nem mesmo pelo próprio Newton. Ao contrário, muitas críticas foram feitas e algumas outras verificações experimentais precisavam ser testadas para validar essa afirmação, visto que ainda existiam, dentre outras, a possibilidade de estas cores não estarem anteriormente no feixe de luz solar e, sim, terem sido produzidas ou transformadas durante a refração através do prisma. Quem poderia garantir ainda, que essas cores visualizadas no anteparo não originariam novas cores e assim sucessivamente? Todas essas questões precisavam ser investigadas e Newton se encarregou disto. Depois de definir as luzes em homogêneas ou compostas, Newton prossegue com as definições em sua Ótica, afirmando que cada tipo de luz (simples ou composta) apresentaria uma determinada cor. Vale recordar que as cores (conforme definição apresentada por Newton no artigo de 1672) eram interpretadas como propriedades inatas da luz e não como qualidades decorrentes dos processos de reflexão e refração. Assim, “Denomino cores primárias, homogêneas e simples as cores das luzes homogêneas; e denomino cores heterogêneas e compostas as cores das luzes heterogêneas.” (NEWTON, 2002, p. 41). Para Newton, as cores primárias corresponderiam às projetadas no anteparo após a passagem da luz pelo prisma e eram “Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Púrpura-violeta, Laranja, Índigo e uma variedade indefinida de gradações intermediárias.” (SILVA; MARTINS, 1996, p. 322). Ainda em relação às cores, Newton afirmava que uma mesma sensação de determinada cor poderia ser provocada tanto por uma cor primária, quanto por uma cor composta. A sensação produzida pelo Laranja, por exemplo, poderia ser provocada tanto pela cor primária Laranja, quanto por uma cor composta, resultante da mistura de Vermelho e Amarelo. O olho humano, entretanto, é incapaz de distinguir se essa sensação foi originada por um ou outro tipo de cor. A única maneira que dispõe o homem para fazer tal distinção é, segundo o cientista, por meio da realização de experimentos e, em especial, de experimentos com prismas. 141 [...] uma mistura de vermelho e amarelo homogêneos compõe um laranja igual na aparência da cor àquele laranja que na série das cores prismáticas não misturadas está entre elas [vermelho e amarelo]; mas a luz de um laranja é homogênea em relação a refrangibilidade, e aquela outra é heterogênea, e a cor de um, se vista através de um prisma, permanece imutável e a do outro é mudada e resolvida em suas cores componentes vermelho e amarelo. (SILVA, 1996, p. 65). E é exatamente nesse momento, que se evidencia a importância do experimento 6. Todo o aparato construído permite a comprovação da existência das cores primárias, pois foi possível separar um feixe estreito de luz e não provocar a alteração (separação) de sua cor pela passagem através de um prisma. Isso significou que todos os raios desse feixe selecionado apresentavam a mesma refrangibilidade e que, portanto, a luz era homogênea e a sua cor primária. Modificando o posicionamento do primeiro prisma ABC, Newton conseguiu selecionar feixes diferentes e mostrou que cada um deles correspondia a uma cor primária (já que não eram provocadas alterações pela passagem através do prisma) com refrangibilidade também diferente. Assim, além de comprovar e evidenciar a existência das cores primárias, o experimento 6 contribuiu também para reforçar a relação entre cor e refrangibilidade e ainda para mostrar que as cores primárias não são criadas pelo prisma. No entanto, a questão da imutabilidade dessas cores ainda permanecia obscura, bem como a idéia da composição da luz branca, isto é, a certeza de que as cores primárias estariam nessa luz antes mesmo que ela sofresse a primeira refração e, portanto, não teriam sido produzidas no experimento. Tentando encontrar respostas, Newton realiza novos experimentos. Alguns deles procuravam testar a mutabilidade das cores primárias oriundas da refração da luz solar através do prisma. No entanto, nenhum dos experimentos obteve êxito nesse sentido, indicando para Newton que as cores primárias, de fato, não poderiam mais ser decompostas. [...] Quando qualquer tipo de raios foi bem separado daqueles de outros tipos, ele depois reteve obstinadamente a sua cor, apesar de meus maiores esforços para mudála. Refratei-o com prismas e refleti-o com corpos que na luz do dia eram de outras cores. Interceptei-o com filmes coloridos de ar entre duas placas de vidro comprimidas; transmiti-o através de meios coloridos e através de meios irradiados com outros tipos de raios, e limitei-o de várias formas; e contudo nunca pude produzir qualquer nova cor dele. (SILVA; MARTINS, 1996, p. 321). Em um outro experimento, ele utiliza um quarto escuro, na janela do qual faz um orifício F para permitir a passagem da luz solar. Próximo a esse orifício, é colocado um prisma ABC e depois, a uma certa distância, uma lente convergente PT e um papel branco DE, para servir como anteparo (FIG. 17). 142 Figura 17 – Representação esquemática do experimento de Newton usado para combinar as cores Fonte: NEWTON, 2002, p. 110. O prisma e a lente deveriam ficar móveis e o anteparo branco deveria ser movido para frente e para trás, perpendicularmente à direção do feixe. Fazendo isso, Newton verificou que quando este papel era posicionado exatamente no foco da lente, as cores primárias oriundas do prisma eram convertidas novamente em branco, indicando que a mistura dessas cores produzia uma luz branca. Por outro lado, quando o anteparo era trazido para frente e para trás do foco, era possível ver [...] como as cores gradualmente se reúnem e desaparecem em brancura, e após terem se cruzado umas com as outras naquele lugar onde se compõe a brancura, são novamente dissipadas e separadas, e em uma ordem invertida mantêm as mesmas cores que tinham antes de entrarem em composição. (SILVA; MARTINS, 1996, p. 324). Em uma variação desse experimento, Newton modificou o posicionamento do papel, girando-o ao redor de um eixo paralelo ao prisma e fazendo-o ficar inclinado em relação à luz, como nos mostram as posições de e δε (FIG. 17). Nessas posições, a mesma luz aparecia amarela e vermelha numa inclinação, e azul na outra. [...] Aqui uma mesma parte da luz num mesmo lugar, de acordo com as várias inclinações do papel, aparecia num caso branca, noutro amarela ou vermelha, num terceiro azul, enquanto o limite de luz e sombra e as refrações do prisma em todos esses casos permaneciam os mesmos. (NEWTON, 2002, p. 111). A explicação para o fato de o papel aparecer colorido em de e δε , é fornecida pelo próprio Newton: O papel na posição de, estando mais oblíquo aos raios mais refrangíveis do que aos menos refrangíveis, é mais fortemente iluminado pelos últimos do que pelos primeiros e, portanto, os raios menos refrangíveis são predominantes na luz refletida no anteparo. E, onde quer que sejam predominantes em qualquer luz, eles a tingem de vermelho ou amarelo [...]. (NEWTON, 2002, p. 111). 143 Quando o papel está na posição δε , ocorre o mesmo para com os raios mais refrangíveis responsáveis pelas cores azul e violeta. Assim, com esta nova sequência, Newton consegue evidenciar outros dois pontos chaves. O primeiro deles seria que mudanças nas cores poderiam ser efetuadas sem que fosse preciso provocar alterações na refração. Bastava, para isso, alterar a proporção com que cada uma delas era combinada. O outro, dizia respeito, como já mencionado a seguir, à possibilidade de obter a luz branca por meio da combinação das cores primárias. Vale a pena mencionar que resultado semelhante para a composição da luz também foi obtido quando Newton utilizou, no lugar da lente, dois prismas colocados em posições contrárias (FIG. 18). As cores, inicialmente separadas pelo primeiro prisma foram novamente combinadas e compostas no segundo. Os livros didáticos E e F são os únicos a mencionar tal experiência. Figura 18 – A composição da luz branca, agora utilizando dois prismas Fonte: LUZ; ALVARENGA, 2005, p. 207. De tudo o que já foi exposto, temos resumidamente que a passagem da luz solar através de um prisma origina um espectro colorido. Cada uma dessas cores, ditas primárias, apresenta uma refrangibilidade diferente (razão pela qual são refratadas de modo diferenciado), não sofre qualquer tipo de modificação ao ser novamente refratada, refletida e/ou transmitida por outros meios sendo, portanto, considerada imutável. Por outro lado, quando combinadas, essas cores originam uma luz branca que, aparentemente, se mostra igual à solar. E é exatamente esta última observação que se torna um dos entraves finais à verdadeira comprovação da proposição 2. Pelos experimentos até então realizados, não era possível concluir que a luz solar antes da refração fosse exatamente igual à luz branca obtida por meio da composição das cores primárias. O que se sabia é que, depois de refratada, cada cor primária se mantinha imutável. No entanto, nada poderia garantir que a primeira refração não tivesse alterado as propriedades da luz solar. Tinha-se certeza apenas de que o prisma não 144 criava as cores do espectro. Ele apenas as separava. Entretanto, imaginava-se que, talvez, o meio tivesse produzido modificações no feixe que permaneciam inalteradas nas refrações subseqüentes. Newton já havia se deparado com essa idéia, conhecida como teoria da modificação, em algumas de suas discussões com Hooke. E para que ele pudesse, de fato, concluir a sua proposição, precisava invalidar essa teoria. O problema é que isso não poderia mais ser feito por experimentos, uma vez que nenhum deles até então realizados tinha sido conclusivo com relação a este aspecto. Newton optou, portanto, em utilizar um argumento epistemológico, baseado na sua maneira peculiar de conceber a natureza, o universo e a maneira de se investigá-lo. Este argumento, está de acordo com as regras I e II do método newtoniano, discutidas no capítulo anterior e tornadas evidentes quando da publicação de seu Principia em 1687: a) Regra I: “Não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que as que são tanto verdadeiras como suficientes para explicar as suas aparências.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 296). b) Regra II: “Por isso, tanto quanto possível, aos mesmos efeitos devemos atribuir as mesmas causas.” (REALE; ANTISERI, 2007, p. 296). Sendo assim, embasando-se nos princípios da simplicidade e da uniformidade da natureza, Newton afirma que a luz solar branca e a luz branca resultante da composição das cores primárias deveriam ser as mesmas. Na verdade, ele não via motivo para introduzir uma distinção entre os dois tipos de luz branca, visto que ambas apresentavam as mesmas propriedades em todos os experimentos. “Eu não vejo razão para suspeitar que os mesmos Phenomena possam ter outras causas ao ar livre.” (SILVA, 1996, p. 89). A utilização desse argumento epistemológico de Newton é conhecida, pelos pesquisadores da história da ciência, como Navalha de Occam. Na verdade, este termo é empregado desde a filosofia medieval e expressa um princípio comum que afirma que a explicação e as teorias mais simples são as corretas e que, portanto, é desnecessário multiplicar qualquer tipo de explicação ou hipótese. Assim, se a luz solar e a luz branca obtida da composição de cores primárias eram iguais, então a proposição 2 estava finalmente demonstrada isto é, “a luz do Sol consiste em raios com diferentes refrangibilidades”. 145 7.3 Algumas considerações Pela análise da argumentação e de alguns pontos da sequência lógica desenvolvida por Newton para comprovar a proposição de que “a luz do Sol consiste em raios com diferentes refrangibilidades”, fica evidente que este não foi um trabalho resultante de uma simples observação da refração da luz através de um prisma. Ao contrário, o caminho percorrido por Newton exigiu a realização de uma série de experimentos e, mais importante do que isso, o emprego de uma complexa e coerente argumentação teórica e epistemológica. No entanto, conforme discutido ao longo de todo o capítulo, os livros didáticos, quando mencionam influências históricas no episódio da decomposição da luz, optam pela apresentação apenas do experimento 3 ou no máximo pela colocação de algumas considerações a respeito do experimento 6 e se eximem da inserção dessa argumentação epistemológica, ou de partes dela. Tal escolha parece ser feita com base na aceitação da diferenciação entre luz composta e luz simples estabelecida por Newton em suas definições do livro Ótica. Uma leitura atenta do artigo publicado em 1672 e do próprio livro Ótica, mostra que o caminho seguido pelo cientista não foi tão simples assim. Vários experimentos precisaram ser realizados, bases teóricas (diferenciação entre cores simples e compostas) precisaram ser desenvolvidas e argumentos epistemológicos, condizentes com a maneira newtoniana de pensar e conceber o universo (muitos dos quais resultantes de um processo de construção e para o qual contribuíram o contexto histórico e filosófico) foram empregados para que a proposição pudesse ser comprovada. Assim, o procedimento adotado por Newton, que não apenas emprega experimentos, mas faz uso de teoria e outros argumentos, não pode ser classificado como empirista – indutivista e nem tampouco ensinado como tal. Infelizmente, o que se observa nesses materiais é exatamente uma disseminação dessa idéia que, certamente, favorece o desenvolvimento da pseudo-história e de uma idéia equivocada sobre ciência, que passa a ser considerada como um “conjunto de verdades dogmáticas resultantes da observação pura e divorciada do contexto social; como uma atividade superior e, como tal, praticada somente por seres intelectualmente superiores.” (SILVA et al., 2008, p. 500). Nesse processo, os alunos são praticamente “forçados” a aceitar e acreditar que foi assim mesmo que as coisas aconteceram, já que tudo parece ser resultado de uma mente brilhante e também do acaso: Newton coloca o prisma de qualquer modo diante da luz solar e 146 conclui, como se fosse óbvio e muito fácil, que as cores que aparecem após a refração são, na verdade, elementos constituintes da luz solar branca, e que elas sofreram desvios diferentes em razão de uma diferença de refrangibilidade. No sentido de modificar essa visão distorcida da comprovação da proposição 2 divulgada pelos livros didáticos e ainda mostrar aos alunos que as descobertas não acontecem por acaso, nem como conseqüência de um momento de pura inspiração dos cientistas, mas como resultado de um lento processo de construção, para o qual contribuem os estudos feitos anteriormente, o momento histórico vivido à época e, principalmente, a filosofia que embasa o modo de pensar, raciocinar e lidar com o objeto do conhecimento dos cientistas, apresentamos a seqüência didática a seguir (veja Apêndice A). Na verdade, ela foi desenvolvida com base em todas as discussões teóricas realizadas ao longo desse trabalho e utiliza o estudo da argumentação apresentada por Newton, ao comprovar a proposição 2, como meio de se destruir a imagem do cientista gênio e mostrar como as descobertas estão, na verdade, impregnadas de elementos condizentes com o momento histórico e filosófico vigentes. De uma maneira geral, esta seqüencia encontra-se organizada em cinco atividades didáticas, dirigidas aos alunos do segundo ano do ensino médio, e devem ser conduzidas após as explicações referentes ao fenômeno da refração da luz branca e como meio de se contextualizar o estudo do fenômeno da dispersão. Na atividade 1 dessa seqüencia, é solicitado aos alunos que reproduzam uma experiência da dispersão da luz branca por meio da utilização de um prisma, ou pelo emprego de outro aparato experimental equivalente. Pretende-se fazer com que os discentes tenham um contato mais próximo (ao menos qualitativo) do fenômeno, para que percebam a simplicidade do mesmo. Simplicidade esta que se relaciona à parte operacional da descoberta, à quantidade de material utilizado, às montagens empregadas, etc; e não à seqüência argumentativa empregada pelo cientista para desenvolver a sua teoria. Na atividade 2, são iniciadas as discussões a respeito do processo de produção do conhecimento científico e do papel atribuído ao cientista. Para tanto, deverá ser apresentado, à classe, um documentário intitulado de “Mentes Brilhantes”, através do qua verificar-se-á a visão que os alunos têm de importantes cientistas (como Galileu Galilei e Isaac Newton) e dos fatores que contribuíram para que tais personagens da ciência pudessem descobrir e estabelecer novas leis e teorias científicas. As atividades 3 e 4, por sua vez, têm como foco principal o estudo e a reflexão de textos que abordam sobre as principais transformações ocorridas no período da Revolução 147 Científica e ainda a seqüencia lógica desenvolvida por Newton para concluir que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. De modo geral, objetiva-se, com estas atividades: a) desconstruir a imagem dos cientistas como gênios ou seres iluminados e dotados de uma inteligência suprema, para a construir uma visão mais humana, que coloque o cientista como um ser social, isto é, como um ser que pertence a uma certa sociedade e que, portanto, exprime determinados valores, crenças e uma mentalidade condizente com a época e o período vigente; b) evidenciar o caráter não casual do experimento da dispersão, (com a discussão a respeito da posição de desvio mínimo e do conhecimento prévio de Newton acerca do formato da imagem a ser obtido); o emprego de vários experimentos (e não somente um, como relatado na maioria dos materiais didáticos) e a utilização de argumentos epistemológicos, baseados nas regras do filosofar newtoniano, para se concluir, de fato, que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. Por fim, mas não menos importante, foram propostas algumas pequenas experiências (atividade 5) para que os alunos possam verificar o fenômeno da composição da luz branca, que também foi empregado por Newton no decorrer do desenvolvimento lógico de seu raciocínio. 148 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS Depois de pensada e elaborada a seqüencia didática, deu-se continuidade ao trabalho, com a aplicação da mesma junto a um grupo de alunos. É importante ressaltar que esta aplicação não teve, em momento algum, a pretensão de funcionar como um instrumento estatístico para coleta de dados. Serviu, principalmente, como meio de se testar o produto e verificar se a idéia central pretendida conseguia ser, de fato, transmitida aos discentes. Como houve certa dificuldade para fazer contatos com as escolas de ensino médio e conseguir junto aos professores de Física a liberação de pelo menos duas aulas para que uma parte do produto pudesse ser aplicada, optou-se por fazê-la junto aos alunos do terceiro período de Licenciatura em Física, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Como futuros professores dessa disciplina, seria interessante verificar as suas concepções a respeito do processo de construção do conhecimento científico, e do papel desempenhado pelos contextos histórico e filosófico vigentes em uma determinada época. Com o auxílio da professora Lídia Ribeiro de Oliveira, orientadora dessa dissertação e professora de “Filosofia: antropologia e ética” nessa turma, foi possível utilizar duas aulas (100 minutos) para a realização das atividades. No entanto, como toda a seqüência está prevista para ser desenvolvida em torno de dez aulas (são cinco atividades – veja capítulo anterior), foi necessário realizar uma adaptação e selecionar apenas uma parte para ser trabalhada. Optou-se pelo estudo e discussão dos textos, o que corresponde às atividades 3 e 4 da seqüencia (veja Apêndice A). Assim sendo, os alunos receberam, com antecedência de alguns dias e via correio eletrônico, o material para que fizessem uma leitura prévia e, portanto, pudessem participar de maneira mais efetiva. O texto que se segue faz, portanto, uma análise qualitativa dos principais fatos observados no decorrer da aplicação do material. Para preservar a identidade dos alunos, eles foram identificados com algarismos romanos: aluno I, aluno II, etc. 8.1 O desenvolvimento da atividade: algumas considerações No dia marcado, estavam presentes 17 alunos e a atividade foi conduzida em três momentos distintos. Inicialmente, me apresentei a eles e comentei a respeito da minha dissertação, procurando justificar a escolha do tema, a opção pelo trabalho com a ótica e o enfoque no 149 experimento da dispersão da luz branca de Newton. Nessa conversa inicial, também foram ressaltadas as inserções inúteis das pseudo-histórias e dos relatos mitificados sobre os cientistas nos materiais e livros didáticos utilizados pelos alunos e os impactos que tais abordagens podem causar, uma vez que esses mesmos alunos, ao internalizarem concepções errôneas a respeito da construção do conhecimento científico, passam a transmiti-las a terceiros, agravando ainda mais o quadro. Por fim, e como meio de se evitar situações como estas, destaquei a importância de se inserir a História e a Filosofia da Ciência no ensino, mas com uma conotação completamente diferente das conhecidas pseudo-histórias. Uma História e Filosofia da Ciência que coloca o conhecimento como algo que não apenas transcorre no tempo mas, principalmente, dele decorre. Dito isto, expliquei aos discentes que os textos que haviam recebido (todos eles estavam com o material) constituíam apenas uma parte da seqüencia didática pensada e, sucintamente, relatei quais seriam as demais atividades. Nesse momento, algo curioso me chamou a atenção. Um dos alunos mencionou ser interessante, de fato, iniciar a seqüencia didática com uma atividade experimental envolvendo um prisma, já que ele mesmo nunca havia tido a oportunidade de ver e nem manusear este instrumento. Além disso, no decorrer dessa apresentação, comecei a perceber, pelas intervenções de alguns dos alunos e até mesmo pela fisionomia um pouco desconfiada com que me acompanhavam, que eles não tinham muito claro em mente o que significava dizer que a produção do conhecimento científico sofre influências dos contextos histórico e filosófico vigentes. Pareceram-me estar muito presos unicamente à ideia do esforço pessoal do cientista, de seus estudos, de suas experimentações, etc. sem, contudo, perceberem que a opção por um ou outro tipo de experimento, por uma ou outra linha de raciocínio, por um ou outro embasamento teórico estão, na verdade, vinculadas ao momento histórico e à mentalidade da época vivida. Um deles chegou a acreditar que eu estivesse desconsiderando todo o esforço pessoal do cientista no processo de desenvolvimento e elaboração de uma teoria científica e foi preciso reforçar que todos esses fatores por ele relacionados eram, de fato, legítimos mas que, além deles, outros também contribuíam e interferiam no processo de produção do conhecimento científico. E que seriam exatamente estes últimos, o objeto de estudo dessa dissertação. Uma vez concluída essa introdução, mostrei aos alunos a parte inicial do documentário “Mentes Brilhantes” (que constitui a segunda atividade da seqüencia didática) para que pudessem ter uma noção do teor de informação que é veiculada nesse material. As descrições e as caracterizações feitas acerca dos quatro cientistas (Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert 150 Einstein e Stephen Hawking) e do conhecimento por eles produzido, conduzem à idéia de que, de fato, todos tinham mentes brilhantes que lhes permitiram desenvolver raciocínios matemáticos extremos para a época e descobrir todas as revolucionárias teorias. Quase nada (apenas a perseguição sofrida por Galileu Galilei no período da Inquisição) a respeito das contribuições Históricas e Filosóficas a é mencionado. Encerrado esse momento inicial de apresentações e contextualizações a respeito do meu objetivo com esta dissertação, solicitei aos alunos que se dividissem em cinco grupos para que pudéssemos iniciar, de fato, as atividades com textos. Optei por utilizar a elaboração e a apresentação de painéis como instrumento verificador da leitura. Sendo assim, a cada grupo foi entregue uma folha de papel pardo, canetinha hidrocor, giz de cera e um conjunto de questões (veja Apêndice B – Atividades 3 e 4 das orientações ao professor) para que pudessem, tendo por base a leitura realizada, discutir e refletir a respeito das indagações feitas. Com esse material, cada grupo deveria construir um painel, registrando palavras, frases, imagens e ideais importantes e relacionadas com o que estavam discutindo. Depois de aproximadamente 30 minutos, iniciaram-se as apresentações. Ao primeiro grupo coube uma reflexão sobre três cientistas importantes do período da Revolução Científica: Copérnico, Kepler e Galileu Galilei. As questões elaboradas pretendiam fazer com que os alunos percebessem os reais motivos que teriam levado Copérnico a propor a sua teoria heliocêntrica e ainda a explicação para que a matemática se destacasse como principal ferramenta de análise e desenvolvimento de grande parte das teorias. O segundo grupo, por sua vez, encarregou-se de discutir sobre as principais modificações verificadas no pensamento do homem moderno em virtude das transformações de ordem política, econômica, social e cultural ocorridas na Europa, bem como a coexistência de duas correntes filosóficas distintas: o aristotelismo e o neoplatonismo. A maneira como todas estas transformações influenciaram o modo de pensar de Newton (as regras do filosofar newtoniano), constituiu o foco de discussão do terceiro grupo. Os integrantes demonstraram ter compreendido de modo satisfatório as duas primeiras regras (o que é muito importante, visto que serão elementos decisivos na conclusão final de Newton a respeito do fenômeno da dispersão da luz branca), mas encontraram dificuldade para expressar a regra III, sobre a existência das qualidades universais nos corpos. Foi preciso intervir para ajudá-los a construir o raciocínio. Ao quarto grupo, foi solicitada uma discussão a respeito dos conhecimentos prévios de Newton quando da realização do experimento com o prisma. Os alunos demonstraram 151 facilidade para perceber que o posicionamento desse instrumento frente à luz solar não aconteceu de modo aleatório (posição de desvio mínimo), e que estando assim colocado, a imagem fornecida pelo prisma deveria, segundo demonstrações matemáticas, ser circular. O último grupo se dedicou à análise da seqüencia de experimentos realizados por Newton para afirmar, efetivamente, que a luz branca é uma mistura de raios com diferentes refrangibilidades. Durante a apresentação de todos os grupos, foi preciso fazer intervenções para ajudálos a conduzir o raciocínio. Alguns deles encontraram dificuldade para responder às questões de modo mais direto, e se prenderam a temas de menor relevância para o contexto do trabalho. Evidencia-se, dessa maneira, a importância da participação do professor em atividades como estas, como norteador do processo e responsável por conduzir a discussão, evitando que o objetivo central do trabalho se perca. Para tanto, é preciso que o docente não só conheça previamente os objetivos pretendidos com este trabalho mas, também, reflita e repense a sua prática em sala de aula, a fim de evitar as inserções de casos, lendas, afirmações ou descrições não condizentes com a idéia de que o conhecimento científico e a sua produção sejam produtos da relação existencial entre o homem e o meio em que vive. Finalizadas as apresentações, entreguei a cada aluno um instrumento de avaliação do meu trabalho e do tema da dissertação (Apêndice C). Como a aula já se aproximava do término, solicitei que respondessem em casa e entregassem, na aula seguinte, à professora Lídia. De todos os comentários, discussões, questionamentos e reflexões feitas, um aspecto se tornou muito evidente. O da surpresa dos discentes frente à idéia que lhes estava sendo apresentada: a produção do conhecimento científico está vinculada aos contextos históricos e filosóficos vigentes em uma determinada época. “interessante; apesar de não ter pensado sobre esse tema, fui surpreendida.” (Aluno I). Tive a nítida sensação de que tudo ali era novo para eles, de que jamais haviam refletido sobre os aspectos subjacentes à produção do conhecimento científico e sobre o real papel do cientista nesse contexto. Cientista esse que deve ser percebido não como um ser genial e de avental branco, confinado em um laboratório e iluminado por Deus mas, sim, como um ser humano, com dificuldades, habilidades, incertezas e conflitos, condizentes com a época em que vive. “Compreender o contexto histórico que envolve o processo de criação do conhecimento científico foi magnífico.” (Aluno IV). Sendo assim, acredito que as discussões originadas a partir das leituras dos textos e das apresentações dos painéis, ainda que rápidas, foram de sobremaneira significativas. 152 Serviram para esta turma, como um elemento desencadeador de reflexões e questionamentos acerca não apenas da produção do conhecimento científico mas, também, da maneira como eles, enquanto futuros professores de Física, desejam se posicionar frente a esta temática. Fica claro que a ciência não surgiu do nada, que teorias pré-estabelecidas, momento histórico e o tempo que os cientistas tiveram na época foi de grande contribuição para chegar nas teorias que hoje estudamos. (Aluno II). Muda a velha forma de pensar que os grandes cientistas são semi-deuses ou que as idéias surgem a partir do nada. O aluno percebe que também é capaz de desenvolver estudos e contribuir para a história através de dedicação e muito estudo. (Aluno III). Este estudo se apresenta como uma forma inovadora de ensinar. Então poderá trazer um interesse maior na aprendizagem da física. Pois buscar o conhecimento de forma verdadeira do acontecimento dos fenômenos físicos, baseado no contexto vivido pelos cientistas. (Aluno VI). Se planejado desde o início do ano, o trabalho com a seqüencia didática pode ocorrer de modo mais profícuo, possibilitando reflexões mais profundas e significativas. De qualquer maneira, um primeiro passo no sentido de promover modificações no modo de se compreender a produção do conhecimento científico e as questões a ela subjacentes, foi dado. Sabemos que mudanças de comportamento e de padrões já enraizados e estabelecidos ao longo de uma vida (escolar, inclusive) são difíceis de serem efetuadas. No entanto, a utilização da História e da Filosofia da Ciência com o enfoque sugerido nesse trabalho (e completamente distante das chamadas pseudo-histórias comumente divulgadas nos materiais didáticos) pode sim contribuir para lançar as bases dessas transformações. Transformações estas que não se restringem apenas ao campo da ciência, mas que se refletem no modo como o indivíduo (aluno e professor) se percebe enquanto ser, integrante de uma sociedade, que se estabelece em um determinado contexto histórico. Com efeito, compreender a produção do conhecimento científico como um processo resultante da interação entre o homem e o meio no qual ele vive, e não como fruto apenas da mente brilhante de um gênio, cujo dom de pensar foi concebido dos céus, vai muito além das práticas estabelecidas dentro dos muros da escola. Essa compreensão nos liberta de um sentimento de inferioridade e de incapacidade frente à possibilidade de realização e construção, e nos coloca como seres atuantes e ativos participantes do processo de produção das idéias. Idéias estas que, conforme nos afirma Pinto (1979), se caracterizam por serem perecíveis, mas nunca inúteis. 153 A ideia, ao perder a validade, por força da própria transformação da realidade, que suscita, condiciona o surgimento de outra, transmuta-se nesta, e de alguma forma nela se conserva, e assim a sua caducidade equivale ao mesmo tempo à sua perenidade. (PINTO, 1979, p. 90). Esta é, no meu entender, a contribuição social pretendida com esse trabalho. Fazer os alunos perceberem que, assim como Isaac Newton e todos os demais personagens do período da conhecida Revolução Científica, eles também estão inseridos em um momento histórico específico, do qual recebem influências e para o qual contribuem. 154 REFERÊNCIAS ALLCHIN, Douglas. Pseudohistory and Pseudoscience. Science & Education, Netherlands, n. 13, p. 179-195, 2004. ALLCHIN, Douglas. Scientific myth-conceptions. Trabalho apresentado no IV International Seminar for History of Science and Science Education, Winnipeg, 2001. Disponível em: <http://www1.umn.edu/ships/library/myth. pdf>. Acesso em: 18 set. 2009. ANDERY, Maria Amália Pie Abib et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 13. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. BARBATTI, Mário. A filosofia natural à época de Newton. Revista Brasileira de Ensino de Física, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 153-161, mar. 1999. BASSALO, José Maria Filardo. A crônica da ótica clássica. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 3, n. 3, p. 138-159, dez. 1986. BERNAL, John Desmond. Ciência na história. Lisboa: Livros Horizonte, 1976. 503 p., v. 2. BONJORNO, José Roberto et al. Física: história e cotidiano. São Paulo: FTD, 2003. v. 2. (Coleção física: história e cotidiano). BRUSH, Stephen G. Should the history of science be rated X?. Science, v. 183, p. 1162-1172, 1974. Disponível em: <http://oregonstate.edu/instruct/hsts414/doel/SB_H_S_rated_X.pdf>. Acesso em: 21 out. 2009. BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental: do homem das cavernas até a bomba atômica. Porto Alegre: Globo, 1967. v. 1., 581 p. BURTT, Edwin A. As bases metafísicas da ciência moderna. Brasília: Editora da UnB, 1983. 267 p. CHAIB, Joao Paulo Martins de Castro; ASSIS, Andre Koch Torres de. Distorção da obra eletromagnética de Ampère nos livros didáticos. Revista Brasileira de Ensino de Física, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 65-70, mar. 2007. COMTE, Auguste. Plano dos trabalhos científicos necessários para reorganizar a sociedade. In: COMTE, Auguste. Opusculos de philosophia social (1819-1828). Porto Alegre: Globo, 1899. p. 66-202. DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2002. 155 DESCARTES, René. Discurso do método. In: DESCARTES. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os pensadores). DUARTE, Róber Carlos Barbosa. Módulo de ensino de mecânica newtoniana com uso de abordagem CTS – histórica. 2006. 231 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências) – Instituto de Física e de Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. GASPAR, Alberto. Física: série Brasil. São Paulo: Ática, 2004. GONÇALVES FILHO, Aurélio; TOSCANO, Carlos. Física: para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2002. GUERRA, Andréia et al. Uma abordagem histórico-filosófica para o eletromagnetismo no ensino médio. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 21, p. 224-248, ago. 2004. HAWKING, Stephen. Os gênios da ciência: sobre os ombros de gigantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 251 p. HISTORIA de la Ciência. 03 Mar. 2009. Disponível em: <http://blog.educastur.es/logos/ category/historia-de-la-ciencia/page/2/>. Acesso em: 18 set. 2009. HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: LTC, 1986. HÜLSENDEGER, Margarete J. V. C. A história da ciência no ensino da termodinâmica:um outro olhar sobre o ensino de física. Revista Ensaio, Niterói, v. 9, n. 2, p. 1-16, dez. 2007. LEITE, Laurinda. History of science in science education: development and validation of a checklist for analyzing the historical content of science in textbooks. Science & Education, Braga, v. 11, n. 4, p. 333-359, jul. 2002. LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. In: LOCKE. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores). LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ALVARENGA, Beatriz. Curso de física. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2005. v. 2. MAGALHÃES, Murilo de F.; SANTOS, Wilma M. S.; DIAS, Penha M. C. Uma proposta para ensinar os conceitos de campo elétrico e magnético: uma aplicação da história da física. Revista Brasileira de Ensino de Física, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 489-496, dez. 2002. MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira. A história da ciência e o ensino de biologia. Ciência e Ensino, Campinas, n. 5, p. 18-25, dez. 1998. MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira. História da ciência: objetos, métodos e problemas. Ciência e Educação, Campinas, v. 11, n. 2, p. 305-317, 2005. MATTHEWS, Michael R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 12, n. 3, p. 164214, dez. 1995. 156 MENTES Brilhantes. YouTube,16 de maio de 2009. (Documentário). Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=xxFXdMuqbMA>. Acesso em: 15 jan. 2010. NELY. The tychonic model. 10 Fev. 2009. Disponível em: <http://blog.educastur.es/logos/ category/historia-de-la-ciencia/page/2/>. Acesso em: 18 set. 2009. NEWTON, Isaac. Óptica. Tradução, introdução e notas de André Koch Torres Assis. São Paulo: Editora da USP, 2002. 295 p. PAGLIARINI, Cassiano Rezende. Uma análise da história e filosofia da ciência presente em livros didáticos de física para o ensino médio. 2007. 115 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. PAULA, Ronaldo César de Oliveira. Uso de experimentos históricos no ensino de física: integrando as dimensões histórica e empírica da ciência na sala de aula. 2006. 140 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências) – Instituto de Física e de Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz. Historiografia positivista e positivismo comtiano: origem e desvirtuamento de uma relação teórica. In: GRAEBIN, Cleusa; LEAL, Elisabete (Org.). Revisitando o positivismo. Canoas: Editora La Salle, 1998. p. 31-46. PEZAT, Paulo. O positivismo na abordagem da recente da historiografia gaúcha. Anos 90, Porto Alegre, v. 13, n. 23/24, p. 255-285, jan./dez. 2006. PINTO, Álvaro Vieira. Ciência e Existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 537 p. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de Graduação. Sistema de Bibliotecas. Padrão PUC Minas de normalização: normas da ABNT para apresentação de teses, dissertações, monografias e trabalhos acadêmicos. 9. ed. rev. ampl. atual. Belo Horizonte: PUC Minas, 2011. Disponível em: <http://www.pucminas.br/ biblioteca>. Acesso em: 04 nov. 2011. PORTELA, Sebastião Ivaldo Carneiro. O uso de casos históricos no ensino de física: um exemplo em torno da temática do horror da natureza ao vácuo. 2006. 96 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências) – Instituto de Física e de Química, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; TOLEDO, Paulo Antônio de. Os fundamentos da física. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: Moderna, 2003. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 8. ed. São Paulo: Paulus, 2007. v. 2. ROBILLOTA, Manoel Roberto. Construção e realidade no ensino de física. São Paulo: IFUSP, 1985. ROBILLOTA, Manoel Roberto. O cinza, o branco e o preto – da relevância da história da ciência no ensino da física. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 5, p. 7-22, jun. 1988. 157 SALÉM, Sonia. Estruturas conceituais no ensino de física: uma aplicação à eletrostática. 1986. 263 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física e Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Física. São Paulo: Atual, 2003. (Coleção ensino médio atual). SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. O universo da física: tópicos especiais de mecânica, fluidomecânica, termologia, óptica. São Paulo: Atual, 2001. v. 2. (Coleção universo da física). SANDOVAL, Julia Salinas de; CUDMANI, Leonor Colombo de. Epistemología e historia de la física em la formación de los profesores de física. Revista Brasileira de Ensino de Física, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1-4, p. 100-109, 1993. SAPUNARU, Raquel Anna. A construção lógica do “estilo newtoniano”. Ciência & Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 55-66, 2008. SILVA, Cibelle Celestino. A teoria das cores de Newton: um estudo crítico do livro I do Opticks. 1996. 132 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física “Gleb Wataghin”, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996. SILVA, Cibelle Celestino; MARTINS, Roberto de Andrade. A “nova teoria sobre luz e cores” de Isaac Newton: uma tradução comentada. Revista Brasileira de Ensino de Física, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 313-327, dez. 1996. SILVA, Cibelle Celestino; MARTINS, Roberto de Andrade. A teoria das cores de Newton: um exemplo do uso da história da ciência em sala de aula. Ciência & Educação, Campinas, v. 9, n. 1, p. 53-65, 2003. SILVA, Clarete Paranhos et al. Subsídios para o uso da história das ciências no ensino: exemplos extraídos da geociências. Ciência e Educação, Campinas, v. 14, n. 3, p. 497-517, 2008. SILVA, Osmar Henrique Moura da; NARDI, Roberto; LABURÚ, Carlos Eduardo. Uma estratégia de ensino inspirada na Lakatos com instrução de racionalidade por uma reconstrução racional didática. Revista Ensaio, Niterói, v. 10, n. 1, p. 1-18, jun. 2008. SILVEIRA, Fernando Lang da. A metodologia dos programas de pesquisa: a epistemologia de Imre Lakatos. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 13, n. 3, p. 219-230, dez. 1996. SILVEIRA, Fernando Lang da; OSTERMANN, Fernanda. A insustentabilidade da proposta indutivista de “descobrir a lei a partir de resultados experimentais”. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, p. 7-27, jun. 2002. SILVEIRA, Fernando Lang da; PEDUZZI, Luiz O. Q. Três episódios de descoberta científica: da caricatura empirista a uma outra história. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 23, n. 1, p. 26-52, abr. 2006. 158 STRUIK, Dirk Jan. História concisa das matematicas. Lisboa: Gradina, 1989. 360 p. VANNUCCHI, Andréa Infantosi. História e filosofia da ciência: da teoria para a sala de aula. 1996. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Instituto de Física e Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 224 p. ZANETIC, João; MOZENA. Érika Regina. Evolução dos conceitos da física: notas de aula. São Paulo: Instituto de Física da USP, 2007. 159 APÊNDICE A – Produto Final – Material do aluno Experimentum Crucis de Newton: contribuições da história e filosofia da ciência MATERIAL DO ALUNO 160 Caro(a) aluno(a), Você tem em mãos um material que o(a) auxiliará a compreender o fenômeno da dispersão da luz branca, estudado por Isaac Newton. Nele, existem cinco atividades que deverão ser desenvolvidas de acordo com as orientações de seu (sua) professor(a) e que auxiliarão você a compreender, dentre outras coisas, como ocorre, de fato, a produção do conhecimento científico e o estabelecimento das teorias e das leis atualmente estudadas. Você verá que, muito mais do que a mente brilhante do cientista, existem vários outros fatores que ajudam e influenciam nesse processo de construção do conhecimento, muitos deles determinados por aspectos históricos e filosóficos da época vigente. Esperamos que você retire, de cada uma dessas atividades, subsídios e elementos para compreender e pensar o cientista como um ser social, cuja criação científica não pode ser meramente reduzida a um problema lógico, visto que é o resultado de um complexo processo histórico, caracterizado pela interação do homem com o meio no qual ele está inserido. Um bom trabalho e um ótimo estudo! Os autores 161 Experimentum Crucis de Newton: contribuições da história e filosofia da ciência MATERIAL DO ALUNO Atividade 1 – Verificando a dispersão da luz branca por um prisma Introdução A refração da luz está relacionada a uma série de outros fenômenos evidenciados na natureza e com os quais nos deparamos em nosso cotidiano. Figura 1 – Refração da luz a) Pincel parece quebrado Fonte: Refração ..., 2011. b) Arco-íris Fonte: Arco-íris ..., 2011. c) Brilho de um diamante Fonte: Diamante ..., 2011. Com o intuito de se reproduzir e verificar um desses fenômenos, vamos realizar a experiência a seguir. Para tanto, vocês deverão dividir-se em grupos e, utilizando o prisma triangular eqüilátero de vidro (ou de acrílico) fornecido, realizar os seguintes passos e responder ao que se segue. Procedimento: Para a execução da atividade, é aconselhável que você esteja em um ambiente fechado, uma sala, por exemplo, no qual entre luz solar direta (pela fresta de uma janela ou de uma porta). Para a obtenção de um melhor resultado é aconselhável ainda que este local esteja escuro ou na penumbra. Além disso, as paredes e/ou o teto podem funcionar como anteparos. Se a iluminação natural do Sol estiver prejudicada no dia da realização do experimento, ou caso seja difícil encontrar um ambiente iluminado diretamente pela luz solar, você poderá utilizar uma fonte de luz branca, tal qual uma lanterna, em substituição. Inicialmente, identifique os vértices A,B,C,a,b,c mostrados ao lado, no prisma que você tem em mãos. Em seguida, segure o prisma e aponte-o para o feixe luminoso, de modo que os raios solares incidam perpendicularmente sobre as faces laterais (abAB, acAC, ou bcBC) desse sólido geométrico. Gire o prisma, vagarosamente, em torno de seu eixo (reta paralela às arestas Aa, Bb e Cc, que passa pelo meio do prisma), até obter alguma imagem projetada. 162 Figura 2 – Posicionando o prisma para a realização da atividade Fonte NEWTON, 2002, p. 52. Uma vez encontrada essa imagem, continue girando o prisma até que ela tenha a sua melhor definição. Em seguida, faça o que se pede. a) Registre o que foi observado. b) Qual o formato da imagem encontrada? Circular? Alongado? Girando o prisma em torno de seu eixo, que modificações são percebidas na imagem projetada? c) Como o fenômeno da refração da luz está presente na experiência realizada? d) Coloque-se na condição de um cientista e pesquisador. A que conclusão você chegaria a partir da experiência realizada? e) Depois de realizada a atividade, você considera ser este um experimento mais complexo, ou mais simples? Em que sentido? Explique sua resposta? Algumas considerações O fenômeno observado nessa atividade é conhecido como a dispersão ou decomposição da luz branca e, segundo historiadores da ciência, teria sido observado pela primeira vez pelo estadista e filósofo romano Lucius Annaeus Sêneca (4 a.C - 65 d.C), nas margens de alguns vidros. Depois dele, outros estudiosos como Renè Descartes (1637-1638) e Robert Boyle (1664) também teriam se dedicado à realização de experiências similares com globos de vidro cheios de água e em prismas de vidro, numa tentativa de explicar o que era observado. No entanto, atribui-se a Issac Newton (1642-1727) a correta interpretação do fenômeno. Além de se dedicar à análise dos movimentos e das forças envolvidas, Newton também se preocupou em estudar os fenômenos relacionados com a luz. De seus estudos e anotações, resultaram vários artigos científicos (publicados na revista Philosophical Transactions, de Londres) e um livro, intitulado Ótica e publicado em 1704. E é exatamente 163 nesses materiais, que vamos encontrar a explicação dada por Newton para o fenômeno por você observado. Na verdade, a seqüência de passos por você executada, foi também realizada por Newton, conforme descrito em Ótica. Numa sala bem escura coloquei em um orifício circular de 1 3 de polegada de diâmetro que fiz na folha da janela um prisma de vidro por onde o feixe da luz solar que entrasse pelo orifício pudesse ser refratado para cima em direção à parede oposta da sala, formando ali uma imagem [...] Nessa experiência e nas seguintes o eixo do prisma (isto é, a reta que, passando pelo meio do prisma de uma extremidade à outra) era perpendicular aos raios incidentes. Ao redor desse eixo girei o prisma lentamente e via a luz refratada na parede [...]. (NEWTON, 2002, p.54-55) Figura 3 – Newton posiciona um prisma de vidro diante de um orifício circular feito em uma janela Fonte: Newton ..., 2010. f) Levando em consideração a descrição do posicionamento do prisma feita por Newton, e as observações realizadas por você ao trabalhar com este sólido geométrico, você acredita que a conclusão a que Newton chega (que será explicada depois), foi facilmente formulada? Em caso afirmativo, explique por que. Em caso negativo, que outros fatores teriam contribuído para que Newton formulasse a sua conclusão, a partir do observado? 164 Atividade 2 – Mentes Brilhantes Introdução Conforme veremos adiante, a explicação para o fenômeno da dispersão da luz foi fruto de um processo de construções, contradições e experimentações, para o qual contribuíram a maneira de Newton de pensar e compreender o universo e a natureza. Assim, antes de nos dedicarmos à análise específica das conclusões formuladas por Newton, precisamos ter em mente que ele é um dos personagens de um poderoso movimento de transformação das idéias, que abrange os anos de 1440 a 1690, e que é conhecido como o período da “Revolução Científica.” Através desse movimento, todo um sistema de pressupostos herdados da Idade Média (em especial os pressupostos Aristotélicos) é questionado, demolido e substituído por um sistema completamente novo. Isso significa que algumas idéias, os pressupostos filosóficos e o modo de pensar de Newton são herdados desse período. O documentário “Mentes Brilhantes”, que você assistirá agora, retrata alguns aspectos e descobertas desse período e, em especial, de dois grandes cientistas e pensadores que viveram entre os séculos XVI e XVIII: Galileu Galilei e Isaac Newton. Figura 4 – Galileu Galilei Figura 5 – Isaac Newton (1642-1727) e a representação da (1564-1642}) lenda da maçã Fonte: HAWKING, 2005, p. 50. Fonte: HAWKING, 2005, p. 146, 151. Assista-o atentamente, e procure encontrar respostas para as seguintes questões, referentes a cada um dos cientistas: 165 Parte I: Sobre GALILEU GALILEI a) Quais as descobertas e as leis científicas atribuídas a ele, no documentário? b) A Matemática exerceu alguma influência no pensamento e na vida de Galileu? E a experimentação? Em caso afirmativo, como se verificaram estas influências? c) Que acontecimentos históricos e científicos mencionados no documentário, contribuem para compor o contexto histórico e filosófico da época em que viveu Galileu? d) É possível afirmar que Galileu se baseou em estudos anteriores ao propor a teoria heliocêntrica? Em caso afirmativo, de qual cientista eram estes estudos? e) Após assistir ao documentário, como você caracterizaria e descreveria o cientista Galileu Galilei? Parte II: Sobre ISAAC NEWTON f) Quais as descobertas e as leis científicas atribuídas a ele, no documentário? g) A Matemática exerceu alguma influência no pensamento e na vida de Newton? Em caso afirmativo, como se verificou esta influência? h) Que fatores, de acordo com o documentário, permitiram a Newton formular a lei da gravidade? i) Após assistir ao documentário, como você caracterizaria e descreveria o cientista Isaac Newton? Parte III: Refletindo mais um pouco Com base nas informações fornecidas no vídeo e em seus conhecimentos, REDIJA um pequeno texto explicitando os fatores e as situações que você considera serem importantes e decisivos no processo de descoberta e elaboração de uma nova lei ou teoria científica, por um cientista. Procure responder e exemplificar, nesse texto, à seguinte questão: Que fatores contribuem para que uma descoberta científica seja feita? 166 Atividade 3 – A influência do contexto histórico nas descobertas científicas: o período da Revolução Científica Fonte: DOCUMENTÁRIO MENTES BRILHANTES Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein e Stephen Hawking... ...cada um deles concebeu uma visão nova e radical do cosmos. ... são desajustados e rebeldes arrogantes. ... tiveram vidas tumultuosas, cheias de grandes triunfos e falhanços que os tornaram humildes. ...são pessoas que desprezaram a sabedoria convencional e ousaram desafiar. ...possuíam uma espécie de demônio em seu interior, que não os deixavam fazer mais nada. Quem eram estes rebeldes brilhantes? Que segredos em suas mentes lhes permitiram pensar o impensável e revelar a beleza e a estranheza do universo? Acima, estão reproduzidos alguns trechos extraídos da introdução do documentário “Mentes Brilhantes”. Será, realmente, que todos estes cientistas desafiaram a sabedoria convencional? As teorias e as novas visões do cosmo por eles defendidas foram, de fato, fruto de mentes brilhantes, impulsionadas por um demônio interior? Não poderiam ter existido outros fatores? Quais seriam? As respostas a todas essas questões podem ser encontradas quando analisamos, de um modo um pouco mais detalhado, a realidade histórica e as características de um período conhecido como Revolução Científica. 167 Introdução De uma maneira geral, a Revolução Científica é considerada pelos historiadores da ciência como um poderoso movimento de transformação das idéias, através do qual todo o sistema de pressupostos herdado da Idade Média (em especial os pressupostos Aristotélicos) é questionado, demolido e substituído por um sistema completamente novo. Didaticamente, pode ser dividida em três fases específicas: a fase do Renascimento, de 1440 a 1540, a fase das Guerras de Religião, de 1540 a 1650 (segunda metade do século XVI e primeira metade do século XVII); e a fase da Restauração, de 1650 a 1690 (segunda metade do século XVII). Em cada uma delas, uma série de acontecimentos sociais, políticos, econômicos e religiosos contribuíram de modo significativo para que matemáticos, físicos, biólogos, químicos, médicos, filósofos e astrônomos formulassem novas teorias explicativas acerca do funcionamento do universo, da posição do homem dentro desse cosmo, dos processos de construção da ciência, das relações entre o homem e a ciência e entre a ciência e a fé religiosa. No entanto, antes de nos aprofundarmos nas características específicas de cada uma dessas fases, é importante compreendermos quais transformações de ordem política, econômica e social serviram como fundamento e embasamento para esse período das revoluções científicas. Texto I – A primeira fase da revolução mercado, caracterizada pela existência de sobras científica: a fase do renascimento (1440 – 1540) podiam ser vendidas. Além disso, os camponeses foram se libertando da lavoura de subsistência, 1.1) Antecedentes históricos passando a se ocupar em outras atividades A partir do ano 1000, a realidade de toda a Europa Ocidental começa a se modificar. O fim das invasões bárbaras econômicas não vinculadas diretamente à terra, como o artesanato e o comércio. faz, Diante desse quadro, a Europa assiste, a inicialmente, ressurgir um clima de segurança e partir do século X, a uma reocupação das cidades estabilidade internas. A redução da mortalidade (que haviam sido abandonadas no período das proporciona um aumento da taxa de natalidade e, invasões bárbaras) e a uma intensificação do consequentemente, uma elevação do crescimento processo de urbanização, principalmente com a populacional. Novas técnicas de produção, fundação de novas cidades e com a atração de principalmente com o emprego de instrumentos mercadores e aventureiros (servos que fugiam feitos de ferro são introduzidas para atender a dos feudos; apanhadores de safras itinerantes; essa maior demanda, favorecendo o aumento da soldados profissionais; filhos de nobres que não produção agrícola. tinham esperança de herdar patrimônio; ferreiros Aos poucos, a produção auto-suficiente de castelo; carpinteiros e seleiros que buscavam da época feudal passou a ser substituída por uma melhor mercado para o seu artesanato) para estes nova forma de produção, a produção para o centros urbanos. 168 Figura 7 – Diversas lojas: um alfaiate, um boticário e um barneiro atestam a vida movimentada de um cidade medieval. Figura 8 - As rotas comerciais da Baixa Idade Média Fonte: MUELLER, Conrad G.; RUDOLPH, Mae. 1970, p. 35. Aliado a todo esse processo tem-se, ainda, o início do movimento das Cruzadas que, inicialmente sob o apelo religioso de libertar a Terra Santa dos chamados infiéis, proporcionou o enfraquecimento dos senhores feudais e o fortalecimento da classe dos comerciantes e, principalmente, libertou o Mar Mediterrâneo do domínio muçulmano, permitindo o renascimento do comércio entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Comércio este que, inicialmente, era realizado segundo duas frentes: o comércio de especiarias vindas do oriente, ao sul da Europa, e o comércio de produtos de clima frio, nas regiões próximas ao Mar do Norte e Báltico. (FIG.8) Fonte: CARNEIRO, 2007. p. 15. Pouco a pouco, essas duas frentes de comércio marítimo foram sendo interligadas por rotas comerciais terrestres, proporcionando o encontro de mercadores e o aparecimento das chamadas feiras que, com o tempo, passam a ter funcionamento regular, nas mesmas regiões, com a duração de algumas semanas. Tem-se, assim, o estabelecimento de um círculo vicioso: o crescimento do comércio provocando a formação de novas cidades e a formação de novas cidades provocando a intensificação do comércio e o crescimento do número de mercadores e de comerciantes. À medida que o comércio internacional se desenvolveu, intitulada de uma nova burguesia classe social, (constituída principalmente pelos comerciantes) e novas 169 Figura 10 – Os assaltos a caravanas eram uma prática comum na cidade medieval relações de trabalho surgiram nessas cidades. As renascimento transformações provocadas comercial pelo determinaram o aparecimento de um novo ideal de vida, fundamentado na valorização do luxo e do conforto. Essa nova mentalidade justificou a preocupação do burguês de trabalhar intensamente, aumentar cada vez mais seus negócios e seus lucros, para enriquecer. Figura 9 - Pintura a óleo. Um casal de burgueses conta dinheiro que passou a ter muito valor nesta época Fonte: História Viva. 2009, ano VII, nº 78, p.52. Para isso, aliou-se ao rei, pois entendia que somente teria condições para se desenvolver se fosse implantada uma estrutura política centralizada que protegesse os caminhos e os Fonte: VICENS VIVES, Jaime. 1951, imagem 506. A mudança do padrão de riqueza, de terra produtos, emitisse uma moeda ampla e geral e para dinheiro, fortaleceu os comerciantes e eliminasse as barreiras alfandegárias entre as enfraqueceu os senhores feudais, que possuíam propriedades. Os burgueses tinham poder econômico terras. Por outro lado, a burguesia que se para financiar tais mudanças e valeram-se da fortalecia com o desenvolvimento comercial não experiência política do rei, dando-lhe dinheiro estava das para que pudesse formar um grande exército a profissional e contratar funcionários que os descentralização era desfavorável ao comércio. A ajudassem na administração, na fiscalização e na existência de uma diversidade de tributos, aplicação da justiça. Em troca, a burguesia moedas, pesos e medidas, leis e mesmo línguas, esperava obter apoio para o comércio com o variando de feudo para feudo, dificultava a estabelecimento expansão da economia mercantil. As caravanas pedágios, impostos, alfândegas, pesos e medidas precisavam ser protegidas contra os assaltos unificados para todo o território nacional. constantes, ocorridos contra elas. Assim, a Esperava, também, títulos e postos importantes burguesia desejava eliminar os obstáculos que no Estado. dificultavam o comércio e diminuíam seus lucros. O satisfeita estruturas com feudais e a permanência entendia que poder de barreiras, nacional do leis, rei, justiça, assim 170 denominado, se estendia sobre toda a nação, ou por uma nova realidade cultural. Com efeito, a seja, sobre um povo com mesma língua, religião, burguesia, rica e dinâmica, interessava-se em usos, costumes e história. A cada povo adquirir cultura, saber ler e escrever; isto é, tinha correspondia um país, isto é, uma determinada valores bem diferentes daqueles da Igreja região geográfica sobre a qual se assentava uma medieval, pois o burguês valorizava o dinheiro e os nação. E é exatamente nessa base cultural e prazeres que ele podia comprar, os bens materiais, a geográfica, que se organizou um governo vida na Terra. Nessa nova maneira de ver o mundo, nacional, isto é, um Estado Nacional. a vida e o homem, não sobrava lugar muito Todos os Estados Nacionais tinham seu governo centralizado, com uma burocracia destacado para as preocupações com o céu, o inferno, a salvação, a pobreza e o sofrimento. Embora própria (funcionários públicos). Tinham também aceitando devotadamente a um exército único, comandado pelo rei e fiel a existência de Deus, ela partilhava uma série de ele; uma moeda padronizada, emitida pelo atitudes intelectuais do mundo pagão. Interessava- governo; uma Assembléia Popular, convocada se pela estética, via a utilidade do conhecimento da anualmente entre os vários segmentos da história e estava convencida de que o dever sociedade (nobreza, clero e povo), para auxiliar o primordial do homem era desfrutar sua vida. Como conseqüência dessa nova postura rei na elaboração das leis; um conjunto de impostos pagos ao rei e um mesmo código de do homem diante da vida, tem-se o leis, ao qual toda a população deveria obedecer. desenvolvimento do humanismo, isto é, da Entretanto, não podemos pensar que o glorificação do humano e do natural, em oposição soberano do Estado Nacional tivesse uma soma ao divino e ao extraterreno, cuja expressão muito grande de poderes. Havia três forças atuantes máxima se encontra no Renascimento Cultural. que limitavam o poder real. A aliança da burguesia Em linhas gerais, o Renascimento com o rei, que obrigava o soberano a beneficiar Cultural (1300-1650) foi uma transformação economicamente essa classe, governando de cultural que a Europa sofreu a partir do impacto acordo com os seus interesses; a Assembléia do renascimento do comércio e da formação da Popular, que opinava sobre a elaboração das leis a burguesia e que resultou em um notável acervo serem aplicadas no Estado Nacional e, finalmente, nos campos da arte, da literatura, da ciência, da a Igreja Católica, que detinha, ainda, enormes filosofia, da política, da educação e da religião, poderes políticos concentrados nas mãos do Papa, o além de incorporar, à mentalidade do mundo qual interferia nos assuntos internos dos Estados e moderno, novos ideais, como: cobrava impostos à revelia do rei (poder • o humanismo, isto é, a valorização do Homem supranacional da Igreja). e das realizações humanas acima de todas as Por fim, vale a pena ressaltar que, em decorrência de todas essas transformações econômicas, sociais e políticas, percebe-se também uma alteração na mentalidade da época, traduzida coisas. Todas as obras renascentistas inspiramse em realizações humanas e foram feitas para benefício e glória dos Homens. 171 Na valorização figura é 11, por evidenciada exemplo, por meio essa Figura 12 – O duplo retrato dos jovens pretende evidenciar dois estados da alma humana diante da experiência do amor da representação de um interior burguês. No interior de um quarto, um casal dá-se as mãos solenemente, enquanto a luz diurna entra pela janela e revela os detalhes desse ambiente. O ponto máximo, no entanto, está no espelho circular sobre a parede do fundo, cuja superfície curva reflete tanto a cena que vemos, quanto o Fonte: GIORGIONE OU TIZIANO, 2009 p.53 que se passa diante do casal. Já na figura 12, o humanismo se faz presente pelo retrato fiel de • o classicismo, isto é, a valorização da dois homens, em situações distintas. Na verdade, cultura clássica greco-romana, que trata-se de um retrato de dois estados da alma serviu humana, diante da experiência do amor. No renascentistas. de modelo aos artistas primeiro plano, o jovem, envolto em penumbra, apóia a cabeça sobre a mão, posição do Devido à escassez de material, a ligação tal entre o Renascimento e a Antiguidade Clássica justamente nesses anos. A laranja selvagem, devia ser construída não somente a partir do que agridoce, que ele segura, é o emblema dessa restara daquele período, mas principalmente a experiência. luz, partir de um imaginário do antigo que a nova contracena um outro jovem, com semblante época havia fabricado. Dessa maneira, as assertivo e risonho, representando outra faceta da esculturas provenientes da Antiguidade passaram dimensão amorosa. a representar para os artistas renascentistas, o melancólico que Ao se configura fundo, envolto como em modelo e o caminho natural de perfeição a ser Figura 11- O retrato do casal Arnolfini é uma das pinturas que demonstram a valorização do homem, com a representação de um interior burguês perseguido. Quando observamos as esculturas romanas antigas (FIG. 13 e FIG. 14) e as renascentistas (FIG. 15), essa característica se torna evidente. Sem as devidas legendas, é muito difícil dizer qual escultura é a antiga e qual é a renascentista, tamanha a similaridade entre elas. Fonte: JAN VAN EYCK, O casal Arnolfini. 2009 p.24) 172 Figura 13 – Estátua romana • o naturalismo, isto é, a valorização da natureza, dos fenômenos naturais, das coisas que cercam o Homem. A valorização da natureza é um reflexo da valorização do Homem, pois ele vive na natureza, que merece ser estudada, conhecida e dominada em seu benefício. O naturalismo renascentista é manifesto nas obras artísticas e no grande desenvolvimento científico que ocorreu no período. Na figuras a seguir, o naturalismo se evidencia pela preocupação em retratar uma Fonte: PRAXÍTELES, p.62 paisagem natural pura, com detalhes da vegetação e até mesmo da tempestade que se aproxima (FIG. 16); e ainda pelo grande interesse Figura 14 - Estátua romana Figura 15 – Estátua renascentista. Repare como é semelhante à escultura romana da figura 13. em conhecer as formas, as composições e o funcionamento das diversas engrenagens existentes na natureza. Leonardo Da Vinci é um dos personagens renascentistas que se destaca nessa área. Impulsionado por um espírito científico, ele se dedica a observar e desenhar plantas, a estudar a anatomia humana e animal, e a projetar máquinas (FIG. 17). Figura 16 – Expressão viva do naturalismo renascentista Fonte: MICHELANGELO, 2009. p.34 Fonte: GIORGIONE, 2009 p.48 173 Figura 17 – Estudos de anatomia de Leonardo da Vinci. Uma das manifestações mais específicas do naturalismo renascentista. Fonte: TIZIANO. 2009 p.54 • racionalismo, ou seja, a valorização das possibilidades ilimitadas da razão humana Fonte: LEONARDO DA VINCI, 2009. p.80 em atingir a verdade nas áreas científicas e religiosas. • individualismo e o antropocentrismo, que é a colocação do homem como o centro de Em oposição à aceitação confirmada das todos os fenômenos importantes da cultura, “verdades” e da realidade impostas pela Igreja, ao lado das realizações humanas que estão na primeira fase da Idade Média, tem-se, com o acima de todas as coisas. período renascentista, uma valorização extrema do raciocínio lógico e das possibilidades da razão Este é um traço marcante em todas as obras humana em conhecer os mais diversos renascentistas. A maior parte delas inspiram-se em fenômenos da natureza. Generaliza-se, então, feitos humanos e foram concretizadas para nesse momento, o costume de observar os benefício e glória dos homens. A grande fenômenos quantidade de retratos humanos pintados é uma racionalmente e relacionando-os com fenômenos confirmação dessa característica. (FIG. 18) já conhecidos. O resultado de tudo isso, foi o Figura 18 – Retratos de pessoas da época renascentista. Expressão do individualismo da natureza, explicando-os desenvolvimento das ciências em geral e o estabelecimento de um fértil período de descobertas científicas, conforme veremos a seguir. Fonte: GIOVANNIBELLINI. 2009 p.55. 174 Figura 19 – A valorização da capacidade humana de estudar e compreender o que acontece ao seu redor é retratada nessa imagem, pintada no teto de um palácio de Florença Figura 20 – Na concepção antiga, os objetos se tornavam visíveis porque eram atingidos por partículas emitidas de nossos olhos, em uma clara tendência de colocar o homem em papel de destaque Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 1997, p.707. Sendo o homem colocado nessa posição de destaque, seria natural que o local no qual ele vivesse também desfrutasse de posição privilegiada no cosmos. A Terra, portanto, era vista como uma coisa vasta e sólida sendo então Fonte: GIORGIO VASARI, 2009 p.42 colocada em repouso no centro do universo, com o 1.2) Principais descobertas Sol e o céu estrelado, considerado uma esfera leve e etérea, se movendo suavemente em torno dela. Com O conjunto de transformações descritas o início das transformações acima não ficou restrito ao campo da política, da relatadas no item anterior, toda essa concepção economia, da sociedade e da cultura. Na verdade, de mundo e de Homem, capaz de se relacionar se refletiu na maneira de pensar do homem dessa com época que, sendo um ser que vive em sociedade, conhecimento, acaba por incorporar novas idéias, atitudes e questionada, ampliada e modificada. pensamentos acerca das coisas que o rodeiam. a natureza e começa de a produzir ser algum contestada, O grande motor propulsor de toda essa Antes de todas essas modificações pelas transformação foi, certamente, a publicação, em quais a Europa passou, a tendência do homem 1543, do De Revolutionibus orbium celestium, de medieval era de se colocar em uma posição mais Nicolau Copérnico (FIG.21-a). importante e significante, sendo que a própria natureza física e todo o mundo da natureza Nessa obra, o astrônomo defende as seguintes teses: existiriam para o seu benefício. Dessa maneira, 1) o mundo deve ser esférico; quando o homem observava um objeto distante, 2) a Terra deve ser esférica; por exemplo, algo partia de seus olhos para o 3) com a água, a Terra forma uma única objeto, e não do objeto para seus olhos (FIG. 20). A chuva caía porque beneficiava as culturas dos homens. esfera; 4) o movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo ou então composto de movimentos circulares; 175 5) a Terra se move em um círculo orbital Copérnico a propor essa nova e revolucionária em torno de seu centro, girando também teoria? Que fatores contribuíram para isto? Teria sobre o seu eixo; sido ele iluminado por Deus para propor tamanha 6) comparados com a dimensão da Terra, é mudança no cosmo? A resposta a essas perguntas pode ser enorme a vastidão dos céus; 7) a Terra, assim como os demais planetas, gira ao redor do Sol (FIG.21-b) Figura 21-a: Nicolau Copérnico (1473-1543), astrônomo polonês que revolucionou o mundo ao afirmar que o Sol era o centro do universo. Figura 21-b: Representação do sistema de Copérnico. O Sol ao centro, “sentado no trono real”, e os demais planetas girando ao seu redor, em órbitas circulares encontrada no ambiente intelectual e histórico vivenciado pelo astrônomo, àquela época. Conforme mencionado anteriormente, vivia-se a época da Renascença, da revolução comercial, da ascensão da burguesia, das viagens ultramarinas e das descobertas de continentes desconhecidos e civilizações ainda não estudadas. Os limites do conhecimento humano, de uma hora para outra, se tornavam pequenos e insuficientes perante a constante ampliação de seus horizontes. Locais distantes do continente europeu mostravam-se densamente povoados e instigavam indagações a respeito da certeza de a Fonte: HAWKING, 2005, p. 12 e p.26. Europa ser o centro de importância do universo. Nesse burburinho de idéias e concepções Para a grande maioria dos historiadores novas, algumas das quais estranhas e radicais, da ciência, a teoria copernicana subverteu o não é difícil para Copérnico sugerir que uma mundo. Não por apresentar idéias unicamente nova mudança, talvez até maior do que as que inovadoras e diferentes. Na verdade, Copérnico outrora haviam ocorrido, devesse ser executada: mantém alguns aspectos do velho mundo, o deslocamento do centro astronômico da Terra principalmente a idéia de que a forma perfeita é a para o Sol. esférica e o movimento perfeito e natural é o Paralelamente a isso, tem-se a circular. O que, de fato, torna a sua teoria contribuição de alguns fatos relacionados à revolucionária, é exatamente a coragem de mudar própria de caminho, de paradigma e, consequentemente, momento, buscavam-se métodos capazes de de impor ao mundo das idéias uma nova tradição transformar equações complexas (quadráticas - de pensamento. Tirando a Terra do centro do x 4 e cúbicas - x 3 ) em equações equivalentes e universo, Copérnico também retira o homem de sua posição privilegiada no cosmos e coloca em cheque questões referentes ao relacionamento do Homem com o universo e com Deus. Que razões, no entanto, teriam levado história da matemática. Naquele mais simples. No entanto, até então, a geometria sempre estivera muito ligada à álgebra, sendo que a maneira empregada para a resolução de tais equações utilizava argumentos e representações geométricas. Algumas equações lineares e 176 Figura 23 – Copérnico e a representação de seu sistema heliocêntrico quadráticas, por exemplo, eram resolvidas por construções geométricas. Nesse sentido, a busca por equações mais simples significava, em termos geométricos, à redução de figuras complexas a figuras mais simples (triângulos ou círculos simples) que fossem equivalentes à combinação mais elaborada substituída. Lembrando que a astronomia, àquela época, era vista como um ramo da geometria, não foi difícil para Copérnico levar essa idéia da redução de figuras mais complexas a figuras mais simples, também para esta área do conhecimento. O astrônomo descobre e prova, matematicamente, que a complexa representação Fonte 23 a: HAWKING, 2005. p. 12. Fonte 23-b: FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA DA ASTRONOMIA, 2011 Fonte 23–c: FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA DA ASTRONOMIA, 2011 geométrica do sistema de Ptolomeu (com Por fim, mas não menos importante, tem- epiciclos, e deferentes) poderia ser reduzida a se a influência e o choque de duas correntes uma representação mais simples se o ponto de filosóficas: o aristotelismo e o neoplatonismo. A referência astronômico fosse transferido da Terra primeira para o Sol. matemática e colocava a natureza como algo minimizava a importância da fundamentalmente qualitativo, que deveria ser Figura 22 – Representação do sistema de Ptolomeu. A Terra ao centro e os demais planetas girando ao seu redor em pequenos círculos (epiciclos) cujos centros se movem ao redor da Terra, formado círculos maiores (deferentes) explorada e interpretada por meio da lógica e não por meio da matemática. A segunda, por sua vez, que vinha ressurgindo na Europa como conseqüência do Renascimento e que sofria forte influência dos pitagóricos, colocava o universo (e a natureza) como algo fundamentalmente geométrico e, por conseguinte, dotado de uma harmonia simples, bela e estritamente matemática. A Terra, na condição de corpo pertencente a esse universo, era também fundamentalmente matemática em sua estrutura, Fonte: FUNDAMENTOS ASTRONOMIA, 2011. DA HISTÓRIA DA o que legitimava a busca por uma interpretação geométrica mais simples para os fatos. Sendo Copérnico um seguidor do neoplatonismo, fica evidente e completamente justificada a sua escolha por este novo centro do universo. 177 Verifica-se, dessa maneira, que não foi a mente brilhante de Copérnico a única responsável pela proposição de sua nova teoria. Uma série de fatores externos, a maioria deles relacionados ao contexto histórico, contribuíram e impulsionaram a sua “descoberta”. 178 Texto 2 – A segunda fase da revolução dentro do próprio clero. científica: a fase das guerras de religião (1540 Figura 24 – A venda de indulgências era uma prática comum realizada pela Igreja Católica – 1650) 2.1) Antecedentes históricos A fase das Guerras de Religião, que se estende de 1540 a 1650, é considerada como o momento no qual começam a se sentir os primeiros resultados das transformações Fonte: VENDA DE INDULGÊNCIAS, 2009. ocorridas no período anterior. É marcada, historicamente, pelas Guerras de Religião, isto é, Sendo assim, quando se verifica o por conflitos com contornos claramente políticos renascimento do comércio e, junto com ele, o e sociais, mas exteriorizados na forma de surgimento da burguesia, se intensificam os divergências religiosas, principalmente entre atritos com a Igreja, uma vez que ela pregava a católicos e protestantes. Doutrina do Justo Preço, considerando o lucro Na verdade, antes do início da fase do um pecado e condenando ao inferno qualquer renascimento, isto é, ainda no período de apogeu homem que praticasse atividades lucrativas. do feudalismo, a Igreja Católica era considerada Além disso, a centralização política iniciada com a instituição mais importante. O papa era tido a aliança rei-burguesia, contribui para intensificar como “o rei dos reis” e o seu poder não era a desavença com a Igreja, já que os soberanos rivalizado O perceberam que a consolidação do seu poder patrimônio econômico da igreja era também somente poderia, de fato, ser efetivada, mediante enorme, com grandes extensões de terras férteis e a eliminação da influência do papado. por nenhum senhor feudal. riquezas sob a forma de obras de arte, ouro e Foi nesse contexto que, em 1517, o pedras preciosas. Além de deter o monopólio da monge alemão Martinho Lutero publicou as suas leitura e da escrita, a Igreja conservava uma 95 teses contra a venda de indulgências e a língua própria, o latim, que era falado pelo clero situação geral da Igreja. A resposta não demorou em toda a Europa e considerado a língua culta a chegar, sendo o monge excomungado da por excelência. Diante desse quadro, a Igreja instituição religiosa romana. Tal fato foi o Católica, a partir do século XI, passa a ser estopim para o início de uma série de revoltas procurada por um contingente cada vez maior de generalizadas da população alemã (príncipes, pessoas poucos, nobres, burgueses e camponeses), conhecido começaram a ser responsáveis por uma série de como Reforma Protestante, que serviu ainda de abusos e escândalos que denegriram o seu ideal exemplo para outros questionamentos em locais religioso. diferentes (Calvino, em Genebra sem vocação Eram que, comuns as aos vendas de indulgências, de relíquias de santos (ossos, roupas, etc) e o comércio de cargos vantajosos VIII, na Inglaterra). e Henrique 179 Figura 25 – Martinho Lutero 2.2) Grandes descobertas Três anos após a morte de Copérnico, isto é, em 1546, tem-se o nascimento do dinamarquês Tycho Brahe (1546- 1601) que, sobretudo, destaca-se por ser um virtuoso Fonte: CARNEIRO, Eduardo de Araújo; 2007. observador astronômico. Diferentemente da A Igreja Romana não tardou a sentir o prática comum de observação dos planetas impacto do protestantismo e a perceber a apenas quando em posições ou configurações necessidade de ela mesmo se reformar, para fazer favoráveis, Brahe desenvolveu e introduziu a frente ao enorme impulso modificador que havia prática de observá-los, a olho nu, enquanto se retirado do seu controle aproximadamente a moviam nos céus. Para tanto, construiu e metade da Europa Ocidental. desenvolveu Surgem, então, a Contra-Reforma e a Reforma Católica, que foram colocadas em prática ao mesmo tempo. Dentre algumas equipamentos e instrumentos maiores e mais estáveis, com os quais obteve medidas e resultados com alto nível de precisão. Figura 26 – O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe medidas adotadas pela Contra-Reforma como meio de se conter os avanços do protestantismo, tem-se a organização e a fundação de ordens religiosas (como a Companhia de Jesus) que buscavam um profundo revigoramento da espiritualidade e uma renovação do sentimento religioso através de uma vida voltada para uma Fonte: HAWKING, 2005. P. 100 maior e mais perfeita comunicação com Deus; e a reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Figura 27 - Representação de Tycho Brahe trabalhando em seu notável observatório, construído em 1576 Inquisição, que atuava na Europa, principalmente na Espanha e em Portugal, desde a Idade Média, julgando e punindo aqueles que fossem suspeitos de heresia. De um modo geral, as conseqüências mais significativas da Reforma protestante para o futuro da Europa e do mundo ocidental foram, sem dúvida, a redução do poder do papa e o conseqüente aumento do poder dos reis; e o Fonte: BERGAMINI, 1970 p. 27. abandono da doutrina do “justo preço”, que permitiu à burguesia realizar as suas atividades lucrativas sem quaisquer restrições. No que diz respeito à aceitação dos modelos astronômicos até então propostos, Brahe 180 é categórico ao afirmar: nem um, nem outro. Para aquelas pessoas que não estavam Percebe a exagerada complexidade do modelo satisfeitas com o modelo de Ptolomeu, mas que ptoleimaco e apregoa ser supérfluo recorrer a tão também não tinham coragem e tampouco numerosos epiciclos, mas também não aceita a desejavam entrar em um confronto direto com a idéia heliocêntrica de Copérnico. Na verdade, Igreja Católica (haja visto o poder que tal tentando evitar críticas e acusações de ordem instituição ainda exercia sobre o pensamento da teológica, principalmente em um momento época), o modelo de Tycho Brahe passou a ser a histórico marcado por contestações e guerras escolha certa. Ele mantinha, tal como afirmara religiosas, Brahe propõe a adoção de um outro Ptolomeu, a Terra imóvel e no centro do universo modelo (o modelo tychônico). Por ele, a Terra era mantida imóvel e no centro do universo. Ao seu redor, estariam girando o Sol, a Lua e as estrelas fixas. O Sol, por sua vez, estaria no centro do movimento de rotação dos demais planetas (FIG.28). Figura 28 – O sistema Tychônico mas, em contrapartida, ao colocar os demais planetas girando ao redor do Sol, acabava com a necessidade da inclusão dos epiciclos e deferentes e, portanto, obtinha um sistema mais simples, como apregoava Copérnico. Em linhas gerais, o modelo de Tycho Brahe mantinha as vantagens matemáticas do de Copérnico, ao mesmo tempo em que evitava as críticas de ordem religiosa. De uma certa maneira, pode-se dizer este modelo também proporcionou transformação das idéias astronômicas, uma vez que negou o sistema de Ptolomeu, ao afirmar que a Terra não era o centro das revoluções de todos os planetas. Fonte: HAWKING, 2005, p.136 Foi somente no final do século XVI, quase 50 anos após a morte de Copérnico, que o Figura 28 - Identificação dos corpos integrantes ao sistema tychônico jovem astrônomo e matemático Johannes Kepler (1571- 1630) retomou os estudos até então feitos, inclusive os de Brahe, se transformando no primeiro grande defensor da teoria heliocêntrica. Figura 29 - O astrônomo alemão Johannes Kepler Fonte: Tycho Brahe, 2009. Fonte: HAWKING, 2005. p. 98. 181 Mas que fatores explicariam a sua opção pelo copernicismo? Novamente, supersticiosos à sua ânsia matemática de encontrar fórmulas precisas que pudessem ser sido confirmadas pelos dados, Kepler partiu da um contexto histórico e cogitação de que se o sistema de Copérnico era filosófico semelhante ao experimentado por verdadeiro, então deveriam existir muitas outras Copérnico. harmonias matemáticas no universo a serem influenciado por o fato de ter Aos vinte e dois anos, Kepler havia abandonado a teologia e a idéia de seguir a descobertas e que serviriam para confirmação do copernicismo. carreira eclesiástica. Apesar de ter origem Com isso em mente e com base no estudo protestante, Kepler não via fundamentos e razões e na análise dos dados já disponíveis (alguns para as lutas que se agravavam entre católicos e deles obtidos ainda por Tycho Brahe), dedicou-se protestantes, já que entendia que Deus havia feito intensamente a procurar, determinar e formular os homens nascerem livres para gozarem dessa leis matemáticas que melhor explicassem o liberdade, inclusive evangélica. Sendo assim, funcionamento do universo, bem como as resolve aceitar o convite para ensinar matemática relações entre os corpos celestes. Desses estudos, e, desde então, passa a se dedicar intensamente a destacam-se: estes estudos. • a publicação, em 1596, do Mysterium Nesse contexto, o pano de fundo Cosmographicum, através do qual ele neoplatônico, que justificava em grande parte o assegura que o número de planetas, bem desenvolvimento da matemática da época e cujas como a dimensão de suas órbitas poderiam idéias já haviam sido incorporadas ao modelo ser astronômico a matemáticas entre estas últimas e os cinco convicção e a simpatia do jovem astrônomo e se sólidos platônicos existentes (cubo, tetraedro, transformou na fundamentação filosófica de todo dodecaedro, icosaedro e ortoedro). o seu pensamento. outras palavras, as distâncias entre as órbitas de Copérnico, conquistou explicados por meio de relações Em Aliado a essa concepção, tem-se ainda de cada um dos seis planetas guardariam como razão para aceitar o copernicismo o fato de certa semelhança com as distâncias que ao Sol ser reservada uma posição central, de seriam obtidas caso as esferas hipotéticas de destaque, atitude que ia ao encontro das ânsias de cada planeta fossem inscritas e circunscritas Kepler. Apesar de ser um dos fundadores da pelos sólidos platônicos. ciência moderna, Kepler cultivava certos pensamentos místicos e supersticiosos, com especial destaque para a exaltação e valorização do Sol. De acordo com o astrônomo, o Sol seria o olho do mundo, o responsável por iluminar, aquecer e mover todos os corpos do universo. Combinando-se os elementos 182 Figura 30 - Modelo de Kepler relacionando as distâncias orbitais dos seis planetas às distâncias obtidas pela inscrição e circunscrição aos sólidos platônicos permitiriam uma melhor adequação dos dados matemáticos obtidos até então, com a teoria. Figura 31 – Representação da conhecida 1ª Lei de Kepler: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, sendo que este astro ocupa um dos focos dessa elipse Fonte: HAWKING, 2005, p.104 Fonte: LEIS de Kepler, 2011. • a descoberta e a divulgação das três leis matemáticas que regiam o movimento dos corpos em torno do Sol. Diferentemente do que se possa pensar, tais leis não tinham especial importância para Kepler, visto que eram consideradas algumas dentre apenas as como diversas mais relações matemáticas por ele obtidas, quando se considerava válido e verdadeiro o modelo de Copérnico. Em contraste com o que se observa nos trabalhos científicos posteriores, não há grandes preocupações com as utilidades futuras dessas descobertas. O objetivo central era encontrar as harmonias matemáticas no modelo de Copérnico. No entanto, tais leis e em especial a primeira, são de fundamental importância no curso do desenvolvimento do pensamento científico, visto que significaram a ruptura com algumas idéias herdadas do aristotelismo, já que o movimento circular (considerado como a expressão da perfeição) deixa de ser considerado. Em seu lugar, os planetas descreveriam órbitas elípticas ao redor do Sol (FIG.31), uma vez que estas trajetórias Analisando a teoria kepleriana e, principalmente, a maneira através da qual o astrônomo encontra as suas verdades, podem-se identificar algumas peculiaridades da filosofia subjacente ao procedimento científico adotado por Kepler. Primeiramente, ele estabelece uma nova concepção de causalidade para os fatos. Tal concepção estava centrada na harmonia matemática dos mesmos. Sendo assim, os fatos observados comportavam-se daquela maneira, porque obedeciam a uma harmonia matemática que outrora fora estabelecida por Deus. Como exemplo, pode-se citar a causa apresentada para o fato de existirem seis planetas: os cinco sólidos regulares são inseridos entre as esferas desses planetas e, portanto, só poderiam existir seis planetas. Em segundo lugar, certamente como conseqüência dessa nova noção de causalidade, tem-se uma modificação na idéia de hipótese científica. Se a causa de qualquer fato observado está fundamentada na harmonia matemática, então qualquer tentativa de explicação desse fato, 183 por meio do levantamento de hipóteses, deve Figura 32 – O astrônomo italiano Galileu Galilei (15641642) conter, obrigatoriamente, um enunciado referente a esta harmonia matemática, isto é, um enunciado que revele a conexão matemática e racional daquilo observado. Caso contrário, a hipótese em questão não poderá ser considerada verdadeira. Além disso, essa hipótese deve ser passível de verificação exata no mundo observado. Por fim, tem-se a elaboração de uma nova doutrina do conhecimento, que estabelece Fonte: HAWKING, 2005, p.50. que o conhecimento certo e verdadeiro do universo e dos fenômenos que nele se observam é Fortemente influenciado pelas condições aquele que pode ser traduzido, expresso e ambientais gerais vivenciadas na época, e evidenciado em quantidades. A quantidade passa, também pelos resultados obtidos diretamente de então, característica suas próprias realizações e pesquisas, Galileu fundamental ou a qualidade primária de todas as também foi um adepto e defensor convicto do coisas, sistema de Copérnico. a ser sendo considerada a única a capaz de ser verdadeiramente conhecida pelo pensamento A atribuição de movimento à Terra, humano. Todas as demais qualidades mutáveis e impulsionou-lhe a estudar mais cuidadosa, superficiais não são reais e, portanto, não existem minuciosa e matematicamente, os movimentos de de maneira tão verdadeira. pequenas partes da Terra e também dos corpos De modo geral, pode-se afirmar que essas nela existentes, permitindo-lhe a descoberta das modificações nas concepções de causalidade, causas de alguns fenômenos naturais (como o da hipótese científica, realidade e conhecimento são queda livre), que não poderiam ser explicados as contribuições filosóficas mais importantes de com base no modelo ptoleimaco até então aceito. Kepler e que, conforme veremos posteriormente, A construção e a utilização do telescópio (FIG.33 servirão como base sólida e fértil para o e 34) também foram fatores decisivos para a desenvolvimento dos estudos científicos de descoberta: Newton. • de que a superfície da lua não é lisa e polida Finalizando esse período de grandes mas cheia de imperfeições, montanhas, descobertas da segunda fase da revolução crateras e sinuosidades, tal como a superfície científica da Terra. Esta constatação é de extrema contribuições têm-se do as importantíssimas astrônomo italiano e importância, visto que derruba a necessidade contemporâneo de Kepler, Galileu Galilei (1564 de qualquer distinção entre corpos celestes e – 1642). terrestres, que era um dos pilares da teoria aristotélica-ptolemaica; 184 • da existência de quatro satélites girando ao Figura 33 – O telescópio de Galileu redor de Júpiter, um evento de tremendas conseqüências para os simpatizantes do geocentrismo, que acreditavam que todos os corpos celestes se moviam exclusivamente ao redor da Terra. Na verdade, este fato proporcionou a Galileu uma visão, no céu, de modelo em escala reduzida do sistema de Fonte: TELESCÓPIO DE GALILEU, 2009. Copérnico; • das manchas solares que, diferentemente do Figura 34 – Galileu mostra o seu telescópio para autoridades que sustentava a concepção aristotélica, comprovaram que o Sol também sofre alterações e mutações; • das fases de Vênus que, em particular semelhança com as fases da Lua, evidenciaram que todos os planetas recebem luz solar e, portanto, são corpos de natureza escura. Fonte: HAWKING, 2005, p.88 Todas essas constatações contribuíram definitivamente para jogar por terra a teoria Assim como acontecera a Copérnico e a geocêntrica, fortalecendo a visão heliocêntrica do Kepler percebe-se, também em Galileu, a forte universo. afirmam influência das idéias filosóficas neoplatônicas historiadores da ciência, ao levar o telescópio que versam, como já mencionado anteriormente, para dentro da ciência e utilizá-lo como sobre a existência de um universo e de uma instrumento dos natureza fundamentalmente geométrica e, por sentidos, Galileu supera todo um conjunto de conseguinte, dotada de uma harmonia simples, paradigmas bela e estritamente matemática. Além disso, científico e segundo potencializador obstáculos epistemológicos (existiam na época arraigados preconceitos na Em Galileu, esta idéia de uma natureza ciência acadêmica com relação ao emprego de simples e ordenada, que age segundo leis lentes, já que supunha-se enganarem os olhos) imutáveis, que dificultavam o avanço de pesquisas e a matemáticos e geométricos é ainda atribuída à confirmação este existência de um Deus que atua tal qual um instrumento em um “elemento decisivo do saber” inventor mecânico e geômetra, criando os átomos de teorias e transforma fundamentadas em princípios e permitindo que uma sucessão de movimentos (junções e matemáticas, separações) expliquem com os características mais fenômenos observados na natureza. diversos 185 A diferença, no entanto, entre que devem se dar na realidade. Estes dois conhecimento de Deus e o dos homens estaria no elementos, no método galileano, se integram e se fato de o primeiro ser completo e imediato, e o corrigem segundo parcial e lento, exigindo esforços para demonstração podem surgir experiências sensatas ser verdadeiramente apreendido. e vice-versa. Vale ressaltar ainda que dentro das mutuamente, visto que de uma É exatamente essa base religiosa que experiências sensatas podem-se encontrar os permitiu a Galileu afirmar que as passagens experimentos exeqüíveis e os experimentos controversas inexeqüíveis, das Escrituras, cujas diversas também ditos experimentos interpretações evidenciam a dificuldade dos mentais. Estes últimos, que são aqueles que teólogos em conceber certezas, precisariam ser deveriam ser realizados em condições nas quais explicadas à luz da ciência. As discussões em não podem ocorrer (desprezando-se a resistência torno de um fenômeno natural deveriam, do ar, por exemplo), se tornaram uma marca do portanto, raciocínio de Galileu, que os empregou sempre iniciar-se por experiências e demonstrações e, não, pela autoridade das como um método de Escrituras. Aristóteles. crítica às idéias de Nesse contexto, na filosofia de Galileu, E é exatamente pela aplicação desse assim como na de Kepler, as demonstrações método que Galileu consegue não apenas matemáticas adquirem papel de destaque, sendo explicar os fenômenos naturais como, também, se consideradas um meio efetivo para se desvendar sente encorajado a publicar o seu livro Diálogo os mistérios da natureza. Um outro meio válido sobre os dois máximos sistemas do mundo, nesse processo de descoberta e explicações dos ptoleimaco e copernicano, fato que ocorre no ano fenômenos naturais é, para o astrônomo, o das de 1632. Escrito em italiano e não em latim (já observações e experimentações. Não é à toa que que isto era uma maneira de facilitar a difusão Galileu passa a ser considerado o pai do método das idéias, uma vez que somente a Igreja Católica experimental. Ele desenvolve, com base nos detinha o monopólio da escrita e da leitura em princípios latim) e organizado na forma de diálogo entre acima, um método de análise, observação e explicação da natureza. três personagens (Simplício, representante da De um modo geral, este método baseia a filosofia aristotélica; Salviati, cientista defensor ciência na experiência, sendo constituído de dois da teoria copernicana e, certamente, a figura elementos principais: as “experiências sensatas” e representativa do próprio Galileu e Sagredo, as “demonstrações necessárias”. As primeiras são representante do povo, aberto para a novidade, as experiências efetuadas através de nossos mas que deseja conhecer as razões de ambas as sentidos, das observações, partes), este tratado se configura como uma obra especialmente as feitas com os nossos olhos. As de crítica e combate à filosofia aristotélica e segundas, por sua vez, são as argumentações nas apresenta ao mundo uma nova maneira de pensar. isto é, através quais, partindo-se de uma hipótese, se deduzem rigorosa e matematicamente as conseqüências, 186 Figura 35 – Página de título de Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo. Os três interlocutores de Galileu, da esquerda para a direita, são: Sagredo, Simplício e Salviati áreas, subverteram a imagem do próprio ser humano e do mundo que o cerca. A expansão do mundo burguês e o desenvolvimento da física, que encontra na matemática a sua forma de expressão, se apresentam como as características principais de uma realidade em transformação. Nesse contexto, a atividade filosófica aparece com um novo propósito: ela se desdobra como reflexão, cujo pando de fundo é a existência dessa ciência. Com efeito, a revolução científica, ao Fonte: ORSI, Carlos; 2011. quebrar os alicerces do aristotelismo provoca, nos novos pensadores, o receio de se enganar Como já era de se esperar, a reação da novamente. A procura de evitar o erro, faz surgir Igreja Católica foi imediata. Galileu, que já havia a principal indagação do pensamento moderno: a tido as suas publicações proibidas pelo Santo questão do método, que se traduz tanto pelo Ofício da Inquisição, é agora obrigado a abjurar conhecimento do ser, quanto no problema do as suas teses e, em seguida, condenado à prisão conhecimento (teoria do conhecimento). perpétua. Inicialmente, é conduzido a uma prisão Até então, os filósofos não colocavam domiciliar, sob a guarda de um de seus ex-alunos. em dúvida a realidade do mundo. Agora, na Diz-se que foi exatamente nesse período (após Idade Moderna, o pólo de atenção é invertido, 1632) que ele retomou os seus estudos, iniciando com o deslocamento da questão do conhecimento a escrita do Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, onde para o sujeito. Filosoficamente, sabe-se que o ressalta as suas descobertas na área da física, conhecimento decorre da idéia que o sujeito tem instituindo um marco na história da ciência. A de determinado objeto. Mas surge agora, uma publicação de tal livro só ocorre em 1638 (quatro nova questão: qual é o critério de certeza de que anos antes da morte de Galileu), na Holanda, dispõe o homem, para saber se o seu pensamento aonde haviam chegado clandestinamente, visto concorda com o objeto? Em outras palavras, que as obras de Galileu ainda estavam proibidas, como fazer para ter certeza de que aquilo que pelo Índex da Igreja Católica. penso corresponde, de fato, à realidade? As soluções apresentadas dão origem à 2.3) O pensamento filosófico à época da duas correntes filosóficas, o empirismo e o revolução científica racionalismo, cujos maiores representantes são, respectivamente, o filósofo inglês Francis Bacon, Conforme visto anteriormente, todas as transformações descritas nas mais diferentes e o francês René Descartes. 187 produzidas precipitadamente e a partir de poucos 2.3.1) Francis Bacon (1561-1626) e Considerado o “filósofo da época industrial” (uma vez que viveu na Inglaterra no período caracterizado pela passagem do catolicismo ao protestantismo e por uma rápida expansão do setor industrial), Bacon dedicou grande parte do seu tempo a refletir sobre o conhecimento e sobre a melhor maneira de colocá-lo a serviço do homem. Para ele, a ciência deveria dar frutos na prática, isto é, o conhecimento por ela produzido deveria ser capaz de promover melhorias nas técnicas e nas condições da vida humana. Nesse sentido, e para que o conhecimento cumpra a sua finalidade de se colocar a serviço do homem, Bacon se esforçou por estabelecer um método que permitisse uma compreensão mais correta dos fenômenos e das verdades a eles subjacentes. Esse método, que se revela na obra Novum Organum (Novo Órgão), era constituído de duas etapas. Figura 36 – O filósofo inglês Francis Bacon (1561 – 1626) insuficientes exemplos, nem sequer se aproximam da realidade. De uma maneira didática, Bacon diz existirem quatro tipos de ídolos: • os ídolos da tribo, ou seja, as falhas inerentes a todo ser humano e decorrentes de interpretações equivocadas tanto de seus sentidos quanto de seu intelecto; • os ídolos da caverna, da gruta particular de cada um e que, portanto, estão relacionados aos erros cometidos em decorrência da individualidade de cada estudioso, isto é, da sua história de vida, do seu ambiente, de sua formação, dos seus hábitos, dos seus objetivos ao iniciar determinado estudo; • os ídolos do foro, isto é, as falhas provenientes dos contatos recíprocos entre os seres humanos e que, portanto, são decorrentes da linguagem que usamos e da comunicação estabelecida; • os ídolos do teatro que correspondem às distorções introduzidas no pensamento advindas da aceitação de falsas teorias, axiomas ou sistemas filosóficos. Uma vez libertado o intelecto humano de todos estes ídolos, Bacon afirma ser o momento de o homem encaminhar-se para o verdadeiro estudo da natureza por meio de um método por ele proposto e intitulado de método da indução. Tal método funciona como um procedimento de pesquisa composto por duas partes. A primeira Fonte: BACON, 2011. Inicialmente, a mente humana deveria ser libertada dos ídolos, isto é, das falsas impressões que invadiram o intelecto e que, em geral, consiste em extrair e fazer surgir os axiomas da experiência, e a segunda em deduzir e derivar novos experimentos dos axiomas. Nesse sentido, deve-se construir uma rede de investigações e um rico conjunto de 188 técnicas experimentais, capazes de permitirem a Figura 37 – O filósofo francês René Descartes, representante do racionalismo realização de um grande número de experiências ordenadas. Se, no entanto, durante a pesquisa de uma determinada natureza, o intelecto humano se encontrar em dúvida e inseguro quanto uma ou outra decisão, Bacon sugere seja realizado o chamado “experimentum crucis”, isto é, aquele capaz de efetivamente permitir a confirmação de Fonte: HALS, 2007. uma teoria e a eliminação de outra. Em síntese, esse método baconiano que O filósofo só interrompe a sua cadeia de busca a eliminação da mente humana das falsas dúvidas diante do seu próprio ser que duvida. Se idéias (os ídolos) e que incentiva a investigação e ele duvida, pensa; se pensa, existe. “Penso, logo a realização de experimentos exercerá influência existo”. histórica e decisiva sobre aqueles que seriam os A existência do pensamento humano é, seus seguidores e continuadores, com especial dessa maneira, estabelecida como a primeira destaque para Isaac Newton. verdade indubitável conseqüência 2.3.2) René Descartes (1596 -1650) disso, para Descartes. tem-se um Como segundo princípio, também verdadeiro: o da existência de Deus. Com efeito, o pensamento que temos do Inserido nesse contexto de “objeto” Deus, é o de um ser perfeito. No transformações que assolaram o pensamento entanto, pela primeira verdade, se ele é perfeito, europeu no decorrer do movimento da Revolução deve ter a perfeição da existência, senão lhe Científica, René Descartes se preocupa com o faltaria algo para ser perfeito. Por tanto, Deus problema do conhecimento. existe. De um modo geral, o filósofo tem como Assim, a existência do pensamento ponto de partida a busca de uma verdade primeira humano e a existência de Deus são as duas que não possa ser colocada em dúvida. Por isso, verdades ou princípios inicialmente estabelecidos converte Começa e dos quais deriva toda a filosofia de Descartes. duvidando de tudo, das afirmações do senso Partindo da idéia de que pensa, e só com as suas comum, dos argumentos da autoridade, das próprias forças, Descartes acredita ser possível percepções proporcionadas pelos sentidos, da descobrir todas as verdades possíveis. a dúvida em método. realidade do mundo exterior, etc. Se a dúvida foi o ponto de partida para que Descartes estabelecesse esses dois princípios, o método de raciocínio por ele empregado nesse processo foi o matemático. Isso não significa aplicar a matemática no conhecimento do mundo, mas usar o tipo de conhecimento que lhe é 189 peculiar, inteiramente dominado pela inteligência e baseado na ordem e na medida, para estabelecer as cadeias de razões. A ênfase na dúvida e a aplicação do método matemático de raciocínio traduzem, portanto, a maneira pela qual a razão é capaz de chegar a verdades claras e distintas evitando-se, assim, os erros. 190 Texto 3 – A terceira fase da revolução detinham nos Estados Nacionais. À medida que científica: a fase da restauração (1650 -1690) os monarcas aumentavam os seus poderes, a participação do povo no governo ia diminuindo, até que os Parlamentos chegaram a desaparecer 3.1) Antecedentes históricos quase totalmente, e as leis se tornaram atribuição A fase da Restauração, que se estende de exclusiva dos soberanos. 1650 a 1690, é considerada como um período de A partir daí, a centralização que existia compromissos e transformações no campo da no Estado Nacional foi se tornando excessiva até política. pelo que se hipertrofiou. A essa hipertrofia do poder estabelecimento do Absolutismo como a nova real é dado o nome de absolutismo, ou seja, o estrutura absolutismo É marcada, historicamente, político-administrativa européia, é uma estrutura político- resultante de todo o processo de modificação administrativa na qual todos os poderes são econômica, política, social e ideológica que teve exercidos indiscriminadamente pelos reis, muito início em fins da Idade Média. além do poder existente nos Estados Nacionais. textos O absolutismo criou um novo tipo de anteriores, o período de transição da Idade Média Estado, o Estado Moderno, denominação dada a para a Idade Moderna, foi marcado por um todos os Estados Nacionais que se tornaram movimento gradual de centralização do poder nas absolutistas. Como já mencionado nos mãos dos reis, que culminou com a formação dos Estados Nacionais. No entanto, nessas Como se evidenciou, a origem do absolutismo pode ser buscada nos instituições políticas, o poder do rei era limitado. acontecimentos que marcaram o fim da Idade A aliança com a burguesia, o forte poder político Média. Entretanto, antes de tudo, o absolutismo exercido pela Igreja e ainda a existência de foi uma evolução natural da estrutura política assembléias populares, restringiam o poder real. européia e não uma imposição de reis despóticos. Com o início da Reforma Protestante, Numa época de grande instabilidade em que a entretanto, muitos reis, para se verem livres da ordem e a segurança são desejadas, o absolutismo interferência religiões foi desejado pelo povo, pregado nas igrejas, protestantes como religiões oficiais de seus pretendido pela burguesia e teorizado por Estados, o que lhes reforçou o poder. pensadores. da Também Igreja, o adotaram expansionismo marítimo europeu, que aumentou a riqueza dos reis, e a colonização da América, que consolidou o poder internacional dos Estados, contribuíram para que o poder dos reis fosse aumentando gradativamente até que eles passaram a controlar todas as atribuições que existiam dentro do Estado, muito além dos poderes que eles 191 Figura 38 – O absolutismo encontra na figura do rei, a sua grande representação Figura 39 – Isaac Newton é visto pelos historiadores da ciência, como o homem que levou a revolução científica ao seu termo Fonte: HAWKING, 2005, p. 146. Em termos filosóficos, vimos que a Fonte: BUTLER, 2009, p. 9. Revolução Científica proporcionou o aparecimento de duas correntes filosóficas: o 3.2) A revolução científica e a maneira de pensar de Newton racionalismo (de Descartes) e o empirismo (de Francis Bacon). Estas correntes influenciarão toda a produção do conhecimento científico da Conforme descrito no capítulo anterior, o período da Revolução Científica (que se Idade Moderna e, portanto, servirão como base e fundamentação para o método de Newton. estende do final do século XV ao início do século XVII) caracteriza-se por um conjunto de intensas modificações e transformações no modo de Mas quais seriam então, as características desse método newtoniano de observação e análise da natureza? pensar e na maneira de conceber a produção do conhecimento científico e a relação homemnatureza. Todas essas modificações foram, gradualmente, marcando épocas distintas, influenciando filósofos e preparando o cenário para que o inglês Isaac Newton (1642 – 1727) e todos os demais cientistas dos séculos seguintes Por ser Newton o herdeiro natural das duas correntes filosóficas mais eminentes àquela época (a empírica e experimental, e a dedutiva e matemática), o seu método de análise e interpretação dos fenômenos apresenta dois aspectos bem fortes e definidos: um matemático e outro experimental. tivessem condições de formular e estabelecer novas teorias a respeito dos fenômenos da natureza. Na verdade, Newton é tido pelos historiadores da ciência, como o homem que levou a revolução científica ao seu termo. Assim como Copérnico, Kepler, Galileu e Descartes, Newton também atribuiu à matemática um papel de grande significação. Já pelo próprio título dado ao seu famoso livro “O Principia” (Princípios matemáticos da filosofia natural), fica evidente a sua constante esperança 192 de que todos os fenômenos naturais pudessem, maneiras específicas de raciocínio, que traduzem por fim, ser explicados por meio de argumentos e toda uma visão peculiar sobre a natureza, a demonstrações matemáticas. estrutura do universo, o modo como se deve diferentemente de seus No entanto, antecessores que investigar e, mais ainda, o que se deve procurar. acreditavam que todos os segredos do mundo Conhecidas como podiam ser completamente desvendados pelos newtoniana, métodos matemáticos, Newton afirmava que seguinte maneira: podem as regras ser da filosofia caracterizadas da [...] o mundo é o que é; enquanto leis matemáticas exatas puderem ser nele descobertas, ótimo; de outra forma, nós teremos de buscar a expansão da nossa matemática, ou contentarmo-nos com algum outro método. Regra I: “Não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que as que são tanto verdadeiras como suficientes para explicar as suas aparências.” (REALE ; ANTISERI, 2007, p.296). (BURTT, 1983, p.171). Figura 40 – O Principia de Newton, publicado em 1687, é constituído de três livros. Nos dois primeiros, ele apresenta os princípios básicos do movimento. No terceiro, ele aplica esses princípios ao movimento dos planetas, cometas, Lua e às marés Em outras palavras, essa regra traduz a idéia de que, na natureza, os eventos e os fenômenos são, em sua essência, simples. Dessa maneira, não há necessidade de se formular hipóteses complexas para explicá-los. Como uma consequência direta dessa premissa, tem-se exatamente a regra II do filosofar newtoniano, a saber: Regra II: “Por isso, tanto quanto possível, aos Fonte: HAWKING, 2005, p. 156. mesmos efeitos devemos atribuir as mesmas causas” (REALE ; ANTISERI, 2007, p.296). E este outro método, ao qual ele se refere, é o empírico ou experimental. Em Ótica: Na verdade, essa regra traduz a idéia da um tratado das reflexões, refrações, inflexões e uniformidade da natureza e permite a análise de cores da luz (1704), por exemplo, a utilização de fenômenos similares em locais e situações tal recurso se mostra evidente. Escrito na forma diferentes. Sendo assim, a compreensão de como de definições, axiomas, proposições e teoremas, a luz se reflete, por exemplo, na superfície da este livro tem, nas palavras do próprio autor, as Terra, permite que sejam feitas considerações a demonstrações desses teoremas e proposições respeito de seu comportamento na superfície dos baseadas em demonstrações por experiências. outros planetas. De modo análogo, pode-se Além desse viés matemático-empírico de demonstrações de fenômenos, o método estabelecido por Newton também sugere regras e estudar a questão da respiração no homem e nos animais, ou ainda a queda de pedras na Europa e na América. 193 A terceira regra também pode ser entendida raciocínio com a característica matemática- como parte do princípio da uniformidade e experimental do método, é possível identificar, apregoa que: três etapas principais no método de Newton. A primeira corresponde à simplificação dos Regra III: “As qualidades dos corpos que fenômenos pela realização de experimentos, de não admitem aumento nem diminuição de grau modo que se possa apreender e compreender que e que se descobre pertencerem a todos os características variam quantitativamente e de que corpos no interior do âmbito dos nossos experimentos devem ser forma ocorre essa variação. Os conceitos consideradas fundamentais de refringência e de massa (para a qualidades universais de todos os corpos.” Física), assim como alguns princípios básicos da (REALE ; ANTISERI, 2007, p.296). refração, do movimento e das forças foram todos Segundo Newton, como só é possível assim obtidos. conhecer as qualidades dos corpos através dos Em um segundo momento, deve-se proceder à experimentos, devem ser consideradas universais elaboração matemática de tais proposições, todas aquelas qualidades que se revelarem geralmente com o auxílio do cálculo, até que se concordantes em todos os experimentos e que consigam estabelecer relações matemáticas entre ainda não puderem ser diminuídas nem retiradas. elas. a Por fim, mas não menos importante, impenetrabilidade, o movimento e a inércia devem ser realizados experimentos exatos mais constituem, aprofundados para: Nesse sentido, a para extensão, Newton, a as dureza, qualidades universais ou fundamentais dos objetos. Por fim, na sua regra final, Newton • verificar a aplicabilidade das deduções; • reduzir as deduções iniciais e particulares a deduções mais gerais; estabelece aquele que entende ser o único método válido para alcançar e fundamentar as • detectar a presença e determinar o valor de quaisquer proposições da ciência: o método indutivo. causas adicionais (tais como as forças, na mecânica) que possam passar por Regra IV: “Na filosofia experimental, as proposições inferidas por indução geral dos fenômenos estritamente devem ser verdadeiras consideradas ou como como muito próximas da verdade, apesar das hipóteses contrárias que possam ser imaginadas, até quando se verifiquem outros fenômenos, pelos quais se tornem mais exatas ou então sejam submetidas a exceções. (REALE ;ANTISERI, 2007, p.298) Reunindo todas essas quatro regras de um tratamento quantitativo; • sugerir, nos casos em que não se consegue determinar uma explicação plausível para as causas adicionais dos fenômenos, uma expansão do aparato matemático. Verifica-se, portanto, que no início e no fim de toda etapa científica importante devem, segundo Newton, ocorrer experimentações. Isso porque este procedimento permite, não apenas a descoberta das características que possam ser expressas em linguagem matemática como, 194 também, a aplicação dessas relações descobertas fenômenos. Segundo ele, Deus está na origem a determinadas situações mais simples que das coisas: fez o universo, o homem, e formou a possibilitarão, por meio da indução matemática matéria de que são constituídos os corpos. Além (regra IV do filosofar de Newton), a previsão de disso, Deus colocou todas as coisas em ordem e seus efeitos em casos mais complexos. Trata-se, em movimento e é o responsável por corrigir as exatamente, do que Newton intitula de método da suas possíveis perturbações e por manter todas as análise e síntese. coisas funcionando, em harmonia. A ordem do É importante ressaltar ainda que, no mundo, portanto, evidencia a existência desse ser decorrer de todas essas etapas, e em especial nas inteligente e poderoso que está na origem de experimentais, Newton descarta a possibilidade todos os fenômenos. de levantar hipóteses. Em princípio, pode parecer A verdadeira compreensão do método de estranho que, em se tratando de experimentos, Newton, no entanto, vai muito além do mero não sejam elaboradas hipóteses. No entanto, por estabelecimento da ordem correta para o emprego hipótese, Newton compreende tudo aquilo que da matemática ou das experimentações no não dos processo de análise de um fenômeno. Na fenômenos e, dessa maneira, exclui de seu verdade, passa pela certeza de que Newton, na método, toda e qualquer elaboração de hipóteses. condição de um ser que estabelece relações com As particulares o meio, se apóia na realidade e na ciência e na deveriam, segundo ele, ser deduzidas dos filosofia de seu tempo para fazer uso da fenômenos matemática e também para elaborar e realizar as pode ser afirmações deduzido e diretamente proposições através das observações e experimentações e, em seguida, tornadas gerais pelo método da indução. Pelo que foi descrito anteriormente, percebe-se que o método de análise e síntese desenvolvido por Newton procura estabelecer explicações científicas satisfatórias para os fenômenos naturais em termos de como acontecem, que grandezas estão envolvidas e quais as relações matemáticas entre elas. As questões referentes às origens ou às causas de cada um desses fenômenos, no entanto, que não podem ser extraídas diretamente das observações e dos experimentos, não são exploradas por este método da análise e síntese. Na argumentos conseguir verdade, Newton filosóficos explorar e utiliza-se teológicos algumas causas de para dos experimentações de que necessita. 195 Atividade 4 – O raciocínio de Newton frente importante mencionar que antes mesmo de ao fenômeno da dispersão da luz branca. explicar o fenômeno da dispersão, Newton (com base em seus trabalhos e em de outros cientistas) a já havia definido alguns termos e estabelecido explicação dada por Newton para o fenômeno da alguns axiomas relacionados à ótica, que dispersão da luz branca (evidenciado na atividade serviram de embasamento teórico para a sua 1) foi elaborada a partir de uma simples teoria. Dentre eles, vale destacar a definição para observação da passagem da luz através do cor de uma luz Algumas pessoas acreditam que prisma. No entanto, uma leitura mais atenta de seus artigos publicados (em 1672) e do seu livro Ótica (1704), nos revela que o caminho seguido foi bem diferente: na tentativa de elucidar o fenômeno, Newton realizou uma série de outros experimentos e empregou argumentos teóricos, baseados em suas idéias filosóficas a respeito do universo e da natureza, conforme veremos a Cores não são qualificações da luz derivadas de refrações ou reflexões dos corpos naturais (como é geralmente acreditado) mas propriedades originais e inatas que são diferentes nos diversos raios; e a idéia de que Raios com cores distintas apresentavam graus de refringência também diferentes ou, seja, seguir. que cada raio com cor diferente, se refratava de Texto I - Fatos e experimentos que antecederam a explicação da dispersão da luz branca. modo diferente. Na verdade, essa proposição foi formulada a partir de experimentações efetuadas com prismas. Para a correta compreensão dos Em uma delas, Newton pegou um pedaço argumentos utilizados por Newton na explicação retangular de papel cartão preto, de lados do fenômeno, é preciso ter em mente que todos paralelos, e traçou uma reta perpendicular os experimentos realizados e que toda a (paralela ao lado de menor comprimento), seqüência e o encadeamento lógico empregados dividindo-o em duas partes iguais DHGF e FGEJ. não ocorrem para Newton como em um passe de Feito isso, pintou uniformemente uma das partes mágica. Ao contrário, são elementos de um com uma cor azul intensa (DFGH) e a outra com processo de construção do conhecimento, para o uma cor vermelha (FGEJ), também intensa. Em qual contribuem os estudos feitos por outros seguida, em um quarto escuro, deixou que a luz cientistas e o avanço científico atingido até o solar passasse pela janela e atingisse o cartão momento. colorido, que estava sendo por ele observado através de um prisma. Repare que os lados A) A relação entre cor e refração maiores (DJ e HE) do cartão foram posicionados paralelamente às arestas (aA, bB, cC) do prisma. Diante das considerações anteriores, é 196 Figura 41 – Newton estuda as cores do cartão (DE) para δε , tendo agora a parte azul (δγ ) mais abaixo do que a vermelha ( φε ). (FIG. 42) Com base nessa observação, Newton afirmou que as luzes que apresentam cores diferentes, são também diferentes em graus de refrangibilidade.3 Mas, por que será que Newton chegou a essa conclusão? Pela montagem do experimento, tem-se Fonte: NEWTON, 2002. que a luz solar atinge o cartão, sendo por ele Figura 42 - Newton e a experiência com o cartão refletida. Nesse processo, apenas as cores azul e vermelha (que estão no cartão), são enviadas ao prisma. Ao atravessar esse sólido, os raios luminosos sofrem duas refrações: na passagem do ar para o prisma e, deste, para o ar novamente. O observador (no caso o próprio Newton) recebe, então, os raios luminosos oriundos dessas refrações e percebe uma imagem do objeto iluminado (cartão). Modificando-se o posicionamento do Fonte: NEWTON, 2002. prisma (para cima ou para baixo), verifica-se que toda a imagem do cartão também é deslocada, Agindo dessa maneira, Newton permitia que a luz solar, ao atingir o papel, fosse refletida e enviada diretamente para o prisma e, deste, para o seu olho. Girando o prisma em torno de seu eixo (que é uma reta imaginária que passa pelo meio do prisma, sendo paralela às arestas aA, bB, cC), o cientista observou que o papel visto através do prisma parecia ter as suas cores mas não de uma mesma maneira. A parte pintada de azul, que corresponde à imagem proporcionada pelo raio luminoso que atingiu a região azul do cartão e tem, portanto, cor azul, apresenta-se sempre com um maior desvio (para cima ou para baixo) do que a vermelha. Essa diferença nos desvios é explicada por Newton, como resultante de diferenças nas refrações. O separadas. Quando o movimento rotacional era para cima, todo o papel se deslocava para cima (posição de), sendo que a metade azul atingia uma posição mais elevada (dg) do que a vermelha (fe). Por outro lado, quando a rotação era efetuada para baixo, o papel cartão novamente era deslocado de sua posição inicial 3 O termo refrangibilidade é empregado por Newton para indicar uma propriedade específica dos raios luminosos: aqueles mais refrangíveis são os que apresentam um maior desvio na refração. Em contrapartida, o termo refringência é empregado em referência a uma propriedade das substâncias transparentes. Isso significa que uma substância mais refringente, é aquela que produz um maior desvio dos raios luminosos. 197 Figura 43 – A refração da luz raio luminoso azul (oriundo da parte pintada de azul do cartão) sofre sempre uma maior refração (para cima ou para baixo) do que o raio luminoso vermelho e, por esta razão, Newton concluiu que luzes com cores diferentes irão sempre apresentar diferentes comportamentos ao serem refratadas, ou seja, terão diferentes graus de refringência (ou Fonte: SÓ FÌSICA, 2009 diferentes graus de refrangibilidade). Essa idéia, que é anterior às discussões senθ1 = cons tan te . senθ 2 propriamente relacionadas ao fenômeno da dispersão é extremamente importante, já que toda a argumentação estará nela baseada. Dessa maneira, com base nessa lei, Newton mostra que existia uma única posição para o prisma, conhecida como posição de desvio B) A posição de desvio mínimo do prisma e a sua importância mínimo, na qual o desvio sofrido pelo raio refratado era mínimo, ou seja, uma posição na qual o ângulo de desvio, isto é, o ângulo formado Outra questão que está intimamente relacionada às experiências realizadas com prismas e que evidencia a utilização de um conhecimento prévio por Newton (tanto matemático quanto da própria ótica), diz respeito ao posicionamento do sólido, frente ao feixe luminoso. Ao contrário do que se possa pensar, pelo raio incidente e pelo raio emergente, era mínimo. Na figura 44, por exemplo, este ângulo está representado por δ e indica o quanto o raio incidente PQ foi desviado de sua posição original (linha tracejada). Figura 44: Identificação dos ângulos com que um raio incide e emerge de um prisma, quando ele se encontra na posição de desvio mínimo Newton não segurou o prisma em uma posição qualquer. Ele utilizou uma posição específica, cujas características já lhe eram familiares e conhecidas. Na verdade, como Newton era um profundo estudioso das idéias de Descartes a respeito da refração, passa a utilizar a lei de Fonte: SILVA, 1996, p.12. Snell-Descartes em suas demonstrações. Por ela, tem-se que o seno do ângulo de incidência (θ1 ) está para o seno do ângulo de refração (θ 2 ) em uma certa razão muito precisa ou muito aproximada, isto é, Mas qual seria então, a importância de se colocar o prisma, durante a execução do experimento, na posição de desvio mínimo? É que, segundo as demonstrações matemáticas de Newton, era possível prever o formato da imagem do sol, quando o prisma 198 estivesse nessa posição. Com efeito, seja EG Dessa maneira, antes mesmo de realizar o (FIG. 45) a janela na qual é feito um orifício F, experimento, e com base apenas nas evidências ABC uma seção transversal do prisma, XY o sol, fornecidas pelas teorias da matemática e da ótica, MN o papel colocado na parede e sobre o qual o Newton já tinha uma noção do que iria verificar. espectro é projetado, PT a própria imagem cujos lados v e w são retilíneos e paralelos e cujas Como encontrar a posição de desvio extremidades P e T são semicirculares. Considere mínimo ainda que XLJT e YKHP sejam dois raios: o Em seu livro Ótica (1704), Newton nos ensina a encontrar a posição de desvio mínimo para o prisma, executando rotações em torno de seu eixo. primeiro tem origem na região superior do sol e vai até a parte mais baixa da imagem, e o outro se origina da região inferior do sol e vai até a parte mais alta da imagem. Pela lei de Snell-Descartes, Newton afirma que as refrações nos dois lados do prisma são iguais. Isso significa que a refração do raio que atinge K é igual à do que incide em L, da mesma maneira que o raio em H sofre uma refração igual à do raio que chega em J. Dessa maneira, a seqüência de refrações KH sofrida pelo raio .....Ao redor do eixo girei o prisma lentamente e vi a luz refratada na parede (ou seja, a imagem colorida do sol) primeiro descer, depois subir. Entre a subida e a descida, quando a imagem parecia estacionária, detive o prisma e fixei-o naquela posição, para que não se movesse mais. Pois nessa posição tínhamos um desvio mínimo do raio refratado. Figura 46: Newton realiza o experimento da dispersão da luz branca YKHP, é a mesma que a seqüência LJ, sofrida por XLJT. Conseqüentemente, os dois raios têm, entre eles, a mesma inclinação (ângulo) antes e depois de serem refratados (inclinação esta que corresponde ao diâmetro do sol) e, portanto, o comprimento da imagem PT deveria ser igual à largura vw, o que corresponderia a uma imagem projetada no formato circular, semelhante ao sol. Figura 45: Detalhe da imagem oblonga obtida após a refração Fonte: BIOGRAFIA de Isaac Newton, 2011. C) Um resultado inesperado Munido dessas informações a respeito do posicionamento adequado do prisma e das características da imagem a ser encontrada, Fonte: NEWTON, 2002, p.57 Newton realiza então o experimento. 199 Figura 47 - Representação esquemática do experimento de Newton teórica e a observação experimental, Newton sugere algumas modificações: ao invés de afirmar que os raios K e L, H e J (veja figura 45) sofriam os mesmos desvios, ele propõe que eles teriam sofrido desvios diferentes, e usa esse fato para justificar o aparecimento de uma imagem alongada. Além disso, como tal imagem era Fonte: NEWTON, 2002. vermelha na extremidade menos refratada T, Em uma sala bem escura coloquei em um orifício circular de 1/3 de polegada de diâmetro que fiz na folha da janela um prisma de vidro (na posição de desvio mínimo) por onde o feixe da luz solar que entrasse pelo orifício pudesse ser refratado para cima em direção à parede oposta da sala, formando ali uma imagem colorida do sol. (FIG.47) violeta na extremidade mais refratada P e verde amarelado e azul nos espaços intermediários (FIG.49), Newton ainda conclui que os raios de coloração violeta, que se dirigiram para a extremidade superior P da imagem, sofreram o maior desvio e, portanto, foram mais refratáveis do que os outros que seguiram para a No entanto, contrariando as expectativas previstas pela teoria, a imagem obtida do sol não tinha um formato circular. Ao contrário, extremidade inferior T. Figura 49 - Identificação das cores obtidas na imagem oblonga caracterizava-se por ser alongada e ter os lados nitidamente delimitados. A imagem era oblonga e não circular, e terminada por dois lados retilíneos e paralelos e duas extremidades semicirculares. Tinha os lados nitidamente delimitados, mas suas extremidades o eram muito confusa e indistintamente, pois a luz ali diminuía e desaparecia gradualmente. Figura 48 - Imagem oblonga encontrada Fonte: ESPECTRO, 2011. Dessa maneira, com essa experiência, fica apenas reafirmado um resultado que Newton já havia obtido em experimentos anteriores: que raios com cores diferentes, apresentavam graus de refrangibilidade também diferentes. Restava ainda, no entanto, explicar a origem desses raios com cores diferentes. A abertura do orifício na janela, a distância em que o anteparo havia sido posicionado, a espessura do vidro da janela, e o próprio material do prisma, Fonte: IMAGEM oblonga, 2011. Disponível em. 2012 não poderiam ter gerado essa imagem colorida e oblonga do sol? Diante dessa contradição entre a previsão 200 Texto I – Refletindo sobre o texto 1) De acordo com as informações fornecidas no texto, você diria que o experimento realizado por Newton foi casual, isto é, aconteceu sem nenhum conhecimento prévio? 2) Que evidências confirmam ou contradizem essa idéia? Explique sua resposta. 3) O que é a posição de desvio mínimo do prisma, e qual a sua importância dentro do experimento? 4) Qual foi o fato inesperado para Newton quando da realização do experimento? Por que? Texto II - Compreendendo o fenômeno observado Figura 50 - Representação esquemática do experimento realizado por Newton utilizando dois prismas em posições cruzadas Com o intuito de verificar se alguma das influências externas citadas anteriormente poderia ser apontada como a responsável pelo Fonte: NEWTON, 2002, p.60 aparecimento dos raios com cores diferentes, Pelo Newton repete o experimento alterando o posicionamento cruzado dos tamanho do orifício da janela, a distância entre prismas, Newton esperava que o formato o anteparo e o prisma e, principalmente, oblongo fosse agora substituído por uma utilizando materiais mancha quadrada. Com efeito, se a imagem PT diferentes. E em todas essas tentativas, obtém fosse dividida em cinco partes menores, PQK, os mesmo resultados: uma imagem oblonga e KQRL, não circular do Sol. acreditava-se que cada uma delas fosse prismas Decide então feitos de verificar o que aconteceria se mais de um prisma fosse LRSM, MSVN, NVT, (FIG.50) dilatada em uma direção transversal (já que os prismas estavam assim posicionados) utilizado no experimento. Para tanto, coloca originando, respectivamente, as regiões p π qk, outro prisma (DH) logo depois do primeiro kqrl, lrsm, msvn e nvt τ e provocando, dessa (ABC) em uma posição cruzada, de modo que maneira, o aparecimento de uma mancha pudesse refratar novamente o feixe de luz que quadrada t π p τ . chegava até ele, vindo do primeiro prisma (FIG. 50). No entanto, como a própria figura 50 evidencia, a imagem finalmente projetada pt não se alarga pela refração no segundo prisma. 201 a raio incidente passar por um primeiro prisma extremidade superior p mais transladada que a ABC e produzir um espectro colorido sobre um extremidade inferior t, indicando que a luz anteparo DE (uma das tábuas finas) (FIG.52). violeta que aí se observa se refrata, novamente, Como há, nesse anteparo, um furo central, mais que luz vermelha, encontrada em t. Além apenas a parte do espectro colorido que incidir disso, os lados que em PT eram paralelos, nessa região conseguirá passar e atingir o retilíneos permanecem segundo anteparo de. O orifício dessa tábua exatamente dessa forma em pt, só que agora restringirá, portanto, a passagem do raio que, oblíquos em relação à posição inicial. conseguindo finalmente atravessar o orifício, Ela apenas e fica mais bem oblíqua, definidos, com Por este experimento, fica então incidirá sobre um segundo prisma abc, aí ratificado o fato de que raios com cores colocado. Saindo desse prisma, o raio será diferentes finalmente conduzido a um anteparo MN. apresentam refrangibilidades diferentes, sendo que o mais refrangível ao Figura 52 - Identificação dos elementos utilizados no experimentum crucis atravessar um prisma, demonstra essa mesma propriedade ao passar pelos demais. Ainda na tentativa de encontrar uma explicação para o aparecimento dos raios com cores diferentes, Newton organiza um novo Fonte: Fonte: NEWTON, 2002, p.67 experimento, no qual utiliza dois prismas e duas tábuas finas, no centro das quais são Nessa montagem é importante ressaltar feitos orifícios menores que o da janela, para que os três anteparos DE, de e MN e o segundo permitir a passagem da luz. Esse experimento prisma abc estão fixos, não podendo sofrer é conhecido como o experimentum crucis quaisquer translações ou rotações. Apenas o (experiência crucial), uma vez permitirá a prisma ABC podia ser girado em torno de seu Newton estabelecer propriedades importantes a eixo, para permitir a Newton a seleção da parte respeito das cores dos raios de luz. do espectro que incidirá sobre DE. Figura 51 - Representação esquemática do experimentum crucis de Newton Alterando o posicionamento de ABC, Newton percebe que, para qualquer situação, o segundo prisma não modificava a cor do feixe que chegava até ele, isto é, não provocava um nova separação mas, sim, apenas uma mancha em MN da cor selecionada. Fonte: NEWTON, 2002, p.66 Com essa montagem, Newton faz o 202 Figura 53 - Representação esquemática do experimentum crucis. A cor violeta não é alterada ao passar pelo segundo prisma Além disso, cada um desses tipos de luz apresentaria uma propriedade inata conhecida como cor. As luzes simples, por exemplo, teriam cores primárias (que, para Newton, corresponderiam às projetadas no anteparo após a passagem da luz pelo primeiro prisma e eram Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Púrpura-violeta, Laranja, Índigo e uma variedade indefinida de gradações Fonte: GONÇALVES, 2002, p.262. intermediárias) e as luzes heterogêneas teriam Tal constatação evidencia dois cores compostas. aspectos. O primeiro deles diz respeito à Isso significa que, pelo experimentum impossibilidade de o prisma criar as cores do crucis, o feixe de luz solar que atinge o espectro. Se assim o fosse, a refração no primeiro prisma pode ser classificado como segundo prisma não manteria a mesma cor e, uma luz heterogênea ou composta (já que sim, apresentaria (criaria) outras. O segundo, apresenta raios diferentemente refratáveis) e a diz respeito à existência de comportamentos sua coloração branca, pode ser vista como uma distintos para raios luminosos que atravessam cor composta. Já o feixe luminoso que atinge o prismas. O primeiro raio, que correspondia à segundo prisma, é uma luz homogênea, de cor luz solar branca, é separado em várias cores ao primária, visto que apenas uma cor é passar por ABC. Já aquele resultante da encontrada; o que indica, portanto, a presença passagem pelos anteparos, não apresenta de um raio luminoso com mesmo grau de nenhuma separação ao emergir de de. refrangibilidade. À medida que Newton modifica o A teoria das cores de Newton: alguns posicionamento do primeiro prisma ABC, ele princípios básicos consegue selecionar feixes diferentes para incidir sobre o segundo dispositivo óptico. Esse comportamento diferenciado dos Para cada uma das cores Vermelho, Amarelo, raios evidenciado pelo experimentum crucis, Verde, Azul, Púrpura-violeta, Laranja, Índigo, permite a Newton desenvolver uma teoria a entretanto, o resultado obtido é sempre o respeito mesmo: o feixe que emerge do segundo dessas cores. Inicialmente, ele estabelece a existência de dois tipos diferentes prisma, apresenta apenas uma cor. de luzes: a luz homogênea ou simples, e a luz Sendo assim, fica evidenciada a heterogênea ou composta. A primeira seria existência das cores primárias e comprovado o constituída por raios igualmente refratáveis e, a fato de que elas não são criadas pelo prisma. No entanto, para Newton, ainda segunda, pelos raios com diferentes graus de refrangibilidade. restava uma questão que precisava ser 203 elucidada: a certeza de que as cores primárias das cores primárias. No entanto, para que a sua estariam presentes na luz branca antes mesmo afirmação de que “a luz branca é composta por que ela sofresse a primeira refração e que, cores portanto, não teriam sido produzidas no refrangibilidades” pudesse ser efetivamente experimento. Se ele conseguisse efetivamente proferida, restava uma grande questão: mostrar mostrar que essas cores já estavam presentes que as “duas” luzes brancas (a solar incidente na luz branca antes mesmo da realização do sobre o primeiro prisma e a emergente do experimento, então ele poderia afirmar ser a segundo) luz branca composta por cores primárias com propriedades. primárias com apresentavam diferentes as mesmas diferentes graus de refrangibilidade, que O problema é que, pela realização de apenas se separariam (dispersão) quando experimentos, Newton não conseguia obter postas a atravessar um prisma. informações conclusivas a respeito das características dessas luzes brancas. Para resolver esse entrave, o cientista A contribuição do fenômeno da composição opta da luz branca então por utilizar um argumento epistemológico (e não experimental), baseado últimas na sua maneira peculiar de conceber a outro natureza, o universo e a maneira de se experimento. Em um quarto escuro, ele faz um investigá-lo. Este argumento está de acordo orifício F na janela para permitir a passagem com as seguintes regras do método newtoniano da luz solar. Próximo a esse orifício, é de raciocinar: colocado um prisma e, logo depois, um outro • Regra I: “Não devemos admitir mais causas prisma em posição invertida (FIG. 54) e um para as coisas naturais do que as que são papel branco DE, para servir como anteparo. tanto verdadeiras como suficientes para Figura 54 - A composição da luz pela associação de dois prismas explicar as suas aparências.” (REALE e Tentando respostas, encontrar Newton realiza essas um ANTISERI, 2007, p.296). • Regra II: “Por isso, tanto quanto possível, aos mesmos efeitos devemos atribuir as Fonte: LUZ, 2005, p.207. mesmas causas” (REALE e ANTISERI, 2007, p.296). Ao passar pelo primeiro prisma, a luz branca heterogênea é decomposta nas cores Sendo assim, embasando-se nos primárias. Estas, por sua vez, ao atravessarem princípios da simplicidade e da uniformidade o segundo prisma são combinadas e produzem, da natureza, Newton afirma que a luz solar no anteparo, uma luz branca. branca e a luz branca resultante da composição Newton mostra então que uma luz das cores primárias deveriam ser as mesmas. branca poderia ser produzida pela combinação Na verdade, ele não via motivo para introduzir 204 uma distinção entre os dois tipos de luz branca, conforme já afirmado anteriormente, visto que ambas estavam envolvidas em um fenômeno da dispersão da luz branca. mesmo fenômeno. Dessa maneira, se a luz solar e a luz obtida diretamente da composição das cores primárias eram iguais, então poder-se-ia finalmente afirmar que a luz solar branca é uma composição de cores com diferentes refrangibilidades que, ao atravessarem um prisma, sofrem diferentes desvios sendo, portanto, separadas. E essa separação constitui, Texto II – Refletindo sobre o texto 1) Quais são as evidências obtidas por Newton com a realização do experimentum crucis? 2) A experiência da composição da luz branca permitiu a Newton concluir que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades? Por quê? 3) Que tipo de argumento Newton utiliza para, finalmente, concluir que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades? Explique-o. o 205 Atividade 5 – Verificando a composição da luz branca Conforme mencionado no texto II da atividade anterior, o experimento da composição da luz branca realizado por Newton, permitiu a ele afirmar que as cores primárias já existiam, de fato, na luz branca, contribuindo para a afirmação final, mediante a utilização de argumentos epistemológicos, de que a luz branca era, na verdade, uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. Nessa atividade 5, vamos mostrar como podemos, de fato, obter a luz branca, mediante a composição de luzes com cores diferentes. Para tanto, serão apresentadas 2 experiências simples que poderão ser realizadas de acordo com as orientações dadas e com base nas informações fornecidas abaixo. Um pouco de teoria Nas experiências a seguir, será importante estabelecer uma diferença entre mistura de cor de luz e mistura de cor de pigmento. Figura 55 – As diferentes misturas de cores. À esquerda, tem-se a mistura de cores de luz, e à direita vemos a mistura de cores de pigmento Fonte: Arquivo pessoal Fonte: NOURSE, 1969, p. 154. Com efeito, conforme a definição dada pelo próprio Newton (veja texto I da atividade 4) a cor de uma luz é uma propriedade original e inata do raio de luz, não sendo o resultado de modificações decorrentes das reflexões ou refrações. 206 Por outro lado, a cor de um pigmento, que também pode ser traduzida como a cor de um objeto, é o resultado da interação da luz com certas substâncias orgânicas e inorgânicas, conhecidas como pigmentos da tinta. Estas sustâncias, assim como todos os demais objetos coloridos que nos rodeiam, ao serem atingidos pela luz branca refletem determinadas cores e absorvem outras. É o que denominamos de processo de mistura de cores por subtração. O pigmento amarelo (FIG. 56), por exemplo, não reflete apenas o amarelo mas, também, vermelho e verde, absorvendo as demais. O ciano, por sua vez, reflete verde, azul e violeta e absorve as outras. Figura 56 – A cor de cada pigmento de tinta é determinada pela cor da luz refletida pelas partículas orgânicas e inorgânicas existentes nesse pigmento Fonte: GRAVINA, 2002, p. 273. Um vez refletidos, esses raios luminosos podem se misturar (mistura de cor de luz), em um processo agora denominado de mistura de cores de luz por adição, e originar novas cores. A mistura de luzes e a de pigmentos resulta, portanto, em dois processos bem distintos. Enquanto o primeiro é uma superposição apenas entre as luzes no olho e, portanto, um processo aditivo (pois as cores se somam), o segundo é uma interação seletiva entre luz e matéria e, portanto, subtrativo. Por isso é que os seus resultados são tão diferentes. Misturando luzes de cor amarelo e azul, por exemplo, obtém-se a cor branca. Se forem pigmentos amarelo e azul, a cor encontrada será verde. (É provável que você já tenha verificado este fato utilizando lápis de cor ou canetas do tipo hidrocor). Vale a pena ressaltar que os resultados obtidos na interação cor-luz x cor-pigmento nem sempre são satisfatórios, porque em geral os pigmentos utilizados são impuros e as fontes de luz colorida são, na verdade, luz branca que atravessa um determinado filtro. Nas experiências a seguir, você terá a oportunidade de verificar esses dois processos de mistura de cores. 207 Experiência 1 – Compondo outras cores Nessa experiência, você poderá verificar o fenômeno da composição da luz branca estudado por Newton. No entanto, ao invés de obter o branco pela mistura de todas as cores que emergem de um prisma e logo em seguida são recombinadas em um novo prisma em posição invertida, você será capaz de conseguir o mesmo efeito utilizando apenas três cores (vermelho, verde e azul) e uma montagem experimental um pouco diferente. Na verdade, sabe-se que combinações de quantidades diferentes de cada uma dessas três cores são capazes de originar todas as demais cores visíveis ao ser humano. Por esta razão, o verde, o vermelho e o azul são conhecidos, como luzes de cores primárias. Sendo assim, neste experimento, será preciso construir um “canhão de luzes primárias” ou utilizar um conjunto de três luminárias, conforme descrito abaixo. • Objetivo da atividade: Obter a luz branca a partir da composição das cores primárias: vermelho, verde e azul; Explorar as combinações das cores de luz para encontrar as cores secundárias; Compreender o que acontece na determinação das cores dos objetos. • MATERIAIS UTILIZADOS Para o canhão de luzes primárias Uma caixa de madeira com aproximadamente 40 cm x 25 cm x 20 cm; Lâmpadas coloridas e iguais, nas tonalidades azul, vermelho e verde. (Para a realização dessa experiência, foram utilizadas lâmpadas fluorescentes, de 15W); 3 bocais para lâmpadas; Uma placa de madeira de aproximadamente 15 cm x 15 cm; 1 plugue comum; 6 m de fio secção 1mm²; Fita isolante; Um pedaço de papel cartão preto de aproximadamente 67 cm x 47 cm; Uma mesa para apoio Anteparo (cartolina branca ou uma parede branca); Retângulos de papel cartão nas cores branca, vermelha, azul, verde, amarela e preta. 208 Para a versão das luminárias Três luminárias iguais (de preferência com pé); Lâmpadas coloridas e iguais, nas tonalidades azul, vermelho e verde. (Para a realização dessa experiência, foram utilizadas lâmpadas fluorescentes, de 15W); Papel cartão preto; Régua de tomadas ou um benjamim, para permitir a conexão das três luminárias, caso não existam várias tomadas próximas. Elásticos (gominhas) de escritório Uma mesa para apoio Anteparo (cartolina branca ou uma parede branca); Retângulos de Papel cartão nas cores branca, vermelha, azul, verde, amarela e preta. • MONTAGEM Do canhão de luz Inicialmente, monte o circuito (figura 57) elétrico conforme o esquema ao lado. Para cada lâmpada existirá um interruptor, a fim de que possam ser ligadas e desligadas alternadamente. Em seguida, fixe os três bocais na placa de madeira de 15 cm x 15 cm, de modo a formarem um triângulo (figura 58). Figura 57 – Circuito elétrico da caixa Fonte: GREF, 1991, p.68. 209 Essa placa, por sua vez, deve ser afixada no interior da caixa de madeira, sendo que os interruptores devem ser aí também posicionados. (Esse procedimento não é essencial para a realização da atividade. Apenas facilita o transporte e o manuseio do equipamento). Figura 58 – Posicionamento das lâmpadas dentro da caixa Fonte: Arquivo Pessoal Feito isso, posicione a caixa conforme mostra a figura 59 e enrole o papel cartão, de maneira a construir um cilindro de aproximadamente 40 cm de altura e revestido, internamente, com a cor preta (FIG. 60). Com este cilindro, envolva a placa que contém as lâmpadas. Figura 59 Figura 60 Fonte: Arquivo Pessoal Fonte: Arquivo Pessoal Por fim, coloque a caixa sobre a mesa e aponte o cilindro de papel para o anteparo branco ou para a parede. O canhão de luz estará pronto para ser usado. Da versão das luminárias Coloque as lâmpadas nas luminárias e posicione-as sobre a mesa, próximas a uma parede branca, que servirá como anteparo. Com a cartolina preta, faça cilindros de aproximadamente 20 cm de altura e fixe-os, com a ajuda dos elásticos de escritórios, nos bocais das luminárias. Estes cilindros ajudarão a direcionar o feixe de luz. Energize cada uma dessas luminárias (mantendo o interruptor na posição desligado). A fim de melhorar o efeito desejado, distribua as luminárias uma ao lado da outra ao longo de 210 uma cunha esférica, de modo que os feixes emergentes da cada uma delas se concentrem em uma determinada região da parede (anteparo). • PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL Parte I – Compondo outras cores A atividade tem início com todas as lâmpadas apagadas e deve ser realizada em um ambiente escuro. Em um primeiro momento, ligue, de duas em duas, as lâmpadas, fazendo com que as luzes de cada uma delas se sobreponham. 1) O que você observa? Registre sua resposta. Em seguida, ligue as três lâmpadas e as mantenha acessas. 2) O que acontece? As colorações obtidas pela mistura de duas cores primárias são as chamadas cores secundárias. Na estrela ao lado (FIG. 61), a mistura de duas cores primárias origina a cor secundária posicionada entre elas. Figura 61 – Cores secundárias Fonte: GREF, 1991. 3) De posse dessas informações, complete a tabela a seguir: Tabela 1 - Resultados para a composição das cores primárias Cor Cor Cor Cor Verde + Azul + - = Verde + Vermelho + - = Azul + Vermelho + Verde = Fonte: GREF, 1991. 4) Esta experiência se assemelha, em algum aspecto, à experiência da composição da luz realizada por Newton e descrita na atividade 4? O que a diferencia? 211 Parte II – Estudando as cores dos objetos Para que você compreenda como são obtidas as cores dos objetos, vamos iluminar (utilizando o canhão de luzes ou as luminárias), alternadamente, cada um dos seis retângulos de papel cartão com as luzes vermelha, verde, azul e branca. Suponha, por exemplo, que o cartão vermelho seja o primeiro escolhido. Acenda a luz vermelha e o ilumine com ela. Anote a cor encontrada. Apague a luz vermelha e ilumine-o com a azul e depois com a verde. Por fim, ilumine-o com a luz branca, isto é, acenda todas as luzes primárias. Anote os resultados obtidos. Repita este procedimento com cada um dos 5 cartões restantes, complete a tabela abaixo e responda ao que se pede. Cor do cartão quando observado com luz Cartão branca vermelha azul Verde vermelho branco verde azul amarelo preto 5) Os dois processos de mistura de cores (por adição e subtração) estão presentes nessa experiência? Em caso afirmativo, identifique os momentos em que eles ocorrem. 6) O que acontece com o cartão de cor branca, quando iluminado por cada uma das cores primárias, separadamente? O que isso significa? 7) E o cartão da cor preta? Que modificações são percebidas quando ele é iluminado pelas cores primárias? E pela branca? 8) Considerando que o pigmento amarelo reflete as cores verde, vermelho e amarelo, por que enxergamos apenas a coloração amarela? Experiência 2 – O disco de Newton Nessa experiência será verificada a composição da luz branca, utilizando um outro aparato experimental, diferente do empregado pelo Newton. 212 Para a construção desse aparato, você precisará ter em mãos os materiais relacionados abaixo. • MATERIAIS Furadeira manual; Adaptador do disco de polimento de uma furadeira (figura 62); Figura 62 - Adaptador o disco da furadeira Fonte: ADAPTADOR ..., 2011. Folha de papel ofício branca; Papel cartão bem grosso (ou um Lp antigo, cujo furo central permita a fixação na furadeira); Giz de cera, caneta hidrocor ou tinta guache nas cores vermelho, verde, azul escuro, azul claro (anil), amarelo, laranja e violeta (roxo). Compasso; Régua; Lápis; Transferidor; Cola. • PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL Com o auxílio do compasso e da régua, desenhe uma circunferência de aproximadamente 20 cm de diâmetro. Em seguida, trace o diâmetro dessa circunferência e, a partir dessa linha e utilizando o transferidor, divida a circunferência em 21 setores circulares de aproximadamente 17° cada. 213 Figura 63 - O disco de Newton Fonte: SEARA da ciência..., 2011. Pinte os sete primeiros setores com as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul escuro, anil (azul claro) e violeta e, depois, repita a sequência nessa mesma ordem, até que todos os setores tenham sido preenchidos. Cole o disco colorido em um círculo de papel cartão bem grosso. Se preferir, pode-se utilizar um pedaço circular de uma caixa de papelão. Feito isso, coloque o disco de Newton na furadeira utilizando o adaptador para os discos de polimento dessa ferramenta, e ligue-a. 1) O que você observa? 2) Por que a coloração encontrada é um pouco diferente da desejada? 3) A invenção do disco de Newton é atribuída, em alguns materiais didáticos, ao próprio físico Isaac Newton. Com base no estudo feito na atividade 4 da sequência de experimentos desenvolvidos por este cientista, você concordaria com essa afirmação? Justifique? 4) Em que aspectos esta experiência de aproxima daquela realiza por Newton para obter a composição da luz branca? Em que aspectos se difere? 214 REFERÊNCIAS ADAPTADOR. 2011. Disponível em <http://mail.artesanatonarede.com.br/feira/?pg=artesao &feira=93&subpg=cat&cat_id=76&item_prim_sol=620>. Acesso em: 05 fev. 2012. ARCO-ÍRIS. Disponível em: <http://www.not1.com.br/wp-content/uploads/2010/10/coresdo-arco-iris.jpg>. Acesso em: 12 dez. 2011. BACON, Francis. 2011. Disponível em: <http://paintingandpainterinfmo.blogspot.com/2011/ 06/great-english-philosopher-sir-francis.html>. Acesso em: 04 fev. 2012. BERGAMINI, David. O universo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. BIOGRAFIA de Isaac Newton. 2011. Disponível em: <www.olhandoacor.web.simplesnet.pt/ newton_exp.jpg>. Acesso em: 04 fev. 2012. BURTT, Edwin A. As bases metafísicas da ciência moderna. Brasília: Editora da UnB, 1983. 267 p. BUTLER, Charles Ernest. Rei Arthur, óleo sobre tela, 1903. In: HISTÓRIA viva. São Paulo: Duetto Editorial. 2009 (Coleção especial grandes temas: Cavaleiros; n. 26). CARNEIRO, Eduardo de Araújo; CARNEIRO, Egina Carli de Araújo Rodrigues. Reforma protestante: diálogos e duetos. Disponível em: <http://www.duplipensar.net/images/religiao/ martinho-lutero-01.jpg>. Acesso em: 19 jan. 2011. CARNEIRO, R. D. História. Belo Horizonte: Lastro Editora Ltda, 2007. (Coleção Soma, 1ª série ensino médio: v.1). DIAMANTE. Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/_3W5XAatQ_gs/SDivagJVtmI/AA AAAAAAAA8/x4kpk8MeDd0/s200/CZ_brilliant.jpg>. Acesso em: 12 dez. 2011. ESPECTRO. 2011. Disponível em: <http://farm4.static.flickr.com/3600/3292522739_f7ecfb 669b.jpg>. Acesso em: 04 fev. 2012. FUNDAMENTOS da história da astronomia. 2011. Disponível em: <www.astromia.com/ fotosolar/fotos/sistemasolar.jpg>. Acesso em: 19 jan. 2011. GIORGIO VASARI. Cosimo estuda a conquista de Siena (1553-1555) com as Alegorias da Vigilância e da Paciência. Florença, Palazzo della Signoria. In: ARTE em crise na Europa das cortes. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v. 5). GIORGIONE OU TIZIANO. Duplo retrato Ludovisi. Óleo sobre tela, 1502-1509. Roma, Museo di Palazzo, Venezia. In: A IDADE de ouro. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v. 4). GIOVANNIBELLINI. Jovem em sua toilete, 1515.Viena, Kunsthistorisches Institut. In: A IDADE de ouro. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v.4). 215 GONÇALVES Filho, Aurélio; TOSCANO, Carlos. Física: para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2002. GRAVINA, Maria Helena. Pense e Responda!. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 273-274, ago. 2002. GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 2: física térmica/óptica. São Paulo: Edusp, 1991. HALS, Frans. 2007. Portrait du philosophe René Descartes (1596 - 1650). Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg>. Acesso em: 04 fev. 2012. HAWKING, Stephen. Os gênios da ciência: sobre os ombros de gigantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. HISTORIA viva. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. IMAGEM oblonga. 2011. Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/_ZtAWqycppjE/SgsvWS aFMWI/AAAAAAAAAOQ/xj11JBG9RJA/s320/DSC00002.JPG>. Acesso em: 04 fev. 2012 JAN VAN EYCK. O casal Arnolfini. Óleo sobre madeira, 1434. Londres, National Gallery. In: A PERSPECTIVA domina o espaço. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v. 2). LEIS DE KEPLER. 2011. Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/_X3JhxTE3Y0M/S-7Ma CKgvtI/AAAAAAHc/OAT6cneHP8s/s320/leis+de+kepler+1.jpg>. Acesso em: 10 jan. 2012. LEITURAS DE FÍSICA do Gref. p. 45-47. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/optica/ optica2.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2010. LEONARDO DA VINCI. Estudos de anatomia: os músculos do ombro. Pena e tinta marrom, com aguada sobre carvão. Windsor Castle, Royal Library, inv. 1900. 3 v. In: A IDADE de ouro. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v. 4). LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ALVARENGA, Beatriz. Curso de física. 6.ed. São Paulo: Scipione, 2005. v. 2. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ALVARENGA, Beatriz. Curso de física. 6. ed. São Paulo: Scipione, 1997. v.2. MENTES Brilhantes. YouTube,16 de maio de 2009. (Documentário). Disponível em: <http://www.youtube.com/watch? v=xxFXdMuqbMA>. Acesso em: 15 jan. 2010. MICHELANGELO, Davi. Mármore de Carrara, 410 cm, 1501-1504. Florença, Galleria dell’Accademia. In: A IDADE de ouro. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v. 4). MUELLER, Conrad G.; RUDOLPH, Mae. A idade da fé. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1970. (Biblioteca Científica Life). 216 NEWTON, Isaac. Óptica. Tradução, introdução e notas de André Koch Torres de Assis. São Paulo: Editora da USP, 2002. 293 p. NEWTON. Disponível em: <http://www.if.ufrj.br/teaching/astron/newton/newton.jpg>. Acesso em: 7 maio 2010. NOURSE, Alan E. O corpo humano. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1969. (Biblioteca Científica Life). ORSI, Carlos. 2011. Livro proibido de Galileu faz aniversário. Disponível em: <http://car losorsi.blogspot.com/2011/02/livro-proibido-de-galileu-faz.html>. Acesso em: 04 fev. 2012. PRAXÍTELES, Estátua de Sátiro em repouso. In: LOS MUSEOS de Roma y La Capilla Sixtina. Bonechi Edizioni, [s.d.]. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 7. ed. São Paulo: Paulus, 1990. v. 2. REFRAÇÃO. Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/ RefractionVerre.jpg/350px-RefractionVerre.jpg>. Acesso em: 12 dez. 2011. RIBEIRO, R. A. et al. Caderno do professor: ciências, ensino fundamental – 8ª série. São Paulo: SEE, 2008. SEARA da ciência. 2011. Disponível em: <http://www.seara.ufc.br/sugestoes/fisica/oti8.htm >. Acesso em: 05 fev. 2012. SILVA, Cibelle Celestino; MARTINS, Roberto de Andrade. A “Nova teoria sobre luz e cores” de Isaac Newton: uma tradução comentada. Revista Brasileira de Ensino de Física, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 313-327, dez. 1996. SÓ FÍSICA. Leis de Refração. Disponível em: <http://www.sofisica.com.br/conteudos/Otica/ Refracaodaluz/leis_de_refracao.php>. Acesso em: 04 fev. 2012. TELESCÓPIO DE GALILEU. 2009. Disponível em: <http://aia2009.wordpress.com/2009/08 /25/400-anos-do-telescopio-de-galileu/>. Acesso em: 10 jan. 2012. TIZIANO. Retrato do homem com luvas, 1520. Paris, Musée Du Louvre. In: A IDADE de ouro. São Paulo: Duetto Editorial, 2009. (Coleção o tempo do renascimento; v. 4). TYCHO BRAHE. 2009. Artículos de La historia de La ciência. Disponível em: <http://blog .educastur.es/logos/category/historia-de-la-ciencia/page/2/>. Acesso em: 18 set. 2009. VENDA DE INDULGÊNCIAS. 2009. Disponível em: <http://protestantismo.ieadcg.com.br/ reforma/imagens/venda_indulgencias.JPG>. Acesso em: 12 dez. 2011. VICENS VIVES, Jaime. Mil lecciones de la historia. Barcelona: Insituto Gallach de Libreria y Ediciones, 1951. v. 2. 217 APÊNDICE B – Produto Final – Orientações ao professor Experimentum Crucis de Newton: contribuições da história e filosofia da ciência Orientações ao professor 218 Caro colega, Você tem em mãos uma sequência de atividades didáticas (são 5, no total) que objetiva discutir as idéias, os experimentos e as argumentações utilizadas por Newton para comprovar a proposição 2 da parte I de seu livro I de Ótica (1704), que afirma que “a luz do sol consiste em raios com diferentes refrangibilidades”. Na verdade, este é um experimento muito relatado e comentado nos livros didáticos de Física (principalmente no momento da discussão a respeito da dispersão da luz branca), sendo raros os compêndios que não fazem menção, ainda que por meio de desenhos, dessa descoberta. O problema, entretanto, é que tais relatos são extremamente simples e diretos e conduzem o aluno à falsa impressão de que o prisma foi colocado em qualquer posição e de qualquer maneira frente à luz solar. Além disso, fazem o aluno acreditar que as conclusões a respeito da composição da luz branca foram facilmente obtidas a partir, apenas, das observações realizadas. Um estudo mais preciso e cuidadoso da História e Filosofia da Ciência e, principalmente do artigo publicado por Newton em 1672, na Philosophical Transactions, e de seu livro Ótica (1704), nos revelam que não foi sempre assim. Detalhes específicos em relação ao posicionamento do prisma e a utilização de argumentos epistemológicos, e não apenas experimentais, precisaram ser empregados para que Newton pudesse formular a sua teoria a respeito das cores. Detalhes estes, por sua vez, que ficam completamente omitidos, apagados e distanciados do ensino desse conteúdo e que, portanto, conduzem a uma falsa idéia da ciência e da produção de seu conhecimento. Sendo assim, esta sequência de atividades tem como objetivo, em um primeiro momento, mostrar aos alunos que o raciocínio e a argumentação empregados por Isaac Newton (1642-1727) para explicar o fenômeno da dispersão da luz branca não foram tão “simples” quanto desejam evidenciar alguns materiais didáticos. Na verdade, constituem o resultado de um lento processo de desenvolvimento do pensamento científico, para o qual contribuíram de modo significativo o contexto histórico e filosófico vigentes antes e durante a própria existência de Newton. Além disso, pretende-se também construir junto aos alunos, uma visão mais humana do cientista (em especial de Isaac Newton) e desmitificar a idéia de que são seres geniais, que desenvolvem idéias mirabolantes em momentos de puro “insight”. De modo mais específico, busca-se desenvolver nos discentes a compreensão de que Newton não formulou a teoria da decomposição da luz branca a partir de uma simples observação (estimulada talvez por uma 219 mera idéia repentina) mas, sim, como conseqüência de todo um processo de construção histórica e filosófica do pensamento científico. Nesse contexto, essas atividades se dirigem aos alunos do segundo ano do ensino médio e devem ser conduzidas após as explicações referentes ao fenômeno da refração da luz branca e como meio de se contextualizar o estudo do fenômeno da dispersão da luz branca. Para a sua completa realização, serão necessárias em torno de 10 aulas. A opção pela sequência didática justifica-se por ser esta uma estratégia de ensino com um caráter claramente processual e que, portanto, se aproxima da visão histórica, processual, complexa e humana da produção do conhecimento, que embasa todo esse trabalho. Conforme nos afirma Zabala (1998), tais sequências [...] são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos. (ZABALA, 1998, p.18) Você, professor, receberá, portanto, dois materiais. No primeiro deles, identificado como “material do aluno”, estão relacionadas, de fato e na ordem a serem desenvolvidas, as atividades didáticas propostas aos discentes. Todos os textos a serem consultados, experimentos a serem realizados e questões a serem respondidas, são descritos e contextualizados no decorrer desse material que, como o próprio nome indica, deverá ser entregue aos alunos. Acompanhando cada uma dessas atividades, você receberá ainda um guia que o auxiliará na condução, execução e avaliação dessas atividades. Esteja à vontade para fazer modificações e adequações, conforme a realidade de seu trabalho. Esperamos, sinceramente, contribuir para despertar nos jovens uma visão mais realista e humana da ciência, bem como da produção de seu conhecimento e contamos com o seu apoio. Bom trabalho! Os autores. 220 Experimentum Crucis de Newton: contribuições da história e filosofia da ciência GUIA DO PROFESSOR Atividade 1 – Verificando a dispersão da luz branca por um prisma Objetivo Esta atividade objetiva, em um primeiro momento, fazer com que os alunos reproduzam a experiência da dispersão da luz branca realizada por Newton para, assim, constatarem a simplicidade do experimento. Simplicidade esta que se relaciona à parte operacional da descoberta, à quantidade de material utilizado, às montagens empregadas, etc; e não à seqüência argumentativa empregada pelo cientista para desenvolver a sua teoria. Número de aulas necessárias: 1 aula Procedimento Esta atividade 1 deve ser desenvolvida logo após o estudo da refração da luz e, mais precisamente, como elemento problematizador para o estudo da dispersão da luz branca. Divididos em grupo, os alunos deverão reproduzir a experiência realizada por Newton da dispersão da luz branca. Com este intuito, será necessário fornecer a eles: • um prisma triangular eqüilátero de vidro ou de acrílico (que pode ser comprado em lojas especializadas de material para laboratório); • uma fonte luminosa (que podem ser os próprios raios solares ou, até mesmo, uma lanterna de luz branca); • um anteparo (que pode ser uma folha de cartolina branca, ou a parede ou o teto do local onde se realiza a atividade). Para a realização da atividade, é aconselhável os discentes estejam em um ambiente fechado, uma sala, por exemplo, no qual entre luz solar direta (pela fresta de uma janela ou de uma porta). Para a obtenção de um melhor resultado é aconselhável ainda que este local esteja escuro ou na penumbra. Se a iluminação natural do Sol estiver prejudicada no dia da realização do experimento, ou caso seja difícil encontrar um ambiente iluminado diretamente pela luz solar, 221 os alunos poderão utilizar uma fonte de luz branca, tal qual uma lanterna, em substituição. Seguindo as orientações fornecidas no roteiro, os alunos deverão obter a dispersão da luz branca e, em seguida, responder às questões propostas (veja atividade 1 do material do aluno). Seria interessante que essas respostas fossem registradas pelos alunos e entregues ao professor no término da atividade, para que seja possível verificar, a posteriori, se a visão inicial que os alunos tem a respeito do cientista (explicitada na resposta do item d) sofre alterações no decorrer da atividade. Dependendo do número de alunos em sala e da dinâmica e do relacionamento estabelecido entre professor-aluno, o docente pode, se assim preferir, utilizar o roteiro de questões do material do aluno para provocar uma discussão das idéias ali existentes. Deve, nesse sentido, estar atento às respostas dadas para as questões d, e, e f, uma vez que delas será traçada a imagem que os discentes têm do cientista e da maneira como ele produz conhecimento. Comentários 1) Caso você, professor, não disponha de um prisma de vidro ou acrílico, ou mesmo deseje verificar o fenômeno de outra maneira, poderá realizar essa atividade utilizando um aparato experimental diferente. Para tanto, você precisará de: a) uma dobradiça comum (que pode ser adquirida em uma loja de ferragens ou de material de construção); b) fita adesiva ou fita isolante opaca; c) uma tira de espelho de uns 15 x 20 mm de largura (que pode ser obtida de graça em um vidraceiro. Sobre a dobradiça comum, cole, com a ajuda da fita isolante, a tira de espelho. Figura 1 Fonte: AXT, 1990, p. 1. 222 Em seguida, coloque o conjunto dobradiça-espelho no interior de um recipiente de paredes não muito altas (uma bacia, por exemplo), contendo água. A posição do espelho em relação à luz solar é importante para a execução do experimento, e pode ser ajustada, variando-se a abertura da dobradiça (ângulo α ), até que o espectro solar apareça projetado sobre a parede ou o teto da sala. Figura 2 Fonte: AXT, 1990, p. 2. Além das questões já abordadas no material do aluno, você ainda poderá pedir aos discentes que discutam que elemento, neste novo aparato, faz o papel de prisma, e por quais razões ele funciona como tal. 2) Espera-se que os discentes sejam capazes de perceber que o experimento da dispersão da luz branca realizado por Newton, em termos de materiais utilizados, de montagens instrumentais, etc; não é nada complexo. Ao contrário, ele prima por ser bastante simples e de fácil reprodução. Além disso, com a reflexão proposta no item d do roteiro dos alunos, pretende-se que eles sejam despertados ainda para a figura do cientista Isaac Newton, já como um elemento articulador e preparatório para as próximas atividades dessa seqüência didática. 223 Atividade 2 – Mentes Brilhantes Uma vez que os discentes iniciaram uma reflexão a respeito da figura de Isaac Newton, ao realizar o seu experimento da decomposição da luz branca, será o momento de colocá-los em contato com uma visão constantemente divulgada e repetida pela mídia e por diversos indivíduos, em diferentes áreas do conhecimento. Esta visão enaltece a figura do cientista como um ser dotado de uma mente super desenvolvida, com habilidades extremas para a dedução e a explicação matemática e coloca, exatamente nesses fatos, a justificativa para algumas das descobertas científicas até então realizadas. Na verdade, a atividade 2, “Mentes Brilhantes” (descrita a seguir), foi desenvolvida para funcionar como um elemento problematizador e desencadeador das reflexões acerca do processo de produção do conhecimento científico e dos fatores a ele implícitos. Seu principal objetivo é verificar a visão que os alunos têm de importantes cientistas (como Galileu Galilei e Isaac Newton) e dos fatores que contribuíram para que tais personagens da ciência pudessem descobrir e estabelecer novas leis e teorias científicas. Para tanto, deve ser conduzida pelo professor que, depois de explicar aos alunos o que acontecerá nessa atividade (as informações contidas na própria introdução do material do aluno podem ser utilizadas para esse fim), solicita-lhes que façam uma leitura prévia das questões existentes nas partes I e II do material, cujas respostas deverão ser embasadas pelas informações contidas no documentário. Em seguida, o docente apresenta o trecho do documentário “Mentes Brilhantes”, sobre Galileu Galilei e Isaac Newton. No total, serão necessários 25 minutos para a exibição completa dessa parte do vídeo. Vale ressaltar que o documentário ainda aborda o contexto e as questões referentes a Albert Einstein e Stephen Hawking. No entanto, como o personagem principal dessa sequência didática é Isaac Newton, não é necessário prosseguir com o vídeo. Feito isso, o professor deve iniciar uma discussão com a turma, procurando fazer com que reflitam sobre as informações veiculadas no filme e respondam (pode ser oralmente) às questões propostas sobre Galileu Galilei e Isaac Newton. Nessa discussão, deve-se destacar a influência que a matemática exerceu na vida e no pensamento dos dois cientistas (existe uma razão para isso, como veremos adiante), assim como o fato de cada um deles ter sido influenciado, ou não, por descobertas anteriores. Na verdade, pelo documentário, tem-se uma pequena descrição do contexto histórico e filosófico vigente à época de Galileu (período da Inquisição), com a menção até da descoberta anterior de Copérnico (Teoria Heliocêntrica). Já de Newton, nada é evidenciado em relação a 224 esse contexto histórico. Ao contrário, o documentário reforça constantemente o caráter genial do cientista, dando a entender que as suas descobertas em relação às leis do movimento, foram o resultado apenas de sua mente brilhante. As influências e os estudos realizados por cientistas anteriores a Newton, inclusive Galileu, ficam relegadas a um papel de ínfima notoriedade. Para finalizar o processo, o docente deve solicitar aos alunos que redijam o parágrafo pedido na parte III – “Refletindo mais um pouco”. Caso não haja tempo hábil para a realização da atividade em sala, deve-se-lhe atribuir o caráter de atividade “Para Casa”. Número de aulas necessárias: 1 aula Material necessário: • Documentário “Mentes Brilhantes” (uma cópia do mesmo encontra-se nos anexos deste trabalho). • Aparelho de projeção multimídia e/ou dvd player • Apostila Experimentum Crucis de Newton: contribuições da história e filosofia da ciência - Material do aluno Comentário: No decorrer do documentário, várias são as vezes nas quais são destacadas as inspirações e as idéias brilhantes de Galileu Galilei e de Isaaac Newton, ao proporem as suas descobertas. Muito pouco é discutido a respeito do contexto histórico e filosófico vigente à época e das influências que eles exerceram sobre cada uma dessas descobertas. Além disso, partindo do pressuposto de que a imagem do cientista é, em diversas situações, confundida com a de um gênio iluminado, que “recebe” a inspiração para a resolução do problema sobre o qual se debruça a algum tempo, espera-se que as respostas dos alunos à parte III desta atividade primem exatamente por destacar o lado da personalidade e da genialidade desses cientistas, sem que se faça alguma menção ao contexto histórico vigente em cada época. 225 Atividade 3 – A influência do contexto histórico nas descobertas científicas: o período da Revolução Científica Uma vez coletadas as concepções dos alunos sobre os cientistas e o seu trabalho de produção do conhecimento científico, será iniciada uma nova etapa da sequência didática (e explicitada nas atividades a seguir), cujo objetivo principal será a desconstrução dessa imagem dos cientistas como gênios ou seres iluminados e dotados de uma inteligência suprema, para a construção de uma visão mais humana, que coloque o cientista como um ser social, isto é, como um ser que pertence a uma certa sociedade e que, portanto, exprime determinados valores, crenças e uma mentalidade condizente com a época e o período vigente. Dessa maneira, para dar continuidade à atividade 2, o professor deve explicitar à turma que os dois cientistas abordados no vídeo são, na verdade, personagens de um período de transformações de idéias e mentalidades, intitulado de Revolução Científica e que, para que eles possam compreender melhor a importância de todos esses acontecimentos, será necessário a compreensão do que, de fato, aconteceu nesse período. Como trata-se de um período muito extenso da história da ciência, as informações foram organizadas em três textos, cada um deles referente a uma fase específica da revolução científica. Nestes textos, procura-se, inicialmente, evidenciar os acontecimentos históricos mais relevantes do período, bem como as transformações provocadas na mentalidade e no pensamento da época. Em seguida, inseridos nesse conjunto de transformações, são relacionados alguns cientistas, suas maneiras de pensar e conceber a ciência e algumas de suas principais descobertas, sempre ressaltando a influência do contexto histórico e filosófico em cada um desses aspectos. O estudo desses textos é de fundamental importância para que os alunos compreendam que o raciocínio empregado por Newton para explicar o fenômeno da dispersão da luz branca (que será abordado na atividade 4) é, na verdade, o resultado de uma maneira peculiar de pensar desse cientista, que foi elaborada e construída com base nas influencias históricas e filosóficas da época em que ele viveu. Objetivo: Fazer os alunos compreenderem que Galileu Galilei e Isaac Newton, assim como os demais personagens da revolução científica são, na verdade, participantes de um poderoso movimento de transformação das idéias, através do qual todo o sistema de pressupostos herdado da Idade Média (em especial os pressupostos Aristotélicos) é questionado, demolido 226 e substituído por um sistema completamente novo. Número de aulas necessárias: de 2 a 3 aulas, sendo a última delas destinada à apresentação dos trabalhos desenvolvidos por cada grupo. Material necessário: Os três textos que constituem a Atividade 3, e que se encontram no material do aluno. Procedimento: O desenvolvimento da atividade 3 pressupõe o estudo de cada um dos três textos inseridos no material do aluno. Isso pode ser feito de diversas maneiras, conforme sugestões a seguir. A opção por uma ou outra deverá ser feita pelo docente considerando-se as diversas variáveis que interferem no processo de ensino-aprendizagem: o número de alunos em sala, a facilidade de comunicação entre o professor e a turma, o tipo de relação estabelecida entre eles, a disponibilidade de tempo e espaço, a possibilidade de se trabalhar com colegas de outras áreas do conhecimento (artes, história, português), a disposição para permitir, estimular e orientar o trabalho em grupo dos discentes, etc. Algumas propostas Como meio de se efetivar a apresentação e socialização das informações contidas nos três textos da atividade 3, o professor pode sugerir e incentivar o trabalho em grupo dos alunos. Para tanto, deverá dividi-los em três grupos (cada um responsável pela leitura e apresentação de um texto) e orientá-los, durante uma aula, para que realizem a leitura de cada texto, retirando as informações mais relevantes quanto aos antecedentes históricos (que constituem, na verdade, uma contextualização do momento histórico e filosófico vigente) e quanto aos avanços registrados no campo da ciência. Nesse momento, pode-se também trabalhar em conjunto com o professor de história, para que ele auxilie na correta compreensão dos fatos históricos evidenciados nos materiais. Com o intuito de facilitar e orientar essa leitura, o professor poderá, ainda, entregar a cada grupo as questões a seguir. 227 Experimentum crucis de Newton Contribuições da História e Filosofia da Ciência GRUPO 1 Textos de referência: Primeira e segunda fases da Revolução Científica até o item 2.2 – Principais descobertas (inclusive). Objetivo da leitura: Identificar os aspectos inovadores das teorias propostas por alguns cientistas desse período, com destaque especial para as influências que receberam. Questões para reflexão • Discuta a seguinte afirmativa: “A teoria de Copérnico subverteu o mundo”. • Explicite as razões que teriam conduzido Copérnico a propor a sua revolucionária teoria. • Comente a influência do neoplatonismo no pensamento de Kepler. • De modo bem simplificado, mencione as principais contribuições filosóficas de Johannes Kepler. • Como se percebe a influência do neoplatonismo em Galileu Galilei? 228 Experimentum crucis de Newton Contribuições da História e Filosofia da Ciência GRUPO 2 Textos de referência: A segunda fase da Revolução Científica, item 2.3 – O pensamento filosófico à época da Revolução Científica Objetivo da leitura: Identificar as modificações ocorridas no pensamento do homem moderno e o papel das atividades filosóficas no decorrer desse período. Questões para reflexão • Qual o novo propósito da atividade filosófica do pensamento moderno? • Quais as correntes filosóficas (e os seus principais representantes) que se destacam nesse momento? Diferencie-as. 229 Experimentum crucis de Newton Contribuições da História e Filosofia da Ciência GRUPO 3 Textos de referência: A terceira fase da Revolução Científica – a fase da restauração. Objetivo da leitura: Caracterizar a maneira de pensar de Newton e identificar como as transformações ocorridas no período da Revolução Científica influenciaram o modo de raciocinar newtoniano. Questões para reflexão • Evidencie quais são os dois aspectos mais significativos da maneira de pensar newtoniana que foram herdados das modificações e transformações ocorridas no decorrer da Revolução Científica. • Explique de maneira sucinta as regras do filosofar de Newton. • Com o seu método de análise e síntese, Newton procura respostas científicas para os fenômenos em termos do “COMO”? De que maneira ele explica as causas de alguns fenômenos? 230 Uma vez feito isso, os alunos deverão optar pela melhor forma de apresentação das informações (com especial destaque para aquelas que respondam ao material anterior) contidas no texto que lhes compete. Para tanto, poderão escolher uma das sugestões apresentadas a seguir. Sugestão 1: Documentário jornalístico De posse das informações relevantes do texto, os alunos podem elaborar uma sequência jornalística, tal qual um “Globo Repórter” para apresentar o tema. Em casa, ou em qualquer outro ambiente que julgarem adequado, podem proceder à gravação de um vídeo (vídeo caseiro) no qual, um apresentador relata os fatos marcantes com apresentação de imagens, entrevistas, depoimentos, debates etc. de pessoas relacionadas aos acontecimentos. É claro que tudo isso seria uma dramatização realizada pelos alunos, que poderiam se caracterizar de acordo com os personagens históricos envolvidos no contexto. Esse vídeo pode ser editado, com a colocação de uma trilha sonora, de imagens significativas e até mesmo de comerciais. Sugestão 2: Painel de imagens Uma vez determinadas as informações relevantes no texto, os alunos poderão levantar imagens significativas e em conexão com os momentos históricos e filosóficos vividos e elaborar um grande painel (que pode ser feito de papel pardo) de imagens. Desenhos feitos à mão e frases ou palavras soltas e recortadas de jornais, revistas, etc. também poderão ajudar a compor o material. Assim, no dia combinado para as apresentações, o grupo apresentaria os fatos marcantes por meio das imagens selecionadas e relacionadas no painel. Sugestão 3: Dramatização O grupo que desejar pode proceder à apresentação dos fatos marcantes por meio de uma dramatização a ser realizada em sala de aula, no auditório da escola, ou em outro espaço escolar que os alunos acharem conveniente. Nessa dramatização, pode-se contar, por exemplo, com um narrador que conduza o raciocínio e a sequência lógica dos fatos, enquanto os demais se passam pelos cientistas e personagens marcantes da época. 231 Para garantir a sistematização e o registro das escolhas feitas por cada um dos grupos, pode-se solicitar a entrega, em uma data previamente combinada, de uma espécie de roteiro das atividades a serem desenvolvidas. Nesse material, os alunos deverão explicitar e registrar não apenas os fatos históricos a serem abordados, mas também a sequência, o encadeamento lógico, a forma de apresentação (documentário, painel, etc) e os materiais e recursos necessários para tal. Devem, também, registrar a divisão de tarefas feitas entre os integrantes do grupo, com uma breve descrição do papel de cada um. De posse desse material, o professor pode ainda ajudar e orientar os grupos a focarem os aspectos de fato mais importantes de cada texto. Comentários: Em relação ao texto 1, é muito importante reforçar que as transformações de ordem, econômica, política, social, etc. vêem acompanhadas de modificações do pensamento e da mentalidade. O exemplo claro disso, evidenciado no texto, está relacionado a Copérnico e à idéia do deslocamento astronômico do centro do universo da Terra para o Sol. Ainda no que diz respeito a este texto 1, é necessário que se reforce a contribuição de fatos relacionados ao desenvolvimento da matemática, e ao desenvolvimento das duas correntes filosóficas (aristotelismo e neoplatonismo) uma vez que a influência matemática é constantemente mencionada no documentário, além de ser, como veremos nos textos seguintes, uma das características do método de Newton. No texto 2, tais aspectos também devem ser ressaltados em Tycho Brahe, Kepler e Galileu. A questão filosófica resultante de todas essas transformações, também merece especial atenção, principalmente com o estabelecimento do problema do conhecimento e com o aparecimento do racionalismo de Descartes e do empirismo de Francis Bacon. Por fim, no texto 3, a tônica deve recair sobre a maneira de pensar de Newton e as regras do seu filosofar, sempre lembrando de fazer referência às influências anteriores. A regra I (da simplicidade da natureza), e o emprego de argumentos filosóficos e teológicos são características da maneira de pensar de Newton que precisam ser ressaltadas, visto que constituirão parte da argumentação empregada na análise do fenômeno da dispersão da luz branca. 232 Atividade 4 – O raciocínio de Newton frente o fenômeno da dispersão da luz branca. Dando continuidade às atividades desenvolvidas, passamos ao momento crucial deste trabalho: a análise das observações e conclusões realmente proferidas por Newton ao abordar o fenômeno observado com a passagem da luz através do prisma. No material do aluno, essas informações, retiradas do livro Ótica (1704), estão reunidas em dois textos que precisam ser explorados. Neles, procura-se evidenciar o caráter não casual do experimento, (com a discussão a respeito da posição de desvio mínimo e do conhecimento prévio de Newton acerca do formato da imagem a ser obtido); o emprego de vários experimentos (e não somente um, como relatado na maioria dos materiais didáticos) e a utilização de argumentos epistemológicos, baseados nas regras do filosofar newtoniano, para se concluir, de fato, que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. O estudo desses textos é, portanto, de fundamental importância para que os alunos compreendam, de fato, que a explicação dada por Newton não nasceu de um momento de insight desse cientista e que, nem tampouco, o posicionamento do prisma frente à luz solar foi fruto do acaso. Objetivos: • Fazer os alunos compreenderem que a realização do experimento da dispersão da luz branca por Newton não aconteceu por acaso e que, nem tampouco, a explicação dada por ele foi fruto de um insight; • Evidenciar a argumentação empregada por Newton ao conduzir a sequência de experimentos; • Ressaltar a utilização de argumentos epistemológicos e baseados nas regras do filosofar newtoniano, na explicação do fenômeno observado. Número de aulas necessárias: 3 aulas Material necessário: Os dois textos existentes no material do aluno, que relatam a sequência lógica e a argumentação desenvolvida por Newton ao demonstrar que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. 233 Procedimento: O desenvolvimento da atividade 4 pressupõe o estudo dos textos e das informações contidas no material do aluno. Como são dados novos e de extrema relevância no contexto das atividades, sugerimos que o professor tenha uma intervenção maior durante o processo que pode ser executado em três aulas. Nas duas primeiras aulas, ele pode solicitar aos alunos que, divididos em grupo, leiam e discutam os textos I (na aula 1) e II ( na aula II) e apresentem, por escrito, as respostas às questões referentes a cada uma dessas partes. Nesse momento, ao professor caberá a orientação e o auxílio a cada uma dos grupos, no correto entendimento dos fatos e acontecimentos. Novamente, poderá contar com o auxílio das seguintes questões para facilitar a leitura e a discussão das idéias mais relevantes para se atingir o objetivo deste trabalho. 234 Experimentum crucis de Newton Contribuições da História e Filosofia da Ciência GRUPO 4 Textos de referência: O raciocínio de Newton frente ao fenômeno da dispersão da luz branca – Parte I. Objetivo da leitura: Identificar o conjunto de ideias e teorias que Newton conhecia antes da realização do seu experimento com o prisma. Questões para reflexão • Comente a seguinte afirmativa: “O experimento da dispersão da luz branca através de um prisma não teve caráter casual. Há evidências de um conhecimento prévio.” • A previsão teórica e os resultados experimentais nem sempre se confirmam após a realização de um experimento. Como isso se evidencia na situação estudada por Newton? 235 Experimentum crucis de Newton Contribuições da História e Filosofia da Ciência GRUPO 5 Textos de referência: O raciocínio de Newton frente ao fenômeno da dispersão da luz branca – Parte II. Objetivo da leitura: Compreender a seqüencia de experimentos realizados por Newton, bem como a argumentação por ele empregada para concluir que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades. Questões para reflexão • A imagem posicionada no canto superior esquerdo dessa folha, comumente apresentada nos materiais e livros didáticos de Física, sugere que a conclusão de que a luz branca é uma mistura de cores com diferentes refrangibilidades foi fácil e prontamente formulada após a simples observação do fenômeno. A partir da leitura da parte II, qual o posicionamento do grupo a respeito dessa visão? • Com base no estudo feito, que fatores, segundo a opinião do grupo, contribuem para que uma nova descoberta científica seja feita? 236 Na última aula, será o momento de o professor fazer um fechamento, com base nas respostas obtidas nas aulas anteriores. Se achar necessário, poderá ser realizada uma síntese dos fatos, com a apresentação em lâminas de retroprojetor ou em slides, dos experimentos desenvolvidos e da argumentação empregada por Newton, para estabelecer a afirmação de a luz branca é uma mistura de raios com diferentes refrangibilidades. Novamente, é de extrema importância que fique claro aos alunos que a explicação dada por Newton não nasceu de um momento de insight desse cientista e, nem tampouco, o posicionamento do prisma frente à luz solar foi fruto do acaso. Nesse sentido, reforçar a influência da posição de desvio mínimo; o formato da imagem obtido, a necessidade da realização de vários experimentos e o emprego de argumentos epistemológicos, constituem a principal linha de raciocínio a ser perseguida durante a execução da atividade. 237 Atividade 5 – Verificando a composição da luz branca Uma vez compreendida a sequência lógica e a argumentação utilizada por Newton para explicar o fenômeno da dispersão da luz branca, passaremos a nos dedicar ao fenômeno da composição evidenciado, na atividade 4, pela passagem da luz solar através de dois prismas colocados em posições invertidas. Para tanto, serão apresentadas aos alunos duas atividades práticas nas quais eles poderão verificar essa composição através de outras montagens experimentais: “Compondo outras cores” e “O disco de Newton”. Em cada uma delas, será necessário que os alunos tenham conhecimento da diferença entre mistura de cores por adição e por subtração e ainda do processo de reflexão que envolve o estabelecimento das cores dos objetos. Essas informações serão, portanto, fornecidas na parte teórica que antecede a experimental do material do aluno. Objetivos • Verificar a composição da luz branca por processos diferentes; • Compreender a diferença entre mistura de cores por adição e por subtração. Número de aulas necessárias: 2 aulas (sendo uma para orientação do trabalho e outra para a apresentação do mesmo). Material necessário Os roteiros dos experimentos que estão disponíveis no material do aluno e todos os objetos lá relacionados. Procedimentos Como já mencionado, esta atividade é composta de duas experiências que deverão ser executadas pelos discentes com base nos roteiros fornecidos no material do aluno. Inicialmente, o professor deverá fornecer (na aula de orientação do trabalho) os subsídios teóricos para o desenvolvimento das atividades, através da leitura e discussão do texto “Um pouco de teoria” ou, se preferir, por meio de uma breve exposição do tema. 238 Em seguida, para facilitar o processo, a turma poderá ser dividida em grupos, sendo que cada um deles se responsabilizará pela execução de uma atividade experimental. Como a experiência 1 tem duas partes, pode-se considerar a execução de três experimentos. Como a primeira delas necessita de um ambiente escurecido para a obtenção um melhor resultado (o que talvez seja difícil de conseguir na escola), pode-se sugerir aos alunos que construam o aparato experimental e façam vídeos da apresentação do experimento. Assim, em uma data combinada, todos os grupos assistiriam aos trabalhos dos demais. Caso contrário, o professor pode sugerir à turma que apresente, em sala de aula mesmo, as experiências desenvolvidas. Agindo de uma maneira ou de outra, é preciso estabelecer com antecedência os critérios da avaliação, deixando bem claro aos discentes o que deve ser comentado no vídeo ou na apresentação. As respostas às questões propostas, bem como uma descrição do experimento e de seus objetivos, podem sugerir um roteiro de assuntos a serem abordados nesse momento. 239 REFERÊNCIAS AXT, Roland. Dispersão da luz. Caderno Catarinense de ensino de Física, Florianópolis, v. 7, n. 3, p. 1-2, 1990. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 224 p. 240 APÊNDICE C – Instrumento de avaliação entregue aos alunos após a realização da atividade Este instrumento tem por objetivo avaliar sua percepção sobre da metodologia apresentada. Gostaria de contar com sua colaboração respondendo as perguntas abaixo. Não é necessário se identificar. Antecipadamente, agradeço sua atenção. Maria Fernanda Donnard Carneiro 1. Quais contribuições para o ensino da Física você identifica a partir do estudo apresentado? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Qual a sua opinião a respeito do tema escolhido para o desenvolvimento dessa dissertação? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Como você percebe a aplicação prática da seqüência didática apresentada? A partir dela, surgem novas possibilidades para se pensar o ensino e estudo da Física? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. A influência da história e da filosofia da ciência fica, de fato, evidente no decorrer da seqüência didática? Justifique sua resposta apresentando aspectos observados na apresentação que explicam sua percepção. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Quais os pontos negativos que você observou na seqüência didática apresentada? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 241 6. Quais os pontos positivos que você observou na seqüência didática apresentada? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Registre abaixo suas sugestões de melhorias, contribuições e observações gerais que gostaria de fazer. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Download