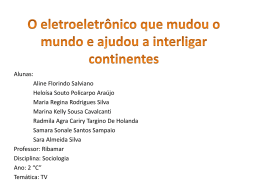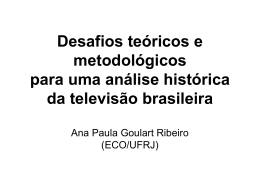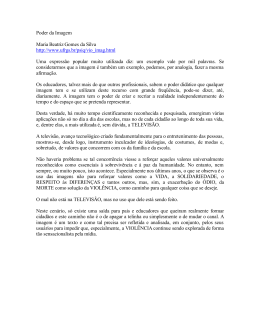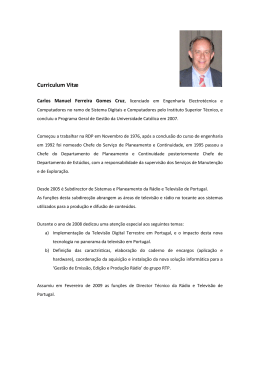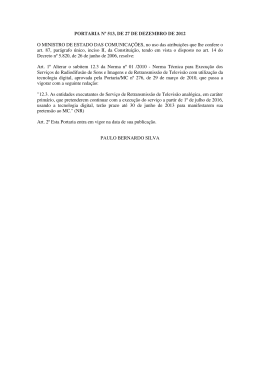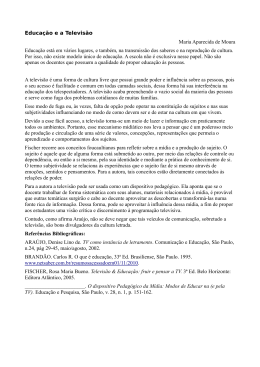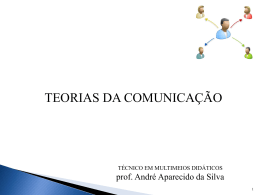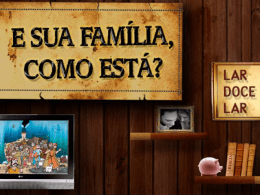“Memórias de telespectadores pioneiros – um resgate no Grande ABC”1 Resumo do projeto: Essa exposição tem por finalidade apresentar as linhas gerais do projeto de pesquisa “Memórias de telespectadores pioneiros: um resgate no Grande ABC”, desenvolvido na Faculdade de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, com a coordenação do Prof. Antonio de Andrade e da Profa.Dra. Sandra Reimão. Esse trabalho tem por objeto principal o levantamento de lembranças de moradores da cidade de São Bernardo do Campo no que diz respeito à audiência e recepção da programação da televisão aberta brasileira em seus primeiros anos. O projeto comporta dois sub-projetos: “O Ibope nos primórdios da TV”, coordenado por Carla Pollak, e “Anúncios publicitários sobre a TV na década de 1950 no Grande ABC, sob coordenação de Karin Müller. 2. Objetivos: - Gerais 2.1. Resgatar, através de depoimentos, as formas e os sentidos da presença da televisão aberta brasileira entre os moradores do Grande ABC, especialmente no que diz respeito às décadas de 1950 e 1960 – primórdios da tevê no Brasil 2.2. Identificar o avanço do hábito de assistência televisiva e inseri-lo no contexto do consumo cultural e do lazer das décadas de 1950 e 1960 na Região do Grande ABC; 2.3. Registrar os depoimentos e retornar ao grupo dos depoentes o resultado de suas memórias (na forma de vídeo, livro ou matéria de jornal); 3. Justificativa: Orienta-se esta proposta de pesquisa no sentido de atender ao conclame da UNESCO que, em 2005, lançou o manifesto “Televisão: memória em perigo”, no qual recomenda uma ação de emergência para salvar a história da televisão e declara os acervos audiovisuais das TVs de todo o mundo como patrimônio da humanidade. Em paralelo atende ao apelo às Universidades por parte dos responsáveis pela implantação em São Paulo do Museu da Televisão Brasileira que até o presente não se concretizou por falta de apoio, tanto do poder público como da iniciativa privada. Por outro lado visa preencher uma lacuna nos trabalhos e pesquisas relacionadas aos primórdios da televisão no Brasil e que privilegiam os astros e as emissoras, deixando para um plano secundário o papel do telespectador. 4. Relevância: As informações sobre os primórdios da televisão no Brasil em sua primeira década (1950 a 1960) resumem-se a algumas fotos, curtos trechos em película e, principalmente, na memória de quem fez ou assistiu a estas transmissões. Os primeiros equipamentos de videoteipe apenas chegaram ao Brasil 12 anos após a inauguração da pioneira TV Tupi em 1950. Mesmo assim eram raros os programas gravados dado o elevado custo das fitas de gravação. Os espectadores pioneiros, objeto principal deste projeto, encontram-se hoje numa faixa etária acima dos 60 anos, fato que exige do grupo de pesquisadores treinamento específico e conhecimento dos fatos históricos, personagens, emissoras e programas desta fase específica. Por estar distante a poucos quilômetros da cidade de São Paulo, a Região do Grande ABC estava tecnicamente inserida na área de abrangência da primeira transmissão televisiva nacional, que ocorreu em 30 de setembro de 1950, com a inauguração da TV Tupi ( PRF- 3 TV Tupi-Difusora, Canal 3), no bairro do Sumaré em São Paulo. 1 Autores: Profa.Dra. Sandra Reimão (UMESP), Prof. Antonio de Andrade (UMESP), Profa. Carla Pollak (UMESP) e Karin Müller (Doutoranda em Comunicação Social UMESP). De 1950 até 1962 essas transmissões foram ao vivo e de alcance regional – atingindo um raio de até 100 quilômetros. Apesar da proximidade da cidade de São Paulo, muito provavelmente não houve telespectadores na Região do Grande ABC nessa noite de inauguração pois esta programação foi assistida apenas pelos proprietários dos 200 aparelhos disponíveis no país naquele momento. O presente projeto de pesquisa se propõe a partir de depoimentos de moradores da Região que aqui já estivessem nas décadas de 1950 e 1960 resgatar fatos e dados sobre a chegada do hábito de assistir televisão e inseri-lo no contexto do consumo cultural e do lazer nessas décadas na cidade. Nessa perspectiva, o livro de Luiz Milanese, “O Paraíso via Embratel – o processo de integração de uma cidade do interior paulista na sociedade de consumo” (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978), será uma referência central. Nessa obra o autor estuda os impactos culturais da chegada da televisão na cidade de Ibitinga, distante 305 quilômetros da capital paulista. Como complementação a esses dados obtidos através de depoimentos orais, podemos recorrer também a jornais publicados na Região no período objeto deste estudo.Note-se que essa proposta de trabalho não concebe a função de telespectador como uma função passiva mas sim, compartilha da visão de que os receptores da comunicação massiva podem, e dão, um sentido particular para essas mensagens conforme suas vivencias, repertórios e anseios. 5. Metodologia: 1) Levantamento bibliográfico e elaboração de textos de apoio sobre a história da televisão brasileira e das condições de recepção das transmissões pioneiras nas décadas 1950 e 1960 na cidade de São Paulo e arredores, 2) Levantamento e sistematização de informações existentes no banco sonoro de depoimentos da Rádio Metodista (Programas “Destaque” e “Recapitulando” que tratam da memória dos meios de comunicação); 3) Identificação de moradores que possuíssem ou tivessem acesso a aparelhos televisivos nas décadas 1950 e 1960; 4) Elaboração de um guia básico para condução das entrevistas semi-estruturadas e depoimentos (a ser submetido ao Comitê de Ética da Universidade); 5) Treinamento dos alunos entrevistadores; 6) Gravação dos depoimentos: entrevista semi-estruturada com ênfase no contexto do consumo cultural e de lazer no período enfocado; e, no que tange à programação televisiva, com ênfase no tipo de gratificação que os telespectadores afirmam ter; 7) Divulgação e socialização dos depoimentos; 8) Sistematização dos dados buscando traçar um perfil da expansão do hábito de assistir televisão entre os moradores do Grande ABC; 9) Correlatamente, coletar dados sobre moradores do Grande ABC e que trabalharam de alguma forma na indústria televisiva brasileira, nas décadas de 1950 e 1960 e sistematizar esses dados. 5.1. Resultados esperados: 1) Resgate e socialização da memória da chegada das transmissões televisivas na Região do Grande ABC. A socialização dessa memória será feita na forma de vídeo, livro, artigos para revistas e jornais, etc.; 2) Elaboração de artigos com discussão teórico-conceitual sobre o papel do telespectador e a diferença com outras formas de lazer e cultura; 3) Identificação de nomes de pessoas do Grande ABC atuantes no início da tevê no Brasil e registro e divulgação desses dados. 4) Divulgação dos resultados obtidos em Congressos, Seminários e demais modalidades de divulgação cientifica. 5.2. Revisão de literatura A inauguração da televisão no Brasil A TV Tupi, inaugurada em caráter definitivo em 18 de setembro de 1950 em São Paulo, como PRF- 3 TV Tupi-Difusora, Canal 3, foi a primeira emissora de televisão brasileira, pioneira também na América do Sul. Nesta noite histórica foi transmitido um show de variedades com a presença de, entre outros, Wilma Bentivegna, Walter Foster, Lia de Aguiar, Lima Duarte, Romeu Feres e Lolita Rodrigues. Uma noite de nervosismo e improvisaçãoi. O fato de, anteriormente, na noite de 5 de julho, ter havido uma transmissão experimental não diminuiu a expectativa daquela primeira noite. Até o início de 1950 apenas três países tinham transmissões televisivas de maneira regular: Inglaterra, França e Estados Unidos. No México as transmissões televisivas regulares foram iniciadas em 1o. de setembro de 1950ii(ou seja, dezoito dias antes das brasileiras). Várias anedotas referem-se a esta noite histórica de 18 de setembro de 1950. Citemos duas delas. Conta-se que, após o discurso inaugural, ao estourar uma garrafa de champanhe para brindar a ocasião, Assis Chateaubriand teria quebrado uma das câmeras com a rolha ou, em outra versão, com a garrafa propriamente dita tal como se faz com os cascos dos navios para inaugurá-los. Outro caso que circula a respeito desta primeira noite da TV brasileira relata que foi só no meio das transmissões da primeira noite que alguém se deu conta que não havia programação planejada para o dia seguinte. Quanto à primeira dessas anedotas já encontramos desmentidos.iii Planejada desde, 1946 a Tupi integrava o império jornalístico “Diário e Emissoras Associadas” comandado por Assis Chateaubriand. Em janeiro de 1951, quatro meses depois da instalação em São Paulo, a empresa inaugurará a TV Tupi Rio. Na noite de estréia a programação foi assistida apenas por alguns dos proprietários dos 200 aparelhos contrabandeados e distribuídos pelo próprio Chateaubriand e por curiosos que se aproximaram dos 22 receptores distribuídos em vitrines de 17 lojas no centro de São Paulo. O alcance da transmissão era de cerca de 100 quilômetros, abrangendo cidades como Campinas e Santos.iv Um ano e alguns meses depois, no final de 1951, estima-se que existissem, no Brasil, cerca de 7.000 aparelhos de televisão, a maioria em São Paulo e o restante no Rio.v A Tupi encerrou suas atividades em 1980, com a cassação de sua concessão, depois de uma turbulenta história de glórias e decadência, toda ela centralizada na controversa figura de Chateaubriand. Consta que Assis Chateaubriand teria sido desaconselhado quanto a implantar uma televisão no Brasil pelo presidente da RCA (Radio Corporation of America), a quem conhecia pois já havia comprado dele equipamentos para algumas rádios dos Diários Associados. A alegação de que TV era algo para empresas fortes em países desenvolvidos, acabou funcionando como um desafio.vi O show de inauguração da TV Tupi “tinha características de um show radiofônico de variedades”.vii Salientando esse parentesco com o rádio, retomemos, para exemplificar, a partir da memória de Mário Fanucchi, a programação da noite de 5 de outubro de 1950, lembrando que as transmissões eram ao vivo e que começavam a partir das oito horas da noite e mal chegavam até as dez.viii Inicialmente apareceu o padrão de ajuste de imagens da RCA, com círculos e o rosto de um índio americano (posteriormente substituído pelo indiozinho da Tupi - o desenho de uma criança índia brasileira que viria a se tornar o símbolo de todas as emissoras das Associadas). A seguir entrou o prefixo musical da emissora e uma voz que anunciou a programação da noite. A imagem seguinte foi o título do programa da noite, Vamos ao ritmo, e um letreiro com os nomes dos participantes. Os cantores se sucediam em um cenário pintado que representava um jardim. Apenas uma vez o conjunto de acompanhamento foi focalizado. “Tudo dava, mesmo, a impressão de um programa de rádio mostrado pela televisão”.ix Mais tarde, nessa mesma noite, foi apresentado um balé clássico ao som da Valsa do Adeus, de Chopin. Poucos meses depois, em 29 de novembro, a Tupi apresentou o primeiro teleteatro. Uma adaptação-tradução de um texto que, em português, recebeu o título de A Vida por um fio.x Foi também na TV Tupi que surgiram as telenovelas, inicialmente, no formato não diário, ou seja, transmitidas duas ou três vezes por semana. A primeira dessas telenovelas não diárias foi Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, que estreou em 1951. Além dos shows que repetiam modelos radiofônicos de programas e do teleteatro, notese também que alguns formatos de programas foram diretamente inspirados na TV americana, como, por exemplo, O Céu é o Limite, Gincana Kibon e Esta é a sua Vida, esse último o relato da trajetória individual de uma pessoa através de depoimentos de conhecidos e amigos das várias fases de sua vidaxi. Modelo narrativo encontrado até hoje, eventualmente, em alguns programas especiais de homenagem. Nesta primeira fase da TV são também exibidos alguns telefilmes e seriados estrangeiros, especialmente norte-americanos. A programação da TV brasileira em seus primeiros anos é considerada como sendo “elitista”: teatro clássico e de vanguarda, música popular e erudita e alguns poucos shows mais populares. Nesses primeiros anos, o próprio aparelho de TV era um objeto apenas possuído pela elite. A TV Tupi de São Paulo e, portanto, a TV brasileira surgiu como uma “aventura comercial do capital privado brasileiro”xii - uma atividade privada dependente de renda publicitária. Para comprar os equipamentos e estruturar seu empreendimento Chateaubriand recorrera a várias empresas solicitando verbas de publicidade adiantadas. Colaboraram neste sentido: a Cia. Antártica Paulista, a S. A. Moinho Santista, a Sul América Seguros e a Laminação Nacional de Metais (talheres Wolff).xiii E a TV logo cedo copiou a estratégia do rádio de associar o nome dos programas a seus patrocinadores: Cartilha Musical Pirani, Show Musical Nobis, Divertimentos Ducal, Sabatinas Maizena, etc. A TV, que começara de maneira improvisada, em poucos meses contará com grandes anunciantes que, através de agências de publicidade, começam a atuar mais seriamente nesse novo veículo. Os anunciantes/patrocinadores terão um papel bastante amplo nos primeiros anos da TV no país pois muitas estratégias e até mesmo contratos de atores eram definidos por elesxiv. É também poucos meses após a implantação da TV Tupi que se inicia a fabricação de aparelhos de TV no Brasil - os televisores Invictus. O fato de ter sido o capital privado e, no caso, familiar, o instrumento de implantação da TV no Brasil, não implica que esta não tenha já nascido dentro de um oligopólio. Os Diários e Emissoras Associados, de propriedade de Assis Chateaubriand eram, já o dissemos, um império, uma grande cadeia de órgãos de divulgação que “chegou a compreender quase 100 empresas, sendo 33 jornais, 25 emissoras de rádio, 22 emissoras de televisão, uma editora, 28 revistas, duas agências de notícia, três empresas de serviço, uma de representação, uma agência de publicidade, duas fazendas, três gráficas e duas gravadoras de disco”.xv A partir de meados da década de 1940, a cidade de São Paulo vivia um momento de efervescência cultural e artística. Destacam-se nesse período, entre outras iniciativas, a criação do MASP ( Museu de Arte de São Paulo) em 1947, capitaneada pelo próprio Assis Chateaubriand; a formação do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) - companhia em que atuavam, entre outros, Cacilda Becker, Tonia Carrero, Maria Della Costa, Sérgio Cardoso, Paulo Autran, Fernanda Montenegro, Walmor Chagas, Gianfrancesco Guarnieri e Raul Cortezxvi; o início das Bienais Internacionais de Artes Plásticas e; início das atividades da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em 1949, em São Bernardo do Campo. A Vera Cruz tinha como lema “produção brasileira de padrão internacional” e repetia o slogan “do Planalto abençoado para as telas do mundo” apregoando um cinema adepto aos padrões hollywoodianos, bastante distante do tom paródico e debochado que vigia nas chanchadas cariocas da Atlântida.xvii Lembremos que São Paulo era então o maior mercado consumidor do país, mas a sede cultural e política do país era a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Em São Paulo vivia uma burguesia, especialmente industrial, que se enriquecera ao longo das décadas de 30 e 40. Foi essa burguesia que financiou esse boom cultural na cidade de São Paulo nos anos 40 e 50. Diferentemente do Rio de Janeiro em que o poder público era o motor principal das iniciativas artísticas e culturais, em São Paulo essas iniciativas foram promovidas pelo capital privado. Neste contexto, não é de se estranhar que a TV Tupi tenha sido também uma “aventura do capital privado”. Pode-se ver esse momento como se a burguesia paulista, animada com a redemocratização do país depois do fim do Estado Novo (1937-1945), mas consciente das derrotas das Revoluções de 1930 e 1932, buscasse imprimir seus traços e salientar sua força e sua identidade com uma produção cultural forte. “...talvez se trate de uma forma de compensação, no campo cultural, da perda da hegemonia política e econômica. Na impossibilidade de impor outra coisa, a arte e a cultura são formas possíveis de tentar impor à sociedade uma visão do mundo (...) Ou talvez ainda a burguesia precisasse desse aparato exterior de refinamento, tanto quanto de cadilaques ou de palacetes, para convencer a si própria de seu vigor. E nesse caso, a veleidade da criação de uma cultura própria talvez tenha sido tanto necessária quanto não correspondia a nenhum poder efetivo”.xviii Não é de se estranhar também que Assis Chateaubriand tenha, para a instalação da TV Tupi, recorrido a conselhos e comprado equipamentos de origem norte-americana. No período pós Segunda Grande Guerra Mundial houve um reordenamento da economia mundial que consolidou a hegemonia dos EUA (onde a TV funcionava regularmente desde 1941) em detrimento, especialmente, da Inglaterra. É nesse novo quadro da ordem econômica mundial que as televisões começaram a surgir nos países subdesenvolvidos. Em 1957 havia dez emissoras de televisão no Brasil. Em 1959, além de São Paulo e Rio de Janeiro, havia emissoras televisivas também em Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Bauru.xix ____________________________________ i Ver: SIMÕES, Inimá. “TV à Chateaubriand” IN COSTA, A.H., SIMÕES, I. F. e KEHL, M.R.. Um País no Ar, SP, Brasiliense/ Funarte, 1986, p. 21. Hebe Camargo, que estava escalada para esta noite de estréia acabou não comparecendo – confira em MORAIS, Fernando. Chatô, O Rei do Brasil, SP, Cia das Letras, 2a. ed., p. 504. ii Sánchez de Armas, Miguel Angel (coord). Apuntes para una historia de la televisión mexicana. Mexico: Espacio 98 e Revista Mexicana de Comunicación. 1998, p. 26. iii FURTADO, Rubem. “Da Rede Tupi à Rede Manchete, uma visão histórica” IN MACEDO, C., FALCÃO, A. e ALMEIDA, C.J.M.. TV ao Vivo. Depoimentos. SP, Ed. Brasiliense,1988, p. 59. Ver também MORAIS, Fernando,Op. cit., p. 502, que levanta a hipótese de uma câmera ter sido danificada pela água benta respingada na benção de inauguração. iv Ver: MORAIS, Fernando. Op. cit., p. 500 a 504. v Ver: SIMÕES, Inimá. Op. cit., p. 23. vi FURTADO, Rubem. Op.cit., p. 59. SIMÕES, Inimá IN op. cit., p. 15 relata o mesmo caso mas atribuindo o conselho negativo a pesquisadores de uma agencia de publicidade contratada por Chateaubriand para averiguar as condições mercadológicas do empreendimento. vii SIMÕES, Inimá. Op. cit., p. 21. viii Ver: FANUCCHI, Mário. Nossa Proxima Atração. O interprograma do Canal 3. SP: Edusp, 1996. ix idem, p. 40. x idem, p. 41. Ver: SIMÕES, Inimá. Op. cit., p. 39. xii STRAUBHAAR, Joseph D.. “O declínio da influência americana na TV brasileira” IN Revista Comunicação & Sociedade no. 9. São Bernardo do Campo, IMS, junho 1983. xiii Conforme FANUCCHI, Mário. Op. cit., p. 125. Ver sobre o tema SIMÕES, Inimá. Op. cit., p. 20. Este último autor salienta que Chateaubriand tinha dívidas bancárias (inclusive em bancos públicos) não cobradas. Esses bancos atuaram então como patrocinadores na iniciativa (ver pág. 17). xiv Ver: SIMÕES, Inimá. Op. cit., p. 24 xv Ver: `MACEDO, C., FALCÃO, A. e ALMEIDA, C.J.M.. Op. cit, p. 266 xvi Ver: PRADO, Décio de Almeida. O Teatro Brasileiro Moderno. SP, Perspectiva/Edusp, 1988, p. 43 a 63. xvii Ver: RAMOS, Fernão (org.). História do Cinema Brasileiro. SP, Art Ed., 1987, p. 203 a 235. xviii GALVÃO, Maria Rita. Burguesia e Cinema: O Caso Vera Cruz. RJ, Civilização Brasileira/ Embrafilme, 1981, p.18-19. xix ORTIZ, Renato, BORELLI, Silvia e RAMOS, José Mário. Telenovela. História e Produção. SP, Brasiliense, 1991, 2a. ed., p. 56. xi 6. Referências Bibliográficas: ALMEIDA, HELOISA BUARQUE DE. Telenovela, consumo e gênero. Bauru: EDUSC, 2003. ALVES, VIDA. TV Tupi: uma linda história de amor. São Paulo: Imesp.2008. AMORIN, EDGARD DE. História da TV brasileira. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 2007. ARRUDA, MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO. Metrópole e Cultura: São Paulo no meio Século XX. Bauru, SP: Edusc, 2001. BALOGH, ANNA MARIA. Conjunções, disjunções, transmutações. São Paulo: Annablume, 2005, 2ª. edição. BELINKY, TATIANA. TV sem VT e outros momentos. São Paulo. Editora Paulinas, 1997. BORELLI, SILVIA e PRIOLI, GABRIEL (coord.), A deusa ferida. São Paulo: Summus, 2000. BORELLI, SILVIA H. S. “Telenovelas brasileiras: balanços e perspectivas”. Revista São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 15, n. 3, 2001. Aces. 28/12/2006. BOSI, ECLÉA. Memória e Sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das Letras,1994, 3ª.edição. BRANDÃO, CRISTINA. O grande Teatro Tupi do Rio de Janeiro. Juiz de Fora: UFJF, 2005. BUCCI, EUGÊNIO (org.). A TV aos 50. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. BUCCI, EUGÊNIO. Brasil em tempo de TV. São Paulo: Boitempo, 1996. CAPARELLI, SÉRGIO. Comunicação de massa sem massa. São Paulo: Summus, 1986, 3ª. ed. CAPARELLI, SÉRGIO e LIMA, VENÍCIO A. Comunicação & televisão – desafios da pósglobalização. São Paulo: Hacker, 2004. CARVALHO FILHO, PAULO MACHADO DE. Histórias que a história não contou: fatos curiosos em 60 anos de rádio e televisão. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2006. CASTRO, JOSÉ DE ALMEIDA. Tupi: pioneira da televisão brasileira. Brasília: Fundação Assis Chateaubriand, 2000. COUTINHO, ILUSKA DA SILVA. Dramaturgia e telejornalismo brasileiro: a estrutura narrativa das notícias em televisão. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2003. (Tese de doutoramento) DORCE, SONIA MARIA. A queridinha do meu bairro. São Paulo, Imesp.2008. ESQUENAZI, ROSE. Túnel do Tempo: uma memória afetiva da TV brasileira. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1993. FADUL, ANAMARIA. Ficção seriada na TV: as telenovelas latino-americanas. São Paulo: ECAUSP, 1993. FANNUCCHI, MARIO. Nossa próxima atração: o interprograma no canal 3. São Paulo: EDUSP, 1996. FILHO,DANIEL. Antes que me esqueçam. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988 FRENCH, JOHN D. O ABC dos operários: conflito e alianças de classe em São Paulo. São Paulo: Hucitec; São Caetano do Sul: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1995. FRANCFORT, ELMO. Rede Manchete: aconteceu virou história. São Paulo: Imesp,2008 GAIARSA, OCTAVIANO A. A cidade que dormiu três séculos: Santo André da Borda do Campo, seus primórdios e sua evolução histórica. Santo André: Prefeitura Municipal de Santo André, 1968. GAIARSA, OCTAVIANO A. Santo André: ontem, hoje amanhã. Santo André: Prefeitura Municipal de Santo André, 1991. GAMA, LÚCIA HELENA. Nos bares da vida: produção cultural e sociabilidade em São Paulo: 1940/1950. São Paulo: Editora SENAC, 1998, 2ª.ed. GIANFRANCESCO, MAURO; NEIVA, EURICO. De noite tem: um show de teledramaturgia na TV pioneira. São Paulo; Giz Editorial, 2007. HAMBURGER, ESTHER. “Diluindo fronteiras: a televisão e as novelas no cotidiano”. Lilia M. Schwarcz (org.) História da vida privada no Brasil. Volume 4. São Paulo: Cia das Letras, 1998, págs. 439-487 HAMBURGER, ESTHER. O Brasil antenado - a sociedade da novela. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. HERZ, DANIEL. História secreta da Rede Globo. Porto Alegre: Tchê, 1987, 7ª. edição. KEHL, MARIA RITA. “Eu vi um Brasil na TV” em COSTA, ALCIR; SIMÕES, INIMÁ e KEHL, MARIA RITA Um pais no ar. São Paulo: Brasiliense, 1986. LEAL, ONDINA FACHEL. A leitura social da novela das oito. Rio de Janeiro: Vozes, 1986, 2a. ed. LIMA, FERNANDO BARBOSA. Nossas câmeras são os seus olhos. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. LOBO, NARCISO. Ficção e política. O Brasil nas minisséries. Manaus, Valer, 2000. LOPES, M. IMMACOLATA VASSALO; BORELLI, SILVIA H. e RESENDE, VERA. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Summus, 2002. LORÊDO, JOÃO. Era uma vez a televisão. São Paulo: Editora Alegro, 2000. MACEDO, C., FALCÃO, A. e ALMEIDA, C.J.M.. TV ao Vivo. Depoimentos. SP, Ed. Brasiliense, 1988. MARTÍN-BARBERO, JESÚS. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997. MARTINS, JOSÉ DE SOUZA. Subúrbio. São Paulo: Hucitec; São Caetano do Sul: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1992. MATTOS, DAVID JOSÉ LESSA. O espetáculo da cultura paulista: Teatro e TV em São Paulo(décadas de 1940 e 1950). São Paulo: Códex,2002. MATTOS, DAVID JOSÉ LESSA (org). Pioneiros do Rádio e da TV no Brasil. São Paulo: Codéx, 2004. MATTOS, SERGIO AUGUSTO SOARES. História da televisão brasileira. Petrópolis (RJ):Editora Vozes, 2002, 3ª.ed. MATTELART, ARMAND e MICHÈLE. História das teorias da comunicação. São Paulo: Loyola, 1999. MEDICI, ADEMIR. Migração e Urbanização: a presença de São Caetano na Região do ABC.São Paulo: Hucitec; São Caetano do Sul: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1993. MELO, JOSÉ MARQUES DE. As Telenovelas da Globo. Produção e Exportação, SP, Summus, 1988. MICELI, SERGIO. A noite da madrinha. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, 2ª.ed. MILANESI, LUIZ CARLOS. O Paraíso via Embratel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, 2a. ed. MOYA, ALVARO DE. Glória in Excelsior: ascensão, apogeu e queda do maior sucesso da televisão brasileira. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. NOVAES, ADAUTO (org). Rede imaginária: televisão e democracia. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. OLIVEIRA SOBRINHO, JOSÉ BONIFÁCIO (BONI). 50/50 - 50 Anos de TV no Brasil. São Paulo: Editora Globo, 2000 ORTIZ, RENATO. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Editora Brasiliense. 1993, 4ª.edição. ORTIZ, RENATO; BORELLI, SILVIA; RAMOS, JOSÉ M. Telenovela. História e produção. São Paulo: Brasiliense, 1991, 2ª. edição. PERUZZO, CICÍLIA. “Mídia regional e local: aspectos conceituais e tendências”. Revista Comunicação & Sociedade, 43, º. Sem. 2005. São Bernardo do Campo: Editora Metodista. REIMÃO, SANDRA (org.), Em Instantes - notas sobre programas na TV brasileira. São Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2006. REIMÃO, SANDRA. Livros e televisão: correlações. São Paulo: Ateliê. 2004. REZENDE, GUILHERME. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000. ROCHA, AMARA. Nas ondas da modernização: o Rádio e a TV no Brasil de 1950 a 1970. Rio de Janeiro: Aeroplano/FAPERJ, 2007. SALVADORE, WALDIR. São Paulo em Preto & Branco: cinema e sociedade nos anos 50 e 60. São Paulo: Annablume, 2005. SEVECENKO, NICOLAU (org.). História da Vida Privada no Brasil. Vol.3. São Paulo: Companhia das Letras. 1998. SILVA, CARLOS EDUARDO LINS da. Muito Além do Jardim Botânico. São Paulo: Summus, 1985, 2ª. edição. SILVA, JOSÉ ARMANDO PEREIRA. Província e Vanguarda: apontamentos e memória de influências culturais-1954/1964. Santo André: Fundo de Cultura do Município de Santo André, 2000. SOUZA, MAURO WILTON de (org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 1995. SOUZA, JOSÉ C. ARONCHI. Televisão: gêneros e linguagens. São Paulo: Summus, 2005. TONDATO, MARCIA P. Telenovelas exportadas – um estudo. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 1998. (Dissertação de mestrado) TÁVOLA, ARTUR DA. A telenovela brasileira. São Paulo: Editora Globo, 1996. XAVIER, RICARDO; SACCHI, ROGÉRIO. Almanaque da TV: 50 anos de memória e informação. Rio de Janeiro: Editora Objetiva. 2000.
Download